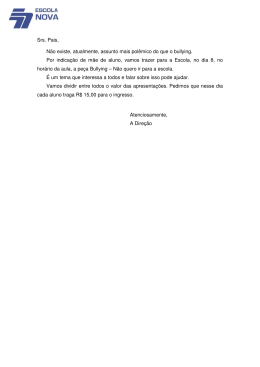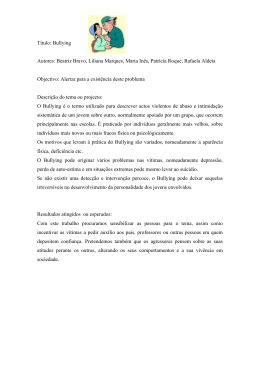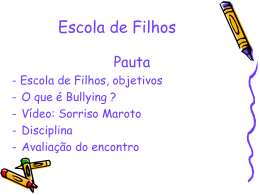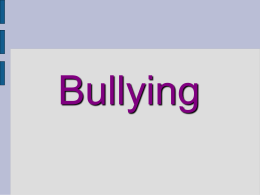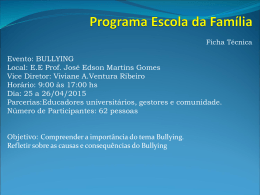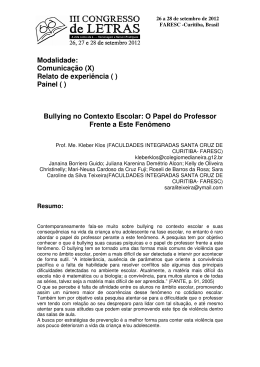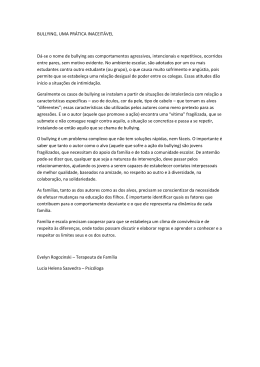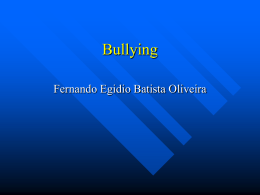0 UNIFAVIP | DeVry CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA COORDENAÇÃO DE DIREITO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO Priscila Vanessa Silva de Santana CRIMINALIZAÇÃO DO BULLYING: ASPECTOS PENAIS E SOCIAIS CARUARU 2014 1 Priscila Vanessa Silva de Santana CRIMINALIZAÇÃO DO BULLYING: ASPECTOS PENAIS E SOCIAIS. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário do Vale do Ipojuca-UNIFAVIP, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, sob orientação da professora Pollyanna Queiroz e Silva. CARUARU 2014 2 Catalogação na fonte Biblioteca doCentro Universitário do Vale do Ipojuca, Caruaru/PE S232cSantana, Priscila Vanessa Silva de. Criminalização do Bullying: aspectos penais e sociais/Priscila Vanessa Silva de Santana. – Caruaru:UNIFAVIP | DeVry, 2014. 58f. Orientador:Pollyanna Queiroz e Silva. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito) –Centro Universitário doVale do Ipojuca. 1. Bullying. 2.Violência. 3.Código Penal.I. Título. CDU 34[14.2] Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário: Jadinilson Afonso CRB-4/1367 3 Priscila Vanessa Silva de Santana CRIMINALIZAÇÃO DO BULLYING: ASPECTOS PENAIS E SOCIAIS. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário do Vale do Ipojuca - UNIFAVIP, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, sob orientação da professora Pollyanna Queiroz e Silva. Aprovado em: ___/___/____ ________________________________________ Orientadora: Pollyanna Queiroz e Silva. ________________________________________ Avaliador ________________________________________ Avaliador CARUARU 2014 4 A Deus fonte de minha inteligência e fortaleza nos momentos de dificuldades; A meus pais por toda dedicação e incentivo; 5 AGRADECIMENTOS A Deus, que me deu força e me iluminou para não desistir nos momentos mais difíceis da minha vida; À Minha Família, uma referência de luta e persistência; À professora orientadora, que compreendeu as minhas limitações e no qual eu encontrei abrigo e confiança para a concretização deste trabalho; Aos amigos que me incentivaram e aos que direta ou indiretamente colaboraram para esta conquista. 6 RESUMO Este estudo visa analisar a prática do bullying no ambiente escolar, bem como as repercussões jurídicas e sociais oriundas da sua criminalização, observando entender se esta consiste em uma forma adequada de trabalhar o problema da violência entre escolares. O Bullying é um fenômeno que tem chamado a atenção dos atores sociais, além de representar um problema muito sério no contexto escolar. Em face disto, o legislador brasileiro, buscou inserir este fenômeno no rol do crimes tipificados pela nossa legislação penal. Esse trabalho foi realizado, a partir da leitura de pressupostos teóricos fazendo-se uma revisão da literatura que aborda a temática com o objetivo de elucidar os aspectos principais que caracterizam o fenômeno bullying além de estabelecer uma reflexão referente à ocorrência dessa manifestação agressiva, na educação, identificar as forma de sua ocorrência, bem como as possíveis ações de prevenção que devem ser adotadas pelo Estado, educadores e comunidade. Este trabalho alia-se ao argumento que tem sido levantado contra a criminalização do bullying, do ponto de vista de que, mesmo sem a tipificação do fenômeno não há que se vislumbrar qualquer insuficiência de proteção do bem jurídico, tendo em vista que, há tipos penais suficientes para cobrir todo o espectro do fenômeno. No mesmo sentido apenas criminalizar o bullying não é adequado. Em que pese sua tipificação atingir apenas maiores de 18 anos, uma vez que os menores estariam encobertos pelo manto da inimputabilidade penal, é preciso estar atento ao fato de que, nem tudo é possível resolver através de leis. A metodologia adotada para a realização deste trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica e documental, a partir da legislação, de doutrinas e sites virtuais. Os métodos utilizados, contudo serão o método qualitativo e o dedutivo, com a devida exposição de posicionamentos de alguns autores acerca do tema escolhido, como Luiz Flávio Gomes e Lelio Braga Calhau, além de trazer uma abordagem interdisciplinar direcionando esse trabalho para a posição mais adequada. Palavras Chave: Bulliyng, Violência, Código Penal. 7 ABSTRACT This study aims to examine the practice of bullying in the school environment , as well as the social and legal repercussions arising from its criminalization , noting whether it is in a proper way to work the problem of violence among students . Bullying is a phenomenon that has attracted the attention of social actors , and represents a very serious problem in the school context . On the face of it , the Brazilian legislator , sought to place this phenomenon in the list of crimes typified by our criminal laws . This work was carried out , from the reading of theoretical assumptions by making a review of the literature that addresses the issue in order to elucidate the main aspects that characterize the phenomenon of bullying beyond establishing a reflection concerning the occurrence of this manifestation aggressive education identify the order of their occurrence , as well as possible preventive measures that should be adopted by the state , educators and community. This study joins the argument that has been raised against the criminalization of bullying from the point of view that , even without typing the phenomenon there that envision any lack of protection of the legal , considering that there are types criminal sufficient to cover the entire spectrum of the phenomenon . In the same sense only criminalizing bullying is not appropriate. Despite their typing reach only 18 years , since the smaller would be hidden by the cloak nonimputability criminal , we must be alert to the fact that not everything can be resolved through legislation. Keywords : Bulliyng Violence Criminal Code . 8 SUMÁRIO INTRODUÇÃO........................................................................................................ 09 CAPÍTULO I – O FENÔMENO DA VIOLÊCIA E SUA IMPLICAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR........................................................................................... 12 1.1 História da escola no Brasil.............................................................................. 12 1.2 Violência: aspectos conceituais........................................................................ 18 1.3 Ambientes Institucionais e ações preventivas de violência.............................. 22 CAPÍTULO II – O BULLYING A LUZ DO PROJETO DE LEI Nº 236/2012........... 26 2.1 O comportamento Bullying............................................................................... 26 2.2 Perfil dos Agressores e das Vítimas................................................................. 29 2.3 A reforma do Código Penal e a criminalização do Bullying.............................. 33 CAPÍTULO III – A FUNÇÃO PREVENTIVA DO DIREITO PENAL....................... 38 3.1 Os fins da pena................................................................................................. 38 3.2 Causas da violência.......................................................................................... 43 3.3 Elementos essenciais da caracterização do crime........................................... 48 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 55 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 57 9 INTRODUÇÃO A violência é encarada hoje como um fenômeno que preocupa, tendo em vista que, a mesma encontra-se presente em todas as sociedades assim como também nas mais variadas culturas. A sociedade dos dias atuais tem as suas ações pautadas em função da violência, ou seja, as pessoas vivem e agem em função dela, muito embora ainda não tenham se apercebido disto. Ante este quadro, o direito enquanto fonte das relações sociais tem cada vez mais buscado estabelecer mecanismos legais para enfrentamento da violência assim como a sua eficaz prevenção. No entanto, por mais que o legislador tenha criado diversos dispositivos legais visando combater a violência, o que se observa é que tais dispositivos, em muito pouco tem contribuído para a sua diminuição. Portanto, considerando que o Bullying é um fenômeno que tem chamado a atenção dos atores sociais, além de representar um problema muito sério no contexto escolar, o legislador brasileiro, buscou inserir este fenômeno no rol dos crimes tipificado pela nossa legislação penal. Assim, surge no projeto de reforma do Código Penal brasileiro, o delito de intimidação vexatória, que, uma vez aprovado, estará tipificado no art. 148 do Código Penal, inserindo-se neste dispositivo o § 2, e engrossando o rol dos crimes contra a liberdade pessoal. Ante o exposto, este trabalho vem trazer um estudo sobre o fenômeno bullying, fazendo uma reflexão sobre a importância de tratar o tema de forma adequada, além de pontuar aspectos negativos e positivos quanto à possibilidade do mesmo vir a ser considerado crime. A metodologia é a base da pesquisa, é de onde serão extraídos os possíveis mecanismos para chegarmos ao resultado pretendido, é a resposta para a nossa pergunta. Neste sentido o objetivo geral do trabalho é analisar a prática do bullying no ambiente escolar, bem como as repercussões jurídicas e sociais oriundas da sua criminalização. 10 Para chegarmos à classificação da pesquisa, temos que tomar como base os critérios abordados por Vergara (2009, p. 49), que são apresentados em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins à pesquisa terá como método o exploratório-descritivo, e a pesquisa tem a intenção de proporcionar maiores informações sobre o assunto a ser estudado e facilitar o entendimento do tema de maneira mais detalhada. Segundo Vergara (2009, p.42): A investigação exploratória, que não deve ser confundida com leitura exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. Além disso, a pesquisa é descritiva, porque visa descrever sobre as normas que disciplinam o direito penal, trazendo assim uma abordagem do tratamento dado ao Bullying. Quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, por meio de consulta a autores renomados que tratam do assunto e artigos da Lei. A pesquisa bibliográfica e de artigos da lei, permitem que um tema seja analisado sob novo enfoque ou abordagem, produzindo novas conclusões. É através da pesquisa bibliográfica que também se tornará possível o exame da problemática sob uma nova abordagem, pois, é através deste método, que se viabiliza ampliar o tema objeto de analise. O trabalho tem natureza qualitativa, porque é uma pesquisa participante, onde estará envolvido pesquisador e a área a ser pesquisada para produzir práticas adequadas com intuito de intervir no problema identificado. O trabalho ainda se justifica por tratar-se de um tema atual e relevante para a sociedade moderna, haja vista o crescente número de casos de bullying noticiado tanto na imprensa nacional quanto internacional. A discussão que surge neste contexto é quanto a real necessidade de tratar o fenômeno como um crime, ou se a solução para o problema estaria na adoção de outras medidas mais efetivas. Portanto, visando contextualizar o trabalho no primeiro capítulo apresenta-se um estudo sobre a violência no ambiente escolar conseqüências e reflexos psíquicos nas vítimas e agressores; enfatizando causas, 11 O segundo capítulo trará uma análise do projeto de Lei 236/2012, no tocante ao dispositivo que propõe a tipificação da prática de bullying, são ainda apresentadas às contribuições da doutrina sobre o tema. Por sua vez, o terceiro capítulo irá apresentar uma análise a respeito da missão do direito em sua função preventiva, contextualizando com o tema em estudo e trazendo aspectos positivos e negativos da inclusão do bullying como medida preventiva da violência escolar e de combate ao fenômeno. As considerações finais vêm demonstrar as conclusões a que este estudo chegou, apontando as principais contribuições do mesmo para a construção do conhecimento bem como as possíveis soluções para a problemática apresentada. 12 CAPÍTULO I – O FENÔMENO DA VIOLÊCIA E SUA IMPLICAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR A educação representa uma das bases fundamentais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. É, portanto, por meio da educação que a sociedade consegue construir os seus freios éticos e morais, sem os quais o fenômeno da violência aflora causando um verdadeiro desequilíbrio social. Neste sentido, para que se possa entender a importância social da educação faz-se necessário uma breve reflexão sobre a sua passagem histórica no Brasil, buscando identificar as suas principais contribuições para o processo de formação da nossa sociedade. 1.1 História da escola no Brasil A chegada dos jesuítas em solo brasileiro tem um significado importante na historia da educação que aqui se desenvolveu, tendo em vista que aqueles religiosos trouxeram consigo algo mais que os costumes, a moral e a religiosidade européia, com eles iniciou-se no solo brasileiro a implementação dos métodos pedagógicos1. A vinda dos padres jesuítas ao Brasil em 1549 inaugurou uma fase que marcou profundamente a cultura e civilização do país, tendo em vista que durante mais de 200 anos a educação do Brasil ficou quase que unicamente ao encargo daqueles religiosos, até que os mesmos fossem expulsos daqui, pelo Marques de Pombal, em 1759. Assim sendo, a origem das instituições escolares pode ser localizada em 1549 com a chegada dos jesuítas que criaram, na então colônia portuguesa, “a primeira escola brasileira”2. É importante destacar que, dentre os três aspectos fundamentais no processo de colonização do Brasil (colonização, educação e a catequese), a educação desempenhou papel importante. Isto porque, os padres jesuítas trouxeram para o 1BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 2 MATTOS apud SAVIANI, Demerval. História da História da Educação no Brasil: um balanço prévio e necessário. EccoS – Revista Científica, v.10, Especial, 2008, p. 147-67. Disponível em: http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v10nesp/eccosv10nesp%203f09.pdf. Acesso em 29/03/2014. 13 Brasil algo muito além da moral, dos costumes e da religiosidade européia, com eles o povo brasileiro pode conhecer os métodos pedagógicos. Esse processo de inserção da educação no Brasil Colônia foi marcado por fases importantes às quais, segundo estudo desenvolvido por Demerval Saviani, pode ser assim organizado: O primeiro período (1549-1759) é dominado pelos colégios jesuítas; o segundo (1759-1827) está representado pelas “Aulas Régias” instituídas pela reforma pombalina, como uma primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal inspirada nas idéias iluministas segundo a estratégia do despotismo esclarecido; o terceiro período (1827-1890) consiste nas primeiras tentativas, descontínuas e intermitentes, de se organizar a educação como responsabilidade do poder público representado pelo governo imperial e pelos governos das províncias; o quarto período (18901931) é marcado pela criação das escolas primárias nos estados na forma de grupos escolares, impulsionada pelo ideário do iluminismo republicano; o quinto período (1931-1961) se define pela regulamentação, em âmbito nacional, das escolas superiores, secundárias e primárias, incorporando crescentemente o ideário pedagógico renovador; finalmente, no sexto período, que se estende de 1961 aos dias atuais, dá-se a unificação da regulamentação da educação nacional abrangendo a rede pública (municipal, estadual e federal) e a rede privada as quais, direta ou indiretamente, foram sendo moldadas segundo uma concepção produtivista de escola3. Observa-se, assim, que movidos por intenso sentimento religioso de propagação da fé cristã, durante mais de 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil. Este processo estabeleceu uma simbiose estreita entre a educação e a catequese durante a colonização do Brasil, tendo em vista que, “a emergência da educação como um fenômeno de aculturação tinha na catequese a sua idéia-força”4. Não é difícil perceber que o papel dos jesuítas na colonização do Brasil fora de fato fundamental, sobretudo porque, por meio da catequese possibilitaram o contato dos indígenas com o processo de educação, ao mesmo tempo em que deram início a um processo de aculturação e mesmo que sua missão principal tenha sido a de doutrinar e ensinar a fé católica, nada disso seria possível se o nativo não fosse capaz de assimilar a mensagem repassada pelos religiosos. Assim, tornava-se urgente educar o índio para que a doutrina e os 3 SAVIANI, Demerval. História da História da Educação no Brasil: um balanço prévio e necessário. EccoS – Revista Científica, v.10, Especial, 2008, p. 147-67. Disponível em: http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v10nesp/eccosv10nesp%203f09.pdf. Acesso em 29/03/2014. 4 SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. Ed. Campinas, 2011, p31. 14 ensinamentos da fé católica encontrassem um caminho aberto para a sua disseminação na colônia. Diante disto os jesuítas promoveram e estruturaram a educação durante pouco mais de dois séculos (1549-1759), quando então foram expulsos do solo brasileiro e inaugurou-se uma nova etapa na história da educação no Brasil. Por meio do Alvará de 28 de junho de 1759, determinou-se o fechamento dos colégios jesuítas, introduzindo-se as aulas régias a serem mantidas pela coroa. Nesse mesmo ano foi fechada a Universidade de Évora, fundada em 1558 pelos jesuítas e por eles dirigida 5. Há de se registrar que esta nova fase não trouxe contribuições significativas para o processo educacional da colônia, isto porque, se até aqui (1759), “existia alguma coisa muito bem estruturada em termos de educação o que se viu a seguir foi o mais absoluto caos”6. Neste sentido, como alternativa ao modelo até então desenvolvido pelos religiosos, outros modelos foram implementados durante a administração que ficou conhecida na história como “pombalina”, dentre as quais é possível destacar: as aulas régias7 e o subsídio literário8. No entanto, permaneciam as dificuldades para que se encontrasse um modelo de educação capaz de ao menos se aproximar da fórmula adotada pelos jesuítas, o que perdurou até que a chegada da Família Real no Brasil9. É preciso destacar que a vinda da Família Real, embora tenha contribuído para romper com as dificuldades herdadas com a administração pombalina, não representou uma solução definitiva para o sistema educacional brasileiro, neste sentido: 5 SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. Ed. Campinas, 2011, p82. BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001, p.2. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 7 Através do alvará de 28 de junho de 1759, ao mesmo tempo em que suprimia as escolas jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, Pombal criava as aulas régias de Latim, Grego e Retórica. Cada aula régia era autônoma e isolada, com professor único e uma não se articulava com as outras (BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 8 Criado em 1772 o “subsídio” era uma taxação, ou um imposto, que incidia sobre a carne verde, o vinho, o vinagre e a aguardente. Além de exíguo, nunca foi cobrado com regularidade e os professores ficavam longos períodos sem receber vencimentos a espera de uma solução vinda de Portugal (BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 9 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 6 15 Na verdade não se conseguiu implantar um sistema educacional nas terras brasileiras, mas a vinda da Família Real permitiu uma nova ruptura com a situação anterior. Para preparar terreno para sua estadia no Brasil D. João VI abriu Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e, sua iniciativa mais marcante em termos de mudança, a Imprensa Régia. Segundo alguns autores o Brasil foi finalmente "descoberto" e a nossa História passou a ter uma complexidade maior10. Apesar dos aspectos destacados acima por Bello (2001), o que se pode observar é que durante todo período do Brasil Império, pouco se fez pela educação brasileira e muitos reclamavam de sua má qualidade. No entanto: [...] a abertura dos portos, além do significado comercial é uma expressão que significou também “a permissão dada aos 'brasileiros' (madeireiros de pau-brasil) de tomar conhecimento de que existia, no mundo, um fenômeno chamado civilização e cultura11. Neste sentido a busca por um sistema capaz de dar novos ares à educação brasileira continuou a sua marcha com a Proclamação da República, quando diversas reformas foram implementadas, sem, contudo obter o êxito desejado, tendo em vista que, ao se lançar um olhar mais aguçado para este período há de se observar que “a educação brasileira não sofreu um processo de evolução que pudesse ser considerado marcante ou significativo em termos de modelo”12. Com a República recém proclamada buscou-se organizar um modelo escolar sob a influência da filosofia positivista. Assim adotaram-se como princípios orientadores a liberdade e a laicidade do ensino, além da gratuidade da escola primária. Cumpre destacar que tais princípios seguiam os comandos presentes na Constituição brasileira. Todavia o regime republicano não corroborou com as expectativas da criação de um sistema nacional de ensino cuja instrução pública, especificamente as escolas primárias, ficasse sob a égide do governo central. O que se tem demonstrado nos estudos que se debruçam sobre o tema é que: 10 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001, p.2. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 11 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001, p.2. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 12 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001, p.2. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 16 Seja pelo argumento de que, se no Império, que era regime político centralizado, a instrução estava descentralizada, a fortiori na República Federativa, um regime político descentralizado, a instrução popular deveria permanecer descentralizada; seja pela força mentalidade positivista no movimento republicano; seja pela influencia do modelo norte-americano; seja principalmente pelo peso econômico do setor cafeeiro que desejava a diminuição do poder central em favor do mando local, o certo é que o novo regime não assumiu a instrução pública como uma questão de responsabilidade do governo central, o que foi legitimado na primeira Constituição republicana13. No que se refere à educação, a década de 1920 foi marcada por uma multiplicidade de reformas com abrangência estadual, como as de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923, a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, a de Francisco Campos e Mario Casassanta, em Minas, em 1927, a de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (atual Rio de Janeiro), em 1928 e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 192814. O período entre 1964 a 1985 foi, sem dúvida, um dos mais significativos e transformadores da história educacional do Brasil. Uma época marcada pela intervenção militar, pela burocratização do ensino público, por teorias e métodos pedagógicos que buscavam restringir a autonomia dos educadores e educandos, reprimindo à força qualquer movimento que se caracterizasse barreira para o pleno desenvolvimento dos ideais do regime político vigente, conduzindo o sistema de instrução brasileiro a uma submissão até o momento inigualável15. No fim do Regime Militar a discussão sobre as questões educacionais já havia perdido o seu sentido pedagógico e assumido um caráter político. Para isso contribuiu a participação mais ativa de pensadores de outras áreas do conhecimento que passaram a falar de educação num sentido mais amplo do que as questões pertinentes à escola, à sala de aula, à didática, à relação direta entre professor e estudante e à dinâmica escolar em si mesma. Impedidos de atuarem em suas funções, por questões políticas durante o Regime Militar, profissionais de outras áreas, distantes do conhecimento pedagógico, passaram a assumir postos na área da educação e a concretizar discursos em nome do saber pedagógico16. Outros aspectos ainda cumprem destacar, tendo em vista que: 13 SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. Ed. Campinas, 2011, p.170. BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 15 ASSIS. Luís André Oliveira de. Rupturas e Permanências na história da educação brasileira: Do regime militar à LDB/96, 2009. Disponível em: http://curriculohistoria.files.wordpress.com/2009/09/clara.pdf. Acesso em 25/03/2014. 16 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 14 17 No bojo da nova Constituição, um Projeto de Lei para uma nova LDB foi encaminhado à Câmara Federal, pelo Deputado Octávio Elísio, em 1988. No ano seguinte o Deputado Jorge Hage enviou à Câmara um substitutivo ao Projeto e, em 1992, o Senador Darcy Ribeiro apresenta um novo Projeto que acabou por ser aprovado em dezembro de 1996, oito anos após o encaminhamento do Deputado Octávio Elísio 17. Portanto, há de se observar que entre o fim do período militar até os dias atuais a educação passou fases importantes que trouxeram avanços significativos, dentre as quais, tem-se apresentado como uma das mais importantes, do ponto de vista político, a gestão que, através de uma Medida Provisória, extinguiu o Conselho Federal de Educação e criou o Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Esta mudança tornou o Conselho menos burocrático e mais político18. É de se observar que em toda a História da Educação no Brasil, contada a partir do descobrimento, nas últimas décadas tem se vivenciado nos últimos anos a execução de diversos projetos na área da educação. Assim, sendo considerada por muitos educadores como produto da sociedade em que está inserida e “considerando as implicações nas estruturas do país, o sistema de educação não poderia ficar imune às transformações cada vez mais intensas”19. Ante o exposto é que vem gradativamente assumindo importância fundamental a questão da violência que se dissemina no ambiente escolar. Atualmente muito se tem discutido sobre a violência no ambiente escolar tendo em vista que este é um mal que vem se tornando cada vez mais presente nas diversas modalidades de ensino tanto nas instituições públicas como privadas. Em decorrência disto, faz-se necessário traçar algumas linhas conceituais sobre o assunto para em seguida apresentar os aspectos que fazem com que a erradicação da violência no ambiente escolar se destaque como um dos pontos fundamentais na sistemática educacional moderna. 17 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001, p.11. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 18 BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 25/03/2014. 19 ASSIS. Luís André Oliveira de. Rupturas e Permanências na história da educação brasileira: Do regime militar à LDB/96, 2009, p.4. Disponível em: http://curriculohistoria.files.wordpress.com/2009/09/clara.pdf. Acesso em 28/03/2014. 18 1.2 Viol ência : aspectos conceituais A violência é encarada hoje como um fenômeno que preocupa, tendo em vista que a mesma encontra-se presente em todas as sociedades assim como também nas mais variadas culturas. A sociedade dos dias atuais tem as suas ações pautadas em função da violência, ou seja, as pessoas vivem e agem em função dela, muito embora ainda não tenham se apercebido disto. A violência pode ser caracterizada a partir de diferentes variáveis, ou seja, ela pode estar assim seguimentada: a) quanto ao tipo de vítima: Crianças, mulheres, idosos, deficientes físicos, etc.; b) quanto ao tipo de agente: gangues, jovens, narcotraficantes, multidões, policiais, etc.; c) quanto a natureza da ação: física, psicológica, sexual, tec.; d) quanto a motivação: violência política, econômica, moral, social, étnica, racial, etc.; e) quanto ao tipo de local da ocorrência: urbana ou rural; f) quanto relação vítima/agente/violência: violência familiar, violência entre os conhecidos, violência entre os desconhecidos.20 Diante do que fora acima exposto cumpre destacar ainda que: As definições da violência envolvem padrões sociais diversos, implicando formas variadas de expressão. Cada sociedade está às voltas com sua própria violência, com aquilo que ela pontua como violento, dependendo de critérios de valores, leis, normas, religião, tradição, história e outros fatores21. Neste contexto, há de se destacar, por exemplo, que o caráter violento de determinadas ações é relativizado de acordo com a cultura em que esteja inserido, de modo que, se observarmos a pena de morte em países como a China e estados Unidos se configuram como uma ação punitiva, estando inserida no contexto cultural das regras sociais daqueles países, em outras nações tal medida é encarada como atitude de extrema violência contra a pessoa do ser humano. Sob este ponto de vista, caracterizar o processo de desenvolvimento das ações agressivas, tem se tornado nos dias atuais uma ação importante no combate à violência por que possibilitam adotar medias específicas no combate a cada uma 20 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005, p.2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 21 CARREIRA, Débora Bianca Xavier. Violência nas escolas: qual é o papel da gestão? 2005, p.7. Disponível em: www.ucb.br/sites/100/127/documentos/artigo13.doc. Acesso em 22/03/2014. 19 delas e de acordo com as peculiaridades sócio-culturais que as envolve. Todavia: O problema da violência só será efetivamente tratado no momento em que o Estado arvorar-se em conhecê-lo melhor para ditar as coordenadas necessárias. Há pelo Brasil afora ações exemplares de ajuda a crianças carentes, moradores de rua etc., sendo promovidas por instituições do terceiro setor, ONGs e pelas próprias comunidades de bairro. Não obstante, nada disso parece chamar a atenção dos governantes, que somente se sensibilizam em tomar providências enérgicas em momentos de grande clamor popular e comoção nacional, como, por exemplo, quando uma bala de revólver mata alguém famoso ou do alto escalão financeiro 22. Ante este quadro, urge observar que a população brasileira sofre uma multiplicidade de carências, ou seja, o brasileiro reclama a todo instante a necessidade de acabar de uma vez com os déficits educacional e habitacional, melhoraria da oferta de empregos, reclama ainda a reforma urbana, entre outras “enfermidades” que assolam o dia-a-dia da nação. Neste sentido, é importante destacar que o fenômeno multidisciplinar da violência (que pode ser estudado, pelo direito, psicologia, sociologia etc.) tem recebido importantes contribuições de outros campos do conhecimento ajudando assim na compreensão dos fatores de risco bem como na identificação da necessidade de envolver diferentes forças governamentais e sociais na melhoria dos fatores de proteção.23 Diante desta realidade gritante, torna-se urgente que as autoridades administrativas do país, estejam preparadas para encarar a violência de frente, ou seja, que possam enxergá-la como um problema público, nacional, que está a dizimar vidas e provocando alarde e preocupação em todos os seguimentos sociais. Assim, a sociedade foi desenvolvendo algumas propostas de ações no combate à violência, justamente por não se encontrar soluções previamente estabelecidas para o problema. Em face disto é que foi surgindo uma multiplicidade de propostas com abordagens diferentes, dividas em dois grupos: os que defendem as ações de prevenção da violência e os que entendem que o melhor caminho a percorrer é o das ações de controle da violência. 22 NERY, Lucas. "Violência, criminalidade e políticas públicas de segurança."Revista do Curso de Direito da UNIFACS 106.109 (2009), p.10. Disponível em: revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/738/546. Acesso em 27/03/2014. 23 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005, p.2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 20 Neste sentido, a busca pela solução para as questões da violência e de modo especial, aquelas modalidades de violência que acabam resultando em crimes, tem colocado estas duas correntes de estudos em posições contrárias. A prevenção, por exemplo, busca a solução na correção de distorções sociais, tais como a diminuição da pobreza, a melhoria da educação e da melhor distribuição de renda. Essas são conhecidas como “soluções brandas”. Por outro lado, as “soluções duras” para os crimes violentos, propostas pelos defensores das medidas de controle, apontam o estabelecimento de maior quantidade e disponibilidade de recursos policiais, bem como no aumento das prisões e disponibilidade de vagas no sistema prisional como sendo a alternativa mais viável para solucionar o problema24 Neste sentido, o que não pode acontecer é que se incorra no erro de deixar de perceber que a solução dura pode surgir como elemento de persuasão do crime, de modo que, o Ministério da Justiça tem afirmado que as ações de prevenção não devem ser definidas de acordo com as soluções que produzem e sim, pelos efeitos que poderão ser observados em condutas futuras. Ante o exposto, cumpre destacar que segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, estudos realizados em países industrializados apontaram que ações de prevenção tendem a ser mais eficientes do que as ações de controle. Assim, o que se deve ter em mente é que: Uma das regras mais importantes da prevenção é que quanto mais cedo se atuar na vida de um indivíduo evitando o desenvolvimento de condutas violentas, mais efetiva será a ação preventiva. Em decorrência, as estratégias de prevenção devem estar orientadas previamente à redução dos fatores de risco de violência e/ou criminalidade ou ao aumento dos fatores de proteção contra a violência e/ou a criminalidade25. Diante deste quadro, tanto o BID, quanto a Organização Mundial de Saúde – OMS, tem dividido as intervenções para a prevenção da violência em três níveis diferentes: primário, secundário e terciário26. 24BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005, p.2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 25 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção do crime e da violência nos municípios. 2005, p.4. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 26 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção do crime e da violência nos municípios. 2005, p.4. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 21 No campo da prevenção primária estão situadas as intervenções que buscam prevenir a violência e/ou a criminalidade antes que estas ocorram. Volta-se, portanto para a redução dos fatores de risco e o aumento dos fatores de proteção para toda a população ou para grupos específicos dela27. Enquanto isso, a prevenção secundária se configura em ações que tem por objetivo dar respostas mais imediatas à violência e a criminalidade. Este tipo de prevenção encontra-se focado em grupos de alto risco de desenvolvimento de condutas violentas e/ou criminais, como por exemplo, os jovens em situação de desigualdade econômica e social28. Por sua vez, a prevenção terciária está fundamentada em intervenções centradas em programas e projetos de longo prazo realizados posteriormente às condutas violentas e/ou criminosas, como a reabilitação e reinserção social e as ações destinadas à redução dos traumas decorrentes da violência e da criminalidade29. O que é importante de se registrar é que, nesse nível, as ações estão dirigidas aos indivíduos que tenham manifestado ou tenham sido vítimas de condutas violentas e/ou criminosas, na tentativa de evitar que voltem a reincidir no comportamento ou serem vítimas da violência e/ou da criminalidade, respectivamente30. Observa-se, portanto, que o grande desafio de um programa específico de combate à violência é “consolidar-se como uma política verdadeiramente de Estado, liberto das amarras ideológicas e partidárias de grupos políticos” (NERY, 2009, p. 10). Assim o combate á violência deve se perfazer por meio de ações adequadas que sejam capazes de atingir de forma eficaz alguns ambientes institucionais, dentre 27 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção do crime e da violência nos municípios. 2005, p.4. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 28 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção do crime e da violência nos municípios. 2005, p.4. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 29 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção do crime e da violência nos municípios. 2005, p.4. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 30 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso 29/03/2014. 22 os quais apontaremos alguns de modo especial até que se chegue ao ambiente educacional, sendo este o que mais interessa a este estudo. 1.3 Ambientes Institucionais e ações preventivas de viol ência O BID por meio de sues estudos tem indicado alguns ambientes institucionais onde o Estado e a Sociedade deve centrar seus esforços e focalizar ações que contribuam para o combate à violência. A cada uma destes ambientes corresponde um conjunto de ações que devem ser tomadas de modo especifico31. Sendo assim, no âmbito da saúde as ações que devem ser focalizadas com maior empenho são: a) melhoria do acesso aos serviços de saúde preventiva e de reprodução humana; b) melhoria na identificação das vítimas em locais de assistência médica; c) melhoria da qualidade dos registros de vítimas da violência; d) visitas as casas de mães grávidas em situação de pobreza; e) informação sobre prevenção contra a violência para as mulheres que utilizam os serviços médicos (especialmente os serviços de saúde da reprodução humana); f) programas de incentivo para a melhoria da saúde de crianças e mães; g) programa para a redução do abuso de drogas e álcool; h) programas de educação sobre os perigos do estilo de vida violento.32 Outra área importante em que devem ser adotadas medidas de igual validade é na justiça. São ações que procuram desenvolver o sentimento de dignidade na população e, portanto devem focalizar: a) centros alternativos, descentralizados para a solução de conflitos; b) incorporação de atividades de prevenção contra a violência e a criminalidade nos projetos de reforma judiciária; c) leis e normas que limitem a venda de álcool durante determinados períodos do dia; d) acordos nacionais e internacionais para controla a disponibilidade de armas; e) reformas no sistema judiciário para reduzir os níveis de impunidade na sociedade; f) treinamento dos 31 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção do crime e da violência nos municípios. 2005, p.4. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 32 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005, p.2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 23 diversos atores do sistema judiciário sobre temas relacionados à violência e também sobre a criminalidade.33 Levando em consideração os aspectos acima mencionados, tem-se que, não se pode deixar de observar outros fatores igualmente importantes, ou seja, é preciso que se tenha em mente que as “manifestações violentas assumiram formas variadas, sutis e, muitas vezes, perversamente camufladas por trás de um cenário tranqüilo na dinâmica das relações sociais”.34 Assim aquilo que aparenta ser violento em certas culturas passa a ser observado com certa naturalidade em outras formas de organização social. Uma das instituições mais importantes dentro deste sistema de combate à violência em todas as suas esferas é a instituição policial, ela está na linha de frente destas ações e seu papel se apresenta de modo relevante dentro desta sistemática. Assim, a instituição policial para atender á nova realidade vigente, deve poder contar com: a) polícia comunitária orientada para a solução de problema; b) capacitação policial incluindo capacitação sobre assuntos de violência doméstica e direitos humanos; c) maior cooperação com outras instituições do sistema de segurança pública, instituições governamentais e não governamentais; d) programas voluntários para a coleta de armas que se encontram nas mãos da sociedade civil; e) maior índice de casos solucionados, processados e apenados para reduzir os níveis de impunidade; f) ações afirmativas no recrutamento de policiais; g) melhor coleta de dados, manutenção de registros, produção de informação e relatórios35. Na área dos serviços Sociais, o destaque se volta para: a) programa de educação e treinamento para casais sobre resolução não violenta de conflitos; b) capacitação de pessoas em habilidade sociais; c) serviço de creche de boa qualidade e confiáveis; d) programas de tutoria para adolescentes de alto risco; e) programas de educação e treinamentos para pais (incluindo o estabelecimento de 33 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 34 CARREIRA, Débora Bianca Xavier. Violência nas escolas: qual é o papel da gestão? 2005, p.3. Disponível em: www.ucb.br/sites/100/127/documentos/artigo13.doc. Acesso em 23/09/2013 35 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 24 limites, mediação e solução não violenta de conflitos); f) serviços comunitários integrados (por exemplo, centros de recreação)36. A missão dos Meios de Comunicação tem como fundamento: a) campanhas para mudar a percepção social sobre violência; b) redução da programação violenta, especialmente aquela voltada para crianças; c) treinamento de jornalistas no que se refere a reportagens sensacionalistas sobre crimes e violências; d) programa s de capacitação dos meios de comunicação37. No campo do Desenvolvimento Urbano, urge que se esteja atento para a necessidade de: a) incorporação de temas sobre segurança em programas habitacionais, de melhoramento de bairros (iluminação pública das ruas, configuração de espaços, parques, etc.); b) infra-estrutura para esporte e recreação, bem com espaços de convivência pacífica; c) infra-estrutura para organizações comunitárias, tais como clubes de vizinhança, conselhos comunitários diversos, etc.38. Por sua vez, à Sociedade Civil incube ações do tipo: a) capacitação de organizações não-governamentais (ONG) para cooperar e monitorar os esforços de reforma da polícia; b) apoiar o setor privado nas iniciativas de prevenção contra a violência e a criminalidade; c) subsidiar ONGs no desenvolvimento de programas de assistência nas etapas iniciais do desenvolvimento infantil; d) subsidiar e apoiar projetos e programas para jovens em alto risco; e) maior envolvimento da igreja e outros grupos da comunidade na mudança da percepção a respeito da violência e da criminalidade39. Em fim cumpre destacar aqui o papel da educação dentro deste sistema. Sua missão é importante, sobretudo na formação dos novos cidadãos e na construção de uma sociedade pacífica a partir dos primeiros anos de ensino. 36 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 37 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 38 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 39 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 25 Assim, são ações importantes a serem adotadas: a) programas educacionais que desenvolve habilidades para a resolução pacífica de conflitos; b) programas de estudo e textos escolares que exaltem a convivência pacífica; c) intervenções ao nível cognitivo (controle da raiva, raciocínio moral e desenvolvimento de empatia social); d) melhoria do ambiente escolar (manejo de alunos nas aulas, políticas e regras escolares, segurança escolar, redução de intimidação); e) programas educacionais técnicos que reduzam a taxa de deserção escolar e aumentem a probabilidade de entrada no mercado de trabalho; f) maior cooperação com instituições de saúde, serviço social e polícia; g) programas de treinamento e mediação entre companheiros40. Ante o que fora exposto no parágrafo acima há de observar que a escolar tem um papel fundamental no combate à violência, no entanto, por mais que as autoridades tenham envidado esforços na persecução destes objetivos da educação, o que se tem observado é uma certa dificuldade para afastar o fenômeno da violência de dentro das salas de aulas. Não se pode deixar de levar em consideração também que: A violência no contexto escolar tem se manifestado de variadas formas, não estando restrita aos atos mais explícitos como as agressões físicas ou o uso de armas. Sua classificação e explicação tem sido uma tarefa difícil porque abrange aspectos heterogêneos que envolvem contextos múltiplos 41. Neste sentido, uma das formas de violência que vem provocando grande preocupação no ambiente escolar é o fenômeno do bullying, que atinge crianças, jovens e adolescentes de todas as idades conforme se verificará no capítulo que segue. Esta discussão introdutória sobre a violência se fez necessária para dimensionar o resultado a que poderá chegar a sociedade, se permanecer inerte no combate às diversas formas de violência inclusive, esta que afronta o ambiente escolar e desafia, pais educadores e a sociedade em geral. 40 BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005, p.2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. 41 CARREIRA, Débora Bianca Xavier. Violência nas escolas: qual é o papel 2005, da gestão? p.9. Disponível em: www.ucb.br/sites/100/127/documentos/artigo13.doc. Acesso em 29/03/2014. 26 CAPÍTULO II – O BULLYING A LUZ DO PROJETO DE LEI Nº 236/2012 A violência familiar representa um grande mal para a sociedade moderna, a criança ou o adolescente que é vitima no ambiente escolar pode sofrer reflexos danosos na sua vida adulta. Neste sentido, o bullying enquanto espécie de violência social deve ser repreendido pelas autoridades competentes e combatido pela sociedade, uma vez que potencialmente, este tipo de violência pode desencadear na construção de uma sociedade cada vez mais violenta, além de desencadear uma cultura de guerra. 2.1 O comportamento Bullying Atualmente muito se tem discutido sobre a violência no ambiente escolar tendo em vista que este é um mal que vem se tornando cada vez mais presente nas diversas modalidades de ensino tanto nas instituições públicas como privadas. Em que pese todas as formas de violência ser por si só preocupantes, a violência no ambiente escolar requer uma atenção especial das autoridades, uma vez que vilipendia os direitos da criança e adolescente. Assim, ao longo dos últimos anos a escola tem se transformado em um lócus de conflitos marcado por um tipo de violência preocupante devido a forma como se apresenta e as conseqüências que dela decorre: o bullying. O bullying se apresenta de diversas formas, ou seja, não um problema exclusivamente do ambiente escolar, de modo que, pode-se verificar a sua ocorrência no trabalho, nos presídios, instituições militares, meios de comunicação, etc. No entanto a sua ocorrência é mais preocupante quando se apresenta no meio escolar, isto porque, no ambiente escolar, as interações sociais são de relevante importância para o desenvolvimento das crianças assim como também "[...] é importante frisar que as crianças se desenvolvem em situações de interação social, nas quais conflitos e negociação de sentimentos, idéias e soluções são elementos indispensáveis."42 O que torna este tipo de violência mais preocupante é que ela deixa marcas na vida do agredido podendo ocasionar manifestações comportamentais agressivas 42 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, 1998. v. 1, p.31. 27 ou reprimidas, promover a formação da delinqüência, bem como inclusive induzir as outras formas de violência. Outros fatores importantes é que esta problemática pode evoluir pra a formação de uma sociedade repleta de indivíduos estressados, deprimidos, com uma auto-estima abalada, acarretando problemas mais graves como doenças de origem psicológica e transtornos mentais. Importa ainda destacar que a manifestação deste tipo de violência pode se dar de maneira velada, isto porque, muitas vezes, mesmo as brincadeiras inofensivas e atitudes próprias das idades dos alunos pode desencadear danos inimagináveis para todos os envolvidos na situação. Portanto, faz-se necessário que antes de qualquer abordagem sobre a temática, se busque entender de forma mais elucidativa o que é o bullying bem como proceder a um estudo de suas raízes. O termo bullying originou-se na língua inglesa e vem sendo usado em diversos países para definir a ação do indivíduo que por vontade própria, de forma consciente, se dispõe a agredir e maltratar outra pessoa. Cumpre ainda destacar que este tipo de comportamento pode apresentar outras terminologias, tais como: Mobbing (Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia); Harcèlement Quotidièn (França); Prepotenza ou Bullismo (Itália); Yjime (Japão); Agressionen unter shülern (Alemanha); Acoso y Amenaza (Espanha)43. No Brasil foi adotado o termo em inglês, tendo em vista que houve dificuldade de encontrar um termo capaz de definir de forma abrangente esta conduta assim como o é capaz a terminologia inglesa. Portanto, o termo bully encontra-se diretamente relacionado a características como: valentão, tirano e aos verbos brutalizar, tiranizar e atemorizar44. Observa-se, portanto, que estas características traduzem bem uma realidade que tem sido detectada nas escolas brasileiras. Assim, entenda-se o bullying como: [...] um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro (s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de 43 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005. 44 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005. 28 outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas das manifestações do comportamento bullying45. Portanto, há de se observar que o vocábulo contempla todas as manifestações agressivas, por parte de um ou mais agressores dirigido à (s) vítima(s). Essas manifestações ocorrem de forma repetitiva, demonstrando desequilíbrio de poder. A maioria dos casos de bullying são realizados, por meio de ‘brincadeiras’ que acabam por transformar os mais fracos em alvos de chacotas, disfarçando o real motivo, que é o de maltratar e intimidar a vítima. Alguns autores têm afirmado que o bullying pode causar ansiedade e interferir de forma negativa na aprendizagem e no convívio social dos educandos o que acarreta na evasão escolar e em características anti-sociais. Assim, o bullying se difere, na medida em que as crianças vão crescendo46. Portanto é preciso destacar que nos primeiros anos da educação básica, esse fenômeno é manifestado, na forma de empurrões, ofensas verbais, rasteiras, distrações, interrupções e risadas. Quando a criança vai se desenvolvendo e ficando maior o bullying fica mais intenso, e evoluem para ofensas verbais, agressões e físicas, intimidação, disseminação de fofocas e boatos, exclusão de indivíduos por grupos. Observa-se ainda que esse fenômeno “[...] pode ser identificado, na criança a partir dos três anos de idade, quando a intencionalidade desses atos já pode ser observada. As meninas agem de forma ainda mais velada e cruel”47. O estudo sobre bullying é recente, entretanto, o fenômeno é tão antigo quanto a instituição escolar. Esse tema tem sido objeto de estudo nas últimas décadas por ser uma prática intensa encontrada em vários ambientes: na escola, na família e no trabalho, enfim, onde existe relações interpessoais o fenômeno está presente.48 Assim, é preciso entender que esse fenômeno: [...] sempre existiu nas escolas, porém, há pouco mas de 30 anos é que se começou a ser estudado com parâmetros científicos, como fenômeno psicossocial, e recebeu nome específico. No Brasil o tema começou a ganhar espaço através do trabalho que realizamos e do programa antibullying Educar para Paz, que iniciamos no interior paulista em 2000. 45 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005, pp. 28-29. 46 COLOVINI, Cristian Ericksson. O fenômeno bullying na percepção dos professores. 2007. Disponível em: http://www.bullying.pro.br/artigo_cientifico.pdf. Acesso em: 05/10/13. 47 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005, p.78. 48 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005. 29 Desde então, vem conquistando visibilidade e gerando debate público, especialmente em decorrência de tragédias ocorridas em Taiúva (SP) e Remanso (BA). Em meados de 2006, realizamos o I Fórum Brasileiro sobre Bullying Escolar, em Brasília-DF, com a participação de diversos segmentos da sociedade. No entanto, a maioria das escolas ainda não está preparada para o seu enfrentamento. Algumas por desconhecimento, outras por omissão, muitas por comodismo e negação do fenômeno 49. Estes dados apresentam a possível realidade de muitas escolas, que mesmo com a atualidade do tema o despreparo, a omissão, o comodismo e a negação da existência do fenômeno bullying tem gerado cada dia mais vítimas. Não existe uma diferenciação do bullying praticado em outros países com o bullying praticado no Brasil, o que se varia é a intensidade e o número de alunos envolvidos nesse processo e/ou situação. É importante destacar ainda que não se possam confundir brincadeiras comuns da idade, e necessárias para o crescimento da criança, com atos cruéis e repetitivos, que tem como intenção prejudicar as vítimas. Isto porque, a partir do momento em que o bullying ocorre e nenhuma atitude é tomada pelos adultoresponsáveis ou, se as atitudes tomadas não surtem efeitos, tal problema passa a ser visto pela criança como um ato normal, pois, mesmo os alunos que são espectadores vêem a normalidade no fenômeno.50 2.2 Perfil dos Agressores e das Vítimas Os alunos são muitas vezes motivados por outros a agredirem. Nesses grupos que se encontram alunos considerados valentões, alguns de seus colegas participam dessas brincadeiras violentas e acabam por praticar atos de bullying por influenciados ou para permanecer em determinado grupo. O fenômeno bullying não escolhe classe social, poder aquisitivo, nem se diferencia em escolas publicas ou privadas, ensino fundamental ou médio, ele está presente em ambientes em que se encontram relações interpessoais não importando em que país se encontrem ou se a cultura se diferencia.51 49 FANTE, Cleo; PEDRA, José Augusto. Bullying escolar: perguntas e respostas. Porto Alegre: Artmed, 2008,p.106. 50 MIDDELTON-MOZ, Jane; ZADAWSKI, Mary Lee; Tradução Roberto Cataldo Costa. Bullying: estratégias de sobrevivência para crianças . PortoeAlegre-RS: adultos Artmed, 2007. 51 CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade-bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores. São Paulo- SP: Editora Gente, 2008. 30 É importante destacar que “a hereditariedade e o ambiente são igualmente importantes para o comportamento”52, demonstrando assim, que o meio influencia nas atitudes e na forma em que cada pessoa reage. Estudiosos têm afirmado que o bullying manifesta suas agressões em três grupos: diretas e físicas, o primeiro que se dá por meio de torturas físicas, roubar dinheiro e estragar objetos da (s) vitima (s); o segundo representa as diretas e verbais, por meio de xingamentos, insultos, o uso de apelidos, comentários racistas; e o terceiro grupo contempla as agressões indiretas que ocorrem com a realização de fofocas e comentários discriminatórios, intervindo e manipulando a vida social e o equilíbrio psicológico do individuo que sofre tais agressões53. No ambiente escolar, por exemplo, o agressor vai apresentar características peculiares, de modo que: [...] os autores do bullying, também chamados de bullies o agressores, apresentam características peculiares de comportamento, como agressividade e impulsividade exacerbada do que a maioria dos outros estudantes e um desejo por dominar, humilhar e subjugar os demais. eles são fisicamente mais fortes e suas posturas de confronto e desafio podem ser também identificadas contra pais, professores e outros adultos. 54 Portanto o que se pode observar é que estes agressores sentem-se verdadeiramente superiores, e, portanto, sentem-se autoconfiantes tendo em vista que muitos estudantes acabam vendo neles uma pessoa popular. A literatura tem atribuído ainda aos mesmos a habilidade social como uma de suas características mais fortes, ou seja, são comunicativos, falantes e extrovertidos55. Assim, uma vez que consegue atrair para si tantas características positivas do ponto de vista da habilidade social, os mesmos acabam se sentindo imunes à punição, ou seja, acreditam que nunca serão punidos por seus atos, desencadeando uma sequencia de condutas preocupantes: Os agressores mantêm seu status social à custa da violência e da opressão de suas vítimas e se sentem mais poderosos cada vez que agridem e 52 DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia 3.ed. São Paulo-SP: Pearson Makron Books, 2001, p.51. 53 MARTINS, Maria José D. O problema da violê ncia escolar: Uma clarificação e diferenciação de vários conceitos relacionados. In: Revista Portuguesa de Educação, Vol.18, 2005, p.93-105. 54TEIXEIRA, Gustavo. Manual antibullying: para alunos, pais e professores. Rio de Janeiro; BestSeller, 2011, p.31. 55TEIXEIRA, Gustavo. Manual antibullying: para alunos, pais e professores. Rio de Janeiro; BestSeller, 2011. 31 maltratam outros estudantes. Como a covardia é outra marca dos bullies, não costumam agir sozinhos, são seguidos por dois ou mais alunos que reforçam a noção de grupo, utilizando-se disto para impor mais medo e insegurança aos alvos da violência.56 O que não se deixa escapar aqui é que de fato existe um desejo de domínio dos outros alunos, uma necessidade de poder e afirmação através da violência física, verbal e moral. As vítimas dessa agressão são aquelas pessoas que servem de “bode expiatório” para um grupo de alunos. Há de se destacar que na maioria das vezes esses alunos (vítimas) são pouco sociáveis, não reagem às investidas agressivas dos colegas, ou seja, “a vítima quase nunca compartilha seu sofrimento e desenvolve algumas atitudes de isolamento social e insegurança e, por vezes, mostra-se indefesa ante os ataques”.57 Outro aspecto importante a ser destacado é que as crianças que são vítimas dessa violência apresentam algumas características físicas e psicológicas tais como: “[...] extrema sensibilidade, timidez, passividade, submissão, insegurança, baixa auto-estima, alguma dificuldade de aprendizado, ansiedade e aspectos depressivos”58. Em face disto é que a criança vitimada apresenta dificuldades para se impor ao grupo. Importa destacar ainda que o ato praticado pelo agressor não está acompanhado de uma motivação específica e desta forma este não adota qualquer critério de escolha para as suas vítimas59 . Estudo realizado pelos pesquisadores Fante e Pedra identificou um perfil dos alunos que são vitimados pelo bullying com maior incidência. Estes alunosa apresentavam como principais características: diferenças raciais, religiosas, opções sexuais, problemas no desenvolvimento acadêmico, um sotaque diferenciado, maneira de se vestir60. É possível encontrar no bullying a vítima provocadora, que vem a ser aquela 56TEIXEIRA, Gustavo. Manual antibullying: para alunos, pais e professores. Rio de Janeiro; BestSeller, 2011, p.32. 57 MORAES, Maria Celia Iennaco de; MORAES, Rodrigo Iennaco de. Nova percepção ou nova abordagem da Violê ncia nas escolas? In Revista Jurídica UNIJUS, Universidade de Uberaba, Ministério público do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, n. 17 (1998). Uberaba, 2009, p.63. 58 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005, p.72. 59 CALHAU, Lélio Braga. Bullying: o que você precisa saber: identificação, prevenção e repressão . Niterói- RJ: Impetus, 2009. 60 FANTE, Cleo; PEDRA, José Augusto. Bullying escolar: perguntas e respostas. Porto Alegre: Artmed, 2008. 32 que realiza ações agressivas, entretanto, não sabe como lidar com eficiência diante das agressões que sofre. A vítima pode ser hiperativa, inquieta e dispersa, como também é, geralmente, a causadora de tensões no ambiente em que se encontra.61 A figura do agressor é apresentada como sendo aquele que agride os mais fracos, o termo inglês usado para designar este indivíduo é bullie e sua tradução significa valentão. As principais características identificadas nestes agressores é que os mesmos com uma maior freqüência são originários de famílias desestruturadas (pouco afeto, pais violentos). Portanto o agressor é geralmente um indivíduo mais forte do que os demais de sua sala e por isso é fisicamente superior aos colegas em brincadeiras, brigas e jogos esportivos, especificamente quando este agressor é do sexo masculino. Os mesmos ainda apresentam dificuldades de seguir regras, são impulsivos, se irritam com facilidade. Importa destacar ainda que o agressor geralmente adote conduta anti-social através de atos de vandalismo, chegando a cometer até mesmo alguns roubos. O seu rendimento escolar, nas series iniciais, não apresenta necessariamente dificuldades, podendo até ter médias maiores que o restante da turma. Nas demais etapas de ensino, ainda que não seja uma regra, o agressor possui notas baixas e desenvolve atitudes negativas no ambiente escolar.62 Dentre os atores envolvidos em um ambiente onde ocorre o bullyin além do agressor e da vítima, encontra-se a figura do espectador, este indivíduo assiste os atos do fenômeno, mas não o sofre nem pratica. No entanto, mesmo não participando diretamente da violência, alguns espectadores do fenômeno sofrem com a insegurança se sentem incomodados com os ocorridos.63 Essas caracterizações e classificações da forma como o bullying se efetiva conduz a uma e distinção mais concisa dos sujeitos envolvidos nessa situação, consistindo em processos substanciais para uma intervenção mais segura, por parte dos educadores, evitando a ocorrência de tal atitude, no ambiente escolar e fora dele. 61 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005. 62 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê a nas nci escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005. 63 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas SP: Veros Editora, 2005. 33 2.3 A reforma do Código Penal e a criminalização do Bullying Nesta atmosfera de mudanças que nossa legislação vem enfrentando, observou-se, também, a necessidade de atualização do diploma legal pátrio, surgindo assim o projeto de lei nº 236, de 2012 (Reforma do código Penal). O projeto de lei apresenta mudanças significativas para a seara penal, as quais não nos deteremos em uma análise pormenorizada, haja vista não se este o foco do estudo. Portanto serão aqui apresentadas apenas as mudanças afetas à temática em estudo. O fenômeno do bullying tem apresentado um crescimento significativo em todo o mundo, de modo que, torna-se imperioso o combate a este tipo de violência, por ela apresentar-se potencialmente danosa, além de poder evoluir para situações mais graves conforme tem sido noticiado pela mídia os diversos casos de bullying que resultam em tragédias, principalmente no ambiente escolar. Ante o exposto e levando em consideração a repercussão que o bullying tem alcançado, observou-se a necessidade do estado adotar medidas de proteção ás vítimas desta espécie de conduta, que de modo geral são menores e adolescentes. Portanto, cumpre destacar que a busca do estado pela salvaguarda destas pessoas decorre, “não só porque a guarda de direitos fundamentais é seu dever, como também, porque, em última instância, salvaguardar a juventude se amalgama à proteção da própria comunidade e do crescimento pátrio.”64 O atual Código Penal traz em seu bojo apenas quatro condutas típicas na seção em que se trata dos crimes contra a liberdade pessoal: a) constrangimento ilegal; b) ameaça; c) seqüestro e cárcere privado; d) redução à condição análoga a de escravo. Neste sentido, o projeto de lei nº 236, de 2012, Juntamente com a criação do tipo denominado “perseguição obsessiva ou insidiosa” (art. 147) promoveu também a inserção de um novo tipo penal para criminalizar a conduta conhecida como bullying, aqui denominada juridicamente de “intimidação vexatória” (art. 148): 64 FIGUEIREDO, Rudá Santos. O tratamento típico do bullying no projeto de Código Penal. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 108, jan 2013. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12654>. Acesso em 04/05/2014. 34 Art. 148. Intimidar, constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender, castigar, agredir, segregar a criança ou o adolescente, de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente, por qualquer meio, valendo-se de pretensa situação de superioridade e causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial: Pena – prisão, de um a quatro anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Portanto, a Comissão responsável pela reforma do Código Penal, demonstrou-se preocupada com a temática, propondo a criação do tipo penal descrito como “intimidação vexatória”. Um aspecto importante a ser observado, no tocante ao novo tipo penal, é que o legislador tomou o cuidado de adotar a linguagem pátria para estabelecer o nomem júris, possibilitando desta forma um melhor entendimento da natureza do delito. Assim, cumpre ainda destacar que o PLS nº 21, de 2013, veio ser incorporado à proposta de Reforma do Código Penal, tipificando o crime de bullying virtual, praticado pela internet ou por mensagens de celular, com agravação de pena quando resultar em transtorno mental ou agressão física ou quando relacionado à discriminação em razão de características pessoais da vítima. Abordando a temática o Professor Luiz Flávio Gomes apresenta uma reflexão importante, quando afirma que: Em razão do desconhecimento do seu conceito, a inserção da definição do bullying (intimidação vexatória) no projeto do novo Código Penal levou muita gente a supor que se tratasse de uma neocriminalização própria (criação de um novo injusto penal). Na verdade, tudo que se pratica no bullying (xingamentos, ofensas, ameaças, constrangimentos, lesões etc.) já está tipificado nas leis penais. Trata-se, portanto, de uma neocriminalização imprópria, que pode ser útil para difundir a exata dimensão do conceito assim como facilitar a sua sistematização. 65 Neste sentido o doutrinador afirma ainda que “mesmo que esteja tal definição no Código Penal, não se pode imaginar que é com ela que vamos enfrentar adequadamente e prevenir o fenômeno.”66 Chama-se atenção, na verdade, para o fato de que todos os mecanismos de contenção do bullying já desenvolvidos e 65 GOMES, Luiz Flávio. Brasil: escassez de estudos e a deturpação do conceito de bullying. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3339, 22 ago. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/22464>. Acesso em: 05/05/2014. 66 GOMES, Luiz Flávio. Brasil: escassez de estudos e a deturpação do conceito de bullying. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3339, 22 ago. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/22464>. Acesso em: 05/05/2014. 35 praticados na esfera escolar, a começar pelo diálogo, mediação, conciliação etc., tudo isso não pode deixar de ser praticado. Neste sentido, é preciso levar em consideração que: Embora seja registrado noutros espaços, o bullying praticado no ambiente escolar é a forma mais comum de violência, e a mais veiculada nos meios de comunicação. Isso se dá, principalmente, porque a escola é o local onde se convive com diversidade humana e nela existem indivíduos com diferentes comportamentos.67 Assim, esta violência praticada no ambiente escolar, não tem natureza de uma forma qualquer de violência, na verdade, ela se caracteriza pelo isolamento intencional, apelidos vexatórios e gozações que magoam e constragem. Em que pese o legislador ter buscado inserir a prática do bullying no contexto da reforma do Código Penal, buscando com isso dar um tratamento legal a um problema que nos dias atuais se configura como uma realidade social grave e que deva efetivamente se combatido, é preciso destacar que “a prática do bullying no ambiente escolar não passa impune diante do ordenamento jurídico nacional, acarretando uma série de sanções para seus autores, ou responsáveis legais”. 68 A necessidade de dar um tratamento legal ao fenômeno decorre evidentemente dos efeitos que este tipo de violência causa tanto à vitima quanto ao agressor, tendo em vista que: O fenômeno bullying estimula a delinquência e induz outras formas de violência explícita, produzindo, em larga escala, cidadãos estressados, deprimidos, com baixa autoestima, capacidade de autoaceitação e resistência à frustração, reduzida capacidade de autoafirmação e de autoexpressão, além de propiciar o desenvolvimento de sintomatologias de estresse, de doenças psicossomáticas, de transtornos mentais e de psicopatologias graves.69 Portanto, o bullying com o passar do tempo vai dominando o agressor e conduzindo o mesmo a uma rotina de delinqüência marcada pela pratica de delitos 67 ARAÚJO, Jailton Marcena; ASSIS, Elma Moreira de. Identificação e proibição do bullying escolar no ordenamento jurídico brasileiro: perspectiva de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais. Vitória: Faculdade de Direito de Vitória - FDV, 2012, p. 361. 68 ARAÚJO, Jailton Marcena; ASSIS, Elma Moreira de. Identificação e proibição do bullying escolar no ordenamento jurídico brasileiro: perspectiva de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais. Vitória: Faculdade de Direito de Vitória - FDV, 2012, p. 361 69 CALHAU, Lelio Braga. Bulling: o que vocêprecisa . Niteroi, saber RJ: Impetus, 2011, p. 18. 36 diversos, e é justamente por isso que o fenômeno tem despertado o interesse de estudiosos, sociólogos e juristas nos últimos anos. O agressor (de ambos os sexos) envolvido no fenômeno estará propenso a adotar comportamentos delinquentes, tais como: agregação a grupos delinquentes, agressão sem motivo aparente, uso de drogas, porte ilegal de armas, furtos, indiferença à realidade que o cerca, crença de que deve levar vantagem em tudo, crença de que é impondo-se com violência que conseguirá obter o que quer na vida... Afinal, foi assim nos anos escolares.70 Considerando os aspectos acima descritos é que o sistema legal brasileiro buscou gradativamente possuir meios para prevenir e responsabilizar os praticantes desta forma de violência de modo que hoje, dispõe de diversos mecanismos para combater o bullying, “a depender da natureza das agressões sofridas e do ambiente em que são praticadas”.71 Assim como instrumentos legais que auxiliam na prevenção e no Combate ao bullying, o sistema jurídico brasileiro conta com um conjunto de normas igualmente importantes para que as vítimas possam recorrer ao judiciário quando se sentirem prejudicadas, possibilitando desta forma, tanto a punição quanto a responsabilização dos agressores. Além da Constituição Federal de 1988, o Código Civil, o Código Penal, o Código do Consumidor, entre outras leis, determinam a punição (cada um em sua área) de práticas de bullying, sendo que o assunto começou tímido nos tribunais, mas nos últimos cinco anos rompeu os obstáculos iniciais e decisões coibindo o bullying (nos mais diversos ambientes) começam a surgir, sinalizando que o Poder Judiciário não tolera tais condutas, punindo, assim, os responsáveis.72 Portanto, a considerar as características danosas que o fenômeno atrai para a sociedade de modo geral e especificamente para o ambiente escolar quando nele se concretiza a violência, a Comissão de reforma do Código Penal buscou de imediato 70 Fante, Cleo. Fenômeno bullying: como prevenir a violê ncia nas escolas e educar para. a paz Campinas: Verus, 2005, p. 81. 71 ARAÚJO, Jailton Marcena; ASSIS, Elma Moreira de. Identificação e proibição do bullying escolar no ordenamento jurídico brasileiro: perspectiva de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais. Vitória: Faculdade de Direito de Vitória - FDV, 2012, p. 361 72 CALHAU, Lelio Braga. Bulling: o que vocêprecisa . Niteroi, saber RJ: Impetus, 2011, p. 15. 37 incluir a figura do bullying como novo tipo penal, “sob a justificativa de que a criminalização do fenômeno garantirá maior seriedade ao tema”.73 Em que pese a necessidade evidente de dar um tratamento específico para este tipo de violência, decorrente dos aspectos mencionados nas linhas anteriores, ainda que timidamente, algumas indagações vão sendo gradativamente levantadas, tendo em vista que, “se todas as condutas configuradoras do bullying já se encontram tipificadas nas leis penais brasileiras, qual seria o interesse em tipificá-lo autonomamente, tal como previsto no projeto de Reforma do Código Penal?”74 Há de se destacar que o tratamento dado ao tema pela comissão de reforma do Código Penal, se afigura plausível, sobretudo, porque o bullying, representa “uma subcategoria de violência bem específica que abrange muito mais do que desentendimentos cotidianos escolares e problemas estudantis”75, conforme foi possível observar nas contribuições até aqui trazidas por este estudo. No entanto, interpretar as mudanças e inovações legislativas como atalho (caminho mais rápido) para o enfrentamento de qualquer enigma, como vem ocorrendo com o fenômeno do Bullying, é renegar a própria complexidade do tema.76 Esta reflexão é importante, tendo em vista que, a “neocriminalização” do fenômeno bullying não conduzirá necessariamente a uma solução para as causas que desencadeia este tipo de violência, surtindo, efeito apenas no que tange às conseqüências do evento agressivo. 73 GOMES, Luiz Flávio. Criminalização do bullying: um atalho à solução?. JusTocantins, jun 2012. Disponível em: http://www.justocantins.com.br/luiz-flavio-gomes-9873-criminalizacao-do-bullying-umatalho-a-solucao.html. Acesso em: 05/05/2014. 74 GOMES, Luiz Flávio. Bullying Criminalização inútil? Clubjus, Brasília-DF, 15 ago. 2012. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.36843 acesso em 05/05/2014. 75 GOMES, Luiz Flávio. Bullying Criminalização inútil? Clubjus, Brasília-DF, 15 ago. 2012. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.36843 acesso em 05/05/2014. 76 GOMES, Luiz Flávio. Bullying Criminalização inútil? Clubjus, Brasília-DF, 15 ago. 2012. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.36843 acesso em 05/05/2014. 38 CAPÍTULO III – A FUNÇÃO PREVENTIVA DO DIREITO PENAL O direito penal enquanto norma de conduta social apresenta uma função importante para o convívio em sociedade, qual seja estabelecer as condutas caracterizadoras de crime. Neste contexto é possível inferir que nem todas as condutas devem ser abordadas no direito penal, o que o conduz a debruçar-se apenas sobre aquelas que representarem verdadeiro potencial danoso para o equilíbrio social – princípio da intervenção mínima. 3.1 Os fins da pena Em meados do século XVIII a Europa assistiu a eclosão dos estudos da Escola Clássica Criminal em que se destacaram pensadores como Césare Beccaria, John Howard e Jeremy Bentham, em um movimento de oposição e combate ao terror e brutalidade, dos castigos corporais assim como das penas capitais, fazendo surgir ideais de punição alicerçados em fundamentos humanitários e calcados na razão. Neste sentido, no tocante à teoria dos fins da pena, Prado sistematiza a mesma da seguinte forma: Teorias Absolutas – responsáveis por fundamentarem a existência da pena unicamente no delito praticado, nessa o sujeito há de compensar o mal causado pelo crime, sendo a pena de retribuição. Teorias Relativas – fundamenta-se na necessidade de evitar a prática futura dos delitos, justificada por fins preventivos, gerais ou especiais. 77 A teoria absoluta, também denominada de retributiva, fundamenta-se na necessidade de impor o peso da pena de conformidade com o desvio social apresentado pelo indivíduo. Neste sentido, a pena é a conseqüência da prática de um dano à sociedade. Por seu turno, a teoria relativa ou preventiva tem por finalidade, não a retribuição do mal cometido pelo infrator à sociedade, mas, do contrário, adota 77 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. v. 1: parte geral, 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.513). 39 medidas preventivas e caminha no sentido de estabelecer mecanismos de ressocialização do delinqüente. Existe ainda a vertente unitária da teoria das penas, também conhecida como eclética apresentada por Bitencourt nos seguintes termos: Em resumo as teorias unificadoras aceitam a retribuição e o princípio da culpabilidade como critérios limitadores da intervenção da pena como sanção jurídico-penal. A pena não pode, pois, ir além da responsabilidade decorrente do fato praticado, além de buscar a consecução dos fins de prevenção geral e especial.78 Vale salientar que este é o sistema adotado no Brasil, cuja finalidade da pena é retributiva, preventiva e ressocializadora e, portanto, deve estar assente em princípios capazes de concretizar a sua função no plano concreto. Assim, a pena deve estar regida pelos princípios da legalidade e anterioridade, humanidade, personalidade e individualização, proporcionalidade, proibição de dupla punição, jurisdicionalidade e, igualdade e ressocialização, conforme classificação apresentada por João Carvalho de Matos. No que tange ao princípio da legalidade e anterioridade pode-se afirmar conceitualmente que estes vêm informar que a pena deve ser prevista em lei vigente à data do fato, inclusive quanto à data da execução, retroagindo só no que beneficiar o condenado. O referido princípio está insculpido no art. 5º, II, XL e XXXIX da Constituição federal de 1988, assim como nos seguintes arcabouços normativos: “Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque – PIDCP, art. 15, n.1; Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica - CADH, art. 5º; Lei de Execuções Penais – LEP, art. 40”.79 Reza o princípio da humanidade que são inadmissíveis, ante o fundamento da dignidade humana, as penas de morte, perpétua, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis e desumanas ou degradantes (art. 5º, III, XLVII e XLIX da Constituição Federal de 1988 – CF/88).80 No tocante ao princípio da personalidade e da individualização, a regra é que a pena não pode passar da pessoa do condenado, isto é, ninguém pode ser punido 78 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de. Prisão Causas e Alternativas. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.143. 79 MATOS, João Carvalho de. Prática e teoria do Direito Penal e Processual Penal. Vol 1. São Paulo: Mundo jurídico, 2011, p.526. 80 MATOS, João Carvalho de. Prática e teoria do Direito Penal e Processual Penal. Vol 1. São Paulo: Mundo jurídico, 2011. 40 por conduta de outrem, devendo a pena ser individualizada em cada caso, não apenas no momento da sua aplicação como também no transcurso da execução (art. 5º, XLV e XLVI da CF/88;CADH, art. 5º, n. 3; Código Penal – CP, art. 59; LEP, arts. 45, § 3º, e 112).81 Pelo princípio da proporcionalidade as penas devem sempre guardar razoável proporção com o delito cometido e com a sua forma de execução. Sobre este ponto Michel Foucault já havia mencionado que o princípio da moderação da pena se articula em primeiro lugar como um discurso do coração, ou seja, a penalidade deve permanecer humana, embora subsista a necessidade de moderar e calcular os efeitos do retorno do castigo sobre a instância que pune e o poder que ela pretende exercer. O princípio da proibição de dupla punição é a expressão do “ne bis in iden”, ou seja, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Jurisdicionalidade significa que só o Poder Judiciário pode impor pena e executá-la, respeitando o devido processo legal. Os princípios da igualdade e ressocialização informam que é vedada a discriminação entre pessoas presas e soltas, não se podendo marginalizar indevidamente as primeiras, devendo-se prezar pela sua ressocialização, ou seja, readaptação social. Entretanto, é amplamente reconhecido em doutrina o caráter mais enfático da repressão penal. As sanções penais são, visivelmente, mais prejudiciais ao indivíduo devido ao seu principal enfoque: a liberdade, o direito de ir e vir do cidadão. Cominase, nos tipos penais, geralmente, penas privativas de liberdade, e, considerando que esse bem é um dos mais caros e importantes ao pleno desenvolvimento do indivíduo, a essência da coerção estatal penal é mais forte do que as coerções civis e administrativas, patrimoniais por excelência. Tendo em vista esse aspecto, a doutrina elaborou o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Segundo esse, o Direito Penal seria a ultima ratio, ou seja, seria a última medida do Estado na proteção dos bens jurídicos indispensáveis ao bom convívio social, devendo ser utilizado apenas para a proteção dos bens mais importantes da sociedade e desde que tais bens não sejam satisfatoriamente 81 MATOS, João Carvalho de. Prática e teoria do Direito Penal e Processual Penal. Vol 1. São Paulo: Mundo jurídico, 2011. 41 protegidos pelos outros ramos do ordenamento jurídico. Nesse sentido, aduz Cezar Roberto Bitencourt: O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável. Se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as penais. Por isso, o Direito Penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade.82 Alice Bianchini, Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes entendem que: A intervenção penal, em razão da natureza do castigo penal, que retrata a forma mais drástica de reação do Estado frente ao delito, deve ser fragmentária e subsidiária. Isso é o que caracteriza o princípio da intervenção mínima, que constitui a base do chamado Direito Penal mínimo.[...] O Direito tem condições de oferecer aos bens jurídicos uma proteção diferenciada, que pode ser civil, administrativa, penal etc. A tutela penal deve ser reservada para aquilo que efetivamente perturba o convívio social. Em outras palavras, ao estritamente merecedor de tutela. 83 Segundo alguns doutrinadores, o princípio da intervenção mínima do Direito Penal encontra guarida constitucional. Nesse aspecto, esse princípio, implícito no atual texto da Constituição Federal, seria uma das principais limitações à atividade legislativa penal. Com esse viés, leciona Alberto Jorge Correia de Barros Lima: E é exatamente como limite constitucional, traduzido não só em garantia individual, mas em garantia dos interesses transindividuais que regem a coexistência em uma coletividade marcada pela diversidade, que a intervenção mínima vai figurar na atual Constituição brasileira em forma de princípio. Princípio constitucionalmente implícito, o que não nega, de modo algum, a sua validade no sistema, em face da previsão positivada no §2º do art. 5º da Carta Federal. A intervenção mínima é decorrente do princípio 82 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 15ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.43. 83 BIANCHINI, Alice; MOLINA, Antonio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 285. 42 constitucional expresso da dignidade humana (CF, art. 1º, III) e da determinação impositiva do art. 3º, IV, da Constituição Federal, concernente à efetivação do bem de todos por meio da obrigatória ação dos Poderes Públicos. Em um Estado Democrático de Direito, que tem como alicerce a Dignidade Humana e como objetivo o bem de todos, não se podem permitir criminalizações de comportamentos arbitrariamente, ao livre talante de quem quer que seja, ainda que em nome de uma suposta maioria e de supostos interesses emergenciais. [...] Por transportar consigo garantia fundamental do indivíduo, consistente em critério lógico antecedente na criação de regras restritivas da liberdade de ir, vir e ficar, inserindo-se, por natureza, entre as normas limitativas dos poderes estatais, o princípio tem aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, §1º), independentemente de reconhecimento expresso e também de lei regulamentadora, já que dotado dos meios e elementos necessários à sua executoriedade. 84 A doutrina identifica duas vertentes do princípio da intervenção mínima da tutela penal. A primeira diz ao respeito ao bem jurídico, no sentido de que apenas aqueles bens considerados essenciais ao convívio em sociedade merecem a atenção especial do Direito Penal. A segunda faz alusão à subsidiariedade do ordenamento penal, fazendo referência ao Direito Penal como de utilização necessária apenas quando os demais ramos do ordenamento jurídico não forem capazes de tutelar satisfatoriamente o bem jurídico em análise. Nesse sentido é a lição de Rogério Greco: O princípio da intervenção mínima deve ser analisado sob dois enfoques diferentes, a saber: a) ab initio, devendo ser entendido como um princípio de análise abstrata, que serve de orientação ao legislador quando da criação ou da revogação das figuras típicas; b) evidencia a chamada natureza subsidiária do Direito Penal, devendo ser encarado como a ultima ratio de intervenção do Estado.85 Em relação ao primeiro aspecto do princípio da intervenção mínima apontado pelo professor Rogério Greco, é importante ter a noção de bem jurídico. O bem jurídico, em linhas gerais, é aquele dotado de importância para o Direito, merecendo, por conseguinte, a sua proteção. O Estado, mediante a atividade político-legislativa, analisa a conveniência de determinado bem ser objeto de tutela pelo ordenamento, observando, nessa atividade valorativa, o caráter de necessidade do bem para a manutenção da coesão social. Após a seleção dos bens que merecem a proteção do ordenamento jurídico, 84 LIMA, Alberto Jorge C. de Barros. Direito penal constitucional: a imposição dos princípios constitucionais penais. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 70-71. 85 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. Niterói: Impetus, 2011, p. 75. 43 em observância ao postulado principiológico em estudo, apenas os bens jurídicos considerados essenciais e imprescindíveis à sociedade é que merecerão a atenção do Direito Penal. Assim, os bens jurídico-penais, sob a ótica da intervenção mínima, são aqueles mais importantes da sociedade, mais intimamente ligados à sua própria essência. Nesse aspecto, doutrina Rogério Greco que: Em um enfoque minimalista, característico do princípio da intervenção mínima, a finalidade do Direito Penal é proteger os bens mais importantes e necessários ao convívio em sociedade. Partindo dessa visão, somente os bens de maior relevo é que merecerão a atenção do legislador penal que, a fim de protegê-los, deverá criar os tipos penais incriminadores, proibindo ou determinando a prática de comportamentos, sob a ameaça de uma sanção.86 Enfatizando sua concepção acerca da primeira vertente do princípio da intervenção mínima, no sentido de proteção dos bens jurídicos mais importantes ao harmônico convívio social, Greco elucida: Certo é que, independentemente do conceito que se adote de bem jurídico, ora enfatizando um bem individualmente considerado, ora levando em consideração um bem de interesse coletivo ou social, a escolha deverá recair somente sobre aqueles que gozarem da importância exigida pelo Direito Penal, a fim de que o princípio da intervenção mínima seja atendido.87 Alice Bianchini, Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes entendem, em relação ao aspecto da intervenção mínima nesse momento debatido, que “o fundamento nuclear da idéia de que o Direito Penal somente deve proteger os bens jurídicos mais relevantes reside, indiscutivelmente, na dignidade da pessoa humana (que é o valor máximo do nosso modelo de Estado de Direito)”88. O segundo aspecto da intervenção mínima, qual seja, o da subsidiariedade, significa que o Direito Penal só deve voltar sua atenção e a sua força coercitiva para aquelas condutas que não estejam suficientemente reprimidas por outros ramos do 86 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. Niterói: Impetus, 2011, p. 75. 87 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. Niterói: Impetus, 2011, p. 77. 88 BIANCHINI, Alice; MOLINA, Antonio García-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 231. 44 ordenamento jurídico. Assim, se, por exemplo, o Direito Civil e o Direito Administrativo conseguirem reprimir determinadas condutas ilícitas de modo eficaz, a criação de tipos penais objetivando a repressão e prevenção dessas práticas restaria afastada. Desse modo, o Estado apenas utilizaria da força do Direito Penal de modo subsidiário, quando os demais ramos do ordenamento jurídico não protegessem os bens jurídicos de forma eficiente, atestando, assim, o caráter de ultima ratio do ordenamento jurídico-penal. 3.2 Causas da viol ência A violência é um fator social que cada vez se faz presente no cotidiano das pessoas e muitas vezes acabam se traduzindo em medo, ansiedade e insegurança. Neste sentido é importante que se conheça os fatores que contribuem para o aumento da violência. Ante o exposto é preciso destacar que a violência é “um fenômeno complexo, que não tem uma causa única, mas sim uma multiplicidade de fatores”. 89 Portanto, a dificuldade que se impõe nos dias atuais na prevenção e no enfrentamento da violência pelos órgãos de segurança pública decorre, sobretudo, do fato da mesma encontrar-se envolta por aspectos de ordem econômica, política e social.90 Assim sendo, é possível enumerar seis atores diretamente relacionados com o aumento da violência: a)fatores sócio-econômicos: pobreza, agravamento das desigualdades. Herança da hiperinflação; b) fatores institucionais: insuficiência do Estado, crise do modelo familiar, recuo do poder da igreja; c) fatores culturais: problemas de integração racial e desordem moral; d) demografia urbana: as gerações provenientes do período da explosão da taxa de natalidade no Brasil chegando à vida adulta e surgimento de metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro), ambas com população superior a dez milhões de habitantes; e) a mídia, com seu poder, que colabora para a apologia da violência; f) a globalização mundial, com a 89 BRASIL. Ministério da Justiça/SENASP. Guia para a prevenção do Crime e da Violê ncia. Brasília : SENASP. 2005, p.3. Disponível em: http://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/apostila_vcp_mod1.pdf. Acesso em 29/03/2014. 90 BRASIL. Ministério da Justiça/SENASP. Guia para a prevenção do Crime e da Violê . Brasília: ncia SENASP. 2005, p.3. Disponível em: http://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/apostila_vcp_mod1.pdf. Acesso em 29/03/2014. 45 contestação da noção de fronteiras e o crime organizado (narcotráfico, posse e uso de armas de fogo, guerra entre galgues).91 Assim para que se possa entender o fenômeno da violência de forma mais abrangente, faz-se necessário observá-la além da sua forma convencional, aquela a que a sociedade está acostumada a vivenciar todos os dias sob a forma de “violência direta”, que significa as ações violentas que um ou mais indivíduos praticam uns contra os outros.92 No entanto: A violência oculta atrás dos muros das casas, a violência sexual, as rixas familiares e as crianças espancadas só são conhecidas muito parcialmente, mesmo em caso de falecimento das vítimas; as circunstâncias das mortes são, então, esmagadas sob uma capa de silêncio. 93 Neste contexto é que se pode mencionar a existência de forma ocultas de violência que muitas vezes se tornam difíceis de serem identificadas, determinadas e até mesmo definidas. É exatamente pelo da violência poder existir de forma oculta que se faz necessário estabelecer tipologias de tal fenômeno, da mesma forma que em medicina é necessária uma taxonomia consubstanciada pela patologia, enquanto pré-requisito básico do entendimento do fenômeno da doença e conseqüentemente articulação das atividades de controle da saúde (epidemiologia). Assim, os diversos tipos de enfermidades podem ter suas causas identificadas, seja elas diretamente reconhecíveis ou não. 94 Partindo-se para uma análise, ainda que não muito aprofundada, da raiz da violência tal qual como a mesma se aresenta hoje, é possível identificar que esta 91 CHESNAIS apud SOUZA, Ruberliro Rodrigues; Gouvêa, Renan Nahás. A Importância dos Conselhos Comunitários de segurança - CONSEGs - no contextos da segurança pública e no fortalecimento dos Direitos Humanos e da Cidadania. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/go/goias/importancia_conselho_comu.html. Acesso em: 29/04/2014. 92 BRASIL. Ministério da Justiça/SENASP. Guia para a prevenção do Crime e da Violê ncia. Brasília : SENASP. 2005, p.3. Disponível em: http://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/apostila_vcp_mod1.pdf. Acesso em 29/03/2014. 93 CHESNAIS, Jean Claude. A violência no Brasil: causas e recomendações políticas para a sua prevenção. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381231999000100005&lng=en&nrm=iso >. Acesso em 29/04/2014. 94 BRASIL. Ministério da Justiça/SENASP. Guia para a prevenção do Crime e da Violê ncia. Brasília : SENASP. 2005, p.3. Disponível em: http://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/apostila_vcp_mod1.pdf. Acesso em 29/03/2014. 46 encontra-se na carência provocada pela desigualdade social, o que provoca a inveja, a cobiça e a ganância em alguns dos deserdados pela sorte.95 Em que pese os aspectos acima mencionados é preciso destacar que “pobreza por si só, definitivamente, não é causa de violência, pois que pobreza não é sinônimo de crime. Ela contribui para a violência, mas é apenas uma das condições que levam ao crime.”96 O desemprego ou a ausência de renda levam à tentação da ilegalidade, visto ser fácil, por vezes, conseguir ganhos astronômicos à margem da lei. As vantagens são grandes, confidenciou-nos uma autoridade policial do bairro mais pobre de São Paulo: “ser ladrão aqui é a melhor profissão. Sem necessidade de levantar cedo e deitar tarde, de se cansar nos transportes coletivos, de trabalhar duro. Pode-se juntar muito dinheiro rapidamente, comprar um carro último modelo, e sem pagar impostos... Todos o respeitam, pois a população admira os esbanjadores, os emergentes, a ostentação e o consumismo”.97 Existe uma dificuldade imensa em se estabelecer uma causa específica para o fenômeno da violência, principalmente porque como fora aqui apontado existe uma multiplicidade de fatores contribuem para que indivíduos desencadeiem comportamentos agressivos ou mesmo optem por se inclinar para o mundo da criminalidade. Portanto, os fatores culturais, sócio-econômicos e institucionais apontam para a direção do conceito de violência dotado de subjetividade e apresentado como “tudo o que vale da força para ir contra a natureza de um ator social, ou seja, todo o ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém e todo o ato de transgressão contra o que a sociedade considera justo e direito”.98 95 SOUZA, Ruberliro Rodrigues; Gouvêa, Renan Nahás. A Importância dos Conselhos Comunitários de segurança - CONSEGs - no contextos da segurança pública e no fortalecimento dos Direitos Humanos e da Cidadania. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/go/goias/importancia_conselho_comu.html. Acesso em: 29/04/2014. 96 SOUZA, Ruberliro Rodrigues; Gouvêa, Renan Nahás. A Importância dos Conselhos Comunitários de segurança - CONSEGs - no contextos da segurança pública e no fortalecimento dos Direitos Humanos e da Cidadania. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/go/goias/importancia_conselho_comu.html. Acesso em: 29/03/2014. 97 CHESNAIS, Jean Claude. A violência no Brasil: causas e recomendações políticas para a sua prevenção. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381231999000100005&lng=en&nrm=iso >. Acesso em 29/04/2014. 98 CHAUÍ apud ABRAMOVAY, Miriam e PINHEIRO, Leonardo Castro. “Violência e Vulnerabilidade Social”. In: FRAERMAN, Alicia (Ed.). Inclusión Social y Desarrollo: Presente y futuro de La Comunidad IberoAmericana. Madri: Comunica. 2003. 47 A partir das considerações apresentadas acima é possível reconhecer, dentre outros aspectos que a violência encontra-se especificamente vinculada ao desrespeito, “a negação do outro, a violação dos direitos humanos que se soma à miséria, à exclusão, à corrupção, ao desemprego, à concentração de renda, ao autoritarismo e às desigualdades presentes na sociedade brasileira”99. Ante o exposto evidencia-se aqui uma preocupação crescente na sociedade atual e de modo especial no que tange à sociedade brasileira, tendo em vista que “diariamente vemos nos jornais notícias de violência envolvendo adolescentes e jovens tanto no Brasil com em outros países, ainda que desenvolvidos”.100 Portanto observa-se que a violência envolvendo jovens e adolescentes no país, não é um problema recente, mas algo que vem se readaptando ao longo dos anos, ou seja, a cada dia ela adquire novos contextos. Assim, cumpre apontar que: [...] a imprensa tem noticiado vários fatos alarmantes acontecidos entre adolescentes e jovens nas escolas brasileiras. Quem acompanhou as notícias nas edições dos periódicos mineiros nos meses de julho e agosto de 2008 pôde ver em destaque as seguintes manchetes: “Violência na Escola”, “Selvageria na Sala de Aula”, “Quebradeira em escola vira caso de Polícia”, “Adolescentes detidos após depredarem Escola”; e este tema foi mencionado pelos jornais durante vários dias.101 Levando-se em consideração o que fora até aqui exposto, há de se observar que o problema da “violência juvenil”, quer seja o adolescente o protagonista ou vítima, ao mesmo tempo em que provoca perplexidade atrai uma grande preocupação no meio escolar. Em face disto é que os atores diretamente envolvidos na educação (professores, diretores, coordenadores, etc.), destacam que a violência no ambiente escolar já se apresenta de forma multifacetada, ou seja: Nas escolas, segundo os professores, a violência está aumentando não somente do ponto de vista quantitativo como também do qualitativo. Os tipos de violência assinalados por eles como estando mais presentes no dia 99 PAULA E SILVA, Joyce Mary Adam de; SALLES, Leila Maria Ferreira. A violência na escola: abordagens teóricas e propostas de prevenção. Educ. rev., Curitiba , n. spe2, 2010 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010440602010000500013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 29/04/2014. 100 MORAES, Maria Celia Iennaco de; MORAES, Rodrigo Iennaco de. Bullying: Nova percepção ou nova abordagem da Violência nas escolas ? In Revista Jurídica UNIJUS, Universidade de Uberaba, Ministério público do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, n. 17 (1998). Uberaba, 2009, p.63. 101 MORAES, Maria Celia Iennaco de; MORAES, Rodrigo Iennaco de. Bullying: Nova percepção ou nova abordagem da Violência nas escolas? In Revista Jurídica UNIJUS, Universidade de Uberaba, Ministério público do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, n. 17 (1998). Uberaba, 2009, p.64. 48 a dia escolar são as ameaças e agressões verbais entre alunos e entre estes e os adultos. Os professores em seus relatos têm destacado que a violência, principalmente o desrespeito, é uma constante no meio escolar. Eles indicam que a violência na escola pública está banalizada, provocando inclusive que vários atos deixam até de serem percebidos como violentos. Embora menos frequentes, as agressões físicas também estão presentes.102 Este panorama pode ser comprovado por estudos estatísticos, dimensionando de forma precisa a realidade do fenômeno no ambiente escolar. Assim, com base resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009 é possível apontar que: Quando se analisa a idade, não sofrer bullying é mais frequente entre adolescentes mais velhos: 15 anos (73,8%; IC95%: 72,4%-75,2%); 16 anos ou mais (74,8%; IC95%: 72,9%-76,5%), comparados com estudantes de 13 anos (65,3%; IC95%: 63,8%- 66,7%). Nas demais opções, raramente e sempre sofrer bullying, não há diferença estatisticamente significativa em relação à idade.103 O referido estudo identificou ainda que: O relato de ter sofrido bullying quase sempre ou sempre nos dois últimos meses foi feito por 5,4% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental que participaram do PeNSE. A maior frequência foi registrada nos meninos em comparação com as meninas; não houve diferença entre as escolas públicas e privadas, nem em relação à cor/raça, ou escolaridade materna. A cidade com maior frequência foi Belo Horizonte e a menor foi Palmas.104 Dentre as possíveis causas do Bullying enquanto violência escolar a literatura tem demonstrado que: Além de obter força e poder e conquistar a popularidade na escola, outras causas são apontadas para justificar as ações dos praticantes do Bullying, como esconder o próprio medo, tornar outras pessoas infelizes em virtude 102 PAULA E SILVA, Joyce Mary Adam de; SALLES, Leila Maria Ferreira. A violência na escola: abordagens teóricas e propostas de prevenção. Educ.rev., Curitiba, n.spe2, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/nspe2/13.pdf. Acesso em: 03 nov. 2013. 103 MALTA, Deborah Carvalho et al . Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar(PeNSE), 2009. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 15, supl. 2, out. 2010 . Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s2/a11v15s2.pdf >. Acesso em 27/042014. 104 104 MALTA, Deborah Carvalho et al . Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar(PeNSE), 2009. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 15, supl. 2, out. 2010 . Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s2/a11v15s2.pdf >. Acesso em: 03/05/2014. 49 de sua própria infelicidade, vitimar outras pessoas por já ter sido vitima de alguém no passado.105 Assim é que devido ao temperamento irritadiço do agressor e a sua acentuada necessidade de ameaçar, dominar e subjugar os outros de forma impositiva pelo uso de força, as adversidades e as frustrações menores que surgem acabam por provocar reações intensas. Ás vezes, essas reações assumem caráter agressivo em razão da tendência do agressor a empregar meios violentos nas situações de conflitos. Em virtude de sua força física, seus ataques violentos mostram-se desagradáveis e dolorosos para os demais. Geralmente o agressor prefere atacar os mais frágeis, pois tem certeza de dominá-los, porém não teme brigar com outros alunos da classe: sente-se forte e confiante.106 Outras causas podem ainda ser referida, tendo em vista que: Há ainda inúmeras outras interações agressivas, ás vezes como diversão ou como forma de auto-afirmação e para se comprovarem as relações de força que os alunos estabelecem entre si. Caso exista na classe um agressor em potencial ou vários deles, seu comportamento agressivo influenciará nas atividades dos alunos, promovendo interações ásperas, veementes e violentas.107 Assim, há de se observar que ao buscar dar tratamento especial ao fenômeno bullying, o legislador não pode deixar de estar atento a uma multiplicidade de fatores que envolvem este tipo de violência, uma vez que constituem aspectos fundamentais na caracterização do delito. 3.3 Elementos essenciais da caracterização do crime Inicialmente convém destacar que ao tipificar o bullying o legislador não está promovendo uma neocriminalização, uma vez que, como fora destacado anteriormente, existe uma multiplicidade de fatores que “configura esse fenômeno 105 MORAES, Maria Celia Iennaco de; MORAES, Rodrigo Iennaco de. Bullying: Nova percepção ou nova abordagem da Violência nas escolas? In Revista Jurídica UNIJUS, Universidade de Uberaba, Ministério público do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, n. 17 (1998). Uberaba, 2009, p.66. 106 CALHAU. Lélio Braga. Considerações criminológicas sobre o fenômeno bullying. Conjur, Marc. 2008. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-mar10/consideracoes_criminologicas_fenomeno_bullying. Acesso em: 03/05/2014. 107 CALHAU. Lélio Braga. Considerações criminológicas sobre o fenômeno bullying. Conjur, Marc. 2008. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-mar10/consideracoes_criminologicas_fenomeno_bullying. Acesso em: 03/05/2014. 50 delitivo (ofensas, lesões, subtrações, constrangimentos, ameaças etc.) (verdadeiramente tudo) já está tipificado nas leis penais brasileiras vigentes.”108 Para que se possa estabelecer um debate em torno da tipificação proposta pela Comissão convém mais uma vez trazer aqui o tipo penal conforme se apresenta no projeto, ou seja, de acordo com a inovação, o bullying, com a denominação de “intimidação vexatória”, passaria a constituir o artigo 148, do Código Penal, conforme segue: Ameaça Art. 147. (…) Intimidação vexatória §2º Intimidar, constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender, castigar, agredir, segregar a criança ou o adolescente, de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente, por qualquer meio, valendo-se de pretensa situação de superioridade e causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial. Pena – prisão de um a quatro anos. Analisando-se a estrutura do tipo penal criado pelo legislador, há de se observar que este se encontra no rol dos chamados “crimes de ação múltipla” ou de conteúdo variado. Neste sentido cumpre esclarecer que “nos crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, mesmo que o agente pratique várias condutas previstas no tipo, deverá ser responsabilizado por somente uma infração penal.” 109 Neste sentido, portanto, se o agente além de assediar sexualmente a criança ou o adolescente, vier a agredir ou mesmo ameaçá-lo, somente será responsabilizado por um único crime. Outro aspecto importante de se observar é que, o fenômeno bullying “trata-se de uma subcategoria de violência bem específica que abrange muito mais do que desentendimentos cotidianos escolares e problemas estudantis.”110 É preciso estar atento às diferenças pontuais que existem entre o bullying e outros conflitos ou desavenças, especificamente quando se trata do bullying escolar uma vez que, este, diferentemente das desavenças e conflitos, é notadamente 108 GOMES, Luiz Flávio. Bullying Criminalização inútil? Clubjus, Brasília-DF, 15 ago. 2012. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.36843 acesso em 29/03/2014. 109 GRECO, Rogério. Curso de Direito Pena: parte especial, volume II. 8 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p.119. 110 GOMES, Luiz Flávio. Bullying, O queé esse fenômeno Instituto afinal? Avante Brasil, 04 jun. 2013. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/bullying-o-que-e-estefenomeno-afinal/. Acesso em 03 nov. 2013. 51 marcado pelo seu caráter repetitivo, sistemático, doloroso e intencional de agredir (verbal, física, moral, sexual, virtual ou psicologicamente) alguém notoriamente mais vulnerável, evidenciando um desequilíbrio de força (poder e dominação) entre os envolvidos.111 Assim, ainda que se entenda que não há evidentemente uma clara necessidade de criminalização da conduta, seja porque os agressores na maioria das vezes são menores ou mesmo porque já existem crimes tipificados que se enquadram perfeitamente nas condutas descritas no bojo do dispositivo, faz-se necessário trazer aqui algumas considerações importantes quanto aos benefícios que a sua sistematização pode acarretar. A rigor, portanto, seria desnecessária essa neocriminalização imprópria. Algumas razões, no entanto, poderiam servir de apoio para a iniciativa: (a) hoje são muitos os tipos penais que cuidam do tema; a sua sistematização pode ser benéfica; (b) quanto mais tipificação, mais o juiz tende a impor uma medida mais dura do ECA; (c) as coisas devem ser chamadas pelo seu nome; (d) todos os fatos constitutivos do bullying ficarão absorvidos, havendo-se imputação única; (e) todos os programas governamentais ou não governamentais, destinados à prevenção do bullying, poderão ter destinatário certo etc.112 Neste sentido, não se pode descuidar do fato de que a criminalização do bullying garantirá maior sistematização e tecnicidade ao assunto. Isto porque, “as soluções apresentadas pelo Direito para administrar o fenômeno bullying, não tem se revelado suficientes para ao meio social. Não existe uma resposta pronta para entendermos a agressividade e a violência juvenis, e vários são os fatores que se deve levar em conta. Apesar das forma de intervenção já existentes, o problema ainda está longe se ser solucionado. As condutas agressivas são de origens diversas e o comportamento juvenil vem se modificando raidamente ao lados das questões sociais.113 Outro aspecto importante é que o bullying representa um verdadeiro processo maléfico aos envolvidos, podendo, inclusive, ser fatal: Em 1999, no Instituto Columbine (Colorado, EUA), Eric Harris e Dylan Klebold, vítimas de bullying, entraram na escola e passaram a disparar 111 GOMES, Luiz Flávio. Bullying, O que é esse fenômeno afinal? Instituto Avante Brasil, 04 jun. 2013. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/bullying-o-que-e-estefenomeno-afinal/. Acesso em 03 nov. 2013. 112 113 MORAES, Maria Celia Iennaco de; MORAES, Rodrigo Iennaco de. Bullying: Nova percepção ou nova abordagem da Violê ncia nas escolas? In Revista Jurídica UNIJUS, Universidade de Uberaba, Ministério público do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, n. 17 (1998). Uberaba, 2009, p.66. 52 contra professores e colegas. Após matar 12 colegas e um professor, eles cometeram suicídio. Em 2005, um aluno de 16 anos matou cinco colegas, um professor e um segurança numa escola de Minnesota (EUA). Em 2006, na Alemanha, um ex-aluno abriu fogo numa escola e deixou 11 feridos (cometeu suicídio em seguida). Em 2007, um estudante, vítima de bullying, na escola Virginia Tech (EUA), assassinou 32 pessoas e feriu outras 15. Em novembro de 2007, em Jokela (Finlândia), oito pessoas foram assassinadas por um aluno, que divulgou um vídeo no YouTube, o qual anunciava o massacre.114 No mesmo sentido, pode-se apontar ainda que: [...] as práticas decorrentes do fenômeno do bullying podem comprometer a saúde física e mental das vítimas, seu desenvolvimento socioeducacional e, ainda, gerar a retaliação (a reprodução da violência que pode ser exteriorizada tanto na forma de agressão pontual contra os agressores e demais alunos, como por meio de ataques violentos à escola), condutas de automutilação e, até mesmo, pensamentos e ações suicidas.115 Por tais considerações é que a Comissão incluiu a figura do bullying como novo tipo penal, sob a justificativa de que a neocriminalização do fenômeno garantirá maior sistematização e tecnicidade ao assunto. Todavia, o que se torna cada vez mais evidente é que esta “neotipificação” está muito mais atrelada aos fatores técnicos e sistemáticos do mesmo à questão material (substancial). Neste sentido, o argumento que tem sido levantado contra a criminalização do bullying, surge da idéia de que, “mesmo sem a tipificação citada não há que se falar em insuficiência de proteção do bem jurídico. Há tipos penais suficientes para cobrir todo o espectro do fenômeno.”116 Assim, em linhas gerais, não se vislumbra como plausível a iniciativa do legislador, sobretudo porque, mesmo as entidades de defesa da criança já se demonstraram insatisfeitas com o novo dispositivo legal. “Isso é criminalizar a adolescência”, afirmou a assessora de Políticas Públicas da Fundação Abrinq, Ketrina Volcov, sobre a tentativa do novo código penal de tipificar como crime a prática de bullying. Muitas entidades são contra a ideia por acreditarem que o bullying tem que ser combatido de forma pedagógica. Segundo dados da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (Pense) do IBGE, 21% dos casos de bullying ocorrem em sala de 114 CALHAU, Lelio Braga. Bulling: o que vocêprecisa . Niteroi, saber RJ: Impetus, 2011, p. 10. GOMES, Luiz Flávio. Bullying, O queé esse fenômeno Instituto afinal? Avante Brasil, 04 jun. 2013. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/bullying-o-que-e-estefenomeno-afinal/. Acesso em 29/03/2014. 116 GOMES, Luiz Flávio. Bullying, O queé esse fenômeno Instituto afinal? Avante Brasil, 04 jun. 2013. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/bullying-o-que-e-estefenomeno-afinal/. Acesso em: 29/03/2004. 115 53 aula na presença do professor. Descrito como intimidação vexatória feita de forma intencional e continuada a algum menor de idade, o bullying poderá ser tido como infração quando realizado por adolescentes. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o infrator receberá medidas socioeducativas, como prestação de serviços, acompanhamento e internação. Caso seja praticado por um adulto poderá ser penalizado com quatro anos de prisão. As organizações afirmam a necessidade de mobilizar a sociedade e o Parlamento para questões consideradas sensíveis. “Queremos realizar audiências públicas para debater este e outros temas, vamos fazer também uma carta pública e um abaixo-assinado virtual para pedir a retirada do bulliyng do Código Penal. Estamos sendo proativos”, disse a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Cléo Manhas.117 Além do que: [...] a interdisciplinaridade, multifacetariedade e multifatoriedade que envolvem o fenômeno do bullying ensinam que ele não deve ser considerado ou combatido com a ferramenta penal, sim, com medidas, ações e planos preventivos. É muito provável que ninguém tenha imaginado que a sua tipificação penal (imprópria, puramente técnica) tenha qualquer tipo de novel eficácia na prevenção do fenômeno (o que não significa que a pena, consoante o pensamento da Escola clássica, não tenha nenhum tipo de efeito preventivo dissuasório). 118 Observa-se, portanto, que não e tipificando de forma imprópria o bullying que se alcançará a sua prevenção, mas sim, por meio de programas efetivos que respeite cada realidade, mesmo porque, o conceito de bullying é constantemente deturpado ou banalizado no país, sendo reduzido, muitas vezes, a meras brincadeiras ou agressões pontuais de crianças e adolescentes. Sobre este aspecto cumpre ainda destacar que: Basta mencionar que 60% das matérias divulgadas na internet e passíveis de localização pelo canal de busca “Google” do Brasil com o nome bullying não expressam, nem representam, de fato, casos de bullying, de acordo com a pesquisa realizada pela educadora e especialista no assunto Cléo Fante.119 Assim, resta evidente que a população brasileira repousa no total desconhecimento das peculiaridades e gravidades que envolvem o fenômeno, portanto, dada a total complexidade que este tipo de violência carrega consigo, a 117 Bahia Notícia. Entidades se mobilizam contra a criminalização do bullying. 03 mar. 2013. Disponível em: http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/45737-entidades-se-mobilizam-contraa-criminalizacao-do-bullying.html. Acesso em: 29/03/2004. 118 GOMES, Luiz Flávio. Bullying, O que é esse fenômeno afinal? Instituto Avante Brasil, 04 jun. 2013. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-prof-lfg/bullying-o-que-e-estefenomeno-afinal/. Acesso em: 29/03/2004. 119 GOMES, Luiz Flávio. Bullying Criminalização inútil? Clubjus, Brasília-DF, 15 ago. 2012. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.36843 acesso em 03 nov. 2013. 54 sua tipificação penal, não acarretará necessariamente em uma solução para o problema. 55 CONSIDERAÇÕES FINAIS Este trabalho objetivou realizar um estudo sobre a proposta de criminalização da prática do bullyuing, por meio do Projeto de Lei, em tramite no Senado Federal que discute a reforma do Código Penal brasileiro. Portanto, procedeu-se a uma discussão sobre questões co mo a violência escolar, as conseqüências devastadoras da pratica do bullying no psiquismo das vítimas, assim como, o papel do direito com instrumento de controle social na promoção da justiça e proteção da paz pública. Neste sentido observou-se que existe uma dificuldade imensa em se estabelecer uma causa específica para o fenômeno da violência, principalmente porque como fora aqui apontado existe uma multiplicidade de fatores que contribuem para que indivíduos desencadeiem comportamentos agressivos ou mesmo optem por se inclinar para o mundo da criminalidade. Assim foi possível observa a existência de formas ocultas de violência que muitas vezes se tornam difíceis de serem identificadas, determinadas e até mesmo definidas. Ante esta realidade, surge uma preocupação crescente na sociedade atual e de modo especial no que tange à sociedade brasileira, tendo em vista as constantes notícias de violência envolvendo adolescentes e jovens apresentadas tanto pela mídia nacional quanto internacional. Neste contexto, o fenômeno do bullying tem apresentado um crescimento significativo em todo o mundo, de modo que, torna-se imperioso o combate a este tipo de violência, por ela apresentar-se potencialmente danosa, além de poder evoluir para situações mais graves conforme tem sido noticiado pela mídia os diversos casos de bullying que resultam em tragédias, principalmente no ambiente escolar. É preciso estar atento à necessidade de distinguir as brincadeiras comuns da idade dos atos cruéis e repetitivos, que tem como intenção prejudicar as vítimas. Isto porque, conforme fora evidenciado aqui, o bullying, é notadamente marcado pelo seu caráter repetitivo, sistemático, doloroso e intencional de agredir (verbal, física, moral, sexual, virtual ou psicologicamente) alguém notoriamente mais vulnerável, evidenciando um desequilíbrio de força (poder e dominação) entre os envolvidos. 56 Conclusivamente este trabalho alia-se ao argumento que tem sido levantado contra a criminalização do bullying, do ponto de vista de que, mesmo sem a tipificação do fenômeno não há que se vislumbrar qualquer insuficiência de proteção do bem jurídico, tendo em vista que, há tipos penais suficientes para cobrir todo o espectro do fenômeno. Outrossim, ao caracterizar o bullying de uma forma simplista, pode-se fazer com que o trabalho preventivo sobre a questão feito nas escolas, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar, para identificar aqueles casos que realmente são bullying, seja prejudicado. Neste sentido, apenas criminalizar o bullying não é adequado. Em que pese sua tipificação atingir apenas maiores de 18 anos, uma vez que os menores estariam encobertos pelo manto da inimputabilidade penal, é preciso estar atento ao fato de que nem tudo é possível resolver através de leis. É melhor investir na formação do cidadão. O caminho é educar, não punir criminalmente. O bullying, normalmente, é praticado em situações de superioridade física ou numérica e pode destruir a auto-estima das crianças e adolescentes 57 REFERÊNCIAS ABRAMOVAY, Miriam e PINHEIRO, Leonardo Castro. “Violência e Vulnerabilidade Social”. In: FRAERMAN, Alicia (Ed.). Inclusión Social y Desarrollo: Presente y futuro de La Comunidad IberoAmericana. Madri: Comunica. 2003. ARAÚJO, Jailton Marcena; ASSIS, Elma Moreira de. Identificação e proibição do bullying escolar no ordenamento jurídico brasileiro: perspectiva de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais. Vitória: Faculdade de Direito de Vitória - FDV, 2012. ASSIS. Luís André Oliveira de. Rupturas e Permanências na história da educação brasileira: Do regime militar à LDB/96, 2009, p.4. Disponível em: http://curriculohistoria.files.wordpress.com/2009/09/clara.pdf. Acesso em 22/04/2014. BELLO, José Luiz de Paiva. Educação no Brasil; a História das rupturas. 2001, p.2. Disponível em: http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb14.htm. Acesso em 22/03/2014. BITENCOURT, Cezar Roberto. Fal ência da Pena de. Prisão Causas e Alternativas. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.143. BRASIL/Ministério da Justiça. Guia para a prevenção de do crime e da violência nos municípios. 2005, p.2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...103A... Acesso em 29/03/2014. BRASIL. Ministério da Justiça/SENASP. Guia para a prevenção do Crime e da Viol ência. Brasília : SENASP. 2005, p.3. Disponível em: http://ead.senasp.gov.br/modulos/educacional/material_apoio/apostila_vcp_mod1.pd f. Acesso em 29/03/2014. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, 1998. v. 1, p.31. CALHAU, Lelio Braga. Bulling: o que vocêprecisa . Niteroi, saber RJ: Impetus, 2011. CALHAU. Lélio Braga. Considerações criminológicas sobre o fenômeno bullying. Conjur, Marc. 2008. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-mar10/consideracoes_criminologicas_fenomeno_bullying. Acesso em: 29/03/2014. CARREIRA, Débora Bianca Xavier. Viol ência nas escolas: qual é o papel da ges 2005, p.7. Disponível em: www.ucb.br/sites/100/127/documentos/artigo13.doc. Acesso em 23/09/2013. CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade-bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores. São Paulo- SP: Editora Gente, 2008. 58 CHESNAIS, Jean Claude. A violência no Brasil: causas e recomendações políticas para a sua prevenção. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381231999000100005& lng=en&nrm=iso>. Acesso em 25/04/2014. DAVIDOFF, Linda L. Introdução à Psicologia 3.ed. São Paulo-SP: Pearson Makron Books, 2001. FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Fenômeno Bullying: Como prevenir a viol ência nas escolas e educar para . 2.ed. a pazCampinas SP: Veros Editora, 2005. FANTE, Cleo; PEDRA, José Augusto. Bullying escolar: perguntas e respostas. Porto Alegre: Artmed, 2008. FIGUEIREDO, Rudá Santos. O tratamento típico do bullying no projeto de Código Penal. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 108, jan 2013. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12654>. Acesso em 22/03/2014. GOMES, Luiz Flávio. Brasil: escassez de estudos e a deturpação do conceito de bullying. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3339, 22 ago. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/22464>. Acesso em: 29/03/2014. ___________. Criminalização do bullying: um atalho à solução?. JusTocantins, jun 2012. Disponível em: http://www.justocantins.com.br/luiz-flavio-gomes-9873criminalizacao-do-bullying-um-atalho-a-solucao.html. Acesso em: 29/03/2014. ___________. Bullying Criminalização inútil? Clubjus, Brasília-DF, 15 ago. 2012. Disponível em: http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.36843 acesso em 29/03/2014. ___________. Bullying, O que é esse fenômeno afinal? Instituto Avante Brasil, 04 jun. 2013. Disponível em: http://atualidadesdodireito.com.br/iab/artigos-do-proflfg/bullying-o-que-e-este-fenomeno-afinal/. Acesso em 29/03/2014. GRECO, Rogério. Curso de Direito Pena: parte especial, volume II. 8 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p.119. MALTA, Deborah Carvalho et al . Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar(PeNSE), 2009. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 15, supl. 2, out. 2010 . Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/csc/v15s2/a11v15s2.pdf >. Acesso em 25/03/2014. MIDDELTON-MOZ, Jane; ZADAWSKI, Mary Lee; Tradução Roberto Cataldo Costa. Bullying: estratégias de sobrevivência para crianças . Porto e adultos Alegre-RS: Artmed, 2007. 59 MORAES, Maria Celia Iennaco de; MORAES, Rodrigo Iennaco de. Nova percepção ou nova abordagem da Violê ncia nas escolas? In Revista Jurídica UNIJUS, Universidade de Uberaba, Ministério público do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, n. 17 (1998). Uberaba, 2009. NERY, Lucas. "Violência, criminalidade e políticas públicas de segurança."Revista do Curso de Direito da UNIFACS 106.109 (2009), p.10. Disponível em: revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/738/546. Acesso em 29/04/2014. PAULA E SILVA, Joyce Mary Adam de; SALLES, Leila Maria Ferreira. A violência na escola: abordagens teóricas e propostas de prevenção. Educ. rev., Curitiba , n. spe2, 2010 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010440602010000500013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03/05/2014. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602010000500013. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. v. 1: parte geral, 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. Ed. Campinas, 2011. ____________. História da História da Educação no Brasil: um balanço prévio e necessário. EccoS – Revista Científica, v.10, Especial, 2008, p. 147-67. Disponível em: http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v10nesp/eccosv10nesp%203f 09.pdf. Acesso em 23/04/2014. SOUZA, Ruberliro Rodrigues; Gouvêa, Renan Nahás. A Importância dos Conselhos Comunitários de segurança - CONSEGs - no contextos da segurança pública e no fortalecimento dos Direitos Humanos e da Cidadania. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/go/goias/importancia_conselho_comu.ht ml. Acesso em: 29/03/2014.
Download