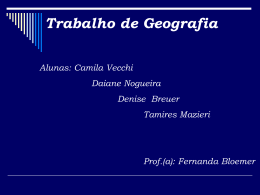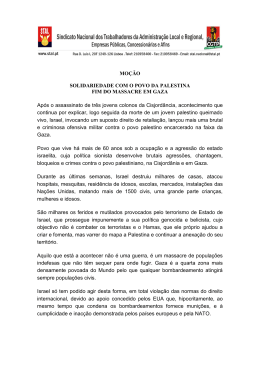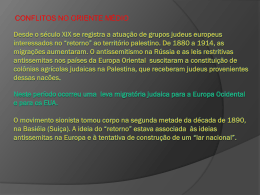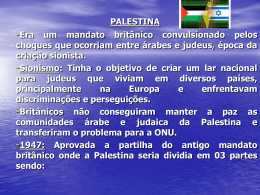REVOLUÇÃO E
CONTRAREVOLUÇÃO NA
PALESTINA
Da Partilha Imperialista à
Vitória do Hamas
Osvaldo Coggiola
1
Índice
1.
Antecedentes históricos, 3
2.
Surgimento do movimento nacional palestino, 26
3.
Resistência nacional e guerras de ocupação, 41
4.
Do “Mapa da Estrada” ao Muro da Vergonha, 53
5.
Os EUA e a guerra contra o Iraque, 67
6.
Acordos e Terceira Intifada, 79
7.
De Sharon ao Hamas, 88
Cronologia, 106
Bibliografia, 109
2
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Desde 1990, ano da primeira Guerra do Golfo, os EUA embarcaram em uma série de
aventuras militares no assim chamado “tabuleiro euro-asiático”, definido como o corpo
geopolítico do planeta, com centro político-militar no Oriente Médio.
No quadro da crise galopante da ex URSS (que seria dissolvida em 1991) e do chamado
“bloco socialista”, o poder americano buscava garantir uma série de objetivos, mais ou
menos definidos pelos seus gurus geopolíticos que, a exemplo de Samuel Huntington ou
Zbigniew Brzezinski, pouco se caracterizam pela profundidade de pensamento: a)
Conquistar uma posição hegemônica no processo de restauração capitalista, na ex URSS,
na Europa do Leste e na China (The Economist, de Londres, chegou a afirmar, em 1999,
que o alvo final de uma operação no Oriente Médio seria a China); b) Controlar, ou
acentuar seu controle, das rotas estratégicas de fornecimento de recursos energéticos
(petróleo e gás, principalmente) para todo o planeta - e, em primeiro lugar, para Europa e
Japão – a partir dos principais países produtores, situados no Oriente Médio; c) Impor seu
controle sobre a explosiva situação do Oriente Médio, isolando e condicionando,
especialmente, o regime surgido no Irã com a “revolução islâmica” de finais da década de
1970; d) Influenciar e tutelar o processo de expansão da União Européia, em direção do
Leste europeu e, em especial, da Ásia Menor (ou seja, da Turquia, pais muçulmano de 70
milhões de habitantes); e) Disciplinar o conjunto das potências capitalistas, em especial
suas concorrentes “Europa” e Japão, através da chantagem militar, impondo uma posição
militar dominante dos EUA nos pontos estratégicos do globo.
A primeira Guerra do Golfo tomou como pretexto a luta pela derrubada da ditadura de
Saddam Hussein e a defesa da soberania nacional do Kuwait, invadido pelo Iraque (que,
historicamente, sempre considerou o território do emir Jaber al Ahmed al Sabah como a 19a
província do Iraque). O pretexto não resistia a menor análise, toda vez que o regime do
açougueiro de Bagdá era a própria criatura do imperialismo norte-americano (o próprio
Saddam Hussein era denunciado como agente da CIA pelos movimentos nacionalistas e da
esquerda árabe), e tinha sido abundantemente armado e usado pelos EUA e a Europa para
conter a revolução iraniana, como fautor da guerra Irã-Iraque da década de 1980 (que
deixou milhões de mortos). A “soberania nacional” do Kuwait não passava de um pretexto
cínico, pois o país nunca passou de um enclave semi-colonial de propriedade familiar,
propiciado pelo imperialismo no processo de descolonização do Oriente Médio, ou seja,
carecia e carece dos atributos de um Estado nacional.
Em que pese as derrotas impostas ao exército iraquiano na operação “Tempestade no
Deserto”, a “operação de polícia” de George Bush Sr. culminou num fracasso estratégico,
pois o regime de Saddam se manteve em pé, e se transformou num fator de desestabilização
de toda a região do Golfo Pérsico, ao mesmo tempo em que ele era desestabilizado pelo
ressurgimento do movimento nacional curdo, também atuante na Síria, no Irã e na Turquia,
países em que se divide a população desta “nação sem Estado”. O apoio dado a Israel para
arrasar o movimento nacional palestino, em qualquer país do Oriente Médio em que
atuasse, fracassou rotundamente, pois a guerra foi o marco da radicalização palestina e do
nascimento da segunda Intifada.
A imposição de uma zona de exclusão aérea e o bloqueio militar, econômico e comercial
imposto ao Iraque (que produziu centenas de milhares de mortos, especialmente crianças,
num Iraque privado do acesso a medicamentos e gêneros essenciais) se transformou num
3
fator de mobilização da opinião pública mundial, sobretudo nas próprias metrópoles
imperialistas, contra a belicosidade ianque.
Guerra Infinita e Crise Mundial
A primeira Guerra do Golfo foi concebida, como dito, como uma operação de polícia
internacional, teve cobertura legal da ONU, e se apoiou num amplo leque de alianças com o
conjunto das potências capitalistas e com as burocracias “socialistas” contrarevolucionárias. A segunda, encabeçada pelo governo de George Bush Jr., foi concebida –
depois dos nunca esclarecidos atentados de 11 de setembro de 2001 –1 como um degrau de
uma estratégica “guerra infinita” contra o terrorismo. No governo de George W.Bush, foi
emitida a Diretiva Presidencial nº 17 sobre Segurança Nacional, na qual os EUA
assumiram, oficialmente, o direito do “ataque preventivo”. Os EUA passaram a ter o direito
“legal” auto-atribuído de lançar mão de todos os meios necessários, os nucleares inclusive,
para esse tipo de ataque.
A dita “guerra infinita” se apoiou numa aliança aos frangalhos com regimes direitistas da
Europa (Blair e Berlusconi), eles também em completa crise política, e com alguns regimes
fantoches do outrora chamado Terceiro Mundo. Quanto à ONU, ela foi reduzida, na melhor
das hipóteses, a um organismo impotente, e na pior (mais realista) a uma caixa de registros
(às vezes com algum protesto) das investidas militares do imperialismo anglo-ianque em
qualquer ponto do planeta.
Segundo David Ignatius, “o famoso comentário feito por John Maynard Keynes, de que os
economistas deveriam deixar de se preocupar tanto com o que acontecerá a longo prazo,
porque a longo prazo estaremos todos mortos, não parece tão engraçado nos dias atuais.
Mas, quando pensamos nos efeitos econômicos do episódio de 11 de setembro, é
importante distinguir entre os efeitos de curto prazo – que foram devastadores – e as
conseqüências a prazo mais longo, que podem ser bem diferentes. Muitos comentaristas
expressaram o receio de que o episódio de 11 de setembro lance a instável economia global
na recessão. Isso poderá ser verdade, a curto prazo. Mas não creio que essa psicologia
deflacionária perdure – pela simples razão de que não há meio de os Estados Unidos e seus
aliados saírem dessa confusão sem gastar muito dinheiro. A começar pelo pacote de
estímulo da administração Bush, de reduções de impostos e novos gastos, que injetará até
US$130 bilhões de dólares na economia no próximo ano. Acrescente-se a isso o custo da
própria guerra, que, segundo o presidente Bush, poderá durar anos e levar ao deslocamento
de tropas americanas para os mais diversos pontos do mundo. Acrescentem-se os bilhões de
dólares que serão gastos com novas tecnologias destinadas a defender um público
amedrontado do antraz e de outros horrores terroristas. Todos esses custos atingirão uma
soma elevadíssima. Em outras palavras, guerras custam dinheiro. E a história nos ensina
que as guerras tendem a ser inflacionárias e não deflacionárias. A longo prazo (com
pedidos de desculpas a Keynes), um mundo mais seguro custará dinheiro: para cobrir o
custo de sensores capazes de detectar a presença de antraz e outros venenos; de remédios
para vacinar pessoas contra essas doenças; de dispositivos de segurança capazes de detectar
redes terroristas e ajudar a frustrar seus planos. E, sim, para cobrir o custo de reconstrução
nacional em países como o Afeganistão. Algumas dessas despesas terão um efeito
multiplicador sobre a economia global como um todo. Afirma-se, com freqüência, que a 2a
1
Somente pessoas altamente desinformadas acreditam que os episódios de 11 de setembro e posteriores
[ataques com antraz, etc.] sejam obra de um grupo de fanáticos islâmicos que costumam se esconder nas
cavernas do Afeganistão e bater nas mulheres, entre outros hábitos.
4
Guerra Mundial pôs fim à grande depressão da década de 30. A única boa ação de Osama
bin Laden poderia consistir no fato de ter colocado em ação as forças que porão fim ao
grande colapso econômico de 2001”.2
As vitórias militares e o impressionante arsenal bélico posto em ação entre 1990 e 2005,
não conseguiram nem conseguem ocultar o panorama desolador da estratégia políticomilitar dos EUA no Oriente Médio e na Ásia Central. Os regimes impostos (Iraque e
Afeganistão) carecem da mais elementar estabilidade política e até do controle de seu
próprio território; o Afeganistão não virou uma “democracia estável”: continua sendo um
narco-Estado com duas ou três cidades dirigidas militarmente por fantoches norteamericanos, e o resto do país dividido por bandos em guerra, enquanto a fome e a miséria
seguem endêmicos (claro que há uma novidade por lá além de um boom na produção de
ópio: o número bem maior de bases militares dos Estados Unidos ao longo da rota do
oleoduto e das zonas de interesse norte-americano pelo óleo e o gás da Ásia Central; sem
falarmos em novas bases militares ao lado da fronteira chinesa); em vez de um progressivo
isolamento e cooptação do regime iraniano, o contencioso com este se agravou (pela
reabertura de três centrais nucleares, uma delas de enriquecimento de urânio), abrindo-se
também uma frente de sérios choques com os aliados tradicionais dos EUA na região, em
especial a Arábia Saudita (base, afinal de contas, da família Bin Laden, berço suposto do
centro do “terrorismo internacional”); a falaciosa “democracia confessional” do Iraque –
organizada pelos ocupantes, dos quais não passa de uma marionete - se evidencia incapaz
de debelar a resistência armada contra a ocupação imperialista;3 no centro da crise, na
Palestina/Israel, a situação é de desagregação política; a crise do Oriente Médio se projeta
de modo multi-direcional como um fator de crise da Ásia Central, da Rússia e das ex
repúblicas soviéticas, e, via Turquia, da própria União Européia.
Analisar a invasão do Iraque como uma operação de conquista do petróleo conduzida por
um poder político vinculado aos negócios do petróleo, e que usa a “ameaça terrorista”
como pretexto, é correto, mas não basta. Que razões levam Bush Jr. a ir mais longe que os
anteriores presidentes dos EUA e a agir em bases políticas tão estreitas, por fora da ONU,
2
IGNATIUS, David. Crise também pode ser vítima da guerra. The Washington Post / O Estado de S. Paulo,
22 de outubro de 2001.
3
Cf. MATSAS, Savas-Michael. Irak: el referendum bajo la ocupación. Uma farsa dentro de uma tragédia. El
Obrero Internacional nº 4, Buenos Aires, dezembro de 2005, e OVIEDO, Luis. Irak: Los yanquis reculan El
Obrero Internacional nº 5, Buenos Aires, janeiro de 2006: “El llamado “proceso político” (do Iraque) no
sólo incluye a los shiítas (religiosos y laicos) y a los kurdos, es decir al personal político con el que se ha
intentado, sin éxito, “estabilizar” Irak. La novedad es que también incluye a la mayoría de los representantes
políticos de la resistencia iraquí (mayoritariamente sunita). Partes sustanciales de la resistencia llamaron a
entrar en la disputa electoral con el objetivo de obtener tantos diputados a la Asamblea Nacional como sea
posible”. El nuevo “proceso político” incluye, además, “la apertura hacia sectores de la resistencia del
partido Baath (el partido de Saddam)”: como parte de esa “apertura”, pocos días después de las elecciones
fueron liberados 25 altos funcionarios del régimen de Saddam. La otra novedad es que el embajador
norteamericano en Bagdad ha sido autorizado a entablar negociaciones directas con Irán para encaminar el
“proceso político”. El imperialismo negocia con todos –incluidos los rebeldes, los partidarios de Saddam y
los integrantes del “eje del mal”– para poner en Bagdad un gobierno de “unidad nacional” que le permita
“retirarse” de Irak. El gobierno de “unidad nacional” debería incluir a todas las fracciones relevantes, hoy
enfrentadas política y militarmente: los shiítas, los sunitas y los kurdos. A la cabeza de este gobierno
contradictorio, los yanquis están dispuestos a imponer (fraude mediante) a un hombre de su confianza: Ilyad
Allawi, shiíta laico y, por sobre todo, agente de la CIA. Sin embargo, “las posibilidades de que emerja un
gobierno de coalición amplio, tolerante, multi-sectario, no son brillantes”, según The Economist. El primer
obstáculo es el reparto de los ingresos petroleros: los shiítas y los kurdos reclaman la propiedad de los
hidrocarburos”.
5
numa ação tão ambiciosa estrategicamente (não somente contra Saddam, mas ameaçando o
eixo do mal, que inclui uma Coréia do Norte que dispõe de bombas nucleares)?
Por que uma economia combalida e sufocada pela maior dívida pública e pelo maior déficit
orçamentário do mundo, se lança a gastar muito mais com a operação de guerra do que os
próprios ganhos que obteria com o petróleo iraquiano?4 Bush Jr. representa muito mais do
que uma fraude eleitoral (ou um presidente com impulsos belicistas). O Iraque é o alvo do
ataque, mas nem representa todo o alvo, e tampouco é o principal objetivo. As
mobilizações mundiais contra a guerra certamente tem essa consciência: não se trata
“apenas” do petróleo, nem das loucuras do pequeno Bush, nem da defesa, pelos EUA, de
qualquer valor moral, civilizatório ou humano, mas de uma ação macabra de maiores
proporções contra a humanidade trabalhadora.
O petróleo não explica tudo, embora explique uma parte importante. Os Estados Unidos
vivem uma crise do petróleo, e marcham para uma escassez dessa matéria-prima no médio
prazo. Se tivessem que depender apenas das suas reservas e da sua produção, seu petróleo
acabaria em pouco menos de dez anos. Os EUA são o maior consumidor mundial de
petróleo e, segundo Bush, “os países que produzem petróleo não gostam dos Estados
Unidos”. Metade ou mais do petróleo consumido pelos Estados Unidos é importado. Como
a dependência das demais potências – a exceção é a Rússia - é ainda maior (Japão,
Alemanha, França, Itália dependem em quase 100% das exportações de óleo e a China é
cada vez mais dependente) estamos diante de uma situação que faz pensar que dominará o
mundo quem dominar o petróleo do Oriente Médio. As reservas internacionais de óleo
estão concentradas em quatro áreas: pela ordem, as maiores reservas estão na Arábia
Saudita (onde há relativo controle político americano), no Iraque, na Venezuela e na Ásia
Central (ex-repúblicas soviéticas). As reservas de petróleo do Oriente Médio chegam a
mais de 700 bilhões de barris contra uns 30 bilhões dos Estados Unidos. Com a queda da
URSS, o Oriente Médio e as repúblicas petrolíferas da Ásia Central que pertenceram à
URSS, passaram a ser a jóia mais cobiçada pelos grandes grupos internacionais dos EUA e
da Europa.
Os EUA instalaram bases militares duradouras na Arábia Saudita, Turquia e Catar, como
fruto da primeira guerra contra o Iraque. Antes da Guerra do Golfo, eram 10 as bases
americanas na Ásia Central, agora elas são 22. Também tem a ver com a disputa do óleo o
fato de que os Estados Unidos limitaram, nesses 12 anos, a autoridade política e militar do
Iraque justamente ao norte (curdo) e ao sul (xiíta), através de bombardeios incessantes: ali,
ao norte e ao sul, se encontram as maiores reservas de petróleo do Iraque. Dentro desse
quadro, iniciativas como a de converter divisas de petróleo em euros (decisão tomada no
seu momento por Saddam Hussein) certamente ganharam um significado importante.
E não apenas Saddam: na contramão da tutela que os americanos praticam sobre a Arábia
Saudita (maior reserva mundial de petróleo) e da invasão do Iraque (segunda maior
reserva), os maiores rivais dos EUA na Europa (Alemanha e França) estabeleceram acordos
com o Iraque em torno do petróleo, acertando a compra do óleo em moeda européia (euro)
e não mais em dólar, ao mesmo tempo em que a China e a Rússia também vieram firmando
acordos com o Iraque. Ou seja, as segundas reservas mundiais de óleo, situadas num país
onde as empresas dos Estados Unidos não podiam por os pés, ameaçavam vir a cair em
4
As informações que seguem estão contidas em: DANTAS, Gilson. Iraque: ocupação, barbárie e
imperialismo em crise. Antìtese nº 1, Goiânia, CEPEC outubro 2005, artigo excelente, que resumimos nas
linhas que seguem.
6
mãos dos rivais econômicos dos Estados Unidos. E a própria Arábia Saudita – de onde saiu
Bin Laden - já não é mais a mesma: ameaçou aumentar o preço do óleo. Os EUA vinham
perdendo o controle do preço do petróleo.
Um estudioso do assunto julgou que “do ponto de vista da ação das transnacionais, o
objetivo da invasão do Iraque seria afastar da região as empresas francesas, russas,
chinesas, italianas e outras, que têm contratos de desenvolvimento no Iraque e no Irã, para
que sejam substituídas por petrolíferas sediadas nos EUA como a Exxon-Mobil, a ChevronTexaco, a Conoco-Philips, a Schlumberger ou a Halliburton”.5 O Secretário de Estado dos
EUA, Colin Powell, afirmou perante a comissão de relações externas do Senado dos EUA
(em 6 de fevereiro de 2003) que “o sucesso da guerra no Iraque poderia fundamentalmente
redesenhar a região de uma forma poderosa e positiva, que fortalecerá os interesses dos
EUA”. Ocupando e monopolizando o óleo iraquiano, os Estados Unidos controlariam, em
boa medida, o seu preço mundial, esvaziaram as pretensões da OPEP (dos venezuelanos,
por exemplo) e ainda controlariam de perto e com mais eficácia, eventuais vôos dos
sauditas para fora da órbita dos interesses americanos. Lembrando também que as exrepúblicas soviéticas da Ásia Central – cobiçadas pelos Estados Unidos através da
ocupação do Afeganistão – contam com potencial inexplorado de petróleo capaz, segundo
alguns analistas, de uma vez mapeado, superar as reservas do Oriente Médio.
Petróleo e Economia Mundial
O cálculo de alguns analistas é que, se os EUA chegassem a controlar decisivamente o
preço internacional do petróleo – controlando as principais reservas através da invasão do
Iraque e redesenhando politicamente o Oriente Médio e a Ásia Central – poderiam
alavancar sua economia em recessão, tornando-a mais competitiva (o óleo custava 10
dólares o barril ao final dos anos 90, em 2003 passou dos 30 dólares). Tendo enfraquecido
a OPEP, e tendo nas mãos o preço do barril, poderiam disciplinar economicamente seus
rivais mundiais que dependem muito mais do petróleo que os Estados Unidos (Japão e
Alemanha, sobretudo). Além disso, setores da economia de guerra (o “complexo industrialmilitar”) nos EUA imaginaram que um Iraque ocupado pagaria não apenas parte dos gastos
da invasão, como também traria divisas para empresas norte-americanas que reconstruiriam
o país destruído por seus “libertadores”.
A lógica da invasão seria evidente: tudo não passaria de uma operação de rapina,
tipicamente neo-colonial e utilizando os velhos métodos imperialistas, neo-coloniais, só que
agora com canhoneiras mais sofisticadas, as super-bombas, as terríveis bombas de
fragmentação e os projéteis de urânio. A lógica de Bush e dos falcões do Pentágono seria a
da força: contando com superioridade tecnológica e militar incontrastáveis, vão ao campo
de batalha resolver seus graves problemas de óleo. Mas não é só isso o que revela a
aparente pouca preocupação dos EUA com o risco de repúdio e de isolamento político em
relação às outras potências.
A questão é que a OPEP e a União Européia adotariam o euro nos seus contratos. Rússia e
União Européia estudam o comércio bilateral em euro, em vez de dólar; Rússia tem 40% do
seu comércio exterior com a Europa, sendo o grosso desse comércio o petróleo (o
contencioso russo com a Ucrânia pôs em evidência a dependência européia). A Rússia e a
China converteram, em 2002, boa parte das suas divisas em euro. O Iraque já passara seus
5
The Wall Street Journal, Nova Iorque, 16 de janeiro de 2003; The Guardian, Londres, 27 de janeiro de
2003.
7
petro-dólares para o euro em novembro do ano 2000. Argélia e Líbia têm planos na mesma
direção. O banco central do Irã, em 2002, já pôs metade das suas reservas em euro. E a
Coréia do Norte deixou de usar o dólar em suas transações exteriores. A Venezuela
diversificou as reservas do Banco Central na direção do euro. A Malásia anunciara sua
intenção de adotar o dinar em ouro em vez do dólar.
Mas os EUA, estrategicamente, só sobreviveriam como potência econômica mundial
dominante se debilitassem a zona euro por todos os meios. A “zona euro” já conta com
maior participação no mercado global que os Estados Unidos; a contradição óbvia é que as
transações e as divisas internacionais continuam em sendo feitas em dólar. Daí cresce a
pressão sobre a economia norte-americana, cujo peso real global não corresponde à
imposição da sua moeda como moeda internacional. Atualmente, a zona euro converteu-se
em maior importador de petróleo do que os Estados Unidos.
A ação militar dos Estados Unidos no Iraque teve menos a ver com sua força econômica e
com sua potência industrial e comercial, e mais com seu enfraquecimento econômico e com
a crise espetacular dos fundamentos da sua economia, de natureza mundial. A invasão do
Iraque foi a manifestação de uma força militar desigual, consistente em invadir e conquistar
um país pobre, desestruturado, previamente bombardeado por anos, e que mal tinha saído
de uma guerra de quase dez anos contra o Irã, desarmada e esgotada por um bloqueio e
confisco econômico de doze anos patrocinado pela ONU. A ocupação do Iraque tem a ver
com o profundo e persistente impasse da maior economia capitalista do planeta e com sua
crise política e histórica.
Como um bumerangue, a própria guerra e ocupação de Iraque se transformaram num fator
de crise econômica, que alimenta de modo direto a crise política nos EUA. Iraque se
transformou num desastre em termos econômicos: a ocupação poderá custar até 30 vezes
mais do que o governo dos EUA inicialmente previu, se as despesas diretas e indiretas
ligadas à operação militar, como o pagamento de pensões para veteranos gravemente
feridos ou o aumento do preço do petróleo, forem levadas em conta. A afirmação,
contundente, é do economista Joseph Stiglitz, professor da Universidade de Columbia,
ganhador do Nobel de Economia em 2001, e ex – diretor do FMI (além de co-autor, com a
economista da Universidade de Harvard, Linda Bilmes, de The Economic Costs of the Iraq
War).
Para ambos, o custo total da guerra ao longo do tempo oscilará entre US$ 1,026 trilhão e
US$ 1,854 trilhão. O governo de George W. Bush estimou, em 2002, um custo de US$ 60
bilhões. O governo, segundo Stiglitz e Bilmes, só incluiu em sua análise os custos das
operações militares e de reconstrução, mas não os custos orçamentários que não estão
incluídos nas operações militares. Por exemplo, já houve 16 mil militares severamente
feridos no Iraque, que terão direito a atendimento médico e a pensão durante toda a sua
vida. E também foram incluídos no novo cálculo os custos de recrutamento cada vez mais
elevados para as Forças Armadas. Não se trata de um custo operacional, mas é algo
diretamente relacionado às dificuldades dos EUA no Iraque.
A segunda categoria diz respeito aos custos não-orçamentários. Se alguém é morto no
Iraque, o custo, de acordo com o orçamento da defesa, é de US$ 500 mil. Entretanto o custo
“na sociedade” é muito mais elevado. A terceira categoria está ligada ao custo macroeconômico da guerra. Quase todos os economistas concordam que uma parcela significativa
do aumento do preço do petróleo desde a invasão do Iraque tem relação com a guerra. Se
estima, portanto, uma redução do crescimento econômico por conta da guerra do Iraque.
8
Quando todos esses ajustes são efetuados, não é difícil chegar a um custo que oscila entre
US$ 1 trilhão e quase US$ 2 trilhões (lembremos que o PIB da maior economia do planeta
é de US$ 11 trilhões, ou seja que os custos se elevam a algo em torno de 15-18% de toda a
economia dos EUA!).6 A guerra do Iraque plantou uma bomba de efeito retardado na
economia dos EUA.
Acrescentadas as falcatruas comprovadas da Halliburton (empresa a cuja direção pertence o
vice-presidente, e verdadeiro “cérebro”, do governo Bush Jr., “Dick” Cheney), e o
escândalo das torturas fotografadas e filmadas de prisioneiros iraquianos (para não falar das
torturas e humilhações sistemáticas aos prisioneiros afegãos na base militar de
Guantânamo, a poucas milhas dos EUA), o escândalo iraquiano passou do estágio de fator
de crise da política mundial, para transformar-se também em fator de crise política interna
(depois de ter sido, pretensamente, o fator que permitiu a re-eleição de Bush) questionando
a estabilidade do governo e o próprio regime político.
A influente advogada, ex deputada do Partido Democrata, Elizabeth Holtzman, atuante no
Comitê de Justiça que encaminhou o impeachment do presidente Richard Nixon, publicou
um artigo em The Nation defendendo abertamente o impeachment de Bush: “Primeiro, não
existiam informações sérias -positivas ou negativas- que sustentassem a alegação do
governo quanto aos contatos entre Saddam Hussein e Al Qaeda. Mesmo assim, o governo
repetidamente tentou usar essa conexão para demonstrar que a invasão era urna resposta
justificada ao 11 de Setembro. A alegação era completamente falsa. Segundo, não havia
informações confiáveis que sustentassem a alegação do governo de que Saddam estava a
ponto de adquirir capacidade de produzir armas nucleares. A maioria dos norte-americanos
sabe que os motivos que Bush forneceu para a guerra se provaram falsos. Para eles, a
questão é determinar se o presidente mentiu e, caso o tenha feito, o que se pode fazer para
puni-lo por isso. Ao assumir a Presidência fez um juramento nos termos do qual ele
prometeu que protegeria a execução fiel das leis do país. Não se pode usar o impeachment
para remover um presidente por incompetência administrativa. Mas o presidente Bush é
culpado de incompetência em escala tão imensa ou de indiferença tão descomunal à sua
obrigação de fazer com que as leis sejam fielmente executadas que é possível questionar
sua dedicação ao juramento que fez ou a sua capacidade de o executar.
“O exemplo mais notório é a condução da Guerra do Iraque. De maneira irresponsável e
inexplicável, o governo não forneceu aos soldados estacionados naquele país coletes à
prova de balas ou veículos dotados da blindagem necessária. Um estudo recente do
Pentágono constatou que coletes eficientes poderiam ter salvado centenas de vidas. Por que
o início das hostilidades não foi adiado até que os soldados recebessem o equipamento
apropriado? (...) As provas que dispomos no momento sugerem que o presidente pode ter
autorizado pessoalmente a prática de maus tratos contra prisioneiros. Em janeiro de 2002,
depois do início da Guerra do Afeganistão, Alberto Gonzalez, assessor jurídico da Casa
Branca, informou o presidente Bush por escrito de que maus-tratos praticados por
americanos contra prisioneiros poderiam causar processos sob as leis de crimes de guerra.
Em lugar de ordenar que as ações criminosas cessassem imediatamente, Bush autorizou o
uso de uma interpretação elástica das Convenções de Genebra, para proteger contra
processos os americanos responsáveis por abusos contra prisioneiros.
6
STIGLITZ, Joseph (entrevista). Guerra pode custar quase US$ 2 tri. Folha de S. Paulo, 12 de janeiro de
2006.
9
“Em outras palavras, a resposta do presidente quando recebeu informações de abusos
contra prisioneiros foi a de tomar providências que impedissem processos contra os
responsáveis pelas violações, o que implica que tenha acatado os abusos e autorizado sua
continuação. Se torturas ou tratamento desumano de prisioneiros tiverem resultado dessa
decisão presidencial, ele pode ser considerado pessoalmente responsável por uma violação
das leis de crimes de guerra. Mais recentemente, o presidente se opôs à emenda McCain,
que proíbe a tortura, quando ela foi proposta inicialmente, e apoiou tacitamente os esforços
do vice-presidente Cheney para aprovar uma emenda que permitiria que a CIA torturasse
ou degradasse prisioneiros”.7
Para compreender a natureza do intervencionismo político imperialista no Oriente Médio, é
preciso voltar os olhos para os resultados que, para a região, tiveram os desfechos das
principais conflagrações mundiais do século XX.
Do Império Otomano à Partilha Imperialista
A criação do Estado de Israel, em 1948, sob os auspícios de uma ONU criada pelos acordos
contra-revolucionários de Teerã, Yalta e Potsdam, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o
elemento chave na preparação do intervencionismo político, através de uma cabeça de
ponte, do imperialismo capitalista dominante, o dos EUA, no Oriente Médio, no quadro de
uma administração americana (Roosevelt-Truman) que assumia, de modo consciente e
explícito, responsabilidades políticas e policiais mundiais.8 A partilha da Palestina foi o
processo que a precedeu. Tratou-se, portanto, de uma decisão estratégica de alcance
histórico, sobre cujos pressupostos é necessário se debruçar.
Na origem da divisão da Palestina,9 encontra-se a partilha imperialista dos restos do
Império Otomano. No século XVI a Palestina, como a maior parte dos territórios árabes, se
encontrava sob o controle da “Sublime Porta” (o Sultão da Turquia). O Império Otomano
trouxe o Próximo Oriente Árabe para as províncias administradas por pachás
(governadores). O poder do Império turco tendeu a esgotar-se nos séculos XVII e XVIII em
proveito do poder das autoridades locais, que sem questionar a supremacia do sultão,
adquiriram uma grande autonomia, que não deixaram de utilizar as potências (Grã
Bretanha, França, Rússia, Áustria-Hungria) em sua competição mútua.
O controle dos mercadores europeus sobre a vida econômica do Império Otomano se
ampliou à medida que declinava a Sublime Porta, para chegar a um estágio em que as
potências européias se beneficiavam de enormes privilégios. A Europa vivia uma fase de
desenvolvimento do capitalismo (e da expansão colonial). A ocupação territorial do
Próximo e Médio Oriente pelas potências européias esteve precedida por uma penetração
7
HOLTZMAN, Elizabeth. O impeachment de George W. Bush. Folha de S. Paulo, 15 de janeiro de 2006.
Cf. SALAM, Elie A. Arab-American relations: an interpretative essay. In Han-Kyo Kim (ed.). Essays on
Modern Politics and History. Athens, Ohio University Press, 1969.
9
Segundo Arnold Toynbee e outros historiadores, o nome Palestina teria se originado de philistaius que
designava o povo filisteu, de que trata a Bíblia no episódio de Sansão e Dalila. Os filisteus não eram semitas e
sua provável origem é creto-micênica, uma das mais conhecidas vagas dos chamados "povos do mar" que se
estabeleceram em várias partes do litoral sul do mar Mediterrâneo, incluindo a área hoje conhecida como
Faixa de Gaza. A Palestina, sendo um estreito trecho de favorável passagem entre a África e Ásia, foi palco
de um grande número de conquistas, pelos mais variados povos, por se constituir num corredor natural para os
antigos exércitos. No ano 1099, com a Primeira Cruzada, europeus conquistaram Jerusalém e lá estabeleceram
o seu domínio sob o nome de Reino Latino de Jerusalém, cuja existência periclitante em meio à sociedade
islâmica se demorou até o ano de 1187, quando a cidade foi reconquistada por Salamino (Cf. NOJA, Sergio.
Breve Storia dei Popoli Arabi. Milão, Arnaldo Mondadori, 1997).
8
10
econômica que levou a dissolução das estruturas sociais atrasadas do Império Otomano.
Assim, já em 1849, o Egito (então parte do Império Otomano) dependia da Grã Bretanha
em cerca de 41% de suas importações e de 49% de suas exportações. A dominação
financeira se materializava no endividamento crescente, a tal ponto que a dívida otomana se
elevava em fins do século XIX a 200 milhões de libras esterlinas. A princípios do século
XX se constituiu o “Conselho de Administração da Dívida Pública Otomana”, dominado
pelos credores europeus, que com seus 9 mil funcionários (em 1912) se arrogou a
arrecadação dos ingressos fiscais do Império Turco.
O Império Otomano era, segundo o czar da Rússia, “o enfermo da Europa” e as potências
tentavam repartir seus despojos. Porém, contra os apetites da França e Rússia em particular,
a Grã Bretanha se opôs, considerando que um Império Otomano, ainda débil, supunha a
melhor garantia para preservar a “ordem”, a estabilidade, já que a dificuldade estava em
saber o que havia para colocar em seu lugar, e também para proteger a rota das Índias do
apetite dos rivais. A política britânica buscava manter o “status quo” no Próximo Oriente, e
impedir que outras potências interviessem ali. Em 1839, a Grã Bretanha ocupou Aden para
proteger a rota das Índias, lançou seus navios contra os piratas do Golfo Pérsico para
proteger a navegação comercial, chegando a exercer um domínio sobre os diferentes
governadores do Golfo. Entretanto, a França desembarcou na Síria em 1860 para “proteger”
a comunidade cristã de “conflitos religiosos” com os drusos (conflitos que o exército
otomano acabava de combater) provocados pelas potências (ficando os franceses como
defensores dos cristãos maronitas, os ingleses dos drusos, os russos dos ortodoxos...). O
poder de Constantinopla teve que aceitar a criação de uma província autônoma na região do
Monte Líbano – dentro do Império Otomano – dirigida por um governo cristão (as tropas
francesas permaneceram ali até 1971). Várias revoltas árabes contra a Sublime Porta foram
sustentadas e animadas pelas potências.
Quando o governador do Egito, Mehmet Ali derrotou os exércitos otomanos, as tropas
russas acudiram em ajuda do Império Otomano. Grã Bretanha e França obrigaram a
Mehmet Alí a abandonar os territórios sírios. Depois da infrutífera tentativa do governador
(pachá) de transformar o Egito em uma potência industrial, o país caiu sob uma crescente
dependência da Grã Bretanha. Tanto mais quanto que, desde a abertura do Canal de Suez
em 1869, o Egito ocupou um lugar central para a Grã Bretanha. O endividamento e a crise
financeira egípcia impuseram ao neto e sucessor de Mehmet Alí, Ismael, a venda da parte
egípcia do canal ao governo britânico, que se converteu assim no principal acionista, porém
o déficit fiscal subsistiu. Dois anos mais tarde, o caixa da divida franco-britânica tomou ao
seu cargo as finanças do Egito. Em 1881, ante uma revolta iniciada por oficiais do exército
egípcio, que se estendeu a todo o país, Grã Bretanha interveio bombardeando Alexandria e
ocupando militarmente Egito: essa ocupação não acabará até 1956.
O Sudão foi conquistado em 1898 pelos britânicos através de feroz repressão. Por sua parte,
sob a cobertura do clero russo, o czar multiplicou as compras de terras na Palestina.
Finalmente, o movimento sionista, que nasceu na Europa Oriental, organizou as primeiras
ondas de pioneiros judeus da Europa, instalando-se no final do século XIX na Palestina
com a intenção explícita – contrária à atitude da comunidade judia de 20 mil pessoas que
residiam já na Palestina desde o século XIV – de colonizá-la. “Fomentar, por princípio, a
colonização da Palestina por judeus operários agrícolas, trabalhadores em construção civil e
de outros ofícios”, dizia a resolução do I Congresso Sionista Mundial, celebrado em
11
Basiléia em agosto de 1897.10 O próprio Theodor Herzl, fundador do sionismo, era mais
simpático à idéia de instalar o “Estado Judeu” na África Oriental Britânica (a atual
Uganda), mas ele morreu, antes que o Congresso Sionista de 1905, dominado pelos judeus
de Europa Oriental, “escolhesse” a Palestina.11
A ocupação judaica da Palestina começou a ganhar força no final do século XIX, quando o
mundo afro-asiático estava sendo partilhado pelas potências imperialistas. Nesse período,
parte do mundo árabe-islâmico ainda estava sob domínio do Império turco-otomano, que se
estendeu até 1918, quando a Turquia foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, e a
Palestina tornou-se um território sob mandato britânico.
Em 1907, foi constituído pelos sionistas, em Jaffa, um gabinete para estruturar a
colonização, que já vinha sendo realizada lentamente com o dinheiro do barão Edmond de
Rothschild e do “Fundo Nacional Judeu”, estabelecido pelo V Congresso Sionista. Quando
começou a Primeira Guerra Mundial, já existiam 44 colônias agrícolas judaicas na
Palestina, e em 1917, quase no final do conflito na Europa, foi divulgada a Declaração
Balfour, do governo inglês, que garantia, como veremos, a livre colonização da região por
judeus, que nesse momento já contavam com aproximadamente 60 mil habitantes naquele
território. O movimento sionista internacional ainda era pequeno e fraco em relação a
outras alternativas, como o Bund e a emigração a países como os Estados Unidos. Esse fato
pode ser explicitado nos números da emigração à Palestina na época. Durante a
administração do Império Otomano, entre 1881 e 1917, de uma emigração total dos judeus
da Europa de 3.177.000 pessoas, apenas 60 mil foram à Palestina. Já na época de controle
britânico, depois da Primeira Guerra Mundial, no período de 1919 até a independência de
Israel, em 1948, de uma emigração total de 1.751.000 judeus, 487 mil foram para a
região.12
Na prática, somente após as perseguições nazistas foi que a emigração judaica para o
Oriente Médio aumentou significativamente. Os ingleses, sabendo da delicada situação
local, haviam publicado um Livro Branco, em 1922, limitando a imigração judaica e
evitando favorecer a criação de uma maioria de judeus na região. Mas os anos 1930 viram
os problemas se aguçarem, à medida que uma grande vaga de judeus fugindo da Alemanha
chegou à Palestina. Em 1931, de uma população de 1.036.000 habitantes, somente 175 mil
eram judeus. Mas o nazismo empurrou mais 200 mil judeus para a Palestina na segunda
10
Em 1852, só havia em torno de 11.800 judeus na Palestina. Esse número subiu um pouco nas décadas
subseqüentes, atingindo, em 1880, aproximadamente 24.000, de uma população total de 500 mil habitantes.
No período de 1880 a 1914, houve movimentações migratórias de judeus por todo o continente europeu. Com
uma onda anti-semita na Rússia, explicitada pelos pogroms czaristas, e com uma diversidade de leis restritivas
em alguns países da Europa Oriental, começa a haver um maior interesse na constituição de colônias agrícolas
judaicas na Palestina, que lentamente irão receber, nessa época, diversos grupos de judeus provenientes dessas
nações, assim como ocorrerá, paralelamente, uma leva migratória judia para a Europa Ocidental e Estados
Unidos. Esse período coincide com a criação de diversas ligas anti-semitas, com o I Congresso Anti-semita
Internacional, na Alemanha, em 1882, e com reações dos sionistas, estabelecendo comitês responsáveis por
organizar a colonização agrícola da Palestina. A idéia do “retorno”, portanto, estava extremamente associada
aos preconceitos e perseguições anti-semitas na Europa, assim como à tentativa de construção de um “lar”
onde os judeus pudessem viver sem serem atacados, e que possibilitasse a construção posteriormente de um
Estado nacional seguro e independente (PERICÁS, Luiz B. Israel e Palestina. IV Internacional, São Paulo,
maio de 2002; ver também: RATTNER, Henrique [org.]. Nos Caminhos da Diáspora. São Paulo, Centro
Brasileiro de Estudos Judaicos, 1972).
11
KIRK, George E. História do Oriente Médio. Rio de Janeiro, Zahar, 1967, p. 190.
12
PERICÁS, Luiz B. Op. Cit.
12
metade daquela década. É nessa época que aumenta também a atuação da Haganah, a
organização sionista armada criada em 1920, que tinha como objetivo estabelecer um
exército próprio para proteger os interesses dos colonos judeus.13
O período da Primeira Guerra Mundial veio a ser o da submissão do Império Otomano às
potências imperialistas. Em vésperas daquela, se estima que as inversões européias, no
Próximo Oriente, se elevaram a 24 milhões de libras esterlinas, no caso da Grã Bretanha;
3300 milhões de francos por parte da França, e 1800 milhões de francos da Alemanha
(nesse mesmo período a dívida otomana já passava os 63 milhões de libras). Porém, ao
mesmo tempo, apareceram e se desenvolveram a maior parte das organizações árabes
nacionalistas que queriam libertar-se do jugo otomano e, em geral, da dominação
estrangeira. Em 1906, os britânicos, reprimiram brutalmente uma rebelião no Egito. A
situação que se criava no Império Otomano exigia às potências irem mais longe.
Em 1914, o Egito passou a ser um protetorado britânico, a influência inglesa se estendia na
região do Golfo. Em 1917 tem lugar a ocupação da Mesopotâmia e a declaração Balfour,14
prevendo a instalação de um “lar nacional” judeu na Palestina, através da qual a Grã
Bretanha preparava a dominação da Palestina, embora esta fosse parte ainda do Império
Otomano. Em 1916 estalara a rebelião dirigida por Mustafá Kemal na Turquia, que aboliria
o Império da Sublime Porta e fundaria a República da Turquia. Na península arábica o
potentado árabe Ibn Saúd, instigado pelos britânicos, empreendeu suas primeiras conquistas
contra o Império Otomano (que fora aliado do Império Austro-húngaro e da Alemanha na
Primeira Guerra Mundial).
Ao finalizar a Primeira Guerra Mundial, o Império otomano, derrotado, foi desmembrado.
A França ocupou a Síria em 1920; em 1926 o Iraque foi submetido a mandato britânico, e
em 1927 as conquistas de Ibn Saúd foram “reconhecidas” pela Grã Bretanha. Assim como
o Tratado de Versalhes havia multiplicado na Europa, e em particular na região balcãdanubiana, “diques de estados vassalos”, na expressão do IV Congresso da Internacional
Comunista, seu equivalente para o Império Otomano, o Tratado de Sèvres, multiplicou os
“protetorados” no Oriente Médio. Se a Grã Bretanha havia sustentado e mantido a unidade
do Império Otomano com todas as suas forças durante decênios, esta posição se fez
insustentável desde 1913 e impossível depois da Primeira Guerra Mundial: o
desmembramento do Império Otomano estava na ordem do dia.
Retalhamento e Acordos Secretos
A balcanização do Próximo e Médio Oriente se concretizou nos acordos secretos francobritânicos de 1916, conhecidos com o nome de negociações Sykes-Picot, concluídas em
conformidade com a Rússia czarista. A Grã Bretanha exercia um protetorado de fato no
Egito e no Golfo Arábico-Pérsico. Lord Kitchener, amo do Egito, planejava dividir a região
13
FRANCK, Claude e Michel Herszlikowicz. Le Sionisme. Paris, PUF, 1984.
Em seu livro The Question of Palestine (Nova Iorque, Vintage Books, 1980), o escritor palestino Edward
Said definiu a importância dessa declaração da seguinte maneira: "O que é importante a respeito da
declaração é que, em primeiro lugar, durante muito tempo ela foi a base legal para as reivindicações sionistas
em relação à Palestina e, em segundo lugar, e mais importante para os nossos objetivos aqui, que foi uma
declaração cuja força só pode ser avaliada quando as realidades demográfica e humana da Palestina ficaram
claras na mente. Isto é, a declaração foi feita (a) por um poder europeu, (b) a respeito de um território nãoeuropeu, (c) num claro desrespeito à presença e aos desejos da população nativa residente no território e (d)
tomou a forma de uma promessa sobre este mesmo território por um outro grupo estrangeiro, a fim de que
esse grupo estrangeiro pudesse, literalmente, fazer desse território uma nação para o povo judeu".
14
13
meridional da Síria até Haifa e Acre para formar ali uma unidade territorial separada, sob o
controle britânico. Em contato com o futuro coronel T. E. Lawrence (agente e mercenário
britânico infiltrado na rebelião árabe contra os turcos, depois consagrado pela lenda como
“Lawrence de Arabia”), na ocasião de sua visita à Palestina em 1911, escrevia que seria
melhor “que os judeus colonizassem o país o quanto antes possível”.
Os acordos secretos Sykes-Picot foram feitos públicos pelos bolcheviques em 1917, após a
queda do antigo regime czarista. Desde princípios de 1916, tiveram lugar em Londres
conversações entre os diplomatas Mark Sykes e Georges Picot. Concluíram no mês de
março com um protocolo ratificado por seus governos como parte de um futuro arranjo
anglo-franco-russo, conhecido com o nome de acordo Sykes-Picot. Segundo este protocolo,
a Ásia Árabe (mais a península arábica) ficava dividida em cinco zonas: zona azul e zona
vermelha, sob controle direto da França (azul) e da Inglaterra (vermelha); zona rodeada de
azul e zona rodeada de vermelho aonde se reconheceria a soberania árabe, mas conservando
zonas de interesses francês e inglês. Finalmente, uma zona marrom que considerava a
Palestina, menos Haifa (que se reservava à Inglaterra), submetida o controle internacional.
Estes acordos ignoravam por completo as aspirações nacionais árabes.
No mapa da Palestina, mediante um jogo diplomático, as zonas rodeadas de azul e
vermelho (Síria e Mesopotâmia) se reservavam para protetorado das duas potências.
Quanto à cláusula de internacionalização da Palestina, Sykes a havia aceitado por duas
razões: era preciso ter em conta os interesses da Rússia, que tinha intenção de estar presente
em Jerusalém, e cuja participação no acordo estava prevista, porém, sobretudo era preciso
opor uma barreira às ambições da França, que pretendia exercer seu controle sobre a “Síria
histórica”, que compreendia o Líbano, como também a Palestina. Esta barreira era a
internacionalização da região, a que os franceses não podiam, razoavelmente, opor-se.
Porém, esta solução não satisfazia o governo britânico, seduzido pela idéia do “bastião
palestino”.
O premiê inglês Lloyd George qualificou o acordo endossado pelo seu predecessor de
“documento estúpido”. Sykes reconheceu que não estava orgulhoso dele. Para modificar a
seu favor a cláusula palestina, a Inglaterra necessitava do sionismo. Assim pois, não há que
surpreender-se do zelo sionista em favor do acordo, que manifestou-se a partir desse
momento, nem do papel capital que desempenhou Sykes, com o apoio de seu governo, ante
Chaim Weiszmann e seus amigos (a Organização Sionista Mundial), induzindo-os a que
apresentassem ao gabinete da guerra uma versão aceitável do que iria converter-se na
declaração Balfour.
O aguçamento das contradições inter-imperialistas determinou a feição definitiva do
sionismo. Como aponta George E. Kirk, “a eclosão da I Guerra Mundial transferiu o centro
de gravidade do movimento sionista do continente europeu para Inglaterra e os Estados
Unidos”. As figuras decisivas passaram a ser Hayyim (Chaim) Weiszman, russo que
exercia a cadeira de Química na Universidade de Manchester e, nos EUA, o advogado
Louis D. Brandeis, próximo ao presidente Woodrow Wilson (que nomeou-o juiz da Corte
Suprema). O Comitê Britânico para a Palestina, inspirado por Weiszman, publicava um
jornal com a legenda “Para restabelecer as antigas glórias da nação judaica na liberdade de
um novo domínio britânico na Palestina” (sic).
O único membro não judeu do Comitê, Herbert Sidebotham, jornalista do Manchester
Guardian, escreveu em 1915 um editorial advogando a permanente ocupação inglesa da
Palestina, para defender o Egito. Weiszman solicitou a Sidebotham a redação de um
14
memorando para o Foreign Office, propondo um Estado judeu na Palestina, para a defesa
do Egito e do Canal de Suez. O memorando foi o antecedente da Declaração Balfour.
Sidebotham afirmou que as necessidades políticas estratégicas da Grã-Bretanha inclinaram
a balança a favor do sionismo. Anos depois, setores do establishment britânico lançaram a
queixa de terem sido usados como “testas-de-ferro” dos judeus...15
Assim, o imperialismo britânico buscaria utilizar o movimento sionista, facilitando a
imigração judia para a Palestina, contra as massas árabes, seguindo o velho adágio latino
divide et impera, e para assegurar sua hegemonia regional contra seu “aliado”, o
imperialismo francês, já que a questão chave era a das zonas de influência (francesa no
norte, inglesa no sul). Os britânicos podiam considerar que os acordos Sykes-Picot
deixavam a porta aberta a seu projeto de reino(s) árabe(s), já que a Grã Bretanha desejava
anexar a região de Bassora. Aspirava também a instituir um poder árabe no lugar do sultão
otomano.
Isso iria acompanhado da instauração na península arábica da “meia lua fértil” de estados
árabes “clientes da Grã Bretanha”. Em segredo, o xeque Hussein, da Meca, aceitou as
propostas anglo-francesas. Membro do clã dos hachemitas da tribo do Profeta, os britânicos
pretendiam utilizá-lo como contrapeso religioso e simbólico frente ao sultão otomano, e
para canalizar em seu proveito a luta dos povos, reunindo-os sob a bandeira de uma suposta
“nação árabe”. Foi proclamada a rebelião árabe, em maio de 1916, generosamente
alimentada com fundos da Grã Bretanha, e apoiada militarmente por ela e a França.
Os britânicos tomaram Bagdá, em março de 1917. Durante o verão, as forças árabes,
comandadas por um filho de Hussein, Faisal, operaram no sul da atual Jordânia contra os
otomanos. Em dezembro os britânicos entraram em Jerusalém. Entretanto, o Ministro dos
Assuntos Exteriores da Grã Bretanha, Balfour, em uma carta a Lord Rothschild (a carta fora
preparada conjuntamente pelos dirigentes da Organização Sionista Mundial e Sykes, teve
oito projetos diferentes entre julho e novembro desse ano) anunciava: “O governo de sua
Majestade considera favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um Estado nacional
para o povo judeu”, afirmando assim as pretensões britânicas com respeito à Palestina,
teoricamente zona neutra internacional, segundo os acordos Sykes-Picot. Além do
chamamento do Ministro Balfour a constituição de um “Estado nacional judeu”, a Grã
Bretanha afirmava assim o desejo de estender seu domínio sobre o conjunto dos territórios
da Palestina, ligando o Egito aos territórios do Iraque e da península arábica, até à Índia. Os
exércitos britânicos iriam tentar realizar isso na prática.
Expulsões e Alliahs
As operações decisivas na Síria começaram em setembro de 1918. As forças britânicas
permitiram Faisal entrar em Damasco em outubro. Um mês mais tarde, a Síria estava sob o
controle britânico. Depois do armistício firmado com os otomanos (a 30 de outubro de
1918), os britânicos continuaram avançando, estendendo sua influência em detrimento da
França. Esta se viu obrigada a ceder Mosul e Palestina aos britânicos, e descobre que, na
Síria, os britânicos não lhe concediam mais que a administração do litoral sírio-libanês. A
Síria interior foi confiada a Faisal. Este firmou um protocolo de acordo com o líder sionista
Chaim Weiszmann, considerando a declaração Balfour como um repúdio dos acordos
Sykes-Picot, e se colocou sob o controle da Grã Bretanha (o Artigo 9 do Acordo, firmado
em 3 de janeiro de 1919 por Faisal e Weiszmann, precisava: “qualquer diferença que puder
15
KIRK, George E. Op. Cit. p. 191.
15
surgir entre as partes contratantes se submeterá ao arbítrio do governo britânico”), o que
constituía uma arma eventual contra as ambições francesas.
No entanto, os britânicos fizeram um acordo com os franceses, em novembro de 1919; suas
tropas evacuaram as zonas sírio-libanesas que os acordos Sykes-Picot haviam confiado à
França. Faisal aceitou tratar com esta última, porém, o Conselho Geral Sírio proclamou, em
março de 1920, um Reino Unido da Síria, e lhe ofereceu sua Coroa. No mês seguinte a
França e Grã Bretanha decidiram a repartição dos “mandatos”: a Sociedade de Nações
(SDN) precedente da ONU, que Lênin qualificava de “covil de bandidos”, confiou às
potências vitoriosas “mandatos” sobre os territórios, sobre a base do desmembramento do
Império Otomano; Síria e Líbano para a França, Palestina e Iraque para a Grã-Bretanha. Era
o fim do projeto da Grande Síria.
Em julho, as forças francesas esmagaram os sírios. Faisal se refugiou na Palestina, onde os
elementos pró-sionistas da administração britânica estabelecem eles mesmos o término do
mandato em 1920. Conseguem que a França ceda a Galiléia e a bacia alta do Jordão, como
desejavam os sionistas. No entanto, a Transjordânia lhes escapou: administrada por Faisal,
até meados de 1920, Abdallah, irmão de Faisal, se instalou ali em novembro de 1920 com a
intenção de intervir na Síria, contra a opinião dos sionistas, que queriam incorporar a
margem esquerda do Jordão à Palestina. Os britânicos aproveitam a ocasião e, em março de
1921, nomearam Abdallah governador da Transjordânia.
Em 1931, 20 mil famílias camponesas palestinas haviam sido expulsas pelos sionistas.
Além disso, no mundo árabe, a vida agrícola não é somente um modo de produção, como
também uma forma de vida social, religiosa e ritual. Por isso, a colonização, além de retirar
a terra, estava destruindo a sociedade rural árabe. O imperialismo britânico impulsionou a
desestabilização da economia palestina, concedendo um estatuto privilegiado ao capital
judeu; lhes destinando 90% das concessões na Palestina, permitindo que os sionistas
tomassem o controle da infra-estrutura econômica. Se estabeleceu então um código de
trabalho discriminatório contra a força de trabalho árabe, que provocou um desemprego em
grande escala entre os árabes. Por isso, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a rebelião
árabe, incitada pelos britânicos contra o Império Otomano, deixou de dirigir-se aos turcos,
para apontar contra os novos colonizadores; se trata da resistência das massas palestinas
empobrecidas contra o colonialismo e o imperialismo, contra os acordos Sykes-Picot,
contra o “mandato” e contra a declaração Balfour.
Os primeiros choques importantes tiveram lugar em maio de 1921, entre manifestantes
sionistas e árabes. O alto comissário britânico, sir Herbert Samuel, que formava parte dos
diplomatas ingleses pró-sionistas, se inquietou e, em seu memorando ao governo britânico,
sugere que se subordine a imigração judaica “à capacidade econômica do país de absorver
novas chegadas, a fim de que os imigrantes não privem de seu trabalho a nenhum setor da
população atual”. Em agosto de 1929, novos enfrentamentos provocaram 113 mortes entre
os judeus e 67 entre os árabes. Em um segundo memorando publicado em outubro de 1930,
Londres estimava que “não diminuiu a margem de terras disponíveis para a colonização
agrícola”, e recomendava controlar a imigração. Palavras desmentidas pelos fatos e
questionadas em uma carta do primeiro-ministro trabalhista MacDonald ao dirigente da
Organização Sionista Mundial, Chaim Weiszmann.
Em inícios de 1920, se desenvolveu uma terceira onda (ou alliah) de imigração de judeus
do leste da Europa, canalizada para a Palestina depois que, em 1924, o governo americano
fez votar uma lei que restringia toda imigração aos EUA, ao mesmo tempo em que o
16
governo polaco, do marechal Pilsudski, tomava medidas econômicas anti-judaicas. Isto
provoca uma quarta alliah mais importante que as precedentes. Porém logo o fluxo se reduz
até o ponto de que entre 1927 e 1929 deixaram a Palestina mais judeus dos que nela
entraram. A recuperação da imigração data de 1933, ano da ascensão de Hitler ao poder.
Além dos judeus polacos e de outros países da Europa central, a quinta alliah incluiu
numerosos judeus alemães. Em 1936 se assentaram 400 mil judeus na Palestina, a grande
maioria azkenazes (judeus de tradição cultural germânica e língua yiddish).
Cortando na carne das nações, dividindo e desmembrando os povos, através da criação
artificial da Transjordânia, sob o mando de um emir às ordens dos britânicos, separada do
resto da Palestina, onde a Grã Bretanha favoreceu os sionistas e a imigração judaica,
dirigida contra as massas árabes, o imperialismo procurava assegurar seu domínio sobre as
massas, com a colaboração dos sionistas e dos potentados locais.
Em todos os territórios situados sob o mandato britânico ou francês, a repressão foi
extremamente brutal. De 1920 a 1926, os generais franceses Gourauid, Weygand e Sarrail
aplicaram na Síria uma verdadeira ditadura militar e uma repressão sangrenta contra as
massas árabes, que se sublevaram em várias ocasiões, e provocaram conflitos procurando
separar a população cristã dos muçulmanos. No Iraque, em fins de 1919, se desenvolveu
uma verdadeira revolta contra os britânicos, que explodiu durante o verão de 1920 na
Thawra (rebelião iraquiana) contra a instauração do mandato.
Sionismo e Partilha da Palestina
Depois da sangrenta repressão, os britânicos decidiram substituir a administração direta por
um regime árabe, impondo novamente Faisal, designado rei do Iraque em agosto de 1921.
Assim, os britânicos mantém o “mandato”. Também na Palestina se desenvolve uma
intensa agitação contra o “mandato” britânico e a colonização sionista, com as sublevações
de 1920, 1921 e 1929, também reprimidas ferozmente pelas tropas britânicas, com a ajuda
das milícias sionistas. Era preciso que a “ordem” imperasse em toda a região, a fim de
assegurar sua exploração e pilhagem pelas potências européias.
As riquezas petrolíferas do Oriente Médio desempenhavam já um papel determinante na
atitude das potências. Já em 1908, concessionários britânicos descobriram uma primeira
bacia no Irã e no Iraque. Assim, as negociações franco-britânicas sobre a divisão do Oriente
Próximo giraram, em boa medida, em torno a sorte da antiga Turkish Petroleum Company.
Em 1931, a Standard Oil dos EUA descobriu petróleo e obteve, em 1933, uma concessão
que abarcava o conjunto da Arábia Saudita. Era um acontecimento de enorme importância,
cujo alcance não foi estimado em toda a sua amplitude até depois de 1945.16
Em 1880, a Palestina pertencia ao Império Otomano. Naquela época estavam assentados ali
25 mil judeus, em sua maior parte judeus espanhóis-sefarditas, instalados na Galiléia no
século XVI. Grande parte dos judeus expulsos da Espanha pelos “Reis Católicos” no século
XVI, encontraram refúgio no Império Otomano, em particular na Bósnia e Tessalônica,
província turca, mas também da Palestina, Iraque e Síria. O argumento dos sionistas “um
povo sem terra (os judeus) para uma terra sem povo (Palestina)” não resiste um minuto ao
escrutínio histórico.
Em sua obra A História Oculta do Sionismo, Ralph Schoenman afirma: “Ao final do século
XIX havia na Palestina mil povos ou aldeias. Jerusalém, Haifa, Gaza, Yaffa, Nablús, Acre,
16
Cf. NOUSCHI, André. Luttes Petrolières au Proche-Orient. Paris, Flammarion, 1970.
17
Jericó. Ramle, Hebrom e Nazaré eram cidades florescentes. As colinas estavam
laboriosamente tratadas. Canais de irrigação sulcavam todo o território. Os jardins de
limoeiros, as oliveiras e cereais da Palestina eram conhecidos em todo o mundo. O
comércio, o artesanato, a indústria têxtil, a construção e a produção agrícola eram
prósperas. Os relatos dos viajantes dos séculos XVIII e XIX estão plenos de dados nesse
sentido, bem como os informes acadêmicos publicados quinzenalmente no século XIX pelo
Fundo Britânico para a Exploração da Palestina. Na realidade, foi precisamente a coesão
social e a estabilidade da sociedade o que levou a Lord Palmerston a propor,
premonitoriamente, em 1840, quando a Grã Bretanha estabeleceu o consulado em
Jerusalém, a fundação de uma colônia judaica européia para preservar os interesses mais
gerais do Império Britânico”.17
A sociedade palestina, ainda padecendo da colaboração dos latifundiários feudais com o
império otomano, era produtiva e culturalmente diversa, com um campesinato muito
consciente de seu papel social. Os camponeses e a população palestina estabeleciam uma
distinção clara entre os judeus que viviam entre eles, e os colonizadores que vieram, já que
em 1820 os 20 mil judeus de Jerusalém se integravam totalmente na sociedade palestina.
Quando em 1886 os colonos de Petah Tíkrah trataram de expulsar os camponeses de sua
terra chocaram-se com uma resistência organizada, mas os trabalhadores judeus não
sofreram nenhuma represália.
Quando os armênios que escaparam do genocídio turco se estabeleceram na Palestina foram
bem recebidos. Esse genocídio foi defendido por Vladimir Jabotinsky e outros sionistas, em
seu afã por lograr o apoio turco. Na verdade, até à Declaração Balfour a resposta palestina
aos colonizadores sionistas foi tolerante. Na Palestina não havia nenhum ódio organizado
contra os judeus, ninguém organizava massacres como os do czar ou dos anti-semitas
polacos, não surgiu nenhuma reação simétrica pelo lado palestino contra os colonos
armados que utilizavam da força para expulsar os palestinos de suas terras. Nem sequer as
reações espontâneas que expressavam a raiva dos palestinos contra os constantes roubos de
suas terras eram dirigidos contra os judeus como tais.
Em fins do século XIX e princípios do século XX começaram as ondas de imigrantes
judeus sob os efeitos dos pogroms na Rússia e na Europa Oriental. As autoridades
otomanas temiam que a imigração judaica reforçasse ainda mais a influência européia, pois
apenas tinha meios para opor-se a ela. A primeira onda (1882-1903) provém sobretudo da
Rússia. A segunda (1904-1914) da Rússia e Polônia. Em 1919, depois dessas duas ondas de
imigração, estavam assentados na Palestina 60.000 judeus (muitos dos imigrados partiram
de novo, em particular para os EUA) para um total de 800 mil habitantes. A saída dos
judeus da Europa Oriental não encaixara com os planos dos sionistas: emigravam para a
Europa Ocidental e os EUA.
Em 1936, os judeus assentados já eram 400 mil e, em 1947, 600 mil. Este crescimento foi
resultado da nova onda de imigração, protegida pelas disposições do “mandato”. O
documento adotado pela SDN em 24 de julho de 1922, que confiava o mandato sobre a
Palestina à Grã Bretanha, precisava: “O mandatário assumirá a responsabilidade de instituir
no país um estado de coisas político, administrativo e econômico, capaz de assegurar o
estabelecimento do estado nacional para o povo judeu (...) A administração da Palestina
facilitará a imigração judaica em condições convenientes e de acordo com o organismo
17
SCHOENMAN, Ralph. Historia Oculta del Sionismo. Barcelona, Marxismo y Acción, 1988.
18
judaico mencionado no artigo 4. Estimulará o estabelecimento intensivo dos judeus nas
terras do país, incluídos os domínios do Estado e as terras sem cultivar”.
Os diferentes imperialismos, ao fechar suas fronteiras aos judeus que fugiam da Alemanha
nazista, os canalizavam para a Palestina. Protegido pelas disposições do “mandato”, o
estado nacional para o povo judeu se administrava por si mesmo, com seu sistema de
ensino, sua estrutura econômica, sua milícia, a Haganah, que chegaria a converter-se em
um exército. Logo que os imigrantes judeus instalaram-se nas cidades, seu governo teve
como política a aquisição de terras.
Como explicou o poeta e ensaísta palestino Ghasan Kanafani: “Apesar de que uma grande
parte do capital judeu se destinou a áreas rurais, e apesar da presença de forças militares
britânicas e da imensa pressão exercida pela máquina administrativa em favor dos sionistas,
estes lograram somente resultados mínimos em relação à colonização da terra. No entanto,
prejudicaram seriamente a situação da população árabe rural. A propriedade da terra urbana
e rural por parte de grupos judeus passou de 300.000 dunums (26.800 hectares) em 1929 a
1.251.000 dunums (112.000 hectares) em 1930. A terra adquirida era insignificante desde o
ponto vista de uma colonização massiva e da solução do ‘problema judeu’. A expropriação
de um milhão de dunums – quase um terço da terra cultivável – conduziu a um grave
empobrecimento dos camponeses árabes e dos beduínos”.
Porém, o objetivo sionista (um “estado judeu” para o que se pensou inicialmente em
territórios da América Latina, logo em Uganda e finalmente na Palestina) era minoritário
entre as massas judias da Europa que, em grande parte, se encontravam dentro de
organizações socialistas, como a organização operária judia, o Bund, que combatia com
vigor o sionismo. Sem falar nas perspectivas de emancipação e na enorme influência que
sobre as massas judias exerceu a Revolução de Outubro, durante seus primeiros anos (em
seu livro A Orquestra Vermelha, Gilles Perrault relata que o esqueleto da organização
clandestina da Internacional Comunista, na Europa fascista, era constituído por militantes
de origem judia. O próprio Leopold Trepper, polonês que dirigia a célebre rede de
espionagem soviética que dá título ao livro, era judeu).
Segundo Gresh e Vidal: “O sionismo se alimentou na Europa central e oriental da
conjugação de três fenômenos próprios do século XIX: a decomposição da estrutura feudal
dos impérios czaristas e austro-húngaro, que minou os fundamentos sócio-econômicos da
vida judia, as condições da evolução capitalista que bloquearam o processo de
proletarização e de assimilação, e a escalada brutal do anti-semitismo mais violento que
precipitou a centenas de milhares de judeus ao caminho do exílio. Em direção à Palestina?
Não. Na maior parte, para a América. Dos dois ou três milhões de judeus que saíram entre
1882 e 1914 da Europa Central, menos de 70 mil se instalaram na Terra Santa, e muitas
vezes com caráter muito passageiro. Os dirigentes sionistas não o ignoravam. Nem a
miséria de seus correligionários submetidos ao czar, nem a discriminação de todo tipo, nem
sequer os pogroms bastavam para transportá-los massivamente para a Palestina. Entretanto,
isso era possível com o apoio de uma grande potência. Assim, o criador da organização
sionista ressaltou ante o sultão, além da contribuição que podia considerar para as finanças
otomanas, a ajuda que os judeus palestinos podiam representar para sufocar a ameaça de
uma insurreição árabe”.18
18
GRESH, Alain e Dominique Vidal. Palestine 1947. Une division abortée. Paris, Éditions Complexe, 2004,
p. 42.
19
Uma mensagem destinada ao chanceler alemão Bismarck assinalava que “a implantação de
um povo neutro na rota mais curta para o Oriente pode ter uma imensa importância para a
política oriental da Alemanha”. Um povo, além disso, “obrigado quase em todas as partes a
incorporar-se aos partidos revolucionários”.
Sionismo e Judaísmo
Herzl utilizava o mesmo argumento com De Witte e Von Plehve, ministros russos e
instigadores dos pogroms: “Se se instalasse na Palestina uma colônia do povo judeu, os
elementos radicais se veriam obrigados a tomar parte no movimento”, em caso contrário, “a
frustração dessas esperanças modificaria toda a situação”, em proveito dos “partidos
revolucionários”. Faltava convencer à Grã Bretanha de que o projeto sionista correspondia
ao seu interesse, e não as distantes regiões africanas ou latino-americanas que em um tempo
se tiveram em consideração, mas sim a Palestina. De saída, o movimento sionista,
minoritário entre as massas judias, se subordinava às potências capitalistas, especialmente a
Grã Bretanha, oferecendo-lhes uma massa de manobra para a sua política de conquista no
Médio Oriente.
Durante muitos séculos a utopia da "redenção de Israel" não transbordou do âmbito
religioso, que foi sua matriz. Deu origem a peregrinações e a imigrações individuais ou de
pequenos grupos, que não modificaram o estatuto político da Palestina nem a sua
composição étnica, a qual, apesar das numerosas mudanças políticas e religioso-culturais,
parece ter permanecido relativamente estável desde fins do II milênio a.C. até recente data.
A situação começou a mudar no século XIX. O sionismo surgiu no contexto do triunfo das
ideologias nacionalistas, como um movimento nacionalista secular cujo objetivo era a
criação de um estado dos judeus, sendo este considerado como o único meio de assegurar a
identidade e a sobrevivência da “nação” judaica, assim como de lhe garantir um lugar ao
sol entre as demais nações.
Para os seus partidários, o dito estado tomou de certo modo, sob uma forma secularizada, o
lugar que a utopia da "redenção de Israel" ocupava na tradição religiosa. Mas o estado
projetado pelos nacionalistas judeus não tinha necessariamente a Palestina por cenário. Seu
principal promotor, Herzl (1860-1904), como vimos, encarou a possibilidade de criá-lo na
Argentina. Falou-se também de Chipre, da África oriental e do Congo. Diga-se de
passagem que a liberdade na escolha do futuro "território nacional" de que deram mostras
os nacionalistas judaicos se explica pelo fato de se viver então na Europa no apogeu do
sonho colonialista. Consideravam-se colonizáveis todos os territórios situados fora da
Europa. Colonizá-los era tido por uma obra benemérita, pois era "civilizá-los".
Os nacionalistas judaicos não tardaram a optar pela Palestina. Essa escolha, embora não
fosse necessária, era natural e particularmente mobilizadora, por causa da ligação do
judaísmo à Palestina e da atração que ela exerce mesmo sobre muitos judeus que não são
religiosos ou originários desse país. O nacionalismo judaico tomou assim o nome de
sionismo, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. Repare-se
também que a escolha da Palestina se enquadrava nos projetos coloniais das potências
européias, sobretudo da Grã-Bretanha e da França, que preparavam a partilha dos despojos
do império otomano decadente. Foi por isso que o projeto sionista vingou, em que pese a
oposição que lhe manifestou a maioria dos judeus da Rússia, Europa Central e Oriental,
engajados nos partidos socialistas ou, depois da vitória da Revolução de Outubro, nos
partidos comunistas, sem falar na influência importante do Bund na Rússia, Polônia e
países bálticos, pelo menos até a década de 1920.
20
Durante décadas o sionismo foi um movimento de intelectuais askenazes laicos, sem base
popular. Houve componentes do judaísmo, nomeadamente as grandes comunidades
sefarditas da África do norte, que estiveram praticamente à margem desse movimento até à
década de 1930 ou ainda mais tarde. No entanto, o sionismo acabou por provocar profundas
divisões nas diferentes componentes do judaísmo, religioso e secular, askenaze, sefardita e
pertencente a outros grupos. Embora se tenham atenuado ou transformado, essas divisões
subsistem ainda hoje. Para a maioria esmagadora dos rabinos da Europa central e oriental
que se encontraram confrontados com ele, o projeto dos sionistas de criar o estado dos
judeus, apoiando-se para isso nos seus próprios meios políticos, diplomáticos e
econômicos, era a negação da esperança na "redenção de Israel" por iniciativa e obra
exclusivas de Deus. Por isso, condenaram o sionismo como uma manifestação de orgulho,
o pecado por excelência.19
O partido Agudat Israel (União/Associação de Israel) fundado em Kattowitz (Silésia,
Polônia) em 1912, encarnou essa posição. O partido propunha-se reunir todos os judeus
fiéis à Lei para se oporem ao nacionalismo sionista considerado como uma ameaça mortal
para o "autêntico judaísmo". No entanto, na década de 1930, o Agudat Israel mitigou, por
pragmatismo, a sua oposição ao sionismo, aceitando que a Palestina se tornasse o refúgio
para os judeus europeus perseguidos. Em 1948 reconheceu de fato as instituições do Estado
de Israel. Participou em todas as eleições legislativas israelitas e em vários governos. No
entanto, algumas facções minoritárias não aceitaram a mudança de orientação.
Uma minoria entre os judeus religiosos da Europa central e oriental aceitou bastante cedo
colaborar com os sionistas. Um dos primeiros expoentes desta posição foi o rabino Isaac
Jacob Reines (1839-1915), nascido em Karolin, na Bielorússia. Na origem, essa posição
tinha sobretudo por objetivo não deixar aos seculares o monopólio do socorro prestado aos
judeus pobres e perseguidos. Encarnou-a o Mizrahi (Centro Espiritual) fundado em Vilnius
(Lituânia) em 1902. Segundo essa corrente do judaísmo religioso, nada impede a
colaboração com o sionismo, pois este não é incompatível com a tradição. A idéia da
coexistência pacífica do judaísmo religioso e do sionismo depressa cedeu o lugar a uma
integração da ideologia sionista dentro do sistema religioso tradicional.
O autor dessa integração foi o rabino Abraão Isaac Hacohen Kook (1865-1935) nascido em
Griva, na Letônia, primeiro Rabino-Mor askenaze da Palestina (1921-1935).
Contrariamente aos seus homólogos do Agudat Israel, o rabino Kook viu no sionismo um
instrumento de que Deus se servia para dar início à "redenção de Israel", e no Estado dos
judeus a aurora da redenção ou do reino de Deus. Os principais herdeiros atuais desta
concepção do sionismo são o Partido Nacional Religioso e o Guch Emunim (Bloco da Fé),
que reúne os opositores mais irredutíveis à devolução de qualquer parcela da Cisjordânia e
da Faixa de Gaza conquistadas por Israel em 1967, assim como os colonizadores mais
zelosos desses territórios.
O sionismo tornou-se mais popular entre os judeus, sobretudo entre os judeus seculares da
Europa oriental e central, a partir de 1881 por causa dos numerosos ataques e pilhagens de
que aí foram vítimas entre esse ano e 1921. De fato, foi a Europa oriental que forneceu os
contingentes de emigrantes judeus que então foram instalar-se na Palestina. As duas
primeiras vagas da emigração coincidiram com as duas primeiras vagas de pogroms, que
tiveram lugar respectivamente em 1881-1884 e em 1903-1906. A esmagadora maioria dos
emigrantes era gente pobre e perseguida. Dirigiam-na intelectuais das classes médias. Estes
19
WEINSTOCK, Nathan. El Sionismo contra Israel. Barcelona, Fontanella, 1970.
21
fizeram financiar a operação por membros da burguesia judaica ocidental, européia e norteamericana, ansiosa por desviar da sua porta uma imigração popular judaica que iria
contrariar os seus desígnios de "assimilação" nos países respectivos.
O Papel do Imperialismo Inglês
A Primeira Guerra Mundial teve conseqüências decisivas para a Palestina. As potências
aliadas não esperaram pelo fim da guerra para preparar o desmantelamento e a liquidação
do império turco, aliado da Alemanha. Procurando aproveitar-se do nacionalismo árabe, a
Grã-Bretanha prometeu ao xeque Hussein de Meca o seu apoio para a criação de um estado
árabe independente tendo por fronteira ocidental o mar Vermelho e o Mediterrâneo, em
troca da revolta árabe contra a Turquia. De fato, a Palestina, que fazia parte do território do
anunciado estado árabe, era cobiçada ao mesmo tempo pela Grã-Bretanha e pela França,
mas as duas potências admitiram o princípio da sua internacionalização nos acordos
secretos de Sykes-Picot de 16 de maio de 1916.
De fato, as forças britânicas, às quais se renderam as forças turcas em Jerusalém a 9 de
dezembro de 1917, terminaram a ocupação da Palestina em setembro de 1918. A Palestina
ficou então sob administração militar britânica, a qual foi substituída por uma
administração civil a 1° de julho de 1920. Entretanto, na Conferência da Paz reunida em
Paris, em janeiro de 1919, as Potências Aliadas decidiram que os territórios da Síria, do
Líbano, da Palestina/Transjordânia e da Mesopotâmia não seriam devolvidos à Turquia,
mas passariam a formar entidades distintas, administradas segundo o sistema dos
Mandatos.
Criado pelo Artigo 22 do Pacto da Liga
das Nações a 28 de junho de 1919, o
sistema dos mandatos destinava-se a
determinar o estatuto das colônias e dos
territórios que se encontravam sob o
domínio das nações vencidas. O
documento declarava que "algumas
comunidades outrora pertencentes ao
Império Turco atingiram um estado de
desenvolvimento" que permite reconhecêlas
provisoriamente
como
nações
independentes. Em relação a essas nações, o papel das potências mandatárias seria ajudá-las
a instalar a sua administração nacional independente. O mesmo documento estipulava ainda
que os desejos dessas nações deveriam ter “uma consideração principal” na escolha da
potência mandatária.
Na conferência de San Remo a 25 de abril de 1920, o Conselho Supremo Aliado repartiu os
Mandatos para essas nações entre a França (Líbano e Síria) e a Grã-Bretanha
(Mesopotâmia, Palestina/Transjordânia). O Mandato para a Palestina, que incorporou a
Declaração Balfour sobre o estabelecimento do "lar nacional para o povo judaico", foi
aprovado pelo Conselho da Liga das Nações a 24 de julho de 1922, tornando-se efetivo a
29 de setembro do mesmo ano. Ao abrigo do disposto no art. 25 do Mandato para a
Palestina, o Conselho da Liga das Nações decidiu a 16 de setembro de 1922 excluir a
Transjordânia de todas as cláusulas relativas ao lar nacional judaico, e dotá-la com uma
administração própria. De fato, o território que os sionistas pretendiam para nele
22
estabelecer o seu estado era bastante mais vasto do que a Palestina. Abarcava também toda
a parte oeste da Transjordânia, o planalto do Golã e a parte do Líbano a sul de Sidão.
Como previsto, todas essas nações se tornaram efetivamente independentes no curso das
três décadas seguintes: o Iraque (Mesopotâmia) a 3 de outubro de 1932; o Líbano, a 22 de
novembro de 1943; a Síria, a 1º de janeiro de 1944 e, finalmente, a Transjordânia, a 22 de
março de 1946. A única exceção foi a Palestina. O obstáculo que fez descarrilar o processo
da independência da Palestina foi a adoção pela Liga das Nações, seguindo nisso as
pegadas da Grã-Bretanha, do projeto sionista da criação do "lar nacional para o povo
judaico" nesse país. A Organização Sionista Mundial tinha entretanto amadurecido esse
projeto e tinha-lhe granjeado apoios muito sólidos, vindo-lhe o principal da Grã-Bretanha.
Esta expressou o seu patrocínio ao projeto sionista na já referida Declaração Balfour. As
"comunidades não-judias" constituíam então um pouco mais de 90 % da população. De
fato, em 1918, a Palestina tinha 700.000 habitantes: 644.000 árabes (574.000 muçulmanos
e 70.000 cristãos) e 56.000 judeus.
A Declaração Balfour era originalmente um compromisso que a Grã-Bretanha assumia para
com a Federação Sionista. Mas entretanto ela recebeu o aval das principais potências
aliadas e foi incorporada no Mandato para a Palestina, aprovado pela Liga das Nações a 24
de julho de 1922. Com efeito, o essencial da Declaração Balfour é citado explicitamente no
§ 2 do preâmbulo do dito documento. É ainda reforçado no § 3, graças a dois elementos que
23
não constavam na Declaração Balfour, isto é, a menção da ligação histórica do povo
judaico com a Palestina e a idéia da reconstituição do seu lar nacional nesse país.20
Dos vinte e oito artigos do texto do Mandato seis tinham por objeto o estabelecimento do
lar nacional judaico ou medidas com ele relacionadas. O art. 2, que é o primeiro de caráter
programático, começa assim: "A (Potência) Mandatária terá a responsabilidade de pôr o
país em condições políticas, administrativas e econômicas que assegurem/garantam o
estabelecimento do lar nacional judaico, como está estipulado no preâmbulo".
Sem excluir formalmente o objetivo normal do tipo de Mandato aplicado aos países árabes
do império otomano, que era levar à plena independência a população que então os
habitava, o Mandato para a Palestina tinha outro objetivo, que lhe era próprio, isto é,
promover a criação de um lar nacional judaico – subentenda-se a criação de um estado
judaico – com gente que, na sua maioria esmagadora, estava ainda espalhada pelo mundo e,
por conseguinte, deveria ser trazida de fora. O documento também mencionava as
comunidades não-judaicas então existentes na Palestina e os seus direitos cívicos e
religiosos – não refere os seus direitos políticos – mas as suas menções vêm em segundo
lugar e expressam-se sob a forma de ressalvas feitas às medidas destinadas a implementar o
projeto sionista.21
Graças ao Mandato para a Palestina, o patrocínio do projeto sionista, que era um elemento
da política britânica, tornou-se política oficial da Liga das Nações. Esta não só deu ao
projeto sionista a caução internacional: forneceu-lhe também os meios para a sua
realização. Do seu lado, as organizações sionistas aproveitaram a infra-estrutura
administrativa e econômica que o Mandato pôs à sua disposição para acelerar a realização
do projeto de criação do Estado judaico na Palestina. Para isso intensificaram a imigração
dos judeus da Europa oriental e central, em três vagas principais: em 1919-1923, 19241928 e 1932-1940. Em 1931 os judeus eram 174.610 de um total de 1.035.821 habitantes
da Palestina.
Em 1939, já eram mais de 445.000 e em 1946 atingiram o número de 808.230 de um total
de habitantes da Palestina respectivamente de 1.500.000 e de 1.972.560. Por outro lado, o
Fundo Nacional Judaico, isto é, o fundo da Organização Sionista Mundial para a compra e
o desenvolvimento da terra, intensificou a aquisição de terras. Estas tornavam-se
"propriedade eterna do povo judaico", inalienável e que só podia ser arrendada a judeus. No
caso das explorações agrícolas, até a mão de obra devia ser exclusivamente judaica. Por
fim, os sionistas criaram em pouco tempo as principais estruturas do futuro estado,
inclusive um exército (a Haganah).
20
21
Cf. SANZ, Luis. Guerra y Revolución en Palestina. Madri, Zero, 1976.
SOARES, Jurandir. Israel Palestina. As raízes do ódio. Porto Alegre, UFRGS Editora, 2004.
24
2. SURGIMENTO DO MOVIMENTO NACIONAL PALESTINO
A maneira como os vencedores da Primeira Guerra Mundial decidiram o destino da
Palestina, servindo-se para isso da Liga das Nações, misturou duplicidade e prepotência. Se
questiona até a legalidade das decisões da Liga das Nações em relação à Palestina em nome
das regras que ela própria fixara. Assim, apesar de ter classificado a Palestina num grupo de
nações às quais reconhecia imediatamente a independência formal e prometia a
independência efetiva a curto prazo, a Liga das Nações impôs-lhe um Mandato cujo
objetivo prioritário não era a instalação da administração palestina nacional, como previa o
documento que instituiu o sistema dos Mandatos, mas, sim, a criação do "lar nacional
judaico".
Esse objetivo não só contrariava o processo de transição para a independência política
efetiva da Palestina, mas era incompatível com o próprio princípio da sua independência
com a população que ela então tinha, princípio esse que a Liga das Nações admitira
previamente. Por outro lado, tendo nomeado a Grã-Bretanha para potência mandatária sem
ter consultado os palestinos, o Supremo Conselho Aliado não respeitou a regra fixada pelo
Pacto da Liga das Nações, segundo a qual os desejos das comunidades submetidas a esse
tipo de Mandato deviam ser uma consideração principal na escolha da potência mandatária
(artigo 22).
Os palestinos viram no patrocínio que deram primeiro a Grã-Bretanha, e depois a Liga das
Nações, ao projeto sionista, a negação do seu direito à independência. Tanto a GrãBretanha como a Liga das Nações, explícita ou implicitamente, não só lhes tinham
reconhecido esse direito, mas também lhes tinham prometido o seu gozo pleno a curto
prazo. Por isso, além do mais, os palestinos sentiram-se defraudados. Naturalmente,
opuseram-se ao projeto da criação do lar nacional judaico na Palestina desde o primeiro
instante – logo que tiveram conhecimento da Declaração Balfour – e tentaram, por todos os
meios, impedir a sua realização, pois temiam que dela resultasse a sua submissão, não só
política mas também econômica, aos sionistas, passando assim do domínio turco para o
domínio judaico, com um intervalo britânico. Apresentaram protestos contra a Declaração
Balfour à Conferência de Paz de Paris e ao Governo Britânico.
A primeira manifestação popular contra o projeto sionista teve lugar a 2 de novembro de
1918, primeiro aniversário da Declaração Balfour. Essa manifestação foi pacífica, mas a
resistência depressa se tornou violenta, expressando-se em ataques contra os judeus que
degeneravam em confrontos sangrentos. Houve motins em 1920, durante a Conferência de
San Remo que distribuiu os Mandatos, em 1921, 1929 e 1933. De um modo geral, as
erupções de violência eram cada vez mais graves à medida que o Mandato se prolongava e
a colonização sionista se estendia e fortalecia. Os acontecimentos desenrolavam-se segundo
uma seqüência que se tornou habitual. A potência mandatária respondia aos motins
nomeando uma comissão real de inquérito, cujas recomendações reconheciam a
legitimidade das reivindicações palestinas e levavam a anunciar ou a esboçar tímidas
medidas tendentes a satisfazê-las. Mas, dado que contrariavam o objetivo primordial do
Mandato, essas medidas ficavam letra morta ou eram depressa esquecidas.
A Declaração Balfour foi denunciada pelos bolcheviques, para quem a atribuição da
Palestina aos judeus era uma encenação do imperialismo britânico com o objetivo de
mascarar e justificar a abolição do Império Otomano, o que fica ainda mais evidente nas
palavras de Lord Balfour, quem afirmou em caráter privado durante reunião do Gabinete de
25
Guerra no final de outubro de 1917, que a Palestina “não era adequada para formar um lar
para os judeus ou para qualquer outro povo”.
O segundo objetivo britânico foi admitido pelo próprio David Lloyd George, primeiro
ministro da Grã-Bretanha no momento da Declaração Balfour. Atestou em suas memórias
que “em 1917 já era evidente a grande participação dos judeus da Rússia na preparação
daquela desintegração geral da sociedade russa depois conhecida como revolução.
Acreditava-se que se a Grã-Bretanha declarasse o seu apoio à realização das aspirações
sionistas na Palestina, um dos efeitos seria atrair os judeus da Rússia para a causa da
Entente (…) Se a Declaração tivesse vindo um pouco antes, possivelmente alteraria o curso
da revolução”.
A oposição à colonização sionista tomou a forma de violentas manifestações de rua em
1931 e nos anos seguintes. Em abril de 1932, marinheiros árabes de Haifa entraram em
greve e foram seguidos pelos portuários judeus, pertencentes majoritariamente ao grupo
sionista de esquerda Hashomer Hatzair, que se recusaram a furar a greve. Formou-se um
conselho de greve comum, apesar das resistências da Histadrut e da Executiva árabe (tanto
os sionistas quanto os nacionalistas árabes eram contrários à luta conjunta dos
trabalhadores, pela qual culpavam os comunistas). A partir de 1934 produziram-se
assembléias massivas com centenas de trabalhadores árabes e judeus das ferrovias, que
desembocaram em uma greve de um dia em Haifa (maio de 1935). Os grevistas formaram
um conselho de todos os trabalhadores das ferrovias e formaram uma delegação de quatro
trabalhadores árabes e quatro judeus para negociar com os patrões (do governo) e chegaram
a vencer em alguns pontos de suas demandas. Alguns meses antes, em fevereiro-março
1935, centenas de trabalhadores árabes e judeus realizaram uma greve de três semanas,
parcialmente vitoriosa, na refinaria de Haifa e no terminal do oleoduto da Companhia de
Petróleo do Iraque.22
Em 1933 já era possível notar o crescimento da oposição árabe ao colonialismo britânico.
Para impedir um levante popular, a Grã-Bretanha propôs a criação de uma “assembléia
legislativa” composta por 11 muçulmanos, 7 judeus, 3 cristãos e 5 oficiais do governo. A
proposta foi rejeitada pelos sionistas, não por oposição ao governo britânico mas porque
queriam a criação de uma assembléia legislativa cem por cento judaica (a chamada Knesset
Israel).
Sionismo e Imperialismo Britânico
Em 1936, os britânicos, com a ajuda das milícias sionistas, reprimiram ferozmente uma
greve geral de seis meses, enquanto o mufti e os senhores feudais árabes, subordinados ao
imperialismo britânico de quem obtinham seu poder, ajudaram de modo decisivo ao
imperialismo. O Alto Comitê Árabe, dirigido pelos potentados feudais palestinos, chamou a
suspender a greve em resposta a um pedido de Ibn Saúd da Arábia, do primeiro-ministro
iraquiano, Nuri Said, e do Emir da Transjordânia, Abdallah, que suplicaram aos seus
“filhos palestinos que confiem nas boas intenções dos nossos amigos britânicos, que têm
assegurado que haja justiça”.
A Grã-Bretanha criou uma comissão de inquérito para averiguar as causas da revolta, que
concluiu os seus trabalhos com a publicação de um informe em 7 de julho 1937. A
chamada Comissão Peel recomendou notadamente a partição do país com a transferência
da população árabe vivendo dentro da região que deveria se tornar um Estado judeu. O
22
MARGULIES, Marcos. Israel. Origem de uma crise. São Paulo, Difel, 1967.
26
programa da Comissão Peel foi bem recebido pelos sionistas, mas rejeitado pelos árabes.
Pouco depois da publicação do informe Peel, começou o segundo estágio da revolta no
Oriente Médio.23
A Comissão Peel, a 7 de julho de 1937, fez uma proposta, consistente em dividir a Palestina
em três zonas: um estado árabe, um estado judeu e uma zona sob o mandato britânico. A
Agência Judaica (ramo palestino da Organização Sionista Mundial) aceitou estas
conclusões com uma reserva quanto às dimensões do estado judeu. O Alto Comitê Árabe as
rechaçou. Ressurgiram então os motins: “Londres volta a pôr a repressão na ordem do dia.
Vai ser feroz. As tropas inglesas, a polícia do mandato reforçada com milhares de
voluntários judeus, a Haganah, o Irgun, os homens dos Nashashibi (“Partido da Defesa” do
clã árabe dos Nashashibi, apoiado pela Grã Bretanha) rivalizam em assestar os golpes mais
terríveis aos insurretos com a benção dos Estados Árabes pró-britânicos e dos clãs
palestinos. O movimento árabe palestino não se recuperará por muito tempo dos milhares
de mortos, dos inumeráveis presos e deportados, da desagregação de partidos e
sindicatos”.24
A revolta de 1936-1939 foi o ata de nascimento do movimento nacional palestino
contemporâneo: em abril de 1936, distúrbios locais entre árabes e judeus degeneraram
numa revolta generalizada dos palestinos. A revolta já não visava só a colonização sionista.
Dirigia-se, sobretudo, contra as autoridades britânicas, o poder estrangeiro, de quem os
palestinos exigiam a constituição de um governo nacional. As autoridades britânicas
responderam com uma repressão violenta e os sionistas com represálias.
Em 1936, Ben Gurion dizia (se referindo à aceitação da partilha da Palestina): “Um estado
judeu parcial não é o objetivo final, mas sim apenas o princípio. Estou convencido de que
ninguém pode nos impedir de nos estabelecer em outras partes do país e da região”. E
agregava mais tarde: “o estado será somente um estágio na realização do sionismo e sua
tarefa é preparar o terreno para nossa expansão. O estado terá que preservar a ordem, não
predicando, mas com metralhadoras”. Já em 1948, segundo seu biógrafo Bar Zohar, em sua
primeira visita à cidade de Nazaré haveria dito: “porque há tantos árabes, porque não os
expulsaram?”.25
Os palestinos não renunciavam a uma parte do seu território. Os sionistas, que viam um
desvio da política oficial não só britânica, mas também internacional, ainda não aceitavam
a idéia de criar o estado judaico só numa parte da Palestina, o que aparentemente
significaria renunciar à reivindicação da totalidade do país. A revolta palestina continuou e
durou até 1939. Considerando inviável o plano de divisão da Palestina, os britânicos
fizeram marcha atrás e propuseram no "Livro Branco" de 1939 a criação de um só estado
para árabes e judeus, no prazo de dez anos. O mesmo documento propunha o fim da
imigração judaica dentro de cinco anos e limitava a 75.000 o número de imigrantes durante
esse prazo de tempo. Além disso, previa uma regulamentação estrita da compra de terras
pelas organizações judaicas. Esse conjunto de medidas implicava que os árabes
constituiriam um pouco mais de dois terços dos cidadãos do Estado da Palestina. O peso
dos dois povos na administração do Estado seria proporcional à sua importância numérica.
23
Cf. NOVICK, Paul. Solution for Palestine. The Chamberlain White Paper. Nova Iorque, National Council
of Jewish Communists, 1939.
24
GRESH, Alain e Dominique Vidal. Op. Cit., p. 54.
25
SCHOENMAN, Ralph. Historia Oculta del Sionismo. Barcelona, Marxismo y Acción, 1988, p.119.
27
O "Livro Branco" de 1939 confirmou a virada na política britânica já esboçada dois anos
antes. Ao abandonar a idéia da criação de um estado judaico, as autoridades mandatárias
romperam com a política seguida até então. Isso representava um sério revés para os
sionistas. Estes tiveram que adotar uma nova estratégia, a qual comportou três elementos
principais. Promoveram a imigração ilegal, tarefa essa facilitada pelo genocídio judaico que
a Alemanha nazista estava então a perpetrar na Europa central e oriental. Nessas
circunstâncias a Palestina aparecia como o lugar de refúgio para os judeus europeus,
sobretudo do centro e do leste. Além disso, os sionistas procuraram obter o apoio dos EUA
para substituir o apoio britânico. Alguns grupos armados lançaram-se numa campanha de
guerrilha contra as autoridades britânicas e os árabes. Nessa altura a Haganah não era o
único grupo armado judaico. Havia também o Irgun e o Stern, que se destacaram na
guerrilha pela sua violência.
A Comissão Woodhead, enviada à Palestina em março de 1938 para preparar a execução do
plano de partilha da Comissão Peel, ao invés de apresentar em seu relatório um esquema
detalhado da operação, qualificou qualquer partilha de absurda. A revolta árabe só terminou
em 1939 com um banho de sangue executado pelas tropas britânicas com o auxílio de
grupos para-militares judeus, contra a população árabe.
Stalinismo e Nacionalismo
A revolta de 1936, que começou espontaneamente como uma onda de greves e
manifestações, era parte de um levante mais geral contra o colonialismo europeu que
atingiu a Síria e o Egito, além da Palestina. As classes governantes árabes, grandes
proprietários rurais e lideranças religiosas, tomadas de surpresa, criaram às pressas um Alto
Comitê Árabe (ACA) para controlar a revolta. O Comitê, que começou a operar em 25 de
abril 1936, convocou uma greve geral que durou até outubro deste ano, quando foi
desmobilizada por temor, por parte dos altos círculos na Palestina e demais países árabes,
de que se transformasse em uma revolução social e se voltasse contra o próprio ACA.26
Como a Agência Judaica ordenou os judeus palestinos a se alistar no exército britânico
(quase 120.000 o fizeram), o PCP (Partido Comunista da Palestina, fundado na década de
1920, mas já a essa altura dominado pelo stalinismo) chamou a uma “oposição ativa ao
alistamento”. Mas a virada “anti-imperialista” do PCP era apenas um interlúdio. A
mudança foi novamente brusca e repentina quando a Wehrmacht de Hitler lançou a
operação Barbarossa contra a URSS em 22 de junho de 1941. Se em junho de 1941 o PCP
declarava a sua oposição ao slogan de “defesa da pátria”, alguns meses depois o seu órgão
central, Kol Haam (Voz do Povo), já publicava o slogan: “alistamento em massa no
Exército britânico, companheiro em armas do Exército Vermelho!”, e abandonava a
demanda pela “independência da Palestina”. Um PCP “reunificado” se lançava no esforço
de guerra.
Durante a II Guerra Mundial cresceu enormemente o potencial de uma luta conjunta dos
explorados árabe-judaica. Pela primeira vez na história da Palestina o trabalho
compartimentado começou a ceder lugar para um grande número de árabes e judeus
trabalhando lado a lado. A força de trabalho urbana árabe aumentou de aproximadamente
40.000 a 130.000 trabalhadores, 100.000 dos quais eram trabalhadores manuais. Como
anteriormente, os trabalhadores ferroviários ocupavam a vanguarda. “A guerra e o período
26
Cf. CLEMESHA, Arlene. De la declaración de Balfour a la derrota del movimiento obrero árabe-judío. En
Defensa del Marxismo nº 30, Buenos Aires, maio de 2003.
28
imediatamente após ela seriam testemunhos não apenas de um grau de colaboração sem
precedentes entre os sindicatos ferroviários árabes e judeus mas também de uma militância
inédita” escreve Zachary Lockman.27 Trabalhadores ferroviários árabes e judeus de Haifa
lançaram reivindicações conjuntas em 1940, e protestaram juntos em dezembro de 1942,
com uma greve de três dias de todas as oficinas de Haifa desafiando uma proibição oficial
contra as greves em setores essenciais da indústria.
A invasão alemã da União Soviética em junho de 1941 juntamente com o massacre
stalinista da oficialidade do Exército Vermelho, no final da década de 1930 (liquidação de
seus generais, recusa em preparar para o ataque alemão e o bloqueio da resistência nos
primeiros dias da invasão) praticamente levaram à destruição da URSS entre 1941 e 1942.
O programa do internacionalismo comunista era sistematicamente descartado enquanto
Stalin liquidava (assassinava) milhares de comunistas e revivia os símbolos czaristas. Após
uma seqüência de derrotas, e a morte de 20 milhões de russos, a batalha de Kursk (1943)
marcou a marcha da URSS rumo à vitória sobre Hitler. Na medida em que a II Guerra
Mundial chegava ao fim, as vitórias do exército soviético conferiram prestígio aos PCs em
todo o mundo, inclusive na Palestina. Enquanto o PCP atraía setores da esquerda judaica,
os militantes da classe operária árabe eram atraídos à comunista Liga de Libertação
Nacional.
Se durante o período de guerra a classe operária cresceu em todo o Oriente Médio devido
ao crescimento da indústria de abastecimento para a guerra e para o mercado local (que
deixou de receber o anterior fluxo de importações), no imediato pós-guerra o potencial
desta classe operária tornou-se explosivo devido à ameaça crescente de desemprego entre
trabalhadores árabes e judeus, causada pelo fechamento das indústrias armamentistas: “O
Oriente Médio de hoje não é o Oriente Médio de vinte anos atrás, com sua população de
felaheen atrasados, explorados e oprimidos pelos príncipes feudais reacionários. Todos
esses países experimentaram uma industrialização considerável nos anos recentes, e este
processo recebeu um grande ímpeto durante a guerra. Com o crescimento da indústria, veio
o crescimento da classe trabalhadora, a emergência de sindicatos, de organizações
socialistas, de jornais da classe operária. Os velhos príncipes feudais, tremendo diante do
espectro desta nova classe trabalhadora, lançaram-se nos braços dos ‘protetores’
britânicos”.28
No final de novembro de 1947 as Nações Unidas votaram a favor a partição da Palestina,
atribuindo aos judeus 55% do território apesar de constituírem apenas um terço da
população, vivendo principalmente nas cidades e ocupando apenas 6% da terra. A revolta
da população árabe foi generalizada. Estouraram conflitos e uma greve geral árabe em
Jerusalém. Por outro lado, o Irgun lançou uma série de ataques de “retaliação” e um terror
indiscriminado contra a população civil árabe. A Haganah também executou “contraataques” contra a estação rodoviária de Ramallah e o vilarejo de Khisas na Galiléia, no qual
foram assassinados uma dúzia de moradores.
Em 29 de dezembro o Irgun lançou bombas sobre a cidade velha de Jerusalém matando ou
ferindo um total de 44 pessoas. Na manhã seguinte, terroristas do Irgun realizaram um
ataque, com bombas lançadas de um carro, contra uma multidão de centenas de operários
árabes diaristas reunidos no portão principal da refinaria de petróleo de Haifa à espera de
27
LOCKMAN, Zachary. Comrades and Enemies: Arab and Jewish workers in Palestine, 1906-1948. San
Francisco, University of Califórnia Press, 1996.
28
Zionism and the Jewish Question in the Near East. Fourth International. Nova Iorque, outubro 1946.
29
um dia de trabalho; seis morreram e dezenas ficaram feridos. Minutos depois, trabalhadores
árabes enfurecidos invadiram a refinaria e junto com alguns dos operários da empresa
começaram a atacar os judeus. Quando a polícia chegou já havia 41 trabalhadores judeus
mortos e 49 feridos.
Mas a solidariedade árabe-judaica dos trabalhadores não foi automaticamente liquidada
pelo novo clima de ódio inter-comunitário. Quando as notícias do atentado contra os
trabalhadores árabes chegaram às oficinas ferroviárias, o clima de vingança ameaçava
produzir um novo banho de sangue. Sindicalistas árabes arriscaram suas vidas para
defender os seus colegas judeus. O massacre da refinaria de Haifa foi o maior e mais brutal
assassinato de civis até aquele momento. Mal se escondia o propósito do ataque: aumentar
a divisão e o ódio entre árabes e judeus. Tanto o atentado do Irgun quanto a “retaliação”
foram dirigidos contra um ambiente de trabalho conhecido por possuir uma tradição de
cooperação e solidariedade de classe entre trabalhadores árabes e judeus.
Olhando apenas para a área da Palestina no ano de 1948, vemos que o Estado sionista e as
potências imperialistas que o apoiaram dominaram a resistência árabe palestina e
oprimiram os setores onde a luta operária transcendia as fronteiras comunitárias. Ao mesmo
tempo, entre 1945-48, evidenciou-se a posição da Palestina como o centro de uma região –
o Oriente Médio - de grandes disputas inter-imperialistas. As greves e lutas operárias do
outro lado do Canal de Suez, no Egito, e a revolta dos trabalhadores e estudantes no Iraque,
poderiam ter estabelecido contato com a luta operária árabe-judaica na Palestina no período
do estabelecimento do Estado de Israel. No entanto, o potencial revolucionário destas lutas
foi bloqueado em grande medida pela política stalinista de alinhamento com os
nacionalismos em disputa entre si.
Com um programa de colaboração de classe, o PC do Iraque se opôs à luta por uma
revolução socialista ou mesmo uma república, enquanto os comunistas egípcios se
opunham às demandas dos trabalhadores de expropriação das indústrias têxteis. Depois,
seguindo os ditames de Moscou, todos apoiaram a criação do Estado de Israel. Na
Palestina, a solidariedade operária árabe-judaica dificilmente sobreviveria às atrocidades
que foram os produtos inevitáveis da guerra inter-comunitária. O próprio contato entre
trabalhadores árabes e judeus foi prejudicado pelo deslocamento físico de grande parte da
população árabe da Palestina. Era imprescindível, para qualquer desenvolvimento
harmonioso que beneficiasse os povos árabe e judaico da Palestina, romper com as divisões
comunitárias e derrotar os nacionalismos burgueses em guerra entre si.
Apesar de sionistas e lideranças feudais árabes fomentarem o ódio entre as duas
comunidades, em quase três décadas de domínio colonial britânico não faltaram exemplos
de união espontânea entre trabalhadores árabes e judeus na Palestina ou tentativas sérias de
organizar esta união classista, empreendidas pela esquerda não sionista, e apoiadas em certa
medida pelo Hashomer Hatzair dentro da perspectiva de criação de um Estado bi-nacional.
Após a Segunda Guerra Mundial houve uma onda de manifestações e lutas operárias. Em
Tel Aviv houve uma manifestação dos trabalhadores das estradas de ferro que em sua
marcha gritavam “Os trabalhadores árabes e judeus são irmãos!”.
Reprimidas brutalmente pelos governos de seus respectivos países, estas lutas operárias e
os militantes comunistas que as lideraram foram ainda condenados ao fracasso pela política
do stalinismo, que favorecia a sua união com reis, xeiques e coronéis árabes, ou com os
sionistas na Palestina, no período crucial do fim do mandato britânico e criação do Estado
judeu. Atrelados à política externa ditada pelo Kremlin, os comunistas viram quebrar sua
30
própria estrutura e todo desenvolvimento autônomo criado nas décadas de luta. Para criar
Israel foi necessário destruir a solidariedade entre os trabalhadores árabes e judeus. Isto foi
denunciado pelo pequeno grupo trotskista da Palestina, a Liga Comunista Revolucionária
da Palestina que, apesar de muito menor e menos influente do que os grupos stalinistas do
PCP ou da Liga de Libertação Nacional, manteve-se ativo durante a Segunda Guerra
Mundial e o período de criação do Estado de Israel.29
Entretanto surgiram outras propostas, como a criação de regiões de autonomia e a
federalização, para tentar apaziguar o conflito o suficiente, apenas, para permitir a
continuidade do domínio externo e da exploração estratégica da região (havia apenas cinco
refinarias de petróleo no Oriente Médio, uma delas em Haifa, Palestina, e o único oleoduto
existente partia de Kirkuk, Iraque, até o porto de Haifa). Era mais fácil para a Inglaterra
governar uma região onde as tensões internas provinham de uma oposição intercomunitária, entre árabes e judeus, do que se as linhas de divisão nacional cedessem lugar a
uma oposição de classe (já que uma união entre trabalhadores árabes e judeus voltar-se-ia
contra a burguesia local e a potência imperialista simultaneamente). União esta que era o
cenário mais provável caso a Inglaterra retirasse o seu apoio ao sionismo.
Sob o impacto do massacre de seis milhões de judeus da Europa – um dos maiores crimes,
se não o maior, já cometidos contra a humanidade - a partilha foi aprovada pela ONU em
novembro de 1947 (a Inglaterra anunciara a entrega do mandato no início do mesmo ano).
Ela foi rejeitada mais uma vez pelos palestinos, e a sua aprovação pela ONU contou com o
suborno quase escandaloso das delegações de diversos países pequenos e “menos
importantes” pelo lobby sionista. Eclodiram lutas entre as duas comunidades em Jerusalém,
Haifa e Jaffa entre outras localidades, que se espalharam e degeneraram em poucos dias em
um conflito generalizado.
O Surgimento de Israel
Nos dois meses que se seguiram à resolução da partilha, houve 2.778 baixas (1.462 árabes,
1.106 judeus e 181 britânicos). Em face dos trágicos acontecimentos na Palestina, até os
mais otimistas na ONU deram-se conta de que a partilha jamais poderia ser realizada sem a
aplicação da força. Israel recebeu um apoio decisivo da União Soviética cujas armas,
enviadas pela Tchecoslováquia, contribuíram para a sua vitória na guerra contra os Estados
Árabes que eclodiu no dia seguinte à proclamação de Israel, em 15 de maio de 1948.
Durante a segunda metade do século XX, os palestinos viveram exilados e refugiados em
diferentes países do Oriente Médio.
A comunidade sionista na Palestina, apoiada a partir de 1917 pelo imperialismo britânico,
vinha conquistando seu espaço paulatinamente mediante o incentivo à imigração, a compra
de terras de proprietários árabes feudais ausentes e a expulsão dos trabalhadores árabes da
terra. As instituições fundamentais de Israel (o partido hegemônico, Mapai, trabalhista, a
central dos trabalhadores com funções mais amplas do que a de uma simples central
sindical, a Histadrut, o núcelo do exército, a Haganah, a universidade etc.) foram erguidas
antes da criação do Estado. Saudaram a proposta de partilha de 1937, e defenderam a
partilha de 1947, como o avanço que de fato representava para o sionismo.
Mas a divisão da Palestina não era o verdadeiro objetivo dos principais representantes do
movimento. Enquanto a tradição revisionista criada por Jabotinsky (da qual é herdeira a
atual direita sionista) manteve uma política em certo sentido mais ‘coerente’, porque
29
Cf. Teses do Grupo Trotskista Palestino (1948). A Verdade n° 36, São Paulo, abril de 2004.
31
sempre declarou que o seu objetivo era conquistar toda a Palestina histórica (jamais dividir
“aquilo que Yahweh lhes havia entregue por inteiro”), o trabalhismo executou, de maneira
oculta e com ações que contradiziam suas declarações, a mesma política na prática.
Demonstração disso foi que a expansão territorial de Israel começou logo da declaração de
aceitação da Partilha da ONU e a fundação do Estado.30
A partir de 1942, Washington havia tomado uma parte importante no organismo de
coordenação do desenvolvimento econômico do Oriente Médio estabelecido pela Grã
Bretanha. Os EUA haviam estado, durante muito tempo, ausentes dessa região. As
companhias petroleiras norte-americanas se introduziram no Oriente Médio, mediante a
aquisição de uma participação de 25% na Irak Petroleum, o controle de Bahrein, da Arábia
Saudita. A parte dos EUA na produção de hidrocarbonetos no Oriente Médio passaria de
13,9% em 1938 a 55% em 1948.
Foi o ponto de partida da intervenção americana. Constituiu-se uma primeira comissão
anglo-americana sobre a Palestina cujos resultados foram aceitos pela Grã Bretanha, porém
rechaçados pelo presidente Truman: “Não podemos prescindir dele”, disse então Clement
Attlee, primeiro ministro britânico, falando do empréstimo que negociava com os EUA. Se
formou uma segunda comissão anglo-americana, suas propostas se discutiram no
parlamento nos dias que seguiram a explosão da sede da administração britânica na
Palestina, o atentado do Irgun que provocou a morte de cem pessoas. O governo britânico
rechaçou a proposta dos militares de guerra total contra os sionistas, e propôs um novo
plano de divisão sob o seu controle. Truman rechaçou de novo a proposta. Nesse final de
ano de 1946, Londres se dispunha a anunciar sua saída das Índias; as negociações sobre a
retirada do Egito fracassaram: levantes no Cairo e Alexandria obrigaram o rei Faruk a
rechaçar o protocolo de acordo com a Grã Bretanha. Entretanto, durante o inverno de 1947,
a Grã Bretanha sofre escassez de víveres e de carvão e o império estava desabando. Em
uma declaração no Parlamento, o líder trabalhista Aneurin Bevin disse sobre a Palestina:
“Decidimos pedir às Nações Unidas que preconizem uma solução”. A Grã Bretanha cedia
diante dos EUA.
O genocídio perpetrado durante a II Guerra Mundial pelo nazismo dizimara as populações
judaicas da Europa, e pressionou para que centenas de milhares de sobreviventes fugissem.
Este genocídio se realizou em meio a indiferença e ao silêncio de todos os beligerantes,
tanto do imperialismo como da URSS. E nenhum estado abriu suas fronteiras aos
perseguidos.
Paradoxalmente, um dos acordos reacionários que precederam o genocídio (o acordo
Hitler-Stalin, que concretizou a partilha da Polônia entre a Alemanha nazista e a URSS)
teve o efeito inesperado de poupar uma parte da população judaica da Polônia oriental do
massacre nazista, não porque Stálin os protegesse da invasão hitleriana, mas porque enviou
milhões de poloneses (incluídos muitos judeus) para campos de trabalhos forçados na
Sibéria ocidental, tal como descrito nas memórias do jornalista polonês (ele próprio judeu)
K. S. Karol, depois mundialmente reconhecido pelos seus trabalhos para a imprensa
francesa e pelos seus livros: “Poco más o menos en las mismas fechas, a finales de 1941,
después de una visita a Moscú del general Sikorski (chefe governo polonês no exílio)
concluída con un acuerdo entre su gobierno, con sede en Londres, y el de Stalin, los
pereselentzi y los demás deportados polacos empezarían, por el contrario, a salir de sus
30
Cf. SARTRE, Jean-Paul (ed.). Le Conflit Israelo-Arabe. Paris, Les Temps Modernes/Les Presses
d´Aujourd´hui, 1968.
32
bosques. Esto requirió tiempo, ya que el propio estado soviético tenía aparentemente
dificultades para recuperarlos en los perdidos lugares donde los había confinado «para
siempre». De ahí, a juzgar por el único testimonio que poseo sobre Liebiedovka, que sus
barracones sólo se vaciaran a principios de la primavera de 1942. En cualquier caso, esta
diáspora polaca procedente de las províncias orientales fue lo suficientemente numerosa
como para permitir primero al general Anders reclutar con ella un ejército -que se batió en
Tobruk y en Monte-Casino-, constituir después un comité de patriotas, de obediencia
comunista y formar, en fin, dos divisiones que combatieron al lado del Ejército Rojo desde
Lenino hasta Berlín.
“Ante este desenlace, resultaría tentador atribuir la acción de junio de 1940 a la
clarividencia de Stalin: habría hecho esta gigantesca redada para contar con un vivero
polaco, aunque ese vivero estuviera en el frigorífico siberiano, y poder así disponer en su
día de combatientes contra los alemanes. Pero desde el XX Congreso del P.C.U.S., hasta
Moscú rehúye poner en una misma frase las palabras «Stalin» y «clarividencia». Por lo
demás, una tesis tal no resiste el análisis, en razón de la composición social de los
deportados de junio de 1940. A pesar de la activa ayuda de mi amigo Bronek Baczko, no he
podido pues hallar respuesta al enigma que tanto me inquieta desde hace cuarenta años:
Por qué se envió de golpe y con tantos gastos a un número tal de personas, de todas edades
y profesiones, a esa mezcla de caldera y congelador que es Siberia? Por qué a esas
personas precisamente? Para qué? No se habrían podido utilizar sus competencias en
forma más racional, haciéndoles trabajar «lejos de las regiones fronterizas», sí, pero en un
ambiente más familiar que el del país de las «fabulosas riquezas»? Cuando los archivos
del Kremlin se abran, un día llegará a hacerse un estudio sobre todas estas cuestiones.
Sería también ínteresante determinar cuántos de estos deportados -y de sus hijos- se
convirtieron posteriormente en dirigentes de la Polonia popular y cuántos también,
después de haber transitado en 1945-1946, se fueron con Ben Gurion proporcionándole el
esqueleto de su administración”.31
Assim, a história provavelmente fez com que a política de saque da burocracia russa tivesse
o efeito impensado de formar boa parte da futura base política askenazi do regime de Ben
Gurion, que encabeçaria a implantação de Israel no Oriente Médio, no imediato segundo
pós-guerra.
Ao acabar a II Guerra Mundial, os acordos de Yalta entre o imperialismo e o Kremlin
pretendiam preservar, contra a vontade das massas, a dominação do imperialismo, manter a
dominação sobre os povos coloniais e resolver também os problemas nacionais na Europa.
A conseqüência disso foram deslocamentos massivos da população. Nesse caos europeu, o
imperialismo canalizou centenas de milhares de refugiados judeus, que saiam de uma das
páginas mais sombrias da história contemporânea, para a Palestina, desembaraçando-se de
toda a responsabilidade na matança nazista, para utilizá-los como parapeito contra os povos
do Oriente Médio. Israel tinha já em 1948 uma enorme vantagem sobre a coligação árabe.
O seu exército era mais numeroso, estava melhor treinado e melhor equipado. Além disso,
Israel tinha o apoio das grandes potências e a simpatia da opinião pública ocidental. Os
combates cessaram praticamente no dia 7 de janeiro de 1949, graças à intervenção da ONU.
Entre 23 de fevereiro e 20 de julho desse mesmo ano, os países árabes implicados na
guerra, exceto o Iraque, assinaram armistícios com Israel.
31
KAROL, K. S. La Nieve Roja. Madri, Alianza, 1984, p. 56-57.
33
Os territórios ocupados por Israel no fim da guerra constituíam quase 78% da Palestina.
Tornaram-se, de fato, o território do Estado de Israel. Ficaram fora dele a cadeia de baixas
montanhas do centro e do sul da Palestina, a chamada Cisjordânia, assim como a Faixa de
Gaza. Jerusalém ficou dividida: a parte oeste da cidade extra-muros ficou do lado de Israel;
a cidade antiga e o bairro extra-muros a norte ficaram do lado árabe. Israel declarou
Jerusalém sua capital, decisão que ia contra a Resolução 181 da Assembléia Geral da ONU
de 1947, que recomendava a internacionalização da cidade. No dia 11 de maio de 1949, o
Estado de Israel foi admitido na ONU. A 24 de abril de 1950, a Cisjordânia com a parte de
Jerusalém sob domínio árabe foi anexada à Transjordânia, que passou a chamar-se Reino
Hachemita da Jordânia. A Faixa de Gaza ficou sob administração militar egípcia.
Uma Nação Artificial
Entre 700 e 900 mil palestinos do que se tornou o território de Israel, isto é, a esmagadora
maioria da sua população autóctone, encontrou-se na situação de refugiada. Uns fugiram de
suas casas aterrorizados com a aproximação das forças judaicas. O pânico que se abateu
sobre a população palestina foi criado em boa parte pelos massacres cometidos pelas forças
judaicas em vários pontos do país. O mais conhecido é o de Der Yassin, que era então uma
aldeia na vizinhança de Jerusalém. As suas terras estão hoje ocupadas por Giveat Chaul, um
bairro da cidade. A 9 de abril de 1948, um comando do Irgun e do Stern entrou em Der
Yassin e massacrou mais de cem pessoas, homens, mulheres e crianças. A notícia desse
massacre provocou a fuga de cerca de 100.000 pessoas da região de Jerusalém. Outros
palestinos foram expulsos à força. Entre os vários casos conhecidos, os de maiores
proporções tiveram lugar em Lida (a atual cidade de Lod) e Ramlé.
Uma escaramuça com tropas árabes ocorrida no dia 12 de julho de 1948 serviu de pretexto
ao exército de Israel para uma violenta repressão que custou a vida a 250 pessoas, algumas
das quais eram prisioneiros desarmados, assim como para a expulsão de cerca de 70.000
pessoas, algumas das quais já eram refugiadas. A ordem de expulsão foi dada pelo próprio
Primeiro-Ministro, David Ben Gurion. Os seus executores foram Igal Alon e Isaac Rabin. A
Galiléia foi a região do território de Israel onde ficaram mais palestinos. As zonas de maior
densidade populacional palestina ficaram sob administração militar até 8 de dezembro de
1966.
A 11 de dezembro de 1948 a ONU aprovou a resolução
194 que reconhecia aos refugiados palestinos o direito
de regressarem aos seus lares ou de serem indenizados,
se assim o preferissem. Apesar de o preâmbulo da
resolução mencionar explicitamente a aplicação desta
resolução, Israel recusou-se e continua a recusar-se a
aplicá-la. Apressando-se a arrasar as aldeias palestinas
que tinham sido esvaziadas dos seus habitantes (o
número habitualmente avançado é de cerca de 500
localidades) e distribuindo as suas terras aos imigrantes
judeus, Israel tornou impossível o regresso de uma boa
parte dos refugiados aos seus lares. A esmagadora
maioria dos refugiados amontoou-se em acampamentos
na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Jordânia, na Síria e
no Líbano. No dia 1º de maio de 1950 a ONU criou a
34
UNRWA, a agência internacional que passou a ocupar-se deles.
O estado de Israel, portanto, não nasceu de um desenvolvimento nacional que culminasse
na constituição de um estado, mas de uma decisão da ONU sob a égide dos EUA e da
URSS. Em 14 de maio de 1947, Andreij Gromyko se pronunciava na tribuna da ONU por
um “estado judeu-árabe único com direitos iguais para os judeus e os árabes”, porém
precisando: “Se esta solução resultar irrealizável devido as relações cada vez mais tensas
entre os judeus e os árabes, então teria que estudar uma segunda solução que incluísse a
divisão em dois estados independentes, um estado judeu e um estado árabe”. Após de
decretado o fim do Mandato britânico, por maioria de 2/3 (o que incluiu a França que num
primeiro momento havia se abstido e mudou o voto pela pressão dos EUA), os delegados
da ONU decidiram pela divisão da Palestina, em 29 de novembro de 1947.
Em 30 de novembro desse ano, se iniciaram os enfrentamentos entre os sionistas e os
árabes. A Liga Árabe montou um exército. Porém, persistia o desacordo: o Cairo se
pronuncia contra uma intervenção militar. Amman faz o mesmo contra um governo
palestino e quer, contra o parecer de Egito e Síria, anexar as partes árabes à Transjordânia.
Uns dias antes, em 17 de novembro de 1947, dez dias antes da votação na ONU, Abdallah,
emir da Transjordânia, teve uma entrevista secreta com Golda Meir, novo chefe político da
Agência Judaica, para acordar “uma divisão que não o humilhe aos olhos do mundo árabe”.
Os britânicos estabeleceram um acordo com o emir Abdallah, por meio de Glubb Pachá
(que não era senão John Glubb, oficial britânico), chefe da Legião Árabe, que garantia a
anexação dos territórios árabes da Palestina por parte de Amman após a divisão.
Os combates se estenderam ao conjunto da Palestina, não na forma de um conflito
tradicional, senão da guerra de guerrilha. Em novembro de 1947, o Partido Comunista
Palestino, até então anti-sionista, mudou de nome e passou a chamar-se Partido Comunista
de Eretz Israel (Grande Israel). Em 19 de dezembro de 1947, os dirigentes sionistas e a
URSS firmaram um acordo de armamento que será ratificado em janeiro de 1948 por
Moshe Sherlak e Andreij Gromyko em Nova York. A Tchecoslováquia se encarregaria de
entregar o armamento para as milícias sionistas (dos 19 milhões de dólares gastos para
armar os sionistas, 11 provinham da Tchecoslováquia).
Nos EUA, em dois anos se coletaram 100 milhões de dólares para financiar o esforço
bélico. Em abril de 1948, a Haganah passa para a ofensiva, atacando vários povoados. Com
a “luz verde” da Haganah, seu rival de direita, o Irgun, ataca o povoado de Deir Yassin,
abatendo. a sangue frio 250 habitantes, principalmente mulheres e crianças, depois de
conquistar a vila. O massacre e a propaganda que fazem deste ato, empurraram ao êxodo os
palestinos. Mais de 350 mil abandonam seu lar antes de junho.
Várias regiões são assim conquistadas. No final de abril, oficiais da Haganah e da Legião
Árabe se puseram de acordo para evitar enfrentamentos entre elas. Com o acordo dos EUA
(em 23 de abril, por telegrama, Truman anunciou que reconheceria o estado tão logo fosse
proclamado) os dirigentes sionistas proclamam em 14 de maio de 1948: “Em virtude do
direito natural do povo judeu e da resolução das Nações Unidas, proclamamos a criação do
estado judeu da Palestina, que tomará o nome de Israel”. O estado é reconhecido pelos
EUA e pela URSS, entre outros.
Entre Guerra Civil e Guerra Nacional
Em 15 de maio, os homens do major Glubb, a Legião Árabe, atacaram. No mesmo
momento, o emir Abdallah recebeu uma mensagem do presidente sírio no sentido de atrasar
35
a invasão. Por outro lado, o emir Abdallah havia modificado na véspera o plano de
combate, para concentrar-se em Jerusalém e a Palestina central (em uma palavra, nos
“territórios árabes”, da divisão). Apostando durante um tempo em um entendimento com os
sionistas, Abdallah se resignou à guerra por razões regionais e internas, não para anular a
divisão da Palestina, mas sim para remodelá-la ao seu gosto: o rei desejava ardentemente
anexar-se a parte da Palestina atribuída pela ONU ao estado árabe, se possível o deserto do
Neguev e, sobretudo, Jerusalém. Londres assegura: na falta de um acerto amistoso, faz
votos para que seus aliados capturem uma parte da Palestina, particularmente o Neguev.
Sob a pressão americana e as ameaças cada vez mais diretas, a Grã Bretanha, deixou de
enviar armas à Transjordânia em maio-junho, e depois chegará a suspender o envio de 500
mil libras trimestrais a Abdallah, para obriga-lo a aceitar o cessar fogo.
Entretanto, os combates se prolongaram e se equilibraram. Na ONU, os EUA se
pronunciaram por um cessar-fogo acompanhado de sanções. Em 28 de maio, Austin,
representante americano, denunciou os estados árabes que “violavam a lei internacional”,
enquanto que no dia seguinte Gromyko denuncia “uma série de operações militares
desencadeadas por um grupo de potências contra o estado judeu”. Se o exército israelense,
uma semana depois da invasão, acolheu de imediato a proposta de cessar fogo, é porque a
disputa trazia prejuízo aparente para ele. Temia que os frutos já logrados se perdessem por
completo. Os exércitos árabes, pelo contrário, se sentiam de vento em popa. Se bem que os
americanos e os soviéticos se deram por satisfeitos com esta trégua, sua ambição ia muito
mais longe, uns e outros examinavam a guerra em curso em função de sua estratégia para o
Oriente Próximo e para o mundo todo.
Uma nova comissão da ONU, dirigida pelo sueco Bernadotte, deu conta das suas
conclusões em 27 de junho: remodelação do plano de divisão. Nada de Estado árabe,
Jerusalém, o Neguev e os territórios árabes da Palestina seriam entregues à Transjordânia
de Abdallah, enquanto a Galiléia Ocidental será para Israel. A política dos dirigentes
árabes, potentados feudais, não se guiava em absoluto pela “causa palestina”, mas sim pela
defesa de seus próprios interesses, pela preservação da ordem imperialista de que
dependiam. Através da guerra só procuraram remodelar em seu proveito a divisão, contra
os sionistas em quem viam competidores diretos e ameaçadores. Durante a trégua se enviou
mais armamento a Israel, em particular aviões Messerchmidts apreendidos ao exército
alemão por Praga. O exercito israelense passou ao ataque em 9 de julho de 1948. Desta vez
contava com 75 mil soldados, contra os 40 mil dos estados árabes. Retirada da primeira
linha, a Legião Árabe da Transjordânia se concentra na defesa de Jerusalém, facilitando o
avanço relâmpago do exército israelense que só freia em Jerusalém.32
Israel anexou a Galiléia central, que a ONU dera ao Estado árabe. Quando chegou outra
trégua, os árabes só conservavam 330 km2 quadrados do Estado judeu, versão ONU, mais
o Neguev, de todo seu território original. Israel ocupava 201 dos 219 povoados árabes e
tomava posse de 1300 quilômetros quadrados de territórios árabes, três grandes cidades e
112 povoados. Na ocasião da segunda trégua, o mediador da ONU, Bernadotte,
recomendara que se integrasse a Galiléia a Israel, em troca do Neguev, e precisava:
“Existem motivos imperiosos para fusionar os territórios árabes da Palestina e
Transjordânia”. Britânicos e transjordânios aceitam, egípcios e israelenses não. Os
responsáveis sionistas exigiram o fim da missão. Em 17 de setembro, dois militares
israelenses fardados, imobilizaram o carro de Bernadotte e o mataram à queima-roupa.
32
FAVROD, Charles-Henri (ed.). Les Arabes. Paris, Le Livre de Poche, 1975.
36
Em 15 de outubro, o exército israelense lançou uma nova ofensiva, utilizando
massivamente sua supremacia aérea recém conseguida graças aos envios tchecos de aviões
do exercito alemão vencido. Chegado o armistício, as cifras são 15 mil palestinos mortos e
800 mil exilados. Seu “estado” versão ONU, estava despedaçado: Galiléia para Israel,
Cisjordânia para Abdallah, a faixa de Gaza conserva certa “autonomia”, porém sob tutela
egípcia. Israel ocupa então um terço de território a mais do que o previsto no plano de
divisão da ONU.
Os EUA concederam um empréstimo de 10 milhões de dólares para Israel. No Conselho de
Segurança, os russos atuam “como se fossem nossos emissários”, se felicitava Sherlok,
ministro israelense de Assuntos Exteriores. Egípcios e israelenses firmaram um primeiro
armistício em 23 de fevereiro de 1949, um mês depois com o Líbano, e em 20 de julho de
1949 com o novo governo militar sírio. Começava o acordo entre Tel Aviv e Amman, às
costas dos palestinos.33
Tudo estava disposto para um acordo israelense-hachemita preparado desde tempos atrás
pelas conversações secretas do rei com os representantes da Agência Judaica, mas também
pelo acordo prático durante os últimos meses. Também durante a operação israelense
contra o Egito, em outubro, a Legião Árabe se concentra sem tocar em armas. A criação em
Gaza em 23 de setembro de um “governo de toda a Palestina”, e depois a eleição do mufti
como presidente do Conselho Nacional, “melam” as relações entre os países árabes. Como
resposta, o soberano hachemita convocou, em 2 de outubro em Amman, um congresso
palestino.
Os dirigentes árabes se depararam com o movimento nacional palestino esmagado na
prática. Abdallah, por sua vez, recebe em várias ocasiões a uma delegação israelense. Em
troca de modificações na região de Hebron, o estado judeu recebe uma faixa de território de
3 quilômetros de extensão por 90 quilômetros de largura, para garantir as comunicações
entre o centro do país e a Galiléia. A nova fronteira separa numerosos povos árabes de suas
terras. Finalmente, o ponto mais importante, mantido em segredo: a luz verde para a
anexação da Cisjordânia por Amman.
No “Estado Judeu” desenhado pela ONU havia 219 povoados e 4 cidades árabes. Em 1º de
junho de 1948, l80 destes povoados foram evacuados e 240 mil árabes foram obrigados a
partir. Ao que há de se acrescentar os 152 mil que saíram dos 70 povoados e as três cidades
(Yalta, Jenin e Acre) do “Estado Árabe”, que estão sob controle da Haganah. As cifras
oficiais da ONU falam de “381 mil pessoas deslocadas”. Na realidade, a crueldade dos
combates, a barbárie da ação das milícias sionistas, como no povoado de Deir Yassin,
provocam a ruína de centenas de milhares de palestinos. Com a criação do Estado de Israel,
isto se converte em uma estratégia deliberada de expulsão: mais 300 mil palestinos são
expulsos. Aos palestinos que permanecem nas zonas controladas por Israel, durante o verão
de 1948, o exército proibiu toda a colheita. Isto obriga aos camponeses da Galiléia e de
Neguev a fugir. Em Haifa, aonde permanecem mais de três mil árabes cristãos, o exército
procede a um reagrupamento que a própria municipalidade judaica de cidade denunciará
como a criação de “guetos”.
As violências foram de tal calibre que A. Cizling, dirigente sionista “de esquerda”, membro
do partido Mapam, protestou em 17 de novembro no Conselho de Ministros: “Agora alguns
judeus se comportam como nazistas e todo meu ser se estremece”. Mas a repressão
33
MASSOULIÉ, François. Os Conflitos do Oriente Médio. São Paulo, Ática, 1996.
37
continua, selvagem. Depois do armistício, os dirigentes sionistas respondem com uma
negativa ao mediador da ONU que sugere a “volta” de uma fração dos palestinos. Uma
resolução do Conselho de Segurança propõe hipocritamente organizar esta “volta”, que o
Estado de Israel nunca aplicará. Malik, o delegado da URSS no Conselho de Segurança,
estima que um “estudo prolongado da questão palestina nas Nações Unidas, nos dá todas as
razões para crer que a culpa e a responsabilidade de todas as privações e sofrimentos dos
refugiados árabes corresponde ao governo do Reino Unido e às autoridades militares
britânicas no Oriente Próximo”. O “radicalismo” anti-britânico lhe servia para deixar a
salvo a Israel e aos EUA...
A chegada massiva de imigrantes judeus – 350 mil entre 15 de maio de 1948 e finais de
1949 – impunha as expulsões dos árabes. Uma lei sobre “as propriedades abandonadas”
tornou possível a confiscação dos bens de toda pessoa ausente. Porém, entre os últimos
meses de 1948 e o início de 1949, cinqüenta mil árabes voltaram ao seu lar. Em setembro,
seguia havendo 170 mil árabes, cidadãos israelenses de segunda, submetidos até 1965 ao
controle militar. Os outros, quase um milhão, passaram a viver na Cisjordânia e Gaza, na
Jordânia, no Líbano ou na Síria, em acampamentos miseráveis.34
Com a vitória de Israel em 1949, novas fronteiras foram estabelecidas. Cerca de 75% da
Palestina foi incluída dentro das fronteiras de Israel; uma faixa de terra ao sul, que ia de
Gaza até a fronteira com o Egito ficou sob controle do Egito; o restante do território foi
anexado pelo reino hachemita da Jordânia. Jerusalém foi dividida entre Israel e Jordânia. O
estado árabe-palestino deixou de existir. Quase 2/3 da população árabe deixou suas casas e
tornou-se refugiada. Centenas de milhares de palestinos emigraram para os estados árabes,
e os que permaneceram, ficaram na condição de refugiados em sua própria pátria.
Jerusalém, dividida entre cristãos, judeus, e muçulmanos, tornou-se pólo de conflitos que se
estenderam até os dias atuais.
34
Cf. GAUTHIER, Lucien. As origens da divisão da Palestina. A Verdade nº 8, São Paulo, julho de 1994
38
3. RESISTÊNCIA NACIONAL E GUERRAS DE OCUPAÇÃO
Os conflitos se acirraram e a guerra eclodiu mais de uma vez, em 1956, 1967 e 1973, sendo
a mais importante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel incorporou a península
do Sinai e a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e o território sírio das Colinas do Golã e
intensificou sua política de construção de assentamentos para colonos judeus imigrantes.
Quanto aos cidadãos árabes de Israel, eram considerados cidadãos de segunda classe, não
pertencendo à “comunidade”. Por esta época, uma nova geração de palestinos crescia no
exílio, principalmente no Cairo e em Beirute. Aos poucos, surgiram vários movimentos
políticos, sendo o mais importante o Fatah, uma organização guerrilheira criada por Yasser
Arafat,35 que se pretendia completamente independente dos regimes árabes cujos interesses
não fossem os mesmos dos palestinos, e que pregava um confronto militar com Israel.
Em 1964, com o apoio dos países árabes, foi fundada a Organização para a Libertação da
Palestina (OLP), sob controle do Egito, constituída a partir do Al-Fatah e que passou a ser
presidida por Yasser Arafat. A OLP era composta basicamente de membros dos exércitos
do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, e fora criada durante o encontro árabe ocorrido no Egito,
com a participação de Nasser e Ben Bella, entre outros. Em seguida surgiu também o ELP
(Exército de Libertação da Palestina), uma organização política e um braço armado ainda
extremamente vinculados aos regimes árabes da região.
O “problema palestino” era então visto como uma questão árabe em geral. No IV
Congresso da OLP esse painel começou a mudar, já que contou com a presença da Al-Fatah
e da Saïka (respaldada pela Síria), grupos que começaram a ganhar espaço dentro da
organização. O V Congresso marca um momento especial nesse processo, com o poder
político da Al-Fatah, de Arafat, aumentando substancialmente dentro da OLP, considerando
que esta ganhou 33 das 105 cadeiras do Conselho Nacional Palestino, enquanto o próprio
Arafat foi eleito presidente. A Saïka, nessa ocasião, ficou com 12 representantes.
A Al-Fatah, que começou a ser constituída nos anos 1950 e que inicialmente se preocupava
em criar uma organização política que estimulasse uma maior participação da
intelectualidade árabe, após 1962 decidiu colocar suas energias na preparação de um grupo
35
Yasser Arafat escapou de mais de 50 atentados, como líder da OLP. Nascido em 1921 em Egito, seu nome,
em árabe - Yasser - significa "fácil" ou "sem problemas". Já adolescente foi perseguido por sua atividade
como dirigente estudantil, durante o curso de engenharia civil no Cairo. Mais tarde combateu junto com o
Exército egípcio na guerra do canal de Suez de 1956 e daí foi para o Kuwait onde trabalhou como empreiteiro
até 1964. Arafat, que poderia ter ficado milionário durante esta etapa de sua vida, entretanto optou pela
política. Uma de suas compensações pela escolha chegou em 1974, quando a Liga Árabe reconheceu a
Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que ele presidia, como "a única representante legítima do
povo palestino". No final de agosto de 1982, por exemplo, ele - cujo nome de guerra era "Abu Amar" - e
várias centenas de guerrilheiros tiveram que abandonar Beirute, onde tinham abrigo. A cidade havia sido
cercada pelo Exército israelense que havia ocupado o Líbano, quando Ariel Sharon ostentava o cargo de
ministro da Defesa. O grupo ficou sem abrigo por pouco tempo. No dia 28 de agosto daquele ano o presidente
tunisiano Zine al Abidín Ben Alí acolheu Arafat em Túnis. Durante seu exílio tunisiano, o Exército israelense
bombardeou o quartel-general da central palestina e suas imediações causando mais de 60 mortos. Arafat e
seus colaboradores conseguiram salvar-se. Outra vez que pôde escapar foi no dia 7 de abril de 1992, quando o
avião em que viajava desapareceu no deserto da Líbia por causa de uma tempestade de areia. Três pessoas
morreram, mas o líder palestino foi localizado no dia seguinte com pequenos ferimentos. Entretanto, no dia 1º
de junho teve que ser operado na Jordânia para extrair um coágulo cerebral, conseqüência do acidente aéreo.
Depois de 12 anos de exílio no norte da África ele começou a colocar em prática a instalação do Estado
palestino. No dia 11 de julho de 1994 ele se despediu de seus anfitriões tunisianos com honras de chefe de
Estado a caminho da “autonomia” palestina, que englobava apenas Gaza e Jericó. Arafat veio a falecer em
2004, de causas misteriosas, o que levou a levantar a hipótese de seu assassinato.
39
militar, a Al-Assifa, e assim, ter mais flexibilidade e liberdade de atuação em relação ao
pesado aparelho da OLP. Mesmo sendo em certo ponto um movimento isolado e
relativamente pequeno na época, tinha a intenção de mostrar que os palestinos podiam lutar
por conta própria e com seus próprios militantes.
A Al-Fatah cresceu com os anos, e depois de muitas derrotas e vitórias, tornou-se o
principal grupo dentro da OLP. Já a Saïka, ou “a tempestade”, criada em 1966 a partir do
IX Congresso do Baath sírio, era uma organização ligada à Síria, mais “pan-arabista” que a
Al-Fatah e com uma estrutura política e militar menor que aquela. Mas ainda existiam
outros grupos importantes. A FPLP (Frente Popular de Libertação da Palestina), parte do
Movimento Nacionalista Árabe, era, como a Saïka, de ideologia inter-árabe, ou seja, tinha
proximidade com o nasserismo e apresentava uma postura a favor da unidade árabe.
A FPLP sofreu diversas cisões e rachas, que provocaram a constituição de outras
organizações. No final dos anos 1960, seus principais dirigentes e ideólogos começaram a
se definir como marxistas e radicalizaram o grupo. Também foi constituída em 1969 a
FDPLP (Frente Democrática Popular de Libertação da Palestina), um grupo revolucionário
marxista saído da FPLP, dirigido por Nayef Hawatmeh, que se declarava marxista.36
Enquanto a Al-Fatah considerava a FDPLP como sectária, esta achava a organização de
Yasser Arafat direitista, acreditando que ela não fazia o suficiente na luta contra o
imperialismo e que não conseguia envolver as massas palestinas num esquema de guerra
popular. Outros grupos, como a Organização Popular e a Liga da Esquerda Revolucionária
Palestina mais tarde se incorporaram a esta organização. Mesmo tendo o apoio relativo da
população e vários combatentes, a FDPLP encontrava-se constantemente com problemas
financeiros e dificuldades em dar continuidade a suas atividades militares.
De qualquer forma, foi o primeiro movimento revolucionário palestino que não dependia
excessivamente da ajuda de outros países e que tinha também maior independência política.
Alguns anos mais tarde surgiram, no esteio do “radicalismo islâmico” pós-revolução
iraniana (de 1978), organizações como o Hamas, os Mártires de Al-Aqsa e o Jihad
Islâmico.
O Fatah começou a agir dentro de Israel. A população israelense continuava a crescer por
força da imigração. Em 1967, do total de 2.3 milhões de habitantes, os árabes
representavam 13%. A economia crescera em razão da ajuda americana e por causa da
contribuição financeira de judeus do mundo inteiro e também por causa das reparações de
guerra da Alemanha. Israel sabia que era mais forte militar e politicamente do que seus
vizinhos árabes. Diante das ameaças de ambos os lados, israelenses e árabes se enfrentaram
novamente e os israelenses vitoriosos ocuparam o Sinai, Jerusalém, a parte palestina da
Jordânia e parte do sul da Síria (as colinas do Golã) antes do cessar-fogo acordado com a
ONU.
A Guerra de 1967
A guerra de 1967 foi o ponto de virada decisivo. A conquista de Jerusalém e o fato de que
os lugares sagrados para muçulmanos e cristãos estavam agora sob controle israelense
trouxe uma outra dimensão para a crise. A Guerra dos Seis Dias, embora justificada pela
ameaça imposta ao estado sionista pelos árabes, na verdade foi de responsabilidade de
Israel. O General Ezar Weizman, na época chefe israelense das operações, admitiu que
36
PERICÁS, Luiz B. Israel e Palestina. IV Internacional, São Paulo, maio de 2002.
40
Egito e Síria, que convencionou-se serem os iniciadores da agressão, jamais ameaçaram
Israel. Nunca houve perigo de extermínio. O
General Chaim Herzog, comandante geral e primeiro governador militar dos territórios
ocupados da Cisjordânia admitiu que não havia perigo de aniquilação de Israel. O comando
central jamais acreditou nesta possibilidade. Foi, de fato, uma guerra de agressão israelense,
perpetrada para ampliar ilegalmente as fronteiras do estado. Yigal Allon, ministro do
Trabalho e membro do Comitê Militar Consultivo Eshkols, ao se referir à Guerra dos Seis
Dias afirmou inequivocamente: “Begin e eu queríamos Jerusalém”. Mordechai Bentov,
ministro do Interior israelense, disse: “Toda a história de perigo de extermínio foi inventada
em seus mínimos detalhes e exagerada depois, para justificar a anexação do novo território
árabe”. Todo o episódio foi meticulosamente planejado pelo exército israelense.
A este respeito, o próprio Menachem Begin admitiu: “Em junho de 1967, nós não tínhamos
só uma opção. A concentração do exército egípcio nas proximidades do Sinai não provava
que Nasser iria realmente nos atacar. Devemos ser honestos conosco. Decidimos atacá-lo”.
O ministro da Defesa de Israel fez revelações semelhantes. Moshe Dayan, o festejado
comandante que, como ministro da Defesa em 1967, deu a ordem para conquistar o Golã,
disse que muitas das escaramuças com os sírios foram provocadas deliberadamente por
Israel e os residentes dos kibbutz, que pressionavam o governo a tomar as Colinas do Golã
menos por uma questão de segurança e mais para a agricultura. Dayan atestou que pelo
menos 80% de duas décadas de choques de fronteira foram de fato iniciados por Israel, sob
pressão de colonos e comandantes militares no norte de Israel. Isto coincide com a
avaliação do general Matityahu Peled,que admitiu que “mais da metade dos choques
ocorridos na fronteira antes da guerra de 1967 foram resultado de nossa política de
segurança de criar acampamentos nas zonas desmilitarizadas”.
Os israelenses começaram apresentando uma reclamação ilegal de soberania na região (na
fronteira síria) e depois prosseguiram, aproveitando a oportunidade, para usurpar todas as
disposições específicas contra a introdução de forças armadas e fortificações. Repetidas
vezes eles obstruíram as operações de observadores da ONU e, em uma ocasião, até
ameaçaram matá-los. Eles se recusaram a cooperar com a Comissão Mista do Armistício e
quando foram enquadrados, simplesmente rejeitaram as regras e exigências dos
observadores. Eles expulsaram, quando não forçaram, os habitantes árabes e arrasaram suas
aldeias.
Transplantaram árvores como uma estratégia de avançar a fronteira em benefício próprio.
Construíram estradas, violando orientação da ONU. Realizaram escavações em território
árabe para seus próprios projetos de drenagem . O general sueco Carl von Horn, chefe das
forças de paz da ONU na região, observou que tudo isto foi parte de uma política israelense
premeditada, para avançar em direção da Zona Desmilitarizada a antiga fronteira palestina
(conforme mostrado em seus mapas) e tirar os árabes do caminho por todos os meios.37
A guerra mudou o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Estava claro que Israel era mais
forte militarmente do que qualquer aliança entre estados árabes, e isso mudou a relação de
cada um deles com o mundo exterior. Para os árabes foi uma derrota e para os palestinos
representou uma nova leva de refugiados.
37
AHMED, Nafeez Mosaddeq. O sangue nas mãos de Israel. Quando criminosos de guerra posam de vítimas
e o mundo se inclina aceitando. In: http://www.mediamonitors.net/mosaddeq24.html.
41
A guerra do Yom Kippur (Dia do Perdão), de 1973, foi provocada por uma intransigência
israelense e não foi uma tentativa de se defender de ameaças militares dos árabes contra a
existência do Estado de Israel. Como Yitzhak Rabin admitiu: “A Guerra do Yom Kippur
não foi feita pelo Egito e Síria para ameaçar a existência de Israel. Foi o uso total de sua
força militar para alcançar um objetivo político específico. O que Sadat (premiê egípcio à
época) queria ao cruzar o canal era mudar a realidade política e, assim, começar um
processo (de paz) político em uma posição mais favorável para ele do que a que existia
anteriormente”.
O historiador israelense Benny Morris esclareceu o contexto da intransigência sionista em
que isso aconteceu, lembrando que a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, rejeitou uma
oferta de paz razoável do Egito em 1970, forçando, assim, os árabes a iniciarem a guerra de
outubro de 1973. De fato, as sistemáticas mentiras e exageros das ameaças contra Israel
para justificar a provocação e o começo das guerras de terrorismo foi a estratégia preferida
para a expansão sionista.
No Líbano, cujos campos de refugiados palestinos se transformaram em bases da OLP,
começaram ataques sistemáticos de Israel a partir de inícios da década de 1970. Em
fevereiro de 1973, quando Israel começou sua invasão atacando o norte do Líbano, por mar
e ar, matando 31 civis. Escolas, clínicas e outros prédios civis foram alvejados
indiscriminadamente e destruídos. Em dezembro de 1975, mais 50 pessoas foram
assassinadas no bombardeio e campos de refugiados palestinos e aldeias foram varridos
pelos aviões de guerra israelenses.
Os ataques não tiveram por motivo qualquer provocação da OLP. Em novembro de 1977,
70 pessoas foram mortas quando a cidade libanesa de Nabatiye ficou sob fogo israelense de novo sem qualquer provocação - sendo severamente atacada pelas baterias israelenses
em ambos os lados da fronteira. Em 1978, com a invasão de Israel, a população de
Nabatiye foi reduzida de 60.000 para 5.000, e os remanescentes fugiram com medo das
bombas israelenses. Tais acontecimentos continuaram impunemente assim como contaram
com a aprovação e apoio dos “poderes ocidentais”, principalmente dos Estados Unidos.
Em 1974, Yasser Arafat foi, pela primeira vez a ONU, formalizando, assim, a
representação política do povo palestino. Foram baixadas numerosas resoluções por parte
das Nações Unidas, conclamando à paz, ao retorno dos refugiados às suas casas, à retirada
dos israelenses dos territórios ocupados e ao estabelecimento de fronteiras permanentes,
nenhuma delas acatadas por Israel.38
O Esmagamento do Líbano
Com base nesse fortalecimento, em 1978, Israel invadiu o sul do Líbano com um exército
de 20.000 soldados. A conseqüência foi a morte de milhares de civis libaneses e palestinos
e o deslocamento de centenas de milhares para o norte do país. Um acontecimento desta
invasão foi o massacre de todos os habitantes remanescentes da cidade libanesa de Khiam,
promovido pelo Major Haddad, da milícia israelense, e que agora controlava a região sul do
Líbano. Graças ao bombardeio israelense de anos anteriores, a população já tinha sido
reduzida de 30.000 para 32. A população restante foi massacrada sem piedade por agentes
de Haddad e Khiam foi escolhida como o lugar de seu novo campo de prisioneiros, Ansar I,
cujas condições repugnantes e tortura selvagem lembraram os campos de concentração
38
CORN, Georges. Le Proche-Orient Éclaté 1956-1991. Paris, Gallimard, 1991.
42
nazistas. Em agosto de 1979, o governo libanês relatou que quase 1.000 civis tinham sido
mortos nos ataques israelenses subsequentes.
O exército israelense foi responsável pelo saque que se seguiu aos ataques de abril de 1948
a Jaffa e Haifa; pelo bombardeio de aldeias árabes e da cidade de Irbid, no Jordão; pela
limpeza do Vale do Jordão de toda sua população; deslocamento de um milhão e meio de
civis da região do Canal de Suez, em 1970. A justificativa para a ocupação do sul do
Líbano foi a manutenção de uma Zona de Segurança para a proteção da fronteira norte.
Masa a razão estratégica fundamental foi que Israel queria assegurar um controle sem
limites da água do rio Litani, no Líbano. A Comissão Econômica e Social da ONU para a
Ásia Ocidental relatou que Israel começou a usar a água do rio Litani através de um túnel
de 11 milhas, assim como das correntes do Wazzani do Líbano.
O Conselho de Segurança da ONU reagiu à invasão do Líbano de 1978, baixando as
resoluções 425 e 426, exigindo uma retirada inequívoca das forças israelenses e
estabelecendo um sistema de fiscalização do processo de retirada. Mas, em julho de 1981,
Israel continuou suas violações de cessar-fogo, promovendo ataques provocativos a alvos
civis libaneses, de acordo com a estratégia indicada por Moshe Dayan. A retaliação
palestina veio e foi respondida por Israel com um pesado bombardeio que resultou no
massacre de 450 árabes - principalmente de civis libaneses. A OLP aderiu rigorosamente ao
cessar-fogo de meados de 1981, enquanto Israel aumentava as flagrantes violações do
acordo, atacando e matando os civis, afundando barcos de pesca, violando o espaço aéreo
libanês milhares de vezes e realizando outras provocações para obter alguma resposta da
OLP que pudesse ser usada como pretexto para a invasão planejada.
Em março de 1979, Egito e Israel assinaram um tratado de paz em separado,39 do qual os
Estados Unidos foram também signatários. Embora isto resultou na evacuação de alguns
territórios egípcios ocupados e na abertura do Canal de Suez para os navios de Israel, no
entanto este tratado nada fez para efetivar uma retirada das forças de ocupação israelenses
de Jerusalém oriental, da Margem Ocidental e das colinas do Golã, na Síria, e,
principalmente, deixou intocada a raiz do problema - a condição dos palestinos. Na
verdade, o tratado resultou no recrudescimento da tensão no Oriente Médio, que se
manifestou por um aumento da intransigência israelense nos territórios ocupados e no
isolamento do Egito do resto do mundo árabe.
O antecedente mais claro da situação corrente foi, como dito, a Guerra dos Seis Dias em
1967, quando Israel ocupou os territórios palestinos da Cisjordânia, Faixa de Gaza e
Jerusalém Oriental (a região mais delicada sob o aspecto histórico-religioso tanto para
muçulmanos, como para judeus e cristãos), além das colinas de Golã da Síria e da península
do Sinai do Egito, já devolvida em 1979. O povo palestino, discriminado dentro de Israel e
arruinado nos territórios ocupados, teve sua situação agravada nas décadas de 1970 e 1980,
quando o expansionismo israelense, apoiado pelos EUA, estendeu-se para o Líbano,
visando expulsar a OLP do território libanês.
Foi nesse quadro que mudou a composição política da luta palestina contra Israel, com o
surgimento e crescimento de grupos político-religiosos, destacando-se o Hezbollah
("Partido de Deus"), organização xiita libanesa apoiada pelo governo islâmico do Irã, o
Hamas (Movimento de Resistência Islâmica) criado por palestinos em 1988, quando se
39
Que renderia um Prêmio Nobel da Paz, e depois um assassinato por “radicais islâmicos”, ao seu signatário
egipcio, o raïs Anuar El Sadat.
43
iniciou a primeira Intifada (levante popular palestino contra a ocupação israelense), a Jihad
Islâmica formada por jovens palestinos no Egito desde 1980.
Em janeiro de 1976, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, vetada pelos EUA,
incorporava o texto de uma outra resolução da ONU (a resolução 242 de 1967), pela qual as
legítimas fronteiras da região seriam as anteriores à Guerra dos Seis Dias, modificando-a,
apenas para definir um Estado palestino numa área de apenas 22% da Palestina árabe
(anterior à partilha da região que criou Israel). Essa resolução foi abertamente aceita e
apoiada pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP), pela Europa e pela exUnião Soviética e de uma forma direta ou indireta, por todos os países do mundo, exceto
Israel e os Estados Unidos.
Em setembro de 1982 ocorreu o maior ato de terrorismo de Estado da história
contemporânea no Oriente Médio, quando uma milícia de cristãos, que representava o
Estado judeu na ocupação do Líbano, praticou uma verdadeira chacina nos campos de
refugiados palestinos de Sabra e Chatila, matando quase duas mil pessoas em menos de três
dias. Quem abriu o campo aos milicianos foi Ariel Sharon, depois primeiro-ministro de
Israel, sob ordens do primeiro-ministro da época, Menachen Begin.
Ariel Sharon, então ministro da Defesa de Menachem Begin (do governo da coalição
direitista Likud), prometeu ocupar 40 km do país numa guerra que duraria no máximo 48
horas. A ocupação estendeu-se até Beirute. Sharon foi considerado culpado pelo massacre
de mais de dois mil civis palestinos indefesos, nos campos de refugiados de Sabra e Chatila
localizados numa região de Beirute controlada por Israel e pelas milícias cristãs libanesas,
que em mais de 20 anos agiu com procuração de Israel em ações coordenadas pelo exército
israelense.
O contexto da invasão sem precedentes de 1982, orquestrada basicamente pelo general
Ariel Sharon, foi o seguinte: as coisas estavam razoavelmente calmas, mas em fevereiro de
1982, o major israelense, Yehoshua Saguym, chefe do Serviço de Inteligência de Israel, se
reuniu com funcionários do Pentágono e o secretário de Defesa, Haig, para definir os
planos israelenses para uma invasão maior. Após esta reunião, Israel pegou equipamentos
militares dos Estados Unidos, no valor de US$217.695.000, e em seguida a sua mídia
começou a preparar os americanos para a operação militar, revelando que a OLP estava
recebendo foguetes soviéticos e outros suprimentos, supostamente com o objetivo de
ameaçar Israel. Israel tentou justificar sua operação afirmando que a OLP estava
comprometida com o terrorismo dos estados fronteiriços. De fato, a fronteira tinha estado
calma por 11 meses, sem contar com as retaliações às provocações israelenses.
Não tendo conseguido uma resposta defensiva por parte da OLP que pudesse ser explorada
para justificar a invasão em grande escala do Líbano, Israel simplesmente inventou uma
desculpa para cumprir seu plano de subjugar o país. O estado sionista alegou que a invasão
foi uma resposta a uma tentativa de assassinato do embaixador israelense em Londres. No
entanto, a OLP não tinha nada a ver com este atentado. Como Israel e toda a comunidade
internacional sabiam, esta tentativa de assassinato foi, na verdade, realizada pela
organização terrorista de Abu Nidal que tinha estado em guerra com a OLP por anos a fio.
Abu Nidal sequer tem qualquer espécie de presença no Líbano.
Aproximadamente 20.000 civis palestinos e libaneses foram mortos, mais de 30.000
feridos, a capital, Beirute, e grande parte do sul do Líbano foram destruídos, os suprimentos
de água e energia elétrica foram cortados e inúmeras atrocidades foram cometidas pelos
soldados israelenses durante a invasão. Esta seqüência de fatos só foi possível
44
primeiramente devido ao apoio americano infalível ao regime sionista, que incluía os
contínuos vetos aos esforços do Conselho de Segurança da ONU para parar com o terror.
Nas prolongadas negociações que se seguiram funcionários da OLP e alguns refugiados
palestinos foram evacuados por navio para Túnis e outros países árabes. Alguns familiares,
que deveriam ter seguido e a quem fora prometido salvo-conduto, foram massacrados pelas
forças falangistas sob as ordens de Israel. Mais de 1.000 mulheres, crianças e velhos foram
abatidos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila.40
O massacre de Sabra e Chatila provocou uma verdadeira comoção mundial, quando a
comunidade internacional responsabilizou o governo de Israel pelos massacres.
Manifestações de repúdio ao governo israelense ocorreram nas principais cidades do
mundo, sendo que os próprios israelenses chocados com a atrocidade saíram às ruas
pedindo a queda do governo e uma investigação (a ocupação do Líbano por Israel, que se
retirou do país somente em maio de 2000, após 22 anos, causou a morte de cerca de 20 mil
libaneses e palestinos, quase todos civis). Foi instalado um inquérito em Israel, que
concluiu que Sharon tinha responsabilidade no massacre e sugeriu que ele deixasse o cargo
de ministro da Defesa.
Intifada
Cinco anos depois, em 1987, um caminhão militar israelense atropelou e matou 4 palestinos
na Faixa de Gaza. Este incidente foi o estopim para o início dos combates entre jovens
palestinos e as tropas de ocupação israelense. A revolta, conhecida como a “Revolta das
Pedras” (Intifada) durou 6 anos, resultando em muitas mortes de lutadores palestinos e um
profundo desgaste para Israel, pois eram jovens e crianças enfrentando com paus e pedras
as armas sofisticadas dos soldados israelenses. A Intifada foi a primeira manifestação
dentro dos territórios ocupados a abalar de forma duradoura a rotina da ocupação
israelense, iniciada em 1967.
As lideranças da OLP e Yasser Arafat passaram a apostar como nunca antes, em uma ação
diplomática para criação de um Estado palestino soberano com capital em Jerusalém
oriental. Em 1991, realizou-se em Madri a Conferência Internacional de Paz, marco inicial
das conversações diretas entre Israel e os países árabes. Em 1993, os dois lados firmaram
em Washington um acordo de paz que previa a extensão da autonomia dos palestinos na
Cisjordânia, com a retirada das tropas israelenses. Em 1995, Israel e OLP firmaram um
novo acordo, desta vez com a extensão da autonomia a quase toda a Cisjordânia,
supostamente importante para o surgimento de um estado palestino, mas que se torna
irrelevante enquanto Israel detiver o monopólio do uso da força nos territórios ocupados.
Yasser Arafat e Ehud Barak se encontraram diversas vezes mas sem chegarem a um acordo
sobre as duas questões fundamentais para os palestinos: Jerusalém e o direito de retorno.
Na Faixa de Gaza são visíveis as razões para a resistência dos palestinos. Com uma
população de mais de 1 milhão de habitantes, a Faixa de Gaza, chamada de "Soweto de
Israel", não é um estado e não foi anexada a Israel. As forças de defesa de Israel controlam
toda a fronteira. Se os moradores de Gaza quiserem sair dessa área, precisam obter uma
permissão dos israelenses. Muitos palestinos - nascidos a partir de 1967 - nunca saíram da
faixa, uma tripa de terra situada entre o deserto de Neguev e o mar Mediterrâneo, que mede
46 km de comprimento e 10 km de largura, aproximadamente.
40
ONU. Damage to the Lebanese Infrastructure During the Israeli Operation Grapes of Wrath, abril de 1996.
45
Algumas das piores condições de vida estão no Acampamento de Dehaishem, visitado pelo
papa João Paulo II. Segundo o New York Times, "quase 10.000 refugiados palestinos, quase
todos muçulmanos, vivem em menos de 1 milha quadrada de terra, amontoados em
barracos que formam becos salpicados de sucata de carros velhos, velhas bobinas de fio e
lixo. Eles são refugiados há 52 anos, e muitos deles ainda guardam as chaves de suas casas
que foram forçados a abandonar, na luta que se seguiu à criação de Israel."
A grande maioria dos quatro milhões de palestinos refugiados vive dispersa pelos países
árabes em terríveis condições de vida ou em territórios ocupados por Israel na condição de
refugiados em sua própria pátria. Ainda assim, em 1995 produziu-se o assassinato do
premiê israelense Yitzhak Rabin, praticado por um judeu de extrema direita, indignado com
a perspectiva de um acordo que pudesse vir a reconhecer direitos mínimos aos palestinos.41
Segundo Shlomo Ben-Ami, ex-ministro do exterior de Israel, após a guerra do Golfo, os
Estados Unidos conseguiram impor seu programa unilateral, representado pelo "processo
de paz", que desde Oslo, tinha como meta o estabelecimento de uma dependência
neocolonial permanente da população palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza.
A proposta norte-americana para questão palestina envolveu manter a faixa de Gaza
separada da Cisjordânia e esta, dividida em três cantões separados uns dos outros, com a
cidade de Jerusalém, que foi sempre o centro da vida comercial e cultural palestina,
expandida com colônias israelenses. Enquanto isso, os Estados Unidos fornecem vasta
assistência econômica e militar, que permite que Israel expanda suas colônias nos
territórios ocupados e imponha um regime duro e brutal que impediu o desenvolvimento,
sujeitando a população palestina a humilhação e repressão diárias, num processo que se
intensificou ao longo dos anos 1990.
A radicalização da luta contra a ocupação israelense se aprofundou com a Segunda Intifada,
ou a Intifada de Al Aqsa, iniciada em 29 de setembro de 2000, após uma visita provocativa
do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, à Esplanada das Mesquitas, quando dois dias
depois, o exército israelense matou dezenas de palestinos indefesos que estavam saindo da
mesquita de Al Aqsa, um dos locais sagrados do islamismo. Nos dias seguintes Israel usou
helicópteros para atacar alvos civis, matando muitas pessoas. Todo conflito aconteceu nos
territórios ocupados e os palestinos não responderam ao fogo.
Intervenção Imperialista
Em 3 de outubro de 2000, o presidente Clinton reagiu com a maior transação militar da
década, enviando helicópteros militares avançados a Israel (algo que o país não pode
produzir), e o Pentágono anunciou que não haveria restrições ao uso deles pelos israelenses.
Israel logo estaria usando-os para assassinatos políticos. Os Estados Unidos fizeram
41
Rabin o “primeiro premiê nascido en Israel”, concluiu o Acordo Interino com Egito, que conduziu à
retirada israelense do Canal de Suez, em troca do livre tránsito de barcos israelenses. Como resultado desse
acordo, se firmou o primeiro Memorando de Entendimento entre o governo de Israel e os EUA, garantindo o
apóio estadunidense aos intereses israelenses no cenário internacional, e a renovação da ajuda ianque a Israel.
En fevereiro de 1992, Rabin foi eleito presidente do Partido Trabalhista. Depois da vitória eleitoral de 1992,
começou seu segundo período como Primeiro Ministro e ministro da Defesa. Este período foi marcado por
dois acontecimentos históricos - os Acordos de Oslo com a OLP e o Tratado de Paz com Jordânia. Depois de
obter com Shimón Peres, ministro das Relações Externas, e Yasser Arafat, o Premio Nobel de la Paz em
1994, iniciou as negociações com os palestinos sobre a autonomía de Gaza e algumas áreas de Judéia e
Samária, e sobre ol establecimento de uma Autoridade Palestina. A 4 de novembro de 1995, ao retirar-se de
uma reunião “pela paz”, Yitzhjak Rabin foi assassinado por um ativista judeu de extrema direita.
46
reprimendas amenas e continuaram entregando às forças israelenses os helicópteros mais
avançados de que dispunham em seu arsenal.
Em maio, Israel empregou os seus aviões F16 mais avançados para atacar os palestinos.
Pouco depois, os Estados Unidos concordaram em fornecer mais F16 avançados a Israel.42
O histórico revela claramente um dedicado esforço dos EUA, iniciado há cerca de 30 anos,
para apoiar a expansão e a repressão israelenses e solapar os direitos nacionais palestinos.
Os EUA passaram a ser odiados no Oriente Médio por causa de seu apoio a Israel, que
soma entre US$3 bilhões a US$4 bilhões por ano, sustentando incondicionalmente a
ocupação israelense nos territórios palestinos, incluindo o fornecimento de helicópteros,
caças F16 e mísseis usados para reforçar a ocupação. Nos primeiros doze meses da Terceira
Intifada, ao menos 597 palestinos e 170 israelenses morreram.0
No dia dos atentados contra as Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, ao mesmo tempo
em que se buscavam sobreviventes em Nova York, Israel invadia Jericó, primeira cidade
palestina a conseguir autonomia na Cisjordânia (em 1994), deixando um saldo de 13 mortos
e mais de cem feridos. Em apenas dois dias após o atentado nos Estados Unidos, 20
palestinos já tinham sido mortos nos territórios ocupados por Israel.
42
BLUMENTHAL, Sidney. The Clinton Wars. Londres, Penguin Books, 2003.
47
Em 2002, recrudesceu a agressão e a guerra do Estado sionista contra o povo palestino, a
Autoridade Nacional Palestina e seu líder Yasser Arafat, empreendida pelo governo
Sharon-Peres com total apoio dos EUA. A FDI (Força de Defesa Israelense) fez um cerco
a todas as cidades palestinas e à sede da Autoridade Nacional Palestina em Ramallah, onde
o próprio Arafat foi mantido refém com vistas a ser executado pelos homens de Sharon.
O Estado sionista invadiu a Margem Ocidental usando todos os métodos de terror contra as
massas: massacre de civis indefesos, incluindo idosos, mulheres e crianças, assassinatos a
48
sangue frio, execução de prisioneiros desarmados, prisões em massa e detenção em campos
em terríveis condições, o uso de mulheres e crianças como “escudos humanos” para as
tropas da FDI, demolição de edifícios, destruição dos sistemas hidráulico e elétrico, dos
recursos sociais e da saúde etc. A expulsão de jornalistas estrangeiros, equipes médicas, e
observadores internacionais, das organizações operárias, parlamentares etc. tinha como
principal objetivo impedir que estes crimes de guerra sejam conhecidos e condenados
internacionalmente.
A vasta operação militar foi planejada e preparada bem antes dos ataques suicidas a Israel
durante a Pessah judaica, usados por Sharon como pretexto para implementar o seu plano
de limpeza étnica dos palestinos nos territórios ocupados em 1967, combinado com a
destruição da própria ANP. Os planos militares estavam prontos há dois anos, ou seja em
2000, quando ainda prevalecia a euforia de “paz” dos Acordos de Oslo.43 Sharon nunca
escondeu o seu objetivo de obter uma “solução final” militar para a questão palestina.
Seguindo o colapso dos Acordos de Oslo e o levante da Intifada do povo palestino, a
principal preocupação dos sionistas foi a liquidação da rebelião popular.
A Intifada, que já durava mais de 19 meses, vinha adquirindo um ímpeto cada vez maior,
principalmente com a participação de palestinos em Israel e o desenvolvimento de
operações de guerrilha de que surpreenderam, por sua escala e eficiência, os próprios
militares sionistas. O caminho para o esforço de guerra de Sharon foi aberto pela “guerra
contra o terror” de George W. Bush Jr., pela agressão imperialista contra o Afeganistão, os
preparativos de guerra contra o Iraque, os ataques ao “Eixo do Mal”, a insanidade da
“revisão da postura nuclear” e “utilização tática de armas nucleares” pelo governo dos
EUA.
O imperialismo norte-americano viu a invasão de Sharon dos territórios como parte de uma
campanha de guerra bem maior que se preparava no Oriente Médio. “A noção de que a paz
no Oriente Médio passa por Jerusalém é uma ilusão”, enfatizou o editorial do Wall Street
Journal: “O caminho para a paz no Oriente Médio passa hoje não por Jerusalém mas por
Bagdá”.44 No momento em que os tanques israelenses ingressavam em Ramallah e na
Margem Ocidental, George W. Bush declarou total apoio de sua administração ao “direito
de defesa de Israel contra os terroristas”. Mesmo o chamado ambíguo, tardio e hipócrita do
Presidente dos EUA para que Israel “considerasse iniciar” a retirada de suas tropas da
Margem Ocidental não foi uma proposta de paz mas uma fraude –que Arafat, sitiado,
rápida aceitou. Na realidade, Bush concedeu a Sharon a permissão e o tempo para terminar
suas operações assassinas antes de recuar suas tropas.
O imperialismo norte-americano e o sionismo se aproveitaram da covardia e disposição
para capitular das classes governantes palestinas. Isto ficou mais uma vez demonstrado pelo
colapso patético da Cúpula Árabe em Beirute às vésperas da guerra de Sharon. A Arábia
Saudita propôs reconhecer a usurpação sionista da Palestina em troca da paz; Egito e
Jordânia boicotaram a Cúpula para questionar o papel de liderança dos sauditas e competir
com os sírios; Sharon, de maneira provocativa, impediu Arafat de participar; e o Líbano,
sob as ordens da Síria, impediu inclusive que Arafat se pronunciasse à Cúpula desde
Ramallah.
43
44
Le Monde, Paris, 3 de abril de 2002.
Wall Street Journal, Nova Iorque, 2 de abril de 2002.
49
As lideranças árabes temeram mais a rebelião de suas próprias massas do que a catástrofe
imposta pelo imperialismo e o sionismo sobre a Palestina e toda a região em torno dela. As
manifestações das massas no Cairo, Amman, Beirute e em todo o mundo árabe, resultando
freqüentemente em choques com as forças locais de repressão do Estado, mostraram
claramente que a resistência do povo palestino é a faísca da revolução pela emancipação
nacional e social de todo o Oriente Médio e para além dele. A agressão sionista surgiu da
própria decomposição do sionismo na situação de crise mundial do capitalismo, e seu efeito
seria acelerar ainda mais tal decomposição. Ficou claro que não havia “solução militar”
para a crise do sionismo, cujas únicas esperanças de sobreviver eram por cima de um mar
de sangue e de terror.
50
4. DO “MAPA DA ESTRADA” AO MURO DA VERGONHA
O “Mapa da Estrada” foi uma caricatura dos Acordos de Oslo, celebrados em 1993, por sua
vez outra caricatura de uma solução democrática à questão palestina. O Ministério de
Relações Externas da Autoridade Nacional Palestina informou que "a OLP realizou um
compromisso histórico em 1988, reconhecendo a soberania de Israel sobre 78% da
Palestina histórica, na compreensão de que os palestinos seriam capazes de viver em
liberdade no restante 22% sob ocupação desde 1967").45
Todo o "processo de paz" dos anos 1990 foi, na verdade, usado como cortina de fumaça
para continuar a confiscação de terras, que duplicou o número de colonos que vivem na
Margem Ocidental, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental - aproximadamente 400.000
– e para implementar a política de fechamento permanente para a população dos
Territórios, substituídos por trabalhadores estrangeiros trazidos de todo o mundo. O
estrangulamento econômico dos trabalhadores da Margem Ocidental e de Gaza - onde,
desde setembro de 2000, o desemprego cresceu 65%, e onde 75% da população vive por
baixo da linha de miséria de dois dólares diários por pessoa, foi a razão do colapso dos
Acordos de Oslo.
Esta catástrofe econômica é o resultado de um objetivo de longo prazo, compartilhado por
todos os partidos sionistas sem exceção, de se desfazer dos palestinos em toda Eretz Israel.
A temporária vitória do imperialismo em Iraque encontrou sua contrapartida nos Territórios
Ocupados no desenho da formação de um novo gabinete sob a direção do primeiro ministro
Abu Mazen (Mahmoud Abbas), um homem eleito pelos norte-americanos e os sionistas,
depois de que Arafat fora declarado “incompetente” (para brecar a Intifada).
O que estava ocorrendo na Margem Ocidental do Jordão era outro processo massivo de
confisco de terras e de segregação mediante a construção de um muro de apartheid de 350
quilômetros de longitude, e entre quatro e oito metros de altura. A construção do muro
levará à confiscação de aproximadamente 22% da Margem Ocidental, incluindo 80% das
terras agrícolas, a extirpação de dezenas de milhares de árvores, incluindo oliveiras, e o
roubo de 20% dos recursos de água. Ao menos 15 aldeias ficariam presas entre o muro e a
"linha verde", em áreas militares fechadas controladas pela IDF.46
O muro significaria a anexação de fato a Israel de um vasto número de assentamentos, e
transformará as aldeias e cidades palestinas em campos de concentração similares aos
existentes na Faixa de Gaza. O planejado Muro Oriental cortaria o vale do Jordão, deixando
ao chamado "Estado palestino" 50% da Margem Ocidental. Na realidade, esse "Estado"
consistiria em oito "bantustões", separados, isolados e controlados por Israel: Jenin, Nablus,
Qalqilia, Tulkarem, Jericó, Ramallah, Bethlehem y Hebrón. Os civis palestinos não serão
autorizados a transladar-se de uma dessas áreas isoladas para outras, sem autorização
especial de movimento das autoridades de ocupação da "Administração Civil".47 O "Estado
palestino" no seria mais que um conjunto de cantões, entrecortados por rotas controladas
pelo exército israelense, e sitiados pelas colônias sionistas e os estabelecimentos militares
que as protegem.
45
http://www.mopic.gov.ps/details.asp?subject_id=55.
The Palestine Monitor (http://palestinemonitor.org/factsheet/poverty_and_destruction.htm#2).
47
Ver: The Apartheid Wall Campaign (http://www.pengon.org/wall/report1.html); Israel’s Apartheid Wall
(http://www.lawsociety.org/wall/
wall.html)
e
Palestine
Media
Center
(http://palestinepmc.com/apartheid.asp).
46
51
Em entrevista de junho de 2003, Edward Said manifestou: “A única fonte de otimismo, a
meu ver, continua sendo a coragem dos palestinos para resistir. Foi por causa da Intifada e
porque os palestinos se recusaram a capitular diante dos israelenses que chegamos à mesa
de negociação — e não apesar de tudo isso, como alguns insistem em dizer. O povo
palestino vai continuar se opondo aos assentamentos ilegais, ao exército de ocupação, aos
esforços políticos para pôr um ponto final em sua aspiração legítima de ter um Estado. A
sociedade palestina vai subsistir, apesar de todos os esforços que têm sido feitos para
sufocá-la... (O plano de paz) não aborda os problemas e as reivindicações reais do povo
palestino. Estamos falando de uma nação que foi destruída mais de cinqüenta anos atrás.
Sua população foi privada de suas propriedades, 70% dela ficou desabrigada. Ainda hoje,
quatro milhões de palestinos vivem refugiados no Oriente Médio e em outras regiões do
mundo”.
E continuava: “Desde 1948 a ONU reafirma a ilegalidade dessa situação e diz que essas
pessoas deveriam ser indenizadas ou repatriadas. O plano de paz, no entanto, não toca nesse
ponto. O plano também não diz nada sobre a ocupação militar que começou em 1967.
Estamos falando da mais longa ocupação militar da história moderna. Milhares de casas
foram destruídas e, em seu lugar, surgiram quase 2 000 assentamentos israelenses habitados
por cerca de 200 000 colonos. A seção leste de Jerusalém foi indevidamente anexada por
Israel, que, além disso, nos últimos dois anos e meio, manteve os 3 milhões de habitantes
da Faixa de Gaza e da Cisjordânia sob toque de recolher e restrições de direitos
humilhantes. Nada disso é mencionado pelo plano de paz. E tampouco a questão das
fronteiras de um futuro Estado palestino é abordada com clareza. Não há menção às
fronteiras que existiam antes de 1967, muito menos à idéia de restabelecê-las. Ou seja,
Israel se propõe a reconhecer um Estado palestino — mas provisório e sem território
estabelecido. Na essência, tudo que o plano diz é que os palestinos devem abrir mão da
resistência, parar de lutar. Em contrapartida, Israel eventualmente levantaria algumas das
restrições que impõe ao povo palestino — mas isso é dito sem maiores especificações. O
plano não prevê mecanismos efetivos de implementação de suas fases. Assim como ocorreu
nas negociações de Oslo, em 1993, as decisões ficariam a cargo dos israelenses. Em
resumo, estamos falando de um plano que não leva a lugar algum”.48
A Crise do Processo de Paz
A crise do chamado “Processo de Paz” deu-se em momentos em que Israel vive sua maior
crise econômica desde 1948, com o desemprego crescente, o corte dos gastos sociais, a
queda de amplos setores da população judaica e árabe para o nível de pobreza, e uma
grande recessão. O prosseguimento do esforço de guerra prometia atingir ainda mais as
massas árabes e judaicas vivendo dentro da “Linha Verde”, como demonstrou claramente o
corte de mais de dois bilhões de dólares do orçamento do governo, para fins militares. Na
crise, a União Européia manifestou sua total impotência política. O fato de seus
representantes terem sido tratados com arrogante descaso pelos sionistas, quando enviados
para protestar pelo massacre da população palestina, foi mais uma prova de que a União
48
Edward Said nasceu em Jerusalém em 1935 de uma família cristã. Em 1948, com a fundação do Estado de
Israel, ele e sua família foram obrigados a deixar a Palestina. Said estudou e viveu no Egito e nos Estados
Unidos, onde se formou na Universidade de Princeton e foi professor de literatura inglesa na Universidade de
Columbia, em Nova York. Coletâneas lançadas no Brasil oferecem um panorama de seu pensamento: Cultura
e Política, da Editora Boitempo e Reflexões sobre o Exílio, Companhia das Letras; assim como Freud e os
Não-Europeus, também lançada pela Boitempo. Edward Said militou incansavelmente pela causa palestina.
Faleceu em 24 de setembro de 2003.
52
Européia poderia ser um gigante econômico, mas também um pigmeu político. Assim
mesmo, os países da UE integraram a “coalizão contra o terror” construída pelo terrorista
Bush, e neste sentido foram e são também cúmplices dos crimes perpetrados em nome da
“guerra anti-terrorista”.
O desastroso papel das “forças de paz” internacionais, sejam elas da UE ou dos países das
Nações Unidas, para não mencionar a OTAN, já fora claramente demonstrado por Congo,
Chipre, Coréia etc. e depois na Bósnia, Kosovo e Macedônia nos Bálcãs. Elas constituem
forças a serviço do imperialismo, para impor sua vontade e defender seus interesses. O
estabelecimento de protetorados imperialistas é uma forma de escravização, não de
independência e liberdade. Pacifismo e reformismo pintam de forma atrativa o papel das
Nações Unidas e da União Européia e espalham ilusões sobre uma “solução” e uma suposta
“paz” promovida pelas baionetas e canhões das tropas imperialistas. Thomas Friedman, o
colunista democrata-sionista do New York Times, o mesmo que em 1999 saudou os
bombardeios da OTAN contra a Iugoslávia durante a guerra de Kosovo, chamou
abertamente por um “Kosovo na Margem Ocidental”.
Ficou claro que a emancipação é tarefa dos próprios trabalhadores palestinos e fellahin;
mas também é o dever de todos os judeus que se recusam a aceitar a continuação dos
crimes sionistas, cometidos em seu nome por aqueles que confiscaram a história das
tragédias do povo judeu, sobretudo o holocausto nazista.49 Sharon podia matar quantos
árabes quisesse, mas não podia salvar uma única vida judaica. O governo de Sharon-Peres
tornou-se a fonte de uma nova perigosa onda mundial de anti-semitismo, como
demonstraram os ataques reacionários contra as sinagogas e os judeus na França e Bélgica.
O povo judeu teria que romper com o sionismo em decomposição e reassumir, corajosa e
orgulhosamente o seu papel de outrora nas fileiras da luta pela revolução socialista
mundial, a única maneira de pôr um fim ao anti-semitismo. Em primeiro lugar, teria que
apoiar plenamente suas irmãs e irmãos palestinos na luta por uma Palestina independente,
secular e socialista, onde judeus e árabes palestinos pudessem viver juntos em paz.
Para as massas palestinas e para todos os oprimidos e explorados no Oriente Médio,
incluindo os judeus trabalhadores e pobres, a única solução progressista seria a destruição
desta máquina de guerra, terror e opressão que é o Estado sionista, a expulsão do
49
A medida que o tempo passa, e não por acaso, acirra-se o debate sobre o Holocausto judeu, que não é
possível sequer resumir aqui. O regime iraniano se propõe, inclusive, organizar uma conferência internacional
para questionar a sua ocorrência, o que provavelmente suscitará o interesse de alguns saudosistas do nazismo.
De um modo geral, a corrente de interpretação dominante emancipa o Holocausto dos objetivos sociais e
políticos do nazismo, da burguesia alemã, e da luta de classes em geral (poderia se dizer que da própria
História, nas interpretações que o remetem a um atavismo da alma humana, ou gentil), sublinhando seu
caráter excepcional e único (os genocídios africano, americano, armênio, etc., não poderiam se comparar a
ele, devido a que não comportavam uma tentativa consciente de extermínio de um povo). Até historiadores
que se reivindicam do marxismo, como Enzo Traverso, filiam-se a essa corrente. Outra corrente, minoritária,
trata de situá-lo dentro da luta (mortal) de forças sociais e políticas, no quadro da crise européia da primeira
metade do século XX (e como um aspecto central dela, enquanto crise histórica do capitalismo), que conduziu
à II Guerra Mundial. É o que faz, por exemplo, o historiador (de origem judaica) Arno Mayer, no seu livro A
Solução Final na História. A insistência da corrente dominante no caráter excepcional e único do Holocausto
deságua, políticamente, na justificativa da existência de Israel contra qualquer direito nacional de qualquer
outro povo, ou contra a existência de qualquer base histórica para um Estado nacional, devido, justamente, às
condições excepcionais que presidem o seu nascimento e existência. O sionismo e o projeto do Estado
confissional na Palestina, no entanto, precederam o Holocausto. É preciso levar em conta que os grandes
debates históricos remetem, sempre, a grandes opções sociais e políticas do presente, em última instância, à
opções de classe.
53
imperialismo de toda a região, o estabelecimento de uma República Palestina Secular e
Socialista em todo o território histórico da Palestina, e a unificação de todos os povos da
região, árabes, curdos, iranianos, berberes, judeus etc, em uma Federação Socialista do
Oriente Médio.
Em Israel, o “campo da paz”, os herdeiros do sionismo de esquerda, da tradição stalinista, e
os intelectuais denominados pós-sionistas, defendem a chamada “solução dos dois
Estados”. São os primeiros a denunciar os horrores do passado e do presente, a dinâmica
colonialista do sionismo, a escalada e os mecanismos da expulsão dos árabes, as constantes
alianças e tentativas de aliança dos sionistas com potências imperialistas, a possibilidade
legal do emprego da tortura e a própria ausência de uma constituição, a natureza
confessional do Estado, o racismo contra palestinos e judeus não-europeus, a semelhança
entre a Lei do Retorno e o Código nazista de Nuremberg etc., mas enxergam o Estado de
Israel como um fato consumado. Não se dissociam da ideologia sionista e caem na miséria
intelectual da defesa do “processo de paz” (inaugurado pelos Acordos de Oslo de 1993 e
1995) e criação de um “Estado palestino” ao lado de Israel como forma de solucionar o
conflito árabe-sionista.50
Ao final da guerra de 1948-49, o Estado de Israel já havia expandido as suas fronteiras reais
para além daquelas delimitadas pela ONU. Mediante a expulsão ininterrupta dos palestinos
de dentro do Estado e dos chamados “Territórios Ocupados” (com métodos de expulsão
direta, atemorização ou negando-lhes as condições de subsistência) e aproximadamente
50
O historiador judeu Ilan Pappe teve palavras terminantes a respeito: “I think that there is a game in IsraelPalestine: the charade of peace. But what it really means is that again these politicians on both sides meet in
beautiful hotels, with diplomats from all around the world to discuss nothing, just chatting. And you see very
important words such as peace process, evacuation, disengagement, the end of occupation, creation of a
Palestinian state. This is the "peace industry" as Chomsky said. And on the field, nothing is happening… But,
all around, there is no partner to the chattering and futile exercise of diplomacy that the diplomats and
politicians on both sides. But the worrying side is that ever since Ariel Sharon declares in an article to begin
a new peace initiative in a previous peace initiative which is called the Road map, ever since that happened,
there is a very dangerous trend that everyone in the world interested in the question of Palestine seems to take
part in the game of peace. We have already seen previous chapters in the game of peace, but before that, not
every one took part in. This time, what we call the Quartet – the European Union, the United Nations, Russia
and the United States – are all congratulating Ariel Sharon for his disengagement. And we have people in
Israel, who supposedly belong to the Peace camp, the Labour Party and from the Peace Now Movement, who
say the same things as the Quartet is saying, namely that they will leave Sharon, the man who is leading
Israel and the Palestinians into a new chapter of the peace-making in Israel and Palestine… the conflict
between Israel and Palestine is not about the occupation ; is about the ethnic cleansing that Israel did in 1948
and which did not end for one day after 48. So strategies for peace are not strategies for ending the
occupation. This is how they felt our mind with bubbles, ever since 1967 (…)This is what the Peace Now
movement said, this is what the American said, this is what the Swiss government are going to say, this is
about Israeli withdrawal from the West Bank and the Gaza Strip. No. This in not peace ; and Israeli
withdrawal from the Gaza Strip and the West Bank is an end of their crimes against humanity. This has
nothing to do with peace. Because the palestinian people in the occupied territories are the only group of
people, in the second half of the century, who have been living for 37 years under the military occupation.
This has nothing to do with peace. Can you imagine Switzerland for ten years under military occupation ?
Anyone here knows what a military occupation means. That a military sergeant can shut you, close your shop,
destroy your house at will, every moment of the day, brutally, by 37 years. What does this have to do with
peace ? Do we talk about oppression in other place in the world and we need negotiate with governments, of
ending the oppression by giving something else ?” (PAPPE, Ilan. There is no peace movement in Israel. In:
www.cmaq.net/es/node.php?id=21684, site do Centro de Médios de Información Alternativos de Québec, 14
de julho de 2005; do mesmo autor: History of Modern Palestine. One land, two peoples. Nova Iorque,
Cambridge University Press, 2004).
54
uma guerra por década, o Estado sionista continuou, com raros momentos de exceção,
expandindo suas fronteiras às custas do povo palestino. Em outras palavras, a partilha da
Palestina nunca foi o ideal do sionismo, mas apenas aquilo que o movimento conseguiu
obter (até o presente). Nos acordos de 1993 e 1995 (Oslo), quando as fronteiras do Estado
já abarcavam bem mais do que a fatia de 55% designada pelo plano da ONU de 1947, Israel
simbolicamente reconheceu a legitimidade da nação palestina e o seu direito a um Estado
próprio ao passo que a OLP ou ANP declarava pela primeira vez reconhecer o direito à
existência do Estado de Israel.
A Intifada estourou como uma revolta da população árabe palestina contra os Acordos de
Oslo e a Cúpula de Camp David, onde ficou claro que o futuro “Estado palestino” incluiria
apenas 18% do território histórico do país, dividido em pelo menos oito cantões, sem
controle de seus recursos hídricos e dependente de Israel. As cúpulas sequer abordaram as
principais demandas do movimento de libertação nacional palestino, quais sejam, a
transformação de Jerusalém oriental na capital palestina e o direito de retorno dos
refugiados. Portanto, aos olhos da população, o chamado “processo de paz” provou ser uma
operação para retalhar a Margem Ocidental e Gaza, estabelecendo um regime de
segregação sobre uma série de bantustões controlados militar e economicamente por Israel
com o consentimento da Autoridade Nacional Palestina.
Uma solução justa e capaz de pôr fim ao conflito não seria a “solução dos dois Estados”
porque ela nega o direito fundamental de retorno dos palestinos expulsos de suas terras e
lares, que hoje somam mais de 3.000.000 de pessoas. Não podemos esquecer tampouco os
cerca de 1.000.000 de árabes vivendo dentro das fronteiras de Israel, que se somaram à
Intifada dos seus irmãos do outro lado da fronteira não por solidariedade étnico-religiosa,
mas porque se sentem igualmente sob o ataque e a opressão constantes do Estado de Israel.
Em 1948, quando da criação do Estado de Israel, apenas 7% das terras eram de propriedade
sionista. Em 1976, por ocasião da grande luta contra o confisco de terras e do “Comitê para
a Defesa das Terras Árabes”, apenas 20% das terras ainda estavam em mãos de árabes.51
Opressão e Expropriação
Em 2002, menos de 4% das terras dentro das fronteiras de 1948 eram de propriedade árabe.
O confisco engendrou uma proletarização forçada dos cidadãos árabes: camponeses e
fellahs tornaram-se mão de obra barata nas cidades, principalmente no ramo da construção
e nas indústrias de baixa tecnologia. De 1961 a 1994 a proporção de árabes trabalhando no
campo caiu de 48,8% para 4,6%. A taxa de pobreza entre os árabes israelenses é, pelo
menos, três vezes maior do que entre os judeus. Ainda hoje, Israel conta com mais de 50
vilarejos árabes não reconhecidos pelo Estado, na Galiléia e Neguev, sem acesso a água
encanada nem eletricidade. Essas estatísticas demonstram que dentro do próprio Estado de
Israel não estamos diante de uma grande injustiça perpetrada no passado, mas, pelo
contrário, de um processo de confisco contínuo e aprofundamento da injustiça. Esse
problema não seria resolvido mesmo que Israel retirasse seus colonos e suas tropas de Gaza
e Margem Ocidental.
O panorama sócio-econômico dos próprios judeus é o pior desde o período de criação do
Estado. Desde a década de 1990, os direitos trabalhistas e o sistema de assistência social
vêm sofrendo ataques da parte de governantes trabalhistas e do Likud igualmente. O
51
CLEMESHA, Arlene. Palestina e a “solução dos dois Estados”. IV Internacional, São Paulo, junho de
2002.
55
sistema de saúde foi desmantelado no governo de Rabin. O maior banco do país, instituição
da central dos trabalhadores Histadrut, foi privatizado por Netanyahu. Em uma década
apenas, a porção do PIB destinado ao setor público caiu de pouco mais da metade a um
terço e os investimentos no mesmo setor caíram de 85% a 15%. Os gastos sociais em Israel
são hoje inferiores proporcionalmente aos dos EUA e a sociedade israelense se tornou uma
das mais desiguais do chamado mundo capitalista “avançado”, destruindo cada vez mais o
que ainda resta do seguro desemprego e do sistema de seguridade social.
Os trabalhadores tailandeses, filipinos, romenos e turcos (que somam dezenas de milhares)
que o sionismo importou para substituir a mão de obra barata árabe (impedida de trabalhar
em Israel depois do cerco quase total aos “territórios ocupados” erguido em 1994 com o
pretexto de prevenir ataques suicidas) estão sendo usados como bode expiatório para a
crise. O desemprego em Israel chega a 15% da população economicamente ativa, e a
pauperização atinge 30% da população do país (algumas fontes apontam para meio milhão
de israelenses vivendo abaixo da linha da pobreza). A crise econômica, desemprego,
polarização da riqueza e miséria já começaram a gerar sintomas de resistência entre as
massas judias propriamente ditas, com uma série de greves e manifestações (desde o início
de 2002) contra o fechamento de fábricas e os cortes orçamentários.
As contradições inerentes à criação do Estado de Israel (que se resumem no fato dele ser
um estado colonialista criado no período de decadência do capitalismo, necessitando assim
do suporte de uma potência imperialista) se acentuam no atual momento de crise
econômica e aumento das tensões sociais em todo o mundo. Israel, que vive hoje sua pior
crise econômica desde 1948, vê-se obrigado a simultaneamente reprimir o
descontentamento interno gerado pela crise, a revolta dos seus ‘cidadãos’ árabes de
segunda classe, e a revolta nacional palestina.
A melhor receita que encontrou para atacar as três frentes simultaneamente foi intensificar
sua política histórica de expansão dos assentamentos em território palestino, com todas as
suas implicações: transferência da crise interna para o exterior e transformação dos
desempregados judeus em colonos (uma faca de dois gumes já que o custo de manutenção
das colônias está se tornando insustentável no contexto de grave crise econômica),
intensificação da vigilância e repressão policial interna (intimidando tanto árabes como
judeus descontentes) e reocupação militar das regiões conquistadas em 1967,
enclausurando os palestinos e realizando massacres passíveis de serem ocultadas da mídia
(o acesso dos repórteres aos locais dos crimes é proibido ou retardado em semanas; aqueles
que tentam ir mais a fundo na investigação dos crimes sionistas têm sido brutalmente
intimidados e reprimidos). Mas se o tamanho da ofensiva sionista externa e interna reflete a
dimensão dos seus perigos intrínsecos –que são portanto bem grandes e podem ameaçar a
sobrevivência do Estado de Israel- devemos lembrar que o que está por trás da
intransigência e poderio sionistas é o apoio dos EUA devido a interesses próprios de
controle do Oriente Médio, reforçado pelo peso do lobby da comunidade sionista norteamericana (há cerca de 5.000.000 de judeus norte-americanos).
A guerra dos EUA contra o Iraque teve e tem por objetivo real “reorganizar” o Oriente
Médio para aumentar a capacidade de exploração das corporações norte-americanas de
petróleo, mas o motivo aparente (alardeado por Bush) é se proteger do perigo terrorista
advindo do mundo muçulmano. Esta pode se tornar a desculpa que faltava para a liderança
sionista implementar o controle militar direto de Gaza e Margem Ocidental e estabelecer,
na melhor das hipóteses, um “estado palestino” fantoche e um “governo autônomo” mais
56
subordinado a Israel. Isso implicaria a deportação em massa e a liquidação de toda forma de
expressão política independente do povo palestino.
Nenhuma das três formas de opressão – a opressão nacional palestina, a opressão da classe
trabalhadora judaica e a exploração dos recursos naturais do Oriente Médio pelo
imperialismo às custas da miséria da sua população - poderiam ser eliminadas isoladamente
uma da outra. Tanto as massas palestinas como os trabalhadores judeus são vítimas do
sionismo e sua luta só poderia se tornar conjunta sob a bandeira de um Estado dos
trabalhadores, socialista, democrático e secular em todo o território histórico da Palestina.
Não menos importante, é lembrar que a luta contra o sionismo não se dissocia da luta mais
geral dos trabalhadores e massas oprimidas de todo o Oriente Médio contra o imperialismo.
O “Fundamentalismo Islâmico”
O fracasso do nacionalismo secular árabe-palestino para colocar a luta palestina numa
perspectiva de luta antiimperialista conseqüente, e de unificação socialista do Oriente
Médio (o que exigiria romper com as castas dirigentes dos estados árabes reacionários)
levou ao fortalecimento do nacionalismo religioso. O Hamas, por exemplo, elaborou uma
resposta ao Estado sionista via “Estado islâmico”.
Desde a primeira Intifada, o movimento de caráter religioso tem se fortalecido. Mas isso
tem a ver com a covardia e sujeição da direção da OLP, que se identificou com os acordos
de Oslo e a submissão aos ditames do imperialismo norte-americano. As forças
tradicionalmente de esquerda dentro da OLP, como a FPLP e a FDPLP, embora tenham
criticado as posições de Arafat, não se constituíram como alternativa real de direção às
posições da ANP, deixando um espaço vazio para que aqueles que aparecem como
radicalmente anti- Israel assumam um prestígio crescente.
A Palestina era o lugar do Oriente Médio onde a influência política das correntes religiosas
era das menores na região. Basta ver que a formação da OLP era por amplíssima maioria de
natureza laica. Adquiriu um peso muito maior, devido ao desgaste da direção da ANP. O
projeto de Estado islâmico, ainda que venha do lado oprimido na região, é uma saída
também teocrática. Significa abandonar a perspectiva de um Estado laico e democrático.
Significa também a perspectiva de uma ditadura teocrática sobre os povos da região. Os
iranianos sentiram na pele o que significa essa proposta por meio da política repressiva de
Khamenei contra os protestos democráticos dos jovens iranianos e contra os sindicatos e os
conflitos trabalhistas.
Além do mais, a postura fundamentalista do Hamas dá pé à propaganda sionista de que os
‘árabes querem jogar os judeus ao mar’, são todos fanáticos etc., e prejudica a possibilidade
de uma convergência entre os setores jovens e radicais do lado israelense contra seu
governo, e de unidade com os palestinos na luta contra o sionismo. Vejamos trechos da
carta de constituição do Hamas: “Em Nome de Alá, o Misericordioso, o Clemente: Vós sois
a melhor comunidade que já surgiu para a humanidade. Vós impões a conduta correta e
proibis a indecência; e vós credes em Alá. E se o Povo da Escritura tivesse acreditado, teria
sido melhor para eles. Alguns deles são crentes; mas a maioria deles são praticantes do mal.
Eles não irão vos prejudicar salvo uma leve ferida, e se eles lutarem contra vocês eles terão
de retroceder e fugir. E depois de tudo eles não serão socorridos. Ignomínia será sua porção
onde quer que eles se achem salvos [onde eles se agarrem a] uma corda de Alá e a uma
corda do homem. Eles incorreram no ódio do seu Senhor, e miséria será jogada sobre eles.
Isso é assim porque eles se acostumaram ao descrédito nas revelações de Alá, e atacaram os
57
Profetas erroneamente. Isso é assim porque eles eram rebeldes e se acostumaram a
transgredir.” Surat Al-Imran (III), versos 109-111...
E também: “Israel irá crescer e permanecer ereto até que o Islã o elimine assim como ele
tem eliminado seus predecessores... Artigo Oito: Alá é seu objetivo, o Profeta seu modelo,
O Corão sua Constituição, a Jihad seu caminho e a morte pela causa de Alá sua mais
sublime crença”.
Seria, no entanto, um erro pôr o radicalismo “islâmico”, devido ao seu “fundamentalismo”,
no mesmo plano que o “fundamentalismo” imperialista ou sionista. É o que aparece na
postura de Tariq Ali, 52 quem chega a se queixar, quanto ao sofrimento do povo palestino,
que “os EUA são cegos quanto a isso, e os europeus são parcialmente cegos também”.53
Tratar-se-ia, então, de tira-los da cegueira, como saída para a luta antiimperialista? Uma
confusão semelhante aparecia também nos textos do prestigiado intelectual Edward Said, o
que motivou um texto-protesto (Onde Edward Saïd está errado) de Khalid Amayreh, editor
chefe do Hebron Times. Segundo Amayreh, a condenação indiscriminada de Said aos
movimentos islâmicos, demonstrava a ausência de uma análise mais objetiva de um
fenômeno enraizado na sociedade árabe, o do ressurgimento islâmico, do qual o Islam
político seria simplesmente uma parte de sua estrutura multifacetada e diversa. E lamentava
que Saïd, que sempre esteve na vanguarda ao expor e refutar as maliciosas interpretações
ocidentais referentes à questão da Palestina e a outras causas árabes, parecia, neste caso,
estar repetindo interpretação semelhante sobre os movimentos islâmicos, que no ocidente, e
principalmente nos EUA, têm sido pintados como um novo império do mal, em
substituição à antiga União Soviética.
Khalid Amayreh se poupou a si mesmo de uma análise da evolução mais recente do
movimento islâmico, que emergiu como um movimento político de massas, com alas
seculares de esquerda (como os Mudjahedin iranianos e de outras nacionalidades), para
posteriormente ser manipulado pelos EUA, através da CIA, em função da invasão soviética
do Afeganistão (1979), com a criação de seitas terroristas-religiosas (como Al Quaeda)
usadas como carne de canhão contra a URSS, mas também destinadas a esvaziar a luta de
massas contra o inicialmente chamado “Grande Satã” (os EUA...). O islamismo, seja
político ou religioso, não pode ser apresentado como um bloco sem fissuras e contradições,
para o qual não seria necessária uma análise histórica suscetível de torna-lo mundialmente
compreensível aos olhos dos explorados de todos os países.54
Desde o início do século, os sionistas chegaram à Palestina, criaram mitos para justificar
sua instalação – como a “terra sem povo...”- para encobrir a expulsão dos árabes.
Basearam-se sempre sobre a política do fato consumado. Criaram os fundamentos do
Estado de Israel antes mesmo de ser declarada a partilha da Palestina. Aceitaram a partilha
dizendo-se satisfeitos, apenas para continuar a ganhar, passo a passo, cada metro quadrado
do pouco território que sobrara aos árabes palestinos, verdadeiros habitantes, trabalhadores
e donos da terra.
52
Cf. ALI, Tariq. The Clash of Fundamentalisms. Crusades, jihad and modernity. Nova Delhi, Rupa & Co,
2002.
53
BARSAMIAN, David e Tariq Ali. Palestina e Israel. In: Imperialismo & Resistência. São Paulo, Expressão
Popular, 2005, p. 182.
54
Cf. KEPEL, Gilles. La Yihad. Expansión y declive del islamismo. Barcelona, Península, 2001.
58
Justificaram suas guerras de agressão, incursões militares intermitentes, constante aumento
dos assentamentos, massacre de populações, aldeias inteiras varridas do mapa, outras tantas
(cerca de 50) que existem dentro de Israel sem reconhecimento formal e, portanto, sem
qualquer infra-estrutura, na necessidade de se defender contra os terroristas palestinos,
contra a ameaça dos judeus serem “jogados ao mar” ou simplesmente do perigo do aumento
populacional árabe dentro de Israel ameaçar o seu caráter de “estado judeu” (sua
fundamentação racista).
Expulsaram os árabes de sua terra, encerram-nos em guetos, estabeleceram postos de
controle e o toque de recolher, limitaram sua locomoção, circulação, o próprio direito ao
trabalho e à subsistência, deixaram que as doenças e a fome os dizimasse, esconderam o
fato do mundo, massacraram e impediram que equipes de reportagem se aproximassem dos
locais das agressões, e colocaram toda a culpa nos árabes palestinos. Com raros períodos de
exceção, desde 1948 Israel se expande baseado no “direito da auto-defesa”.
Mas o crime sionista não se resume à expulsão, massacre e criação de uma massa de
refugiados palestinos, nem no fato do processo ter começado no início do século e não ter
terminado até o dia de hoje. Começamos a entender o terror sofrido pelas massas palestinas
quando enxergamos que a sua terra lhes foi tirada passo a passo e que hoje a opinião
pública mundial se deixa enganar pela mentira histórica do “fato consumado”. O terreno
está sendo preparado para uma limpeza étnica mais grave do que aquela de 1948,com os
Estados Unidos, país mais poderoso do mundo, realizando uma guerra para supostamente
defender o mundo civilizado do “terrorismo”, o que, para Israel, poderia ser o último
pretexto para aplicar a solução definitiva do “problema palestino”.
Só podemos começar a visualizar as proporções do crime sionista quando percebemos que
a culpa pela ausência de um Estado palestino é lançada sobre os próprios palestinos, isto é,
na sua não aceitação da partilha da ONU de 1948, “incapacidade” para organizar um poder
central próprio, e, finalmente, que o sionismo vem arrancando dos palestinos sua própria
história. A farsa da “solução dos dois Estados” tem servido justamente para criar a ilusão,
para a opinião pública mundial, de que é possível resolver a situação dos árabes sem
eliminar o Estado de Israel. As lideranças de Israel sabem que seu Estado está atrelado à
sobrevivência da ideologia sionista, e esta à dinâmica expansiva do movimento.
A remoção dos colonos em território ocupado não pode ser levada a cabo sem uma
revolução Para se contrapor a esse cenário de opressão e limpeza étnica, a Intifada teria
que passar de uma guerra de guerrilha a uma guerra de massas, os atentados suicidas teriam
que parar de criar desculpas convenientes para o ataque de Sharon, os trabalhadores judeus
teriam que perceber que a guerra do Estado de Israel é uma guerra de exploração deles
mesmos, os trabalhadores. As massas palestinas e os trabalhadores judeus são as duas
vítimas do sionismo (e devem lembrar que nas décadas de 1930 e 1940 chegaram em
alguma medida a lutar lado a lado, em organizações de esquerda, sindicatos setoriais e
greves conjuntas). E definitivamente, tem que se abandonar de uma vez por todas a utopia
reacionária da “solução dos dois Estados”.
A Intifada de Al-Aqsa colocou na ordem do dia uma realidade que vinha sendo encoberta
enquanto durou o intervalo dado pela implementação inicial dos planos de paz de Oslo: que
é impossível uma paz entre palestinos e judeus mantendo-se o Estado sionista de Israel. O
problema está na natureza mesma e na origem desse Estado. Israel é um Estado artificial,
um enclave militar do imperialismo norte-americano, constituído sobre a base de desalojar
à força os legítimos habitantes do território, o povo palestino.
59
Um Estado Teocrático
Israel tem como definição ser o Estado de
uma raça, um estado teocrático,
constituído em base a um critério
religioso. Israel foi fundado e se expandiu
baseado na dupla ideologia do povo eleito
que ocupa uma terra ‘sem povo’. Mais
ainda, seus dirigentes têm, desde sua
fundação, insistido que os outros povos da
região não têm identidade própria. É
impossível haver paz com um Estado que
se apóia na colonização e na exclusão do
povo que vivia no local em que se instalou.
Nenhuma das correntes presentes no movimento sionista e que governaram o estado fogem
dessas definições básicas: que o estado judeu é excludente dos demais povos, que uma
política de exclusão deve ser aplicada aos árabes que habitavam a terra prometida antes.
Por isso, até a central sindical Histadrut, seguindo os ditames do Poalei Zion (que daria
origem ao Mapai, antecessor e um dos componentes do Partido Trabalhista de Barak e
Peres) e de seu líder, Aaron D. Gordon, não somente excluía de suas fileiras os
trabalhadores não-judeus, como fazia campanhas para que os empregadores só
contratassem trabalhadores e despedissem os árabes. “Avodá ívrít” (trabalho para os judeus)
é o lema da Histadrut.
Apesar de o financiamento de Israel ser um elemento revelador da natureza desse Estado,
nenhuma das correntes sionistas tem vergonha de reconhecer que desde o início foi
financiado pelos EUA e os poderosos lobbies de milionários judeus. Já nos primeiros anos
de sua fundação, entre 1949 e 1966, Israel recebeu sete bilhões de dólares. Para avaliar o
significado dessa cifra, basta recordar que o Plano Marshall, feito para a Europa Ocidental
de 1949 a 1954, chegou a 13 bilhões de dólares. Israel, na época com pouco menos de dois
milhões de habitantes, recebeu mais da metade do que receberam 200 milhões de europeus.
Em outras palavras, Israel recebeu do imperialismo norte-americano cinco vezes mais por
cabeça que o ambicioso plano de reconstrução européia. Uma cifra que define com certa
clareza a natureza do Estado israelense é que já nos anos 70-80 o total da ajuda norteamericana – sem contar a ajuda da “Diáspora” ou dos empréstimos - representava mil
dólares por habitante/ano, o que por si só equivalia a mais de três vezes o Produto Interno
Bruto por habitante do Egito e da maioria dos países africanos. É conhecido que os EUA
entregam a Israel uma ajuda direta no valor de 5 bilhões de dólares por ano.
A ajuda incondicional e ilimitada recebida nestes 57 anos de existência é o preço pelo
serviço que o Estado sionista presta, é o custo para que esse Estado garanta e desenvolva
sem travas sua função essencial: levar judeus para a Palestina a qualquer preço; expulsar os
árabes da Palestina; desempenhar o papel de “bastião adiantado da civilização ocidental”.
As correntes que governam Israel estão de acordo na estratégia imperialista. As correntes
sionistas têm em comum uma compreensão e uma estratégia para os palestinos que estão
resumidas nas palavras de Edward W. Said: “o sionismo sempre quis mais terra e menos
árabes: desde Ben-Gurion a Sharon, passando por Rabin, Shamir, Netanyahu, e Barak, há
60
uma continuidade ideológica ininterrupta na qual o povo palestino é visto como uma
ausência desejada pela qual se combate”.55
As correntes sionistas, ao dizer que os judeus têm todos os direitos à “terra de Israel”,
dizem implicitamente que qualquer não judeu que esteja aí não possui qualquer direito. Até
Shimon Peres, que às vezes parece falar uma linguagem humana, nunca se deixa levar a
ponto de considerar os palestinos sequer como merecedores de um tratamento como iguais.
Os judeus devem seguir sendo uma maioria, possuir toda a terra, definir as leis tanto para
judeus como para os não judeus, garantir a imigração e a repatriação somente para judeus.
As definições da corrente originada nos “revisionistas” de Vladimir Jabotinsky admiradora
de Mussolini e Hitler, que teve continuidade no Likud de Begin, Netanyahu e Sharon foram
e são mais diretas nessa direção. O livro The Iron Wall, de Lenni Brenner, cita o
pensamento racista e fascista desse sionista: “É impossível que alguém se assimile a
pessoas que tenham sangue distinto ao seu. Para se assimilar, tem que mudar seu corpo, tem
de converter-se em um deles no sangue. Não pode haver assimilação. Nunca haveremos de
permitir coisas como o matrimônio misto porque a preservação da integridade nacional
somente é possível mediante a pureza racial e para isso haveremos de ter esse território em
que nosso povo constituirá os habitantes racialmente puros.”
Assim como os afrikaaners da África do Sul, esses racistas consideram os palestinos como
seres humanos inferiores, um não povo; por isso, seus seguidores nas colônias em
territórios palestinos ainda hoje repetem esse discurso: “não se pode chamá-los de povo”. O
slogan do sionismo era: "uma terra sem povo para um povo sem terra". Em 1973, Golda
Meir teria afirmado: "Os palestinos? Isto não existe". Era, no máximo, um problema
ecológico do qual era necessário se livrar, à semelhança dos mangues do Vale do Jordão,
dos mosquitos ou da malária. "Fazer florescer o deserto": outro mito. Aquele de um país
árido e desértico que só o sionismo era capaz de valorizar, desprezando os campos de
oliveiras, da cultura em terraços, das figueiras.
De 1948 a 1967, e particularmente após a depuração étnica de 1948 onde mais de 700.000
palestinos foram rechaçados para fora das fronteiras do Estado Judeu, essa negação total do
outro se fortaleceu. A minoria palestina que permanecerá no Estado Judeu representa então
menos de 5% da população do país e vive, até 1965, confinada em verdadeiras reservas, sob
o controle de um governo militar que a trata não apenas como um quinta-coluna, mas
sobretudo como um acidente de percurso, um erro num Estado que se pretendia
étnicamente puro.
Limpeza Étnica
Os dois antecessores de Sharon, Menachem Begin e Ytzhak Shamir, tinham uma trajetória
que colocava na prática essa concepção em relação à “questão palestina”. Em 1988, Shamir
dizia sobre a Intifada: “Temos de criar a barreira e conseguir que os árabes dessas zonas
voltem a ter medo da morte”. Os trabalhistas, apesar da retórica diferente do Likud, têm a
mesma estratégia: a prática é o critério da verdade. Os dados sobre a ocupação de territórios
durante os últimos anos mostram a mesma política, apenas com ênfases e discursos às
vezes distintos.
55
SAÏD, Edward. Palestina: temos que abrir a segunda frente, publicado em Rebelión, 15 de abril de 2001,
traduzido de Al-Ahram Weekly On-line.
61
Moshe Dayan, ministro da Defesa do governo trabalhista em 1967, declarava: “Somos uma
geração de colonizadores e sem os capacetes de aço e o canhão não sabemos plantar uma
árvore.ou construir uma casa. Não retrocederemos ante o ódio de centenas de milhares de
árabes em torno a nós, não desviaremos nossas cabeças para que nossas mãos não tremam
de medo. Este é o destino de nossa geração. Estar preparados e armados”.56 Rabin, que
depois ganhou o Nobel da Paz, era ministro da Defesa de Shamir em 1988 e tinha como
política para enfrentar a primeira Intifada, segundo o insuspeito Jerusalem Post: “a
prioridade absoluta é o uso da violência, o emprego da força, as surras...Consideram isso
mais eficaz que as prisões (porque) depois destas podem voltar a atirar pedras nos soldados.
Porém, se as tropas quebram suas mãos, já não podem reincidir”.57
O último governo de maioria trabalhista, o de Ehud Barak, foi o maior instalador de
colônias desde 1992 nos territórios de Gaza e Cisjordânia ocupados em 1967. Um artigo de
Nadav Shragai no Haaretz de 27de fevereiro de 2001: “O governo começou a construção
de 1943 unidades habitacionais nos territórios ano passado – o maior número desde 1992,
de acordo aos dados apresentados pelo parlamentar Mussi Raz (Meretz)”.
Por isso não deveria surpreender tanto que o “pomba” Shimon Peres pudesse aceitar ser
parte de um governo Sharon. A organização israelense Gush Shalom, que luta pela retirada
das colônias nos territórios ocupados através do boicote aos seus produtos, publicou no
jornal Haaretz de 16 de fevereiro de 2001: “Dias atrás o Partido Trabalhista declarou que
Sharon iria causar um banho de sangue e a guerra. Agora os líderes trabalhistas correm para
integrar o governo Sharon prontos para fornecer o álibi que ele necessita para o banho de
sangue e a guerra”.
A resposta à pergunta sobre o que leva correntes aparentemente adversárias como Likud e
Trabalhistas a formarem governos de ‘unidade’ está no acordo estratégico sobre a natureza
do estado colonizador que leva a uma aliança histórica entre essas correntes, apesar das
diferenças táticas. Por exemplo, levou a que se dividissem sobre a aceitação da partilha da
Palestina de 1947, mas não em relação ao que fazer com os árabes residentes. O
pensamento de Ben Gurion, Dayan, Rabin, Peres, Barak tem na matriz a idéia chave de um
estado judeu e de que é necessário construir as bases para isso às custas da expulsão da
população árabe. Todas as negociações de paz são para assegurar esse marco e buscar que
os palestinos aceitem viver nos guetos que lhes foram reservados.
A Palestina histórica tem uma extensão de 27.242 km², Israel ocupa já mais de 22.000 km²,
ou seja, mais de 80% do território. A conquista de território por parte do exército israelita
foi acompanhada pelo assentamento de colonos judeus. Já no primeiro ano de vigência dos
acordos de paz de Oslo, Israel confiscou 670 km² de terrenos palestinos para ampliar as
colônias e abrir novas estradas entre elas, depredando, de passagem, mais de 14 mil árvores
frutíferas. Nesse mesmo período, o número de colonos na Cisjordânia (sem contar
Jerusalém) passou de 125 mil para 136 mil. Em dez anos de negociações de paz, o número
de colonos judeus mais que duplicou.
Alguns buscam no Likud ou nos “extremistas judeus” a razão pela qual a expansão dos
assentamentos judeus continua, e se apóiam no fato, correto, de que surgiram em
determinados momentos tensões entre colonos e o governo sionista de turno. Mas esse fato
56
ROTSCHILD, Jon. How the arabs were driven out of Palestine, Intercontinental Press, nº 38, New York,
1973.
57
The New York Times, 21 de janeiro de 1988.
62
não absolve o Estado, nem o exime de forma alguma dessa política expansionista, e
tampouco disfarça o fato irrefutável de que a expansão continuou, tanto sob governos do
Likud como do Partido Trabalhista. Shimon Peres afirmava, já em 1995, que os colonos
não eram um obstáculo para a paz; que poderiam ficar na Cisjordânia e na Faixa de Gaza
depois do fim do processo de paz.58
Basta ver as facilidades para a colonização, indicando que não há nenhum plano real de
descolonização e nisso existe acordo entre os Trabalhistas e o Likud. Para ver o papel do
Estado baste dizer que em Hebrón, para proteger 350 colonos situados no próprio centro da
cidade, há 700 soldados; na Faixa de Gaza, no enclave de Netzarum, havia um batalhão
inteiro para custodiar 53 famílias judias. Jerusalém concentra, por diversas razões, boa
parte do conflito, e não por casualidade foi o cenário da explosão da nova Intifada. Os
defensores dos planos de paz e da “solução dos dois Estados” deveriam prestar especial
atenção ao processo de Jerusalém.
É com base na teoria da convivência dos dois Estados que Jerusalém foi dividida
artificialmente em duas partes em 1948, por resolução da ONU. A parte ocidental, ocupada
por Israel, estava povoada em sua maioria por árabes. 60 mil palestinos dos bairros
ocidentais de Jerusalém e dos povos vizinhos tiveram de abandonar, por terror, suas casas.
Em 22 de junho de 1967, Israel anexou militarmente a parte oriental, que estava sob
controle jordaniano. Durante as décadas de 60 e 70, Israel expande a presença judia
mediante a expropriação de propriedades árabes. Durante a década de 80, colonos judeus
vinculados aos setores mais fascistas, com o apoio do Ministério da Moradia, então dirigido
por Ariel Sharon, se instalam no bairro árabe do centro da cidade, nas proximidades de
Haram al Sharif.
O“processo de paz” iniciado em Oslo em 1993, concluiu no Acordo de Washington,
assinado pela OLP, consagrou o abandono da aspiração histórica das massas palestinas. Os
signatários, com o conjunto das potências imperialistas, num apelo ao "retorno ao processo
de paz", engajaram definitivamente a via da frustração das reivindicações nacionais
palestinas. O acordo de Washington foi assinado a 13 de setembro de 1993 por Arafat e
Rabin, sob a égide do imperialisme norte-americano. Na sua primeira cláusula se estipula o
reconhecimento pela OLP do "direito do Estado de Israel de viver em paz e na segurança".
E ainda: "A OLP aceita as resoluções 242 e 338 da ONU (...) A OLP renuncia ao recurso ao
terrorismo e a qualquer outro ato de violência (...) A OLP afirma que os artigos e pontos da
Carta Palestina que negam o direito de Israel a existir são doravante inoperantes e não
válidos". O acordo também previa que correspondia à OLP e aos “notáveis” palestinos a
gestão et controle dos palestinos que habitassem Gaza e Cisjordânia (que representavam só
22% do território histórico da Palestina).
A OLP se comprometia a constituir um "Estado" (embora o termo não fosse empregado no
texto do acordo) correspondente às aglomerações e campos palestinos de esses territórios:
ainda assim a proclamação desse "Estado" foi adiada quatro vezes por injunção dos EUA.
No precioso tempo assim ganho, Israel aproveitaria para levar sua expansão territorial, em
extensão e densidade, mais longe do que nunca antes. Durante os últimos governos
trabalhistas e do Likud, foi criado o projeto da Grande Jerusalém reservada apenas para os
judeus. Entre 1996 e 1999, somaram-se a essa expansão 42 colônias “selvagens”. E em 21
de junho de 1998, o governo israelense dá o aval formal ao plano da Grande Jerusalém com
algumas medidas, entre otras, a que retirava as permissões de residência aos árabes que
58
Entrevista a Der Spiegel, Bonn, 5 de março de 1995.
63
figurassem no censo da Autoridade Nacional Palestina ou tivessem casa nos territórios
administrados pela ANP.
O plano se baseou no objetivo declarado de manter um equilíbrio demográfico de sete
judeus por cada três palestinos, em ir isolando a cidade do restante da Palestina,
impossibilitando o crescimento dos bairros árabes e estabelecendo assim uma área de
expansão populacional judia na Cisjordânia. Mediante a anexação de terras, expropriações
ilegais de municípios próximos a Jerusalém (Ramallah, Belém, Beir Sahur) foi sendo criado
um sistema de dois anéis concêntricos de assentamentos judeus que rodeiam Jerusalém por
completo. Como disse o prefeito palestino de Hebrón, “não querem viver a nosso lado, mas
em nosso lugar”.59
59
AVISHAI, Ehrlich. Palestine, global politics and Israel judaism. In: Leo Panitch e Colin Leys (Ed.).
Socialist Register. Kolkata, Merlin Press/Bagchi & Company, 2003.
64
5. OS EUA E A GUERRA CONTRA O IRAQUE
A guerra contra o Iraque teve lugar num marco histórico preciso, o da crise histórica do
regime de dominação social do capitalismo, que se manifesta na transformação das crises
financeiras em bancarrotas capitalistas e falência dos regimes políticos, e a tendência
internacional dos explorados a protagonizar greves, manifestações de massa, piquetes e
rebeliões populares. É neste quadro histórico que o capitalismo busca uma saída por meio
da guerra e da submissão efetiva e real das nações atrasadas e das massas dos desaparecidos
blocos “socialistas”.
A invasão no Iraque – como antes a dos Bálcãs e do Afeganistão – mostrou a tendência
geral do imperialismo de resolver a crise mundial pela via das guerras. Este caminho
desenvolve um aprofundamento das contradições do imperialismo norte-americano e das
burguesias européia e japonesa, assim como as convulsões e crises crescentes para as
burocracias restauracionistas chinesa e russa. A guerra contra o Iraque é apenas uma das
muitas e extraordinárias manifestações da crise histórica do capitalismo.
A situação mundial, no entanto, revelou novas fendas profundas na política mundial dos
EUA. A ocupação do Iraque mostrou-se muito mais perigosa e cara do que o previsto pelo
imperialismo. Diariamente, as tropas norte-americanas foram e são objeto de uma quinzena
de ataques guerrilheiros e sofrem, em média, três baixas a cada dois dias. “Bagdá e
vizinhança apresentam uma imagem de caos e desordem, com os soldados norteamericanos apenas capazes de controlar as principais ruas”, dizem os jornais. Mas os
soldados norte-americanos não se sentem seguros nem em suas próprias bases (porque) a
guerrilha está escapando cada vez mais do controle norte-americano. Os operativos “antisubversivos”, cada vez mais duros e violentos, ao atacar populações inteiras e deter
centenas de pessoas semeiam um ódio maior contra os ocupantes.
As manifestações xiitas, de milhares de pessoas, reclamaram regularmente a saída dos
ocupantes. Os ocupantes passaram a temer uma Intifada xiita. Os serviços públicos
essenciais seguem sem serem repostos. A economia está paralisada e o desemprego atinge
60% da população. Sob a pressão da guerrilha e da hostilidade da população, as tropas de
ocupação encontram-se “stressadas e descontentes”. O Pentágono sancionou dois soldados
que publicamente, em uma reportagem de TV, reclamaram a renúncia de Rumsfeld. Na
imprensa imperialista manifesta-se uma crescente preocupação pela “baixa moral” das
tropas ocupantes. O imperialismo norte-americano não lançou a guerra para liquidar os
supostos arsenais de armas de destruição massiva iraquianos; muito menos para “libertar” o
povo iraquiano da ditadura de Saddam.
A guerra contra o Iraque foi um episódio de uma larga escalada militar – que começou com
as guerras de Kosovo e do Afeganistão, com a expansão da Otan até as fronteiras da Rússia
e da China e com os acordos militares estabelecidos com as burocracias das ex-repúblicas
soviéticas do Cáucaso e Afeganistão, Japão, Coréia e Taiwan – e que continuará com novas
guerras de opressão e conquista. O objetivo desta escalada é produzir uma completa
reestruturação das relações entre os Estados e as classes no plano mundial que permita ao
imperialismo impor a aplicação dos selvagens planos que são o último recurso para o
resgate do capital, depois do sistemático fracasso das saídas ‘econômicas’ da crise que se
arrasta há mais de trinta anos.
O que esteve e está em jogo nesta guerra vai desde o petróleo iraquiano até a destruição dos
sistemas de seguridade sociais e as conquistas sociais da classe operária nas metrópoles, a
subsistência das burguesias nacionais dos países atrasados e, inclusive, a própria existência
65
da União Européia. A divisão imperialista que levou os Estados Unidos a atuarem sem o
respaldo das Nações Unidas, a “anulação” do Conselho de Segurança, revela que a crise
mundial não pode ser resolvida no quadro das relações internacionais existentes.
O atentado que destruiu a sede da ONU em Bagdá terminou de confirmar que os Estados
Unidos não controlavam o Iraque. Para a imprensa norte-americana, “o Iraque está fora de
controle”. Desde a queda de Bagdá, a resistência iraquiana passou dos golpes de mão e
ataques isolados a ações múltiplas e coordenadas contra as tropas de ocupação; logo tomou
como alvos a infraestrutura econômica: os oleodutos (a explosão do duto que une Iraque e
Turquia obrigou a suspender as exportações de petróleo) e as plantas produtoras de energia
elétrica. Dali passou a objetivos “políticos”, como a bomba na embaixada da Jordânia (um
aliado incondicional dos Estados Unidos) e à sede da ONU.
Os ocupantes responsabilizaram aos “nostálgicos de Saddam” pelos atentados. Mas, disse o
Financial Times, “há muito mais gente com razões para odiar a ocupação, e seu número
está crescendo”: os 40.000 homens licenciados do exército, com armas mas sem
pagamento; as principais tribos sunitas, que sempre governaram o Iraque; os radicais
islâmicos wahabitas (associados com a Arábia Saudita); os xiitas, que não aceitam voltar a
uma posição subordinada; os islâmicos de outros países que têm ido ao Iraque para lutar
contra os ocupantes. Inclusive foram realizados surpreendentes acordos táticos entre
facções sunitas e xiitas para enfrentar os norte-americanos.
A incapacidade para reconstruir o Estado iraquiano obedece a duas razões. A primeira, as
agudas divisões no seio do imperialismo, onde cada grupo “influente” respalda uma fração
iraquiana distinta. A segunda, a mais importante, é que a crise iraquiana está diretamente
relacionada com os das crises políticas mais explosivas da regiões: a do Irã e a da Arábia
Saudita. Para associar à ocupação aos xiitas, ligados por laços históricos e religiosos aos
xiitas iranianos, os Estados Unidos deveriam chegar a algum acordo político com o regime
dos ayatollahs iranianos. Isto não só significaria uma derrota política para Bush – já que um
dos objetivos da invasão era estabelecer uma ameaça direta contra o Irã – mas também
desestabilizaria imediatamente a monarquia saudita.
Palestina e a “Guerra Infinita”
A crise política da ocupação questionou toda a política norte-americana na região,
especialmente na Palestina. Com o atentado, tornaram-se públicas as agudas divergências
dentro do próprio imperialismo norte-americano acerca da ocupação. Donald Rumsfeld,
chefe político do Pentágono, chocou com seus generais ao afirmar que os Estados Unidos
não enviarão mais um só homem ao Iraque. Dos 155 batalhões de combate do exército
estadunidense, 98 se encontram empenhados em tarefas ativas fora dos Estados Unidos;
além disso, já se convocaram 136 mil membros da Guarda Nacional e das reservas. Com
estes números em mão, o conhecido historiador Paul Kennedy afirmou que o esforço
militar norte-americano no mundo é “impossível de se sustentar a longo prazo”.
O impasse da ocupação representou uma crise maior para a estratégia norte-americana. Para
superá-la, necessita esmagar a resistência e para isso, requer apoio político interno e
internacional. A formação do “Conselho Interino” iraquiano apontou nesta direção.
Também o chamado de Bush a outros países a “colaborar militar e financeiramente” no
Iraque. Este chamado não é uma opção desejável; é uma necessidade política e militar para
os norte-americanos.
66
Rosemary Hollis, do britânico Royal Institute of International Affairs, confirmou: “a OTAN
não pode socorrer aos norte-americanos. Tem somente 80.000 homens, dos quais 37.000 já
estão empenhados no Afeganistão, nos Bálcãs, Serra Leoa e outros lugares. A única
resposta são as Nações Unidas. Conclusão: os norte-americanos não têm outro modo de sair
da ratoeira do Iraque senão aceitando se transforme em uma operação da ONU”. Tudo isso
explica as crescentes exigências de uma “maior intervenção das Nações Unidas no Iraque”.
Mas esse apoio tem seu preço: a repartição dos negócios petrolíferos e de reconstrução do
Iraque, até agora monopolizado pelos norte-americanos.
Por isso, o "regresso à ONU" entrou em violenta contradição com a política de toda uma
ala do imperialismo norte-americano, que viu na invasão do Iraque a oportunidade de
golpear as potências européias e as "organizações internacionais". Outro fator que pressiona
para a intervenção da ONU: a posição dos grandes monopólios petrolíferos, que advertiram
as autoridades norte-americanas que não realizarão investimentos enquanto a situação em
relação à segurança continue tão perigosa. Funcionários norte-americanos de alto escalão se
entrevistaram com os chefes das principais petrolíferas para incentivá-las a investir no
Iraque, obtendo em todos os casos a mesma resposta: sua preocupação com a falta de
segurança e de legitimidade política, dado que a autoridade transitória apoiada pelos
Estados Unidos tem muito pouca representatividade. O presidente da Shell declarou
publicamente que "deve haver uma autoridade legítima e um processo legítimo adequado,
capazes de negociar acordos que durem décadas".
Inclusive companhias norte-americanas como a Exxon-Mobil e a Chevron-Texaco
decidiram não investir no Iraque. As contradições enfrentadas pela ocupação militar norteamericana no Iraque são, objetivamente, explosivas. Para Bush, o controle do petróleo
iraquiano seria um mero subproduto de uma transformação regional muito mais vasta: o
estabelecimento de novas formas políticas e “um novo sistema econômico desde o norte da
África ao Afeganistão e Paquistão". Para o dizer nas palavras que popularizaram o então
vice-presidente norte-americano, Dick Cheney, um dos "cérebros" da guerra, um dos
objetivos políticos essenciais da guerra contra o Iraque é "refazer o mapa político do
Oriente Médio". A região que circunda o Iraque verá as mais dramáticas mudanças desde a
queda do Império Otomano e o acordo Sykes-Picot, que criou o moderno Oriente Médio.
Mas a situação no Oriente Médio também se encaminhava para uma grave crise. Com
poucos dias de diferença, os primeiros ministros de Israel e da Autoridade Palestina foram
recebidos na Casa Branca para discutir a marcha do “Mapa da Estrada”. Longe dos flashes
e das câmeras de televisão, outros homens são os encarregados de pôr em prática, sobre o
terreno, o plano imperialista para o Oriente Médio. Do lado palestino, um desses homens é
Mohamed Dahlan, Ministro de Interior e Segurança. Para essa tarefa, Dahlan recebeu
poderes excepcionais de Abu Mazen, mas principalmente da Casa Branca, que depositou
nele toda sua confiança para que pacifique os territórios palestinos.
Com esses "avais", Dahlan se lançou em uma "guerra secreta" contra as organizações
populares palestinas: fechou emissoras de radio, censurou a imprensa escrita e lançou uma
campanha de "branqueamento" das paredes pichadas com as inscrições contrárias a Israel,
ao “Mapa da Estrada” e ao governo palestino. Outro dos homens chaves para a aplicação do
“Mapa da Estrada” por parte dos palestinos é Marwan Barghouti, assinalado como o chefe
das brigadas militares de Al Fatah e como o "cérebro militar" da Intifada, e que se encontra
detido em Israel há quinze meses. Barghouti apoiou a “Mapa da Estrada” porque, afirmou,
"o que tem de bom é que propõe terminar a ocupação e constituir um Estado palestino".
67
Que "Estado Palestino" daria à luz o “Mapa da Estrada”? Sharon reafirmou:
"compreendemos a importância da contigüidade territorial na Cisjordânia para (a existência
de) um Estado palestino viável". Mas a contigüidade significa que o futuro "Estado
palestino" estará constituído por uma somatória de retalhos territoriais, cortados e
controlados pelo Exército israelense, rodeado de assentamentos sionistas, localizados entre
as zonas "contíguas" palestinas. O que seria então o "Estado palestino"? Apenas um
conjunto de cantões, entrecortados por estradas controladas pelo exército israelense e
sitiados pelas colônias sionistas e os estabelecimentos militares que as protegem; em outras
palavras, um conjunto de guetos militarmente controlados por Israel.
A sistemática campanha de massacres nos campos de refugiados, lançada pelo governo
sionista, foi parte integral da "solução final" da questão palestina que preparavam Bush e
Sharon.60 Segundo Hasan Abunimah, representante da Jordânia na ONU, o que Sharon
chama "um Estado palestino viável" não seria mais que "um acordo em que se dá aos
palestinos um direito limitado ao auto-governo dentro da Grande Israel, mas sem direitos
civis ou políticos estatais". À força de "fatos consumados", como a muralha, os
assentamentos, a destruição de moradias e plantações, o monopólio das fontes de água e o
êxodo contínuo da população palestina, a chamada "solução de dois Estados", um
israelense e outro palestino, parece crescentemente insustentável.
Tampouco foi congelada a construção de assentamentos sionistas nos territórios ocupados.
À retirada de algumas colônias isoladas, segue a construção de outras novas, porém sem
publicidade. Como conseqüência o número total de assentamentos sionistas nos territórios
palestinos continuou crescendo desde que Bush anunciou o “Mapa da Estrada”. Para a
construção da muralha ilegal, que separaria os assentamentos da população palestina, Israel
anexou vastas zonas da Cisjordânia. Do lado "israelense" da muralha, ficaram dezenas de
assentamentos (de fato anexados a Israel) e dezenas de aldeias e povos palestinos, que
foram separados à força dos Territórios. Em Washington, Sharon anunciou que Israel
continuará a construção da muralha. Nem o “Mapa da Estrada” nem a trégua unilateral
resolveram a principal reivindicação imediata palestina: a liberação dos 6500 presos
60
Escrevendo em abril de 2002, a jornalista Denise Mendez descreveu: “Desde hace 3 semanas el ejercito
mas moderno y mas sofisticado del mundo ha lanzado sus helicopteros, tanques, aviones y cuerpos de
infanteria contra un pueblo desarmado. A pesar de haber prohibido la entrada de periodistas al territorio de
guerra (lo mismo que la prohibición de observadores de la Cruz Roja, de la ONU) el mundo ha visto el
avance de los carros armados que aplastan todos los obstáculos incluyendo carros y casas con sus ocupantes
, la destrucción sistemática de todos los edificios de la administración palestina , la sede de la Autoridad , la
radio, la televisión, el corte del suministro de agua y de energía eléctrica. El mundo ha visto los arrestos y la
humillaciones de los presos arrodillados, desnudados y marcados con numero, el desangramiento de los
heridos por prohibición de intervención de la Cruz Roja. El mundo ha visto el patio del hospital de Ramallah
donde se tuvo que cavar una fosa común para enterrar a los muertos por prohibición de llevarlos al
cementerio. El mundo ha visto Jenin reducida a escombros por obra de los misiles y de los tanques , Jenin la
más castigada porque su población siguió a pesar de una semana de bombardeos, resistiendo al invasor calle
por calle y casa por casa. Todo el mundo se indigna ; hay manifestaciones de protesta en todas partes... Pero
Sharon no se deja impresionar, al contrario contesta con mucha soberbia "tsahal se retirarà de Cisjordania
cuando haya terminado su tarea , o sea cuando haya extirpado el terrorismo”. (...) El crimen de Palestina
sirve de prueba experimental. Se trata de realizar en vivo lo que se experimenta con los filmes-catástrofe,
para que la gente se vaya vacunando de la violencia con la violencia. Si el mundo entero aprende a ver
semejante escenas de horror que ninguna autoridad internacional puede parar, se va a dividir entre los que
se callan por miedo y los que siguen resistiendo. Pero, dado que la lucha de Sharon es una lucha contra el
terrorismo, y como la lucha de Bush un combate del bien contra el mal , en fin de cuenta, los que seguirán
criticando la violencia anti-terrorista son, por deducción, necesariamente unos terroristas y con toda
legitimidad deberán ser eliminados”.
68
políticos palestinos, muitos deles sem processo nem acusação alguma, detidos durante as
"operações" realizadas pelo Exército sionista nos territórios nos últimos três anos. Israel
anunciou a liberação de apenas 500 detidos, sem nenhum compromisso em relação aos
6.000 restantes.
O “Mapa da Estrada” criou uma situação insustentável na Palestina: a opressão e ocupação
das tropas sionistas em uma parte substancial dos territórios ocupados, a construção do
muro, a continuidade dos assentamentos e a retenção dos presos, soma-se à própria
repressão da Autoridade Palestina sobre as organizações populares. Segundo o Financial
Times "se Bush não fizer nada para frear Sharon e o profundamente impopular governo de
Abu Mazen, é apenas uma questão de tempo antes que a situação exploda em una nova e
sustentada onda de violência".
O “Estado” Palestino
O “Estado” palestino, nessas condições, seria o da miséria palestina: independentemente da
retórica, na hipótese de que se reconhecessem os dois Estados, a verdade é que só um
cinismo sem limites permitiria chamar “Estado Palestino” aqueles guetos de miséria
cercados por colonos e militares sionistas, com franca supremacia econômica, política e
militar. O expansionismo sionista vai associado a dois fatos inseparáveis da vida palestina:
a diáspora de quase quatro milhões de palestinos, de uma população total que não chega a
oito milhões, e a miséria mais completa dos quase três milhões de palestinos que vivem na
Faixa de Gaza e na Cisjordânia.
A expansão sionista arruinou a agricultura palestina. Mediante o confisco de terras, a
imposição de quotas para as exportações ao mercado israelense, o controle de importação
de ferramentas agrícolas ou o envio, a preços muito competitivos, do excedente agrícola
israelense aos territórios ocupados, acabou se reduzindo a extensão dos cultivos, limitando
o número de peões nas granjas e empurrando os habitantes de várias aldeias para o mercado
de trabalho israelense. Nesse plano, não faltou a proibição aos agricultores palestinos de
exportar produtos agrícolas para a Jordânia; zonas inteiras de oliveiras e árvores frutíferas
foram destruídas.
Uma arma poderosa em mãos dos militares sionistas é a água. Os recursos hidráulicos,
devido à escassez, se tornaram um dos recursos estratégicos no Oriente Médio, e por isso
zonas como as Colinas de Golã foram fonte constante de disputa. Durante anos as ordens
militares sionistas incluíram a destruição de poços de água palestinos, a proibição de que
cavassem a mais de 120 metros de profundidade (os colonos sionistas tinham autorização
para cavar até 800 metros de profundidade), a expropriação de poços de proprietários
“ausentes” etc.
Desde 1982, todo o sistema hidráulico está sob administração da “Rede Nacional
Israelense”. Os habitantes palestinos de Gaza e Cisjordânia dispõem de 115 milhões de
metros cúbicos de água por ano, o que representa 19% dos recursos de seu país. A
economia israelense e os assentamentos judeus dispõem de 485 milhões de metros cúbicos.
Em termos de infra-estrutura, só 2% das localidades da Cisjordânia têm rede de esgotos;
apenas 21% dos habitantes conta com sistema de coleta de lixo; apenas 44% das
localidades cisjordanas dispõem de fornecimento permanente de energia elétrica e apenas
20% dos habitantes estão conectados à rede telefônica.
Em um estudo realizado no início dos anos 1990, em uma situação “melhor” que a atual, os
dados em matéria de saúde eram relevantes. Dos 830 milhões de dólares de impostos nos
69
territórios ocupados recolhidos pelas autoridades militares israelenses, somente 300 foram
invertidos em projetos de saúde, educação e assistência social. Nesse período, os gastos da
administração civil em matéria de saúde pública passaram de 40 a 18,3 dólares per capita,
enquanto que na Jordânia a cobertura era de 140 dólares e em Israel chegava a 370 dólares
per capita. Portanto, não é de estranhar a falta de camas e medicamentos nos hospitais
palestinos. Carentes de recursos 500 escolas, oito universidades e mais 11 mil empregados
do setor educativo nos Territórios Ocupados padecem sem o menor financiamento.
A economia palestina vive em fase de completa pauperização, sobretudo desde 1967,
quando as autoridades jordanianas terminaram de descapitalizar toda a margem oriental
para favorecer a industrialização da antiga Transjordânia. O papel da economia palestina na
“divisão do trabalho” está determinada pelos projetos do ocupante. Assim, em um informe
de 1970 do Ministério de Defesa israelense se afirma: “por um lado, os territórios ocupados
constituem um mercado suplementar para as exportações israelenses e as empresas
pertencentes ao setor terciário e, por outro, é provável que acabem convertendo-se em um
canteiro de mão de obra não qualificada”. Já em 1987, mais de 92% das importações de
Gaza e Cisjordânia procediam de Israel.
Como cifra comparativa, tem-se que 1992-1993 o PIB de Israel subia para 63 bilhões de
dólares, o da Jordânia a quatro bilhões e o dos Territórios Ocupados foi de 2,2 bilhões de
dólares (3% do PIB israelense!), sendo que um terço desses ingressos procede da mão de
obra empregada em Israel, dos 600 mil palestinos que dependem do mercado de trabalho
israelense. O fechamento dos territórios decretado pelo governo israelense só aumentou a
asfixia desse quadro de pauperização. As taxas de desemprego dispararam de 23 para 50%
da população ativa, e se calcula que nos últimos anos o poder aquisitivo da população de
Gaza e Cisjordânia caiu 46%.
Como se fosse pouco, os acordos de paz obrigam a Autoridade Nacional Palestina a “uma
mesma política de importação” que Israel, deixando-lhe como “margem” importar
determinados produtos de países árabes, em quantidades limitadas e a preços acertados
previamente com Israel. Cabe então perguntar qual é a viabilidade de um Estado sem
recursos hidráulicos, sem indústrias, com a agricultura destruída, sem infra-estrutura de
moradia, saneamento, educação ou transporte, e sem independência, sequer formal, para
estabelecer relações comerciais exteriores? Em tais condições de coexistência entre os dois
Estados, o chamado “Estado Palestino” não seria mais que a administração de um gueto,
gerente de um bantustão, cujos ínfimos recursos econômicos dependeriam da “a ajuda
exterior”, essa que chega a conta-gotas, dependendo do quanto o doador goste das medidas
adotadas.61
Já em 1988, o ex-subsecretário de Estado George Ball (administrações de Kennedy e
Johnson) em seu artigo A paz de Israel depende de um estado-apêndice dos palestinos
afirmava: “A preocupação de Israel por segurança poderia ser satisfeita em boa medida
redigindo um tratado formal com salvaguardas vinculadas e executáveis que impeçam o
novo estado palestino ter qualquer força armada própria e limitem o número e tipo de armas
que pode usar sua polícia. Como salvaguarda adicional, o acordo poderia incluir a
61
INBARI, Pinhas. The Palestinians between Terrorism and Statehood. Brighton, Sussex Academic Press,
1996.
70
instalação de postos de vigilância mais amplos numerosos e efetivos que os que atualmente
funcionam no Sinai a partir do acordo de paz de Israel com o Egito”.62
A assinatura, em setembro de 1993, dos chamados Acordos de Oslo, negociados em
segredo entre o governo israelense e a direção de Arafat, esteve em sintonia com essa
proposta antiga dos funcionários do governo dos EUA. Mas esses acordos também devem
ser explicados pela mudança na estratégia palestina que teve início em dezembro 1988 com
a decisão da maioria do Congresso Nacional Palestino, dirigido por Arafat, de reconhecer o
Estado de Israel. Essa mudança punha no centro da estratégia palestina a negociação sobre
a base do reconhecimento de dois Estados.
Os Acordos de Oslo eram a máxima expressão dessa estratégia, e foram seguidos por uma
enorme difusão, que não poupou elogios e cumprimentos. A declaração mesma começava
com a solene afirmação dos assinantes de que havia “chegado o momento de pôr fim a
décadas de confrontações e conflitos, de reconhecer reciprocamente seus direitos legítimos
e políticos, de esforçar-se por viver em coexistência pacífica, a dignidade a segurança
mútua”. Os direitos legítimos e a dignidade para os palestinos se resumiram em uma
“autonomia” carente de recursos próprios, guetos de miséria cercados pelas FFAA
israelenses. Em troca, a direção de Arafat renunciou não só à autodeterminação, como
também a Jerusalém e aos direitos dos refugiados, ou seja, aos direitos de 55% da
população palestina.
Mas além de fracionar a negociação (o tema do regresso dos refugiados ficava de fora),
Arafat se empenhou em fracionar a resistência palestina. Edward Saïd definiu os Acordos
de Oslo como um “instrumento de submissão”, como a “capitulação”: “Israel obteve dos
árabes a aceitação, o reconhecimento e a legitimidade, sem ser obrigado a renunciar à
soberania sobre os territórios árabes ocupados, entre eles, Jerusalém Oriental”. Os acordos
estão em sintonia com a manutenção de Israel enquanto Estado sionista. Se impôs, com a
assinatura de Yasser Arafat, a visão racista e teocrática, que repete soluções anteriormente
impostas pelo imperialismo em suas colônias nos séculos XIX e XX.
Uma definição dada por Edward Said ilustra esses antecedentes e permitiu dar um marco
histórico às negociações sobre a região: “Os acordos de autonomia com os quais os
palestinos (excluímos os quatro milhões de refugiados cuja sorte foi jogada para a nebulosa
situação do ‘estatuto final’) tem que conviver são uma curiosa amálgama de três ‘soluções’,
historicamente descartadas, e idealizadas por colonizadores brancos para o problema dos
povos antigos da África e Américas do século XIX. Uma delas se baseava na idéia de que
os nativos podiam ser convertidos em irrelevantes seres exóticos privados de suas terras e
mantidos em tais condições de vida que lhes reduzissem a ser trabalhadores braçais
temporários ou agricultores pré-modernos. Este é o modelo índio-americano”.
E continuava Said: “A segunda (solução) consistia na divisão de suas terras (reservas) em
cantões descontínuos, e no estabelecimento de uma política de apartheid que dava
privilégios especiais aos colonos brancos (hoje os israelenses), enquanto se permitia aos
nativos viver em seus guetos miseráveis; assim, estes eram responsáveis dos assuntos
municipais sem deixar de estar submetidos ao controle do branco (de novo Israel). Este é o
modelo sul-africano. Finalmente, a necessidade de que estas medidas gozassem de certo
grau de aceitação requeria que um ‘chefe’ nativo assinasse na parte inferior da página. Este
chefe obtinha temporariamente um estatuto mais elevado do que aquele que dispunha antes,
62
Los Angeles Times, 10 de janeiro de 1988.
71
recebia apoio dos brancos, um título, um par de privilégios, e talvez, uma força de polícia
nativa, de tal maneira que todo mundo pudesse apreciar sem dificuldade que se havia feito
o melhor para esse povo. Esse é o modelo seguido pelos franceses e britânicos na África do
século XIX. Arafat é o equivalente do século XX dos dirigentes africanos.”
O segredo oculto na virada para a “estratégia dos dois Estados” foi a política e a orientação
da direção de Arafat. É impossível entender a Intifada sem esse cerco de miséria, asfixia e
terror imposto pelo Estado sionista, mas é pertinente dizer que a Intifada também é um
protesto contra essa política, que legitima o sionismo enquanto condena o povo palestino à
fome e ao desemprego. Vejamos alguns argumentos da esquerda a favor dos dois Estados,
suposta solução pacifica. É um argumento dos que defendem a solução ‘realista’ afirmar
que Israel já é uma realidade após 50 anos de existência. A validade desse argumento seria
o mesmo que afirmar, anos atrás, que o apartheid sul-africano era uma “realidade” após
décadas e devia ser aceito pelos negros com algumas reformas. Tão progressista como
exigir aos libertadores da América que fossem realistas diante do fato evidente de mais de
três séculos de presença espanhola ou portuguesa na América Latina.
Sionismo de Esquerda
Uma corrente de esquerda que advoga pela solução dos dois Estados e a retomada das
negociações de paz é o Secretariado Unificado da Quarta Internacional (SU). Michel
Warshawski, dirigente de seu grupo israelense e especialista no tema, advoga por uma
‘verdadeira paz’ e a coexistência entre dois Estados, sob auspícios da ONU”. Segundo
Warshawski: “Para deter a loucura assassina em curso, é necessária uma intervenção
internacional, decidida a impor ao menos a retirada das forças militares israelenses e a
redefinição de um marco de negociações que possa por fim ao diktat israel-americano. Os
palestinos pedem uma proteção internacional e este chamamento deve ser retomado com
vigor pelo movimento de solidariedade que começa a se reorganizar em todo o mundo,
depois de sete anos de confusão mantida pelos acordos de paz.”.63
Ou ainda: “Uma força de interposição internacional seria, sem dúvida alguma, a solução
menos custosa. É o que pedem os palestinos. É também o que pode acelerar o reinicio das
negociações, que o governo de Barak, mais isolado que nunca e incapaz de tomar a menor
decisão, a não ser a de golpear, sabe inevitável. Neste sentido, uma intervenção
internacional não serviria somente para evitar o massacre dos palestinos, mas também para
limitar o número de vítimas do lado de Israel, que não vai parar de aumentar, como
confirma o último atentado de Gaza.”.64
Ou seja, diante da ofensiva, impossível de
ser derrotada por causa da desproporção
de forças, o “realista” e “revolucionário” é
apelar para a boa vontade de uma
intervenção internacional para, nada mais
nada menos, que impor a retirada das
tropas israelenses. Os SU adotou o hábito
de exigir a intervenção da ONU frente a
qualquer conflito que se dê no mundo
63
64
WARSHAWSKI, Michel. Crise palestino-israelienne. Rouge, Paris, outubro de 2000.
WARSHAWSKI, Michel, Bombes sur Gaza. Rouge, Paris, novembro de 2000.
72
(Bósnia, Kosovo, Timor, Chechênia). Curioso pacifismo este que encontra na exigência de
intervenções militares da chamada “comunidade internacional” a solução para todos os
problemas.
Esse antimilitarismo converte os exércitos da ONU nos instrumentos políticos de todas as
soluções. Uma política que chama as massas permanentemente a confiar em instituições
como a ONU, como se esta fosse neutra ou alheia a problema, como se a ONU ou os
exércitos que intervenham em seu nome estivessem acima dos grandes Estados, acima das
classes, como se não fossem serviçais do imperialismo, em particular do norte-americano.
Sem falar na completa impotência demonstrada pela ONU para impor soluções
“humanitárias”, quer seja em Kosovo, na Iugoslávia, no Oriente Médio ou em Haiti.
Para Warshawski, parece que “a comunidade internacional”, ou a ONU tivessem outra
política, qualitativamente diferente, sobre o conflito, distinta dos “planos de paz” que vêm
sendo aplicados. Como se junto com a intervenção militar da ONU chegassem os planos de
paz ‘verdadeiros’, nos quais seriam reconhecidas as legítimas reivindicações palestinas.
Não lembra que foi a ONU que repartiu a Palestina para permitir, primeiro, que se formasse
e depois desse legitimidade internacional ao Estado sionista? Não lembra que foi a ONU
que aprovou perseguir militarmente todos os que se levantaram em armas contra sua
resolução de repartir a Palestina? E não foi sob o auspício da ONU que se negociaram,
primeiro em segredo, depois se assinaram os vergonhosos Acordos de Oslo que tantos
sofrimentos trouxeram aos palestinos e contra os quais luta hoje a Intifada?.
Michel Warshawski sabe que dentre todas as organizações da esquerda mundial, só a IV
Internacional levantou, em 1948, sua voz contra a constituição do Estado de Israel. “Abaixo
a divisão da Palestina! Abaixo a intervenção imperialista na Palestina!, Fora do país todas
as tropas estrangeiras, os “mediadores” e “observadores” das Nações Unidas!”, dizia a
declaração da IV Internacional.65 Warshawski exige “uma força de interposição
internacional” que, se concretizada, obviamente estaria obrigada a se interpor entre o
exército israelense e os jovens palestinos que protagonizam a Intifada. E se os jovens
palestinos não aceitarem parar de atirar pedras, se negarem a ficar quietos à espera de novos
“Planos de Paz”? A solução proposta por Warshawski só é possível com a condição de
parar la Intifada, porque do contrário os jovens palestinos terão de enfrentar o exército
israelense e o da ONU.
Warshawski afirma que essa intervenção “é o que pedem os palestinos”. Deveria dizer, com
mais precisão, que isso é o que pedia Arafat. Não precisar isso é a forma de confundir a
defesa dos palestinos e sua Intifada com a defesa de Arafat e sua política. Arafat clamava
pela ONU, para negociar com Israel e para acabar uma Intifada que surgiu apesar dele e em
boa medida, contra ele. Propor como solução pedir a intervenção da ONU,
independentemente da vontade que acompanhe essa proposta, acaba se convertendo no
apoio à permanência do Estado de Israel, o apoio à política da direção da OLP é o oposto
ao apoio incondicional à Intifada.
É necessário retomar a defesa de uma República Palestina laica, democrática e não-racista.
A fortaleza do Estado de Israel, sua existência por mais de 50 anos, não se explica por seu
poderio militar, nem sequer contando com todo o arsenal norte-americano. Como em toda
guerra, é a política e não os meios técnicos militares o elemento determinante.
65
In: Quatrième Internationale, Paris, junho de 1948.
73
A virada da direção palestina, a que era dirigida por Arafat, e sua estratégia dos dois
Estados, é, acima de tudo, um triunfo do sionismo, porque “legitimou” o direito de existir
de um Estado sionista. A partir daí, qualquer negociação só poderia levar, mais cedo ou
mais tarde, ao retrocesso sistemático, ao gueto e a miséria. Como afirma Ralph Schoenman,
“na realidade, os supostos defensores dos direitos palestinos que exigem a aceitação e o
reconhecimento do Estado de Israel, seja como for que se disfarcem, estão atuando como
advogados do Estado colonial estabelecido na Palestina. Utilizam a cobertura pseudoesquerdista da autodeterminação para ‘ambos os povos’, mas essa sofisticada utilização do
princípio da autodeterminação, equivale a um chamamento encoberto a uma anistia a
Israel”.66
Esse giro estratégico da direção da Al Fatah teve e tem como destinatário o governo norteamericano e as burguesias européias. Trata-se de mostrar “sentido comum” e agradar os
possíveis doadores. A OLP defende uma política “integradora”, “não exclusiva”, de
“convivência entre árabes e judeus”, repetem reiteradamente os defensores do giro
estratégico. Até nesse aspecto tão crucial de toda luta, como a batalha ideológica, o giro
parece um certo reconhecimento tácito dos reiterados e reacionários tópicos que o sionismo
sempre agitou: “os palestinos querem acabar com os judeus”, “querem atirá-los ao mar” ,
“acabar com o Estado de Israel é anti-semitismo, perseguição aos judeus”.
A luta por um estado palestino democrático e laico em todo o território do mandato
britânico foi colocada por militantes antiimperialistas palestinos (árabes e judeus), antes e
depois da criação do estado de Israel. Foi também a perspectiva da OLP na sua constituição
até, em meados da década de 1970, sua direção começar a falar na criação de um estado em
qualquer parte do território palestino que se liberasse. Era a aceitação do plano de partição
de 1947, proposto pelo imperialismo, apoiado pelo stalinismo e aceito pelo sionismo.
Deste modo, a direção da OLP preparava o terreno para a renúncia histórica da luta
palestina. Esta se concretizou no processo aberto pelos Acordos de Oslo, que estabelecem a
criação de um estado palestino marionete, em menos de 30% do território histórico de
Palestina, e a preservação do estado de Israel como policia regional.67
"Conflito
israelensepalestino" é o eufemismo
politically correct para
referir-se à luta pelas
reivindicações nacionais
palestinas, e à agressão
colonialista israelense em
todo o Médio Oriente.
Essa expressão considera
que existe uma simetria
entre os palestinos e o
suposto direito à existência
do estado sionista. Não
66
SCHOENMAN, Ralph. Op.Cit., pp.117-118
ACHCAR, Gilbert. A estratégia imperialista dos EUA no Oriente Médio. Outubro n° 11, São Paulo, 2°
semestre de 2004.
67
74
existirá direito ao retorno e solução para o problema de centenas de milhares de refugiados
sem o desmantelamento de todo o sistema jurídico-político montado por Israel: os Acordos
de Oslo evitaram sequer a menção do problema. O argumento central contra um estado
palestino único, democrático e laico seria a existência "de duas coletividades nacionais, a
judia e a árabe, e o fato da proposta não atender as necessidades dessas comunidades para
garantir sua existência".68
Warshawski é um ativo dirigente do Bloco de Paz, liderado pelo sionista de esquerda Uri
Avineri, quem apóia os Acordos de Oslo e defende "dois estados, para dois povos". Mas a
luta pelos direitos nacionais palestinos e das massas em geral no Médio Oriente é
incompatível com a existência do estado sionista. As mínimas reivindicações sociais,
salário, ocupação, terra, moradia; assim como a plena vigência dos direitos civis para todos
os habitantes da região necessitam o desmantelamento do regime colonial vigente
representado pelo Estado de Israel e o pseudo-estado palestino em formação. Só se pode
substituir o regime imperialista vigente, e dar plena satisfação aos anseios das massas
palestinas (incluindo os refugiados) e das massas judias em uma república democrática e
laica em todo o território da Palestina histórica. Há 50 anos, Abraham León vaticinava que
a solução do problema judeu não se resolveria com a criação de um estado judeu na
Palestina, que só poderia ser um novo gheto reacionário.69
68
WARSHAVSKI, Michel. The principle of bi-nationalism and the right of self-determination. News from
Within, 13 de marco de 1998; e também: One year after: second thoughts on the DOP. News from Within, 10
de novembro de 1994.
69
LEON, Abraham. Concepción Materialista de la Cuestión Judia. Buenos Aires, El Yunque, 1975.
75
6. ACORDOS E TERCEIRA INTIFADA
Que outro programa, a não ser o programa fundador da OLP, propunha a convivência entre
árabes e judeus em um só e mesmo Estado? A proposta de uma Palestina democrática, laica
e não-racista defendida pelo programa da OLP aprovado em 1969, marcou toda uma
perspectiva de emancipação, que buscava a convergência entre árabes e judeus, sobre a
base da eliminação do colonialismo sionista. Uma Palestina na qual os judeus que não
faziam parte da invasão sionista eram “considerados como palestinos” Esse programa
afirmava: “O movimento de libertação nacional palestino não luta contra os judeus
enquanto comunidade étnica e religiosa. Luta contra Israel, expressão de uma colonização e
baseada em um sistema teocrático racista e expansionista, expressão do sionismo e do
colonialismo”.70
Apontava assim uma estratégia para revolução palestina, atraindo o apoio de massas na
Palestina e no resto do mundo árabe assim como de parcelas das massas mais pobres
prejudicada pelo predomínio sionista e das camadas da juventude judia cansadas de servir
de bucha de canhão em uma guerra sem fim para garantir os objetivos colonialistas
insaciáveis de Sharon, Peres e companhia. Um programa e uma estratégia que punham
ênfase especial em não confundir de forma alguma os judeus com os sionistas.71 O então
recém nomeado presidente, Yasser Arafat, explicando o programa fundador da OLP, dizia:
“Como presidente da OLP, conclamo os judeus, a cada um individualmente, a reconsiderar
sua opinião sobre o caminho para o abismo pelo qual o sionismo e os dirigentes israelenses
os conduzem (...) Fazemos a vocês o mais generoso dos apelos para que vivamos
efetivamente uma paz justa, juntos em nossa Palestina democrática”.
A Segunda Intifada, de 1988 a 1992, abriu pela primeira vez a necessidade de que Israel,
com apoio dos EUA, tivesse que negociar, e permitiu a sobrevivência da direção da Al
Fatah. E Arafat se pôs à cabeça da negociação, no quadro definido pelo imperialismo norteamericano, para chamar a paz e usar os heróicos combatentes das pedras como moeda de
barganha. Qual é a avaliação, depois de mais de uma década, dessa virada? Arafat terminou
seus dias como presidente de um bantustão de miséria e sofrimento, cercado de
questionamentos quanto à sua autoridade, em meio a denúncias de corrupção e torturas, e
da divisão da resistência palestina.
A nova (Terceira) Intifada não apenas repetiu as cenas de heroísmo do povo palestino e
renovou, com sua juventude, o compromisso com a luta, mas foi também um
questionamento objetivo, de cima abaixo, dessa virada estratégica, da política dos dois
Estados e os “Acordos de Paz”. Edward W. Said disse que, em defesa da Intifada se tratava
de abrir “uma segunda frente”. Defender a causa palestina, apoiar a Intifada, exigia
redobrar esforços para explicar em todos os lugares do planeta as razões da luta palestina,
contradizer os argumentos falaciosos do sionismo, quebrando o cerco que se quer levantar
sobre Palestina e rodeando assim de solidariedade a Intifada.
Durante todo o ano de 1999 e ao longo de 2000, as negociações sobre a implementação das
propostas da "terra para paz" do acordo de Wye fracassaram repetidamente e, por volta de
meados de 2000, estava ficando óbvio que nenhuma solução aceitável resultaria das
negociações. Como poderia uma solução justa ser alcançada sem que houvesse igualdade
entre as partes? Israel, como o poder de ocupação, continuava a ditar os termos para os
70
71
Apud GARAUDY, Roger. Palestina, Tierra de los Mensajes Divinos. Madri, Fundamentos, 1986, p.403.
Declaração Política de Al Fatah, 1° de janeiro de 1969.
76
palestinos. Fingiu oferecer concessões magnânimas, quando, na verdade, não oferecia nada.
O obstáculo para a paz é a ocupação, e a manifestação primária da ocupação sempre foram
as colônias nos territórios ocupados.
As colônias são comunidades judaicas de tamanhos variados, algumas sendo cidades
completamente formadas, construídas em terras ocupadas. Elas são ilegais pela lei
internacional, como a própria ocupação, mas elas são alguns dos "fatos concretos" de Israel.
Em Gaza, os israelenses determinam um suprimento de água grosseiramente
desproporcional, fornecendo aos colonos água corrente abundante o suficiente para
abastecer suas piscinas, enquanto deixam as cidades e os campos de refugiados palestinos
com abastecimento intermitente e, freqüentemente, inadequado. Em nome da "autodefesa"
(contra o povo cujas terras eles ocupam ilegalmente), os colonos têm permissão de portar
armas de fogo, inclusive as semi-automáticas.
No começo dos anos 1990, antes do início das negociações de Oslo, as construções nas
colônias eram muitas e não verificadas. De fato, eram encorajadas ativamente por Ariel
Sharon, que, quando era Ministro da Construção e Colonização, incitou os colonos a "tomar
cada colina". Sucessivos governos israelenses de todos os partidos permitiram, e até
mesmo, justificavam a contínua construção de colônias. Alguns, como o de Benjamin
Netanyahu, sequer disfarçaram seu apoio aos colonos, mas a construção de colônias sob o
governo de Netanyahu não foi tão grande como sob Ehud Barak, que alardeava seguir a
Declaração de Princípios, afirmando ter paralisado a construção de colônias ou ter limitado
sua construção ao crescimento natural, enquanto, na verdade, autorizava ou fechava os
olhos para a expansão em massa. Num ato de grosseira farsa, Israel afirmou, durante as
negociações de Wye River, que Barak tinha generosamente oferecido enormes concessões
aos palestinos, inclusive a soberania sobre a Margem Ocidental, e que Arafat recusara esta
proposta por intransigência.72
Quando se fala dos Planos de Paz como “saída para o conflito” e se renuncia à batalha
estratégica pela Palestina democrática, laica e não-racista em nome de um suposto realismo
diante da “força do inimigo”, convém dizer que não se trata de menosprezar nem um
milímetro da força do sionismo e do imperialismo, mas é bom lembrar que os combatentes
do Líbano conseguiram a retirada das tropas de Israel, para o que colaborou a mobilização
das mães dos soldados judeus que não agüentavam mais a perda de seus filhos em uma
guerra sem sentido.
Desde o Líbano começaram a aparecer os sintomas da exaustão da juventude judaica com
os anos de guerra em prol do colonialismo. Se criaram grupos de ação contra a ocupação
dos territórios ocupados dentro de Israel (Gush Shalom) e soldados como Noam Kuzar, que
se recusam a servir neles, orientados por grupos como o Yesh Gvul. Seria impensável há
alguns anos que, como em 2001, no dia da comemoração da fundação de Israel haja uma
contramanifestação desses grupos reunindo judeus e palestinos em Jerusalém. A resistência
palestina e árabe ao colonialismo sionista permitiu que se abrissem as primeiras brechas na
antes considerada invencível força armada israelense.
A Retirada da Faixa de Gaza
A partir de agosto de 2005 se consumou a retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza.
Qual foi o seu significado? A crise política aberta em Israel pela retirada de tropas e
72
COHN-SHERBOK, Dan e Dawoud El-Alami. O Conflito Israel-Palestina. São Paulo, Palíndromo, 2005, p.
201.
77
colonos (em número de 8500), esteve e está longe de ser um episódio isolado e facilmente
superável. À renúncia do ministro de Finanças (e ex premiê de Israel de 1996 até 1999),
Benjamin Netanyahu, somou-se a manifestação de 100 mil israelenses no Muro das
Lamentações, a 10 de agosto de 2005, mobilizados pela extrema direita religiosa contra a
remoção dos assentamentos sionistas no território “palestino”.
Na chamada Guerra dos Seis Dias (junho de 1967), Israel se apropriou de um conjunto de
territórios, imediatamente após o cessar fogo decretado pela ONU e acatado por todos os
países envolvidos. As áreas eram: do Egito, a Faixa de Gaza e a Península do Sinai; da
Jordânia, a Cisjordânia e o setor oriental de Jerusalém; de Síria, as Colinas de Golã. Depois
da Guerra do Yom Kippur (1973) e, especialmente, do reconhecimento da OLP
(Organização para a Libertação da Palestina) como representante do povo palestino, na
ONU (que lhe conferiu status de “observador permanente”), a OLP passou a seguir uma
orientação mais diplomática, descartando progressivamente a luta armada, a exceção das
ações em Israel e nos Territórios Ocupados de Gaza e Cisjordânia, onde a direção da OLP
pretendia instalar o futuro Estado palestino.73 Com saída de Netzarim, Israel encerrou,
portanto, 38 anos de ocupação em Gaza. A Faixa de Gaza é um território da Palestina, sob
ocupação de Israel, limitado a norte e leste por Israel, a sul pelo Egito e a oeste pelo Mar
Mediterrâneo.
Desde final da década de 1980, a Faixa de Gaza foi um dos palcos da Intifada palestina
contra o Estado sionista. Desde o seu estabelecimento em 1994, a Autoridade Palestina foi
crescentemente acusada de nepotismo e de prestar favores políticos a um pequeno círculo
próximo a Arafat. Gaza foi palco de uma disputa de poder entre a "velha guarda" da
Autoridade Palestina, liderada por Yasser Arafat, e uma geração mais jovem de militantes
armados, e integrantes dos serviços de segurança, que queriam reformas na estrutura de
poder palestina. A velha guarda foi acusada de corrupção e de não ter agido para garantir
aos palestinos segurança e vida melhor. Também o foram de não terem conseguido formar
instituições capazes de sustentar um Estado palestino.
A retirada israelense faz parte dos acordos do assim chamado “processo de paz”,
concretizado nos Acordos de Oslo de 1993. Centenas de colonos assinaram acordos de
compensação com o Estado para deixar o território antes do prazo de 17 de agosto, mas o
exército informou que cerca de cinco mil pessoas que se opunham à retirada entraram na
região para encorajar a resistência à desocupação. Tropas bateram nas portas das casas para
dizer aos moradores tinham 48 horas para evacuar suas casas antes que forças começassem
a retirá-los. O primeiro dia do plano de retirada não foi tranqüilo. Em Neve Dekalim, a
maior colônia da Faixa de Gaza, com uma população de mais de 2.500 pessoas, muitos
manifestantes, vindos do exterior para apoiar os residentes, construíram barricadas e
impediram o acesso dos militares durante várias horas.
A primeira colônia israelense evacuada na Faixa de Gaza chamava-se Dougit, e albergava
79 residentes. No de Neve Dekalim, considerado a capital das colônias israelenses, a polícia
e os militares tiveram de intervir com "força". Foram feitas 50 detenções. Os colonos,
ajudados por ultranacionalistas, que nas últimas semanas se infiltraram nas colônias, para
impedir as suas evacuações, ofereceram muita resistência. A polícia teve de serrar os
portões de aço da colônia, de madrugada, para permitir a entrada no local dos caminhões
carregados de conteiners para levarem os bens das famílias que aceitaram deixar as suas
casas de forma voluntária. Em Neve Dekalim viviam perto de 2500 pessoas, os jovens
73
BACIC OLIC, Nelson. Oriente Médio. Uma região de conflitos. São Paulo, Moderna, 1991.
78
foram os que mais resistência ofereceram. Os que aceitaram deixar as suas casas terão
direito a uma compensação pecuniária entre os 150 mil e os 450 mil euros, por família.
Os jornais informaram que mais de 60% dos israelenses eram favoráveis a essa retirada,
apesar da imprensa destacar só os contrários. Os assentamentos desocupados são os de
Pe´at Sade, Rafiah Yam e Douguit, Elei Sinai e Nissanit. O exército israelense fechou o
acesso à Faixa de Gaza após baixar uma barreira em que se podia ler tanto em hebraico
como em inglês: "Pare, a entrada ou presença na Faixa de Gaza está proibida por lei". O
vice-primeiro-ministro Shimon Peres falou aos soldados instalados na fronteira com Gaza,
dizendo-lhes que sua tarefa era muito importante para proteger a “democracia israelense”.
"Os assentamentos devem ser evacuados", declarou Peres à imprensa. "Compreendo os
sentimentos dos colonos. Tenho simpatia por eles, mas eles não poder ir contra a vontade
nacional". Segundo o jornal Yediot Ahronot, os líderes dos colonos enviaram instruções
sobre como quebrar a moral dos soldados.
O presidente israelense, Moshe Katzav,
pediu "perdão" aos colonos da faixa de
Gaza e da Cisjordânia que serão retirados,
em um discurso pronunciado a 17 de
agosto: "Em nome do Estado de Israel,
peço perdão porque exigimos que eles
abandonem os locais onde moram há
décadas", declarou Katzav, em um
discurso que foi exibido na televisão.
Segundo o plano de retirada do premiê
israelense, Ariel Sharon, seriam retirados
os colonos da faixa de Gaza e de quatro colônias isoladas no norte da Cisjordânia. "Me
identifico com a dor [dos colonos]. Sabemos que os instalamos na faixa de Gaza depois de
uma decisão do governo israelense. Eles demonstraram heroísmo diante do perigo",
acrescentou o presidente. A chave da questão está na frase que segue: segundo Katzav,
"chegou o momento de respeitar a decisão das autoridades, do Knesset (Parlamento) e do
governo (...) A oposição à retirada não deve atentar contra a segurança do Estado" (grifo
nosso). O vice-primeiro ministro israelense, Ehud Olmert, por sua vez, afirmou que a
retirada de Gaza seria "total e completa", e que seu país não pretende manter o controle da
Cisjordânia. "Pela primeira vez, os palestinos que vivem em Gaza terão uma oportunidade
real de administrar a si mesmos, sem que ninguém interfira. É o momento para que os
jovens palestinos tenham uma oportunidade de viver uma vida diferente".
A isso se somou o anúncio, pelo chefe do Exército israelense, Dan Halutz, de prováveis
deserções em massa de soldados, e formação de milícias irregulares, em oposição à
retirada.74 Ariel Sharon, o direitista que outrora chegava a exasperar o direitista Menahem
Begin pelo seu comportamento e idéias “extremistas” teria se transformado na pomba da
paz ? Seria esquecer que a retirada foi precedida, em julho, por uma “limpeza” antipalestina, com ataques de mísseis incluídos, na própria Gaza; pela destruição, pelos colonos
(e tolerada pelo governo Sharon) da maioria das estufas dos assentamentos judeus (uma
política de terra arrasada); e pela construção da barreira (muro) interna da Jerusalém, que
74
RAPOPORT, Meron. Quitter Gaza pour mieux garder la Cisjordanie. Le Monde Diplomatique, Paris,
agosto 2005.
79
deixa 55 mil palestinos fora da “Cidade Santa”.75 E, principalmente, pelo reforço da
presença militar de Israel na Cisjordânia, onde se encontram a maioria dos assentamentos
israelenses nos territórios ocupados durante a guerra de 1967: no total, menos de 4% dos
quase 250 mil colonos israelenses serão afetados pela retirada.
Desmentindo as declarações de Olmert, "a colonização vai prosseguir", declarou Ariel
Sharon no momento da retirada da Faixa de Gaza, deixando claro que não abdicou da
Cisjordânia. O primeiro-ministro israelita garantiu que não abdicaria das colônias da
Cisjordânia, apesar da retirada da Faixa de Gaza. "A colonização é um programa sério que
vai prosseguir e desenvolver-se" na Cisjordânia, afirmou Ariel Sharon, numa conferência
de imprensa organizada após a reunião com o chefe de Estado israelita, Moshé Katsav, em
Jerusalém. A Autoridade Palestina já condenou estas declarações, classificando-as como
"inaceitáveis". Mas pouco depois do início da retirada da Faixa de Gaza, o ministro da
Defesa israelita tinha já anunciado que Israel iria manter o controle sobre seis colônias na
Cisjordânia, independentemente dos acordos concluídos com os palestinos.76
Os EUA e Israel
A política israelense refletiu a pressão dos EUA, que sustentam financeiramente Israel
desde há décadas, e que buscam uma saída do atoleiro em que se encontram em toda a
região do Oriente Médio. Os Estados Unidos pediram oficialmente que a evacuação
israelense da Faixa de Gaza “acontecesse de forma pacífica”, para que o plano fosse bemsucedido e “impulsione o processo de paz entre Israel e os palestinos”. "Nosso objetivo é,
principalmente, que seja um sucesso", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Sean
McCormack, em referência ao início da evacuação. McCormack disse que é preciso voltar
as atenções para que haja "um horizonte político neste processo", sobre a intenção de que a
implementação do Plano de Desligamento ajude a melhorar as perspectivas do processo de
paz. Para isso, o porta-voz disse que o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP),
Mahmoud Abbas, “deve obter êxito em sua luta contra o terrorismo”. "Abbas compreende
que tem a obrigação de desmantelar as redes terroristas", afirmou McCormack (grifo
nosso). Mas, antes da retirada iniciada, o Hamas deixou claro que manteria a luta armada
(que os EUA chamam de “terrorismo”): “Armas são sagradas; é impossível que as
abandonemos”, disse Ahmed al Gyhandour, líder das Brigadas Qassam do Hamas.77
O porta-voz acrescentou que os Estados Unidos iriam enviar a Israel vários “grupos
técnicos”, com o objetivo de avaliar o tipo de ajuda econômica que concederão para receber
os colonos judeus retirados da Faixa de Gaza. McCormack disse que os estudos se
concentrarão no desenvolvimento das regiões de Neguev e Galiléia, onde Israel quer
colocar os colonos de Gaza após a evacuação. O porta-voz lembrou que o presidente
americano, George W. Bush, "expressou seu apoio diretamente" ao primeiro-ministro
israelense, Ariel Sharon, no desenvolvimento dessas áreas. Bush, por sua vez, declarou que
o passo seguinte é a retirada do plano do “Mapa da Estrada”.78
75
Israele, via alla barriera di Gerusalemme. Corriere della Sera, Milão, 11 de julho de 2005.
Cf. CLEMESHA, Arlene. A retirada da Faixa de Gaza e a armadilha política de Israel na Palestina. In:
www.icarabe.org.br, a partir de agosto de 2005.
77
Folha de S. Paulo, 13 de agosto de 2005.
78
A retirada israelense de Gaza "é um passo histórico" que torna mais próxima a paz no Oriente Médio,
afirmou o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. "Após décadas de promessas quebradas e vidas
perdidas, a paz está ao alcance na Terra Santa", disse Bush num discurso, minutos depois de Israel anunciar
oficialmente o fim da evacuação dos 21 assentamentos na Faixa de Gaza. O presidente destacou que a retirada
76
80
Além de terem subsidiado a ocupação de Gaza durante quase quatro décadas, Israel deu a
cada família evacuada US$ 200 mil (!) a título de indenização.79 Ou seja, que além dos
subsídios de 38 anos, Israel (e os EUA através dele) empregarão, no mínimo, 600 milhões
de dólares, só para as famílias judias evacuadas, para garantir o equilíbrio político regional:
quantos problemas dos refugiados palestinos não se resolveriam com essa montanha de
dinheiro?80 O custo total da retirada chegaria, com todos os gastos, a US$ dois bilhões, o
equivalente de todo o orçamento militar anual de Israel, o mais alto per capita do mundo.81
E, ainda assim, Naomi Chazan, analista política e ex deputada pelo Meretz (ex vicepresidente da Knesset, parlamento israelense, até 2003), declarou que não aposta um
centavo na estabilidade do governo Sharon, e que a perspectiva mais provável seria a queda
do governo, com eleições antecipadas, nas quais Sharon só poderia concorrer como
candidato independente, não pelo Likud, devido à cisão instalada no partido.82 O colono
que assassinou a quatro palestinos, a 17 de agosto de 2005, Asher Weissgan, declarou, na
Corte de Jerusalém encarregada de julgá-lo: “Não me arrependo de nada”, e “espero que
alguém mate Sharon”.83
Afirmou um dirigente palestino, que “o principio de estabelecimento do futuro de
Jerusalém por negociação se perderá. Jerusalém nunca será parte de uma Palestina
independente. A única opção que resta é um só Estado. Sharon está atento ao crescente
problema demográfico nos Territórios Ocupados. Uma população palestina que concorre
em número com a de Israel, e que a superará logo, não pode manter-se indefinidamente sob
ocupação. A retirada de Gaza e a retirada parcial des assentamentos mantém a aparência de
uma concessão e oferecem o fundamento para uma solução ao problema demográfico,
mantendo a sujeição palestina. Um Estado palestino nos termos de Sharon não será em
absoluto um Estado. O modelo de Gaza será copiado na Cisjordânia, reduzindo-se o
território a guetos isolados em Ramallah, Jenin-Nablus y Belén-Hebron. Bush pode
declarar seu desejo de um Estado palestino ‘viável, contíguo, soberano e independente’,
mas já demonstrou que nunca intervirá contra a destruição deliberada, por Sharon, desse
Estado” (grifo nosso).
israelense é "um passo histórico que reflete a liderança audaz" do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon.
Neste sentido, Bush disse que Sharon e o povo israelense "deram um passo corajoso e doloroso" ao
desocuparem totalmente Gaza e alguns assentamentos na Cisjordânia. Após este passo, destacou Bush, o
caminho "fica muito claro": "Estamos trabalhando para um retorno ao Mapa de Caminho, o plano de paz
apoiado por EUA, ONU, União Européia e Rússia" (grifo nosso). Ao mesmo tempo, o presidente americano
ressaltou o apoio de Washington às autoridades palestinas. "Estamos ajudando os palestinos para que se
preparem para o autogoverno e para que derrotem os terroristas que atacam Israel e se opõem a um Estado
palestino pacífico", acrescentou Bush no discurso a veteranos de guerra. Bush destacou que o povo palestino
manifestou seu desejo de alcançar a paz e a soberania e de ter eleições livres, e que o presidente da
Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas (Abu Mazen), "rejeitou a violência e deu passos em
direção à reforma democrática". Os EUA concederiam uma ajuda econômica a Israel para o re-assentamento
dos colonos evacuados.
79
GAWENDO, Michel. Porta a porta, Israel inicia a saída de Gaza, Folha de S. Paulo, 14 de agosto de 2005.
80
Bush também prometeu US$ 50 milhões aos palestinos para projetos de habitação e infra-estruturas em
Gaza. US$ 50 milhões para um milhão e meio de palestinos (pouco mais de 30 dólares per capita), e 600
milhões para menos de 9 mil colonos israelenses!
81
Folha de S. Paulo, 17 de agosto de 2005.
82
Folha de S. Paulo, 14 de agosto de 2005.
83
Espero que alguien mate a Sharon, Clarin, Buenos Aires, 19 de agosto de 2005.
81
E continuou: “A visão de Sharon de uma Palestina independente é semelhante aos
bantustões estabelecidos como reservas para os sul-africanos negros em 1951. Reservas
essencialmente étnicas, estes bantustões também foram pintados para a comunidade
internacional como um passo para a descolonização e para resolver o problema
demográfico de África do Sul que, como na Palestina, viu ultrapassada a minoria
governante por uma maioria indesejável. Logo, porém, ficou claro que o esquema fora
desenhado para legitimar a expulsão da população negra... Israel já está extremamente perto
de transformar-se em um estado paria na comunidade internacional, como a velha África do
Sul. Sem o veto estadunidense, o país estaria, com certeza, exposto a sanções. Se Sharon
lhes nega toda esperança de uma pátria viável, livre, os palestinos não terão outra opção
senão lutar por um único Estado bi-nacional e democrático. Antes de ir a Washington,
Sharon visitou Maale Adumim, em Jerusalém Leste, o maior assentamento da Cisjordânia.
Dirigindo-se aos colonos, lhes prometeu que suas casas continuariam sendo parte de Israel
‘para toda a eternidade’”.84
Há (ou havia) 21 assentamentos sionistas
em Gaza, com 9500 colonos, em meio a
1,4 milhão de palestinos; na Cisjordânia os
assentamentos são 120, com 230 mil
judeus em meio a 2,4 milhões de
palestinos (só está prevista a retirada de
quatro assentamentos...). E há o problema
do fornecimento de água para Israel, que
vem dos lençóis subterrâneos da
Cisjordânia. Todos os assentamentos
foram favorecidos pelo governo israelense
com subsídios à moradia e custos de vida
muito inferiores aos de Israel, via subsídios estatais. Na Cisjordânia, durante o primeiro
semestre de 2005, o ritmo das construções nos assentamentos cresceu em 85%. Os
palestinos árabes, por sua vez, são 3,8 milhões distribuídos pelas faixas de Gaza e
Cisjordânia, mais outros quatro milhões que vivem como refugiados nos países árabes
vizinhos (dados de 2004), totalizando oito milhões de pessoas no momento atual.
A Crise do Pacifismo
Yossi Beilin, ex ministro de Justiça de Israel e líder do partido de esquerda israelense
Meretz-Yachad, escreveu que “a proposta de Sharon é não fazer nada depois da retirada, e
construir mais colônias entre Maale Adumim e Jerusalém, para evitar, no futuro, a
possibilidade da criação de um Estado palestino na Cisjordânia... A saída israelense
unilateral do 90% dos territórios não evitará o terrorismo, evitará o reconhecimento de
Jerusalém como capital de Israel (e) tornará quase impossível um acordo de paz mais
tarde”.85 De acordo com Beilin mesmo a retirada, realizada pelo antigo líder do projeto de
colonização israelense, não pode ser mais “bem-vinda”, pois é profundamente
problemática.
84
BARGHOUTHI, Mustafa. O pesadelo de Sharon, Mundo Arabe, 8 de agosto de 2005.
BEILIN, Yossi. Idéia de Sharon é não fazer nada depois da retirada. Folha de S. Paulo, 15 de agosto de
2005.
85
82
E o problema não é tanto por ser "muito pouco para tão tarde": “O problema é que o plano
de Sharon parece estar expressamente desenhado não apenas para contornar um acordo,
mas para evitar que esse se realize. Nesse respeito, o plano de Sharon não parte de uma
madura convicção de que Israel deve negociar com seus vizinhos. E como sempre, tal
recusa está repleta de terríveis ironias, para dizer o mínimo. Considere-se apenas o fato de
que Sharon, que orgulhosamente brande sua recusa de negociar sob fogo, está contudo
pronto para se retirar sob fogo. Recorde-se a recusa de Sharon de soltar prisioneiros
palestinos, o que reforçaria o ex-primeiro ministro palestino Mahmoud Abbas (Abu
Mazen). Alguns meses depois soltou várias centenas deles para a liderança do grupo
terrorista Hizbola. Não é preciso falar, o preço que Israel continua pagando, tanto político
quanto histórico, além do moral, pela recusa de Sharon a negociar. Este preço vem se
provando ser muito alto. Qual a lógica por trás do plano de Sharon? No nível mais direto e
imediato é, de acordo com Sharon, a necessidade de responder a iniciativas de paz como o
Acordo de Genebra....”.
E continuava Beilin: “Mas diferentemente de Genebra, o plano unilateral de Sharon é
incapaz de tratar de dois dos mais sensíveis aspectos entre Israel e os palestinos.: o futuro
de Jerusalém e a solução do problema dos refugiados palestinos. E nesse respeito, o plano
de Sharon faz pouco para avançar para uma solução do conflito. Na verdade, ele se arrisca,
até mesmo, a perpetuá-lo. Por essa razão, o plano de Sharon para desligamento unilateral
oferece não apenas esperança, mas também perigo. Pois se Sharon esta propondo seu plano
com o objetivo de esvaziar qualquer futuro acordo, Israel estará pior. Tal retirada
possivelmente reforçará o Hamas e enfraquecerá os elementos pragmáticos da sociedade
palestina, e Israel irá se encontrar sem nenhum parceiro nos anos vindouros... Bem-vinda,
portanto, como a retirada da Faixa de Gaza e do norte de Samária é, sua dimensão unilateral
arrisca torná-la um fato altamente perigoso. Sharon aparentemente acredita que a retirada
da Faixa de Gaza o poupará da necessidade de negociar com os palestinos.
Lamentavelmente, sem tais negociações o conflito nunca chegará ao fim”.86
A política de Sharon, portanto, foi ao encontro dos sustentadores do sonho nacionalista
(imperialista) de Eretz Israel: deflagrou uma forte crise política, no entanto, porque as
concessões que os EUA lhe obrigaram a fazer à ANP (Autoridade Nacional Palestina),
chefiada pelo “eleito” (com 62,3% dos votos) Abu Mazen, se constituiram num novo fator
de degradação da já crítica situação econômica e social de Israel. E isto para outorgar à
enfraquecida ANP uma fraca carta para enfrentar a crescente influência do “radicalismo
islâmico (palestino)” entre a população árabe palestina. A política “reformista”,
impulsionada pelos EUA para salvar sua já desastrada aventura bélica no Oriente Médio,
ameaçada pelo crescimento da resistência iraquiana contra a ocupação militar do país, em
vez de resolver, torna mais agudas as contradições herdadas da secular política imperialista
para a região.
A esquerda sionista, no fogo cruzado, cumpriu e cumpre o papel de força de pressão para
levar o mais à direita possível à liderança palestina. Assim o comprova artigo recente de
seu conspícuo representante, o Prof. Shlomo Avineri, em que afirma: “Do lado palestino, a
consolidação do controle da Autoridade Palestina sobre uma dezena de serviços de
segurança seria um passo importante... A liderança palestina também poderia dar início à
difícil tarefa de dizer aos refugiados que – ao contrário dos quase 50 anos de propaganda
palestina – eles não retornarão a Israel, mas terão que ser assentados na Cisjordânia e em
86
In: http://www.pletz.com/artigos/pa2904.html, a partir de 2 de novembro de 2004.
83
Gaza, áreas que se tornarão parte do eventual Estado palestino”.87 Mais claro,impossível.
No mesmo artigo, Avineri teceu uma apologia do seu (ex?) rival político Sharon (que teria
sido responsável por “uma profunda mudança política”).
Uma nova armadilha política foi tendida ao movimento nacional palestino, tentando que
minguadas concessões territoriais lhe façam abdicar das suas reivindicações e direitos
históricos. Não basta, para se opor a ela, criticar o “unilateralismo” israelense, e afirmar que
“questões de status permanente, referentes às fronteiras, à Cisjordânia e aos refugiados,
precisam ser equacionadas bilateralmente. Qualquer observador sério do conflito palestinoisraelense sem dúvida reconhecerá que não pode haver nenhuma solução unilateral para
estes temas”, como faz Daoud Kuttab, diretor na Universidade Al Quds em Ramallah.88 A
reivindicação de um Estado republicano, laico e secular em todo o território da Palestina
histórica foi posta em jogo na resposta política que o movimento nacional palestino, em
todas suas componentes, fosse capaz de dar à nova situação política da região, no quadro da
resistência dos povos árabes contra a ação do imperialismo.
87
AVINERI, Shlomo. O caminho unilateral rumo à paz. Valor, São Paulo, 17 de agosto de 2005. O mesmo
Prof. Avineri se ilustrava através de análises como a que segue: “O Dr. Shlomo Avineri manifestou a
necessidade diálogo e duma solução pacífica de dois estados; concebeu a situação do conflito essencialmente
pessimista, criticando que até hoje não teria sido feito nenhum pronunciamento claro da parte dos palestinos e
do mundo árabe a respeito dum direito intocável de existência do Estado de Israel. Na base disso e em vista
dos últimos atentados suicidas, agora não haveria base de confiança par negociações possíveis. Avineri
advogou, por conseguinte, para uma demarcação rigorosa de fronteira entre Israel e as regiões palestinas
(Faixa de Gaza e Banco Ocidental), para proteger Israel consideravelmente de atentados ulteriores,
esperando um “resfriamento do conflito em ambos os lados”. A isso, Alvineri conferiu uma recusa clara a
Yasser Arafat e ao sistema político deste, votando para uma tropa neutra de proteção nas regiões dos
palestinos, a qual deveria possibilitar e controlar a construção de estruturas democráticas” (grifos nossos). In:
www.jcrelations.net/pt/?id=1789, site do International Council of Christians and Jews.
88
KUTTAB, Daoud. Depois da retirada de Gaza. Valor Econômico, São Paulo, 18 de agosto de 2005.
84
7. DE SHARON AO HAMAS
A pressão israelense começou a surtir seus efeitos na campanha eleitoral palestina para as
eleições de janeiro de 2006, cujo aspecto mais espetacular foi a participação do grupo
“terrorista islâmico” Hamas. Com efeito, Hamas omitiu de seu manifesto político toda
referência ao fim de Israel. A declaração de que todas as terras ao oeste do rio Jordão
deveriam pertencer a um Estado islâmico palestino -em outras palavras, que o território de
Israel se tome território palestino- figura na carta de fundação do Hamas, de 1988. Apesar
da omissão da diretriz no manifesto, consta nele o compromisso com "um Estado palestino
totalmente soberano" e com "a resistência armada para pôr fim à ocupação israelense".
E todos os propósitos “pacifistas” de Israel, incluindo a “concessão” de direito de voto aos
palestinos de Jerusalém Leste (mas não o direito do Hamas de fazer campanha eleitoral)
voltam à realidade confrontados com uma notícia de inícios de 2006: “Israel podría
construir un muro cerca del Líbano (que) atravesaría una comunidad árabe. La agencia
israeli de seguridad Shin Bet recomendó construjr un muro a través de una comunidad
árabe situada sobre la frontera libanesa para impedir ataques guerrilleros. La
construcción de la barrera a lo largo dela frontera reconocida por las Naciones Unidas
después de que Israel se retirara del Sur del Libano, en 2000, dividiria en dos al pueblo de
Ghajar, controlado por Israel desde la Guerra de los Seis Dias, en 1967. Aunque los
habitantes de esta comunidad agrícola pueden desplazarse libremente dentro de sus
limites, están rodeados por campos minados, puestos del ejército israeli en el sur y bases
de la milícia Hezbollah en el Norte. La construcción del muro oblígaria a Ia mayoria de
los 2000 habitantes a desplazarse hacia el Sur, donde quedaria el sector israelí. De
acuerdo con Ia propuesta del Shin Bet, quienes tengan que irse hacia esa zona serian
compensados con propiedades. Sin embargo, cientos de residentes de Ghajar salieron ayer
a las calles de la ciudad para protestar por la propuesta con pancartas que decian "No a
la división, seguire- mos unidos" y "Sólo dejaremos nuestras casas si nos sacan en
ataúdes". La mayoría se opone a la idea y cree que Israel debe negociar con Ia ONU para
que la frontera rodee al pueblo y no lo divida en dos”.89
A crise da Autoridade e do movimento nacional palestino é agora gritante, chegando-se até
a levantar a possibilidade de uma guerra civil no campo palestino caso o governo de
Mahmoud Abbas continuar a atacar o Hamas, consoante com o cerco que lhe pretende
tender o governo de Israel.90 Isto pese à vontade declarada do Hamas, que derrotou AlFatah nas eleições municipais de dezembro de 2005, de integrar suas milícias em um só
corpo armado (estatal) palestino,91 com o que se transformariam elas próprias num fator de
repressão do movimento popular independente, base da Intifada e de toda a luta histórica
dos palestinos em defesa de sua auto-determinação nacional. Por seu lado, Al-Fatah parece
encontrar-se em crise terminal (“Inclusive se os candidatos de Fatah se impõem [em janeiro
de 2006] a vitória só será parcial. O partido está demasiadamente fragmentado para falar
com uma só voz, e Abbas demasiadamente questionado para que essa voz seja a sua”).
Em Israel, os abalos políticos provocaram uma suposta “revolução” dentro do Partido
Trabalhista (com a derrota interna de seu líder histórico Shimon Peres) e a explosão do
Likud, abandonado por Sharon para formar a Kadima (à qual sumou-se o próprio Peres),
89
La Nación, Buenos Aires, 4 de janeiro de 2006.
Cf. AGHA, Husssein e Robert Malley. El poder palestino, sin aliento. Le Monde Diplomatique / El Dipló,
Buenos Aires, janeiro de 2006.
91
SMITH, Craig S. Hamas “político” seguirá hostil a Israel. Folha de S. Paulo, 15 de janeiro de 2006.
90
85
nova formação política capaz de garantir, com seu suposto “centrismo”, a estabilidade de
um regime que faz água por todos os lados, cuja instabilidade se mede pelo fato do Kadima
pretender levar como cabeça de chapa o próprio Ariel Sharon, em que pese este estar
definitivamente afastado do mundo da política e, muito provavelmente, do mundo dos
vivos. Ou seja, garantir a estabilidade de um Estado pondo na cabeça da sua direção
política um morto, como na lenda da última batalha de El Cid Campeador, que dirigiu às
suas tropas em estado de rigidez cadavérica.
O “Legado” de Sharon
A chamativa coincidência de esquerda e direita
israelenses em qualificar o agonizante Sharon
como a própria encarnação do Estado, junto com
Ben Gurion (e esquecendo de modo ingrato a
Ben Gurion de saias, Golda Meir) é a admissão,
nada menos, de que toda a argumentação
política em que se sustenta a existência de Israel
no Oriente Médio,92 a saber, a de ser a única
“democracia” da região (contraposta à “barbárie
feudal” árabe) não passa de um mito, pois o
Estado sionista nunca se sustentou na livre confrontação democrática de forças políticas de
signo oposto, mas na atuação de “líderes providenciais”, apoiados, claro, num “grande
acordo” de forças políticas pretensamente contraditórias, que iam da extrema direita até a
esquerda social-democrata e stalinista. Mas isso é o oposto da democracia política.
Atribuir-se-á, agora, a crise de Israel, não à completa artificialidade econômica e política do
Estado, em crise econômica profunda devido à crise econômica mundial e aos minguados
subsídios externos,93 e obrigado a sustentar uma economia de guerra e um estado policial
mal encoberto por uma fachada “democrática”, mas à falta de um “líder” à altura de Sharon
ou Ben Gurion.
O assassino condenado de Sabra e Chatila, o provocador da Esplanada das Mesquitas, Ariel
Sharon, nasceu em 1928 em Kfar Mahal, uma aldeia ao norte de Tel Aviv, quando a
Palestina ainda era parte do domínio britânico no Oriente Médio. Oriundo de uma família
de sionistas russos que imigraram para Palestina no início do século XX, Sharon é hoje
proprietário de uma das maiores fazendas de Israel, e junto com o ex-premiê trabalhista
Shimon Peres, é o último remanescente de políticos que surgiram com a criação do Estado
de Israel em 1948. Em 1945 passou a integrar o Haganah, organização clandestina que
precedeu o exército israelense, caracterizada inicialmente como um grupo de judeus
sionistas em resistência aos britânicos e aos árabes. Em 1953, tornou-se líder da Unidade
101 criada para combater os árabes e comandou uma operação assassina contra a aldeia de
Kibya na Cisjordânia, explodindo 45 casas e matando 69 moradores. As ações terroristas
dessa unidade incluíram tantas mortes de civis palestinos que foi necessário emitir uma
ordem proibindo matar mulheres e crianças. Em 1956 Sharon foi acusado por seus
92
. Deixamos aqui de lado a argumentação religiosa, pois além de indiscutível, no sentido de não subordinada
a qualquer discussão racional, ela só tem poder de convicção sobre os convencidos de antemão.
93
Cf. LUZZANI, Telma. La redistribución del ingreso y la paz, grandes urgências para el futuro israelí.
Clarín, Buenos Aires, 15 de janeiro de 2006.
86
superiores de insubordinação e desonestidade na campanha do canal de Suez durante a
guerra do Sinai no Egito.
Segundo o historiador militar israelense Martin Van Cheveld, da Universidade Hebraica de
Jerusalém, os soldados de Sharon avançaram "da forma mais incompetente possível,
resultando em uma batalha totalmente desnecessária, que se tornou a mais sangrenta da
guerra". Na ocasião seus próprios comandados o acusaram de oportunismo desumano, no
sentido de tentar construir sua reputação à custa deles. Em 1967 comandou a divisão de
blindados na Guerra dos Seis Dias e em 1973 liderou a captura do Terceiro Exército do
Egito, pondo fim à Guerra do Yom Kippur. No início dos anos 1970 como comandante
militar no sul de Israel, Sharon reprimiu os palestinos na faixa de Gaza, através de
deportações em massa de famílias inteiras, chegando a abrir uma larga avenida no meio de
um campo de refugiados, destruindo centenas de casas. Na esfera político-partidária a
trajetória de Sharon é mais recente, iniciando-se em 1973 quando o premiê foi um dos
principais articuladores das forças de direita que originaram o partido Likud.
Sharon, no entanto, tornou-se conselheiro especial de segurança do primeiro-ministro
Ytzhak Rabin (Partido Trabalhista) em 1974. Entre 1977 e 1981 foi ministro da Agricultura
no primeiro governo do Likud e organizou o primeiro grande movimento de colonização
judaica nos territórios ocupados. Sharon e o sionismo em geral, sempre viram a colonização
de terras palestinas por assentamentos judeus, como a melhor forma de dificultar e impedir
a formação de um Estado palestino com continuidade territorial. Apesar de inicialmente ter
se posicionado contra o acordo de paz (Camp David I) entre Israel e Egito em 1978, Sharon
acabou comandando a retirada dos colonos judeus do Sinai ocupado por Israel desde a
Guerra do Yon Kippur. A trajetória de Ariel Sharon iria ainda ficar mais manchada, quando
da invasão do Líbano em 1982, pelo massacre de Sabra e Chatila. Nessa época, tudo
parecia indicar que as ambições políticas de Sharon haviam se esgotado, quando um de
seus conselheiros disse num tom profético: "Aqueles que não querem aceitá-lo como
ministro da Defesa terão de aceita-lo como primeiro-ministro". Sharon foi ainda ministro
do Comércio e da Indústria entre 1984 e 1990, e supervisionou a gigantesca expansão de
colônias judaicas no Ministério da Construção entre 1991 e 1992, tornando-se finalmente
líder do Likud em 1999 e primeiro ministro nas eleições de fevereiro de 2001.
Breyten Breytenbach, escritor sul-africano, que alguma coisa sabia de apartheids, dirigiu
em 2002 uma Carta Aberta a Ariel Sharon: “O senhor pensa, de maneira cínica, que pode
se safar enquanto estiver indo na direção dos supostos interesses vitais dos Estados Unidos.
Penso que o senhor se lixa totalmente para os interesses americanos. O senhor deve, sem
dúvida, despreza-los por causa do materialismo grosseiro deles e da ignorância do mundo
que revelam. Se vendedor de carrops usados, Netanyahu, utilizou mais abertamente ainda
essa técnica de propaganda grosseira, como se manipulasse o clitóris de uma opinião
pública americana com um dedo sujo... Não se pode construir um Estado viável com a
expulsão de um outro povo quetem tanto direito quanto o senhor a esse território. O poder
não é o direito. A longo prazo, sua política imoral e de visão curta (e definitivamente
estúpida) só servirá para enfraquecer um pouco mais a legitimidade de Israel como
Estado”.94
No retrato (quase) necrológico de Aluf Benn, diretor do Haaretz, “os direitos humanos dos
palestinos o interessavam pouco, ao mesmo tempo em que ele pedia o fim da ocupação.
94
BREYTENBACH, Breyten. Carta aberta ao General Sharon. In: Bei Dao et al. Viagem à Palestina. Rio de
Janeiro, Ediouro, 2004, p. 67 e 69.
87
Suas respostas duras aos ataques terroristas, suas promessas repetidas -mas nunca
concretizadas- de afrouxar as restrições impostas aos palestinos, além do fato de
repetidamente evitar desocupar os assentamentos que eram "postos avançados", mostram
que, mesmo depois de ter desocupado os assentamentos, Sharon permanecia distante das
posições da esquerda política. Não surpreende que a maioria dos defensores dos vizinhos
palestinos, em Israel e no resto do mundo, continuavam a enxergá-lo como proponente da
guerra e da destruição; mesmo depois de ele ter se tornado o queridinho do centro político.
Sharon passou por uma transformação em sua atitude em relação ao mundo exterior e ao
Oriente Médio. No último ano ele se aproximou da Europa, que, no passado, ele descrevera
como hostil e anti-semita, e reconheceu sua capacidade de exercer um papel de assistência.
No discurso que proferiu na ONU, Sharon pela primeira vez reconheceu o direito dos
palestinos a um Estado próprio. Até então, ele sempre descrevera o Estado palestino como
algo imposto pelas circunstâncias, algo que não era fruto da escolha israelense, e não como
um direito palestino reconhecido como tal”.95 Em agosto de 2005, no mesmo momento da
retirada de Gaza, foi aprovada pelo parlamento uma lei que não concede cidadania nem
residência permanente aos palestinos casados com israelenses, atingindo mais de um
milhão de árabes residentes em Israel.
O “Terremoto” Peretz
Antes da doença de Sharon, a eleição do secretário geral da Histadrut, Amir Peretz, como
presidente do Partido Trabalhista (PTI), precipitara a crise de todo o sistema político. Tirou
o trabalhismo do governo de unidade nacional com Sharon, provocou um chamado a
eleições para inícios de 2006, e dividiu o Likud. Amir Peretz se distanciara em 1996 do
Partido Trabalhista para formar um novo partido, Am Hehad (Povo Unido). Nele
coexistiram elementos da burocracia da Histadrut com elementos de direita identificados
com o Likud. Peretz, de origem marroquina, foi eleito na Histadrut como um político do
sionismo trabalhista.
Pela primeira vez o PTI será governado por um israelense nascido em um país árabe (Amir
é marroquino e migrou com seus pais para Israel quando tinha quatro anos de idade, em
1956, indo morar na cidade de Sderot, que fica próxima da Faixa de Gaza). A votação foi
apertada. Amir obteve 42% dos votos, contra 40% do líder histórico e ex-primeiro ministro
Shimon Peres. A terceira posição, com 17%, ficou com Beniamin Ben Eliezer. Isso num
universo em que mais de cem mil filiados participaram e sua vitória se deu por uma
margem de apenas 500 votos. O novo líder assumiu declarando querer assinar um acordo
de paz com os palestinos, que seja justo e duradouro, com a retirada das tropas israelenses
de todos os territórios ocupados (ele não dá detalhe de quais seriam as fronteiras de um
novo estado palestino). Peretz foi um dos líderes da gigantesca manifestação de mais de
200 mil israelenses em frente ao túmulo de Itzhak Rabin, assassinado por um fanático dez
anos atrás e signatário, com Yasser Arafat, dos acordos de Oslo de setembro de 1993.
Na sociedade israelense sempre prevaleceu a
dominação dos descendentes e mesmo dos
imigrantes originais vindo da Europa. Os judeus
imigrantes de países árabes, do Norte da África e
do Oriente Médio em geral, sempre foram
95
BENN, Aluf. Ariel Sharon, um homem de ação. Folha de S. Paulo, 8 de janeiro de 2006.
88
considerados uma espécie de cidadãos de segunda classe. O próprio ex-primeiro ministro
Menachem Béguin, um direitista de marca maior, usou essas divisões e diferenças, para
vencer as eleições em 1977 pela primeira vez, pelo Partido Likud, quebrando uma
hegemonia de 30 anos seguidos do PTI, que governava e dava os rumos de Israel desde a
sua criação pela ONU em 1947.
Durante a gestão de Peretz, a Histadrut vendeu –privatizou– o Bank Hapoalim (banco
“operário”), o maior serviço de saúde de Israel (Kupat Holim Klalit) e o conglomerado de
indústrias Klal, além de grandes e médias empresas que estavam em seu poder: “Peretz
firmó con el gobierno de Ariel Sharon la reducción de los salarios de los empleados
públicos (4%) con el objetivo de “recomponer” el mercado. En 2004, de nuevo consiguió
salvar al gobierno de Sharon acatando las órdenes judiciales que prohibían la huelga
general, las cuales violaban abiertamente la libertad de huelga. Peretz disolvió su “partido
obrero” hace seis meses y reingresó a la bancada laborista, cuando el laborismo ya estaba
en el gobierno de unidad nacional junto al carnicero Sharon y el thatcherista Benjamin
Netanyahu. El diario Haaretz señala que Benny Gaon, un pope del gran capital israelí, ha
venido financiando a Peretz desde su regreso al laborismo y su preparación para las
internas, donde finalmente venció. La elección de Peretz puso en evidencia la fragilidad
del gobierno y toda la estrategia sionista. Ante el fracaso del gobierno Sharon-NetanyahuPeres, Peretz se ofrece como una alternativa “social”. La interpretación corriente es que
la elección de Peretz revela la gravedad de la crisis económica y social, que ha dejado a
un 25% de la población dentro de Israel debajo de la línea de pobreza y un 10% de
desocupación. Hay una resistencia obrera, que se puso de manifiesto en el relativo triunfo
de los trabajadores del Bank Leumi, quienes impusieron la defensa de las condiciones de
trabajo anteriores a la privatización del banco.Peretz ha dicho que impondrá un salario
mínimo de 1.000 dólares, ¡lo que representa un aumento del 40%!
“No ha dicho de dónde sacará el dinero para esos aumentos, si suprimirá o reducirá los
gastos militares, si desmantelará las colonias judías en Cisjordania, si suprimirá los
subsidios al gran capital, etc. Desde el punto de vista de los obreros palestinos, no ha
dicho una sola palabra acerca de cómo combatirá la desocupación, que en Gaza es del
70% y en Cisjordania del 50%. En materia política ha declarado que volverá a los
acuerdos de Oslo y que es un acérrimo enemigo de la ley del retorno de los refugiados y de
la división de Jerusalén. Se distanció tanto de la “ultraderecha” (Avigdor Liberman),
como, y sobre todo de la supuesta “ultraizquierda”, es decir de los partidos árabes de la
izquierda israelí (Azmi Bishara, de la Asamblea Nacional Democrática, y Muhamad
Barake, del PCI). Además, prometió seguir la represión a las organizaciones palestinas.
En su discurso de asunción frente al comité central dijo: “Como un hombre de paz, veo al
terrorismo como el enemigo número uno. La guerra contra el terrorismo será sin
compromisos”. La elección de Peretz, por el momento, sólo refleja el estado de ánimo de
los afiliados laboristas”.96
Em finais de 2005, Sharon declarou querer instituir um regime presidencialista em Israel. A
maioria de Ariel Sharon no parlamento vinha ficando cada vez mais frágil. Depois de sua
retirada unilateral de todos os assentamentos judaicos na faixa de Gaza e do recente acordo
para abrir a fronteira palestina com o Egito na Faixa de Gaza, as divergências internas no
seu partido estavam ficando incontornáveis. Ainda que tivesse mantido a liderança,
96
BETZALEL, Itzhak. Amir Peretz, el Lula del sionismo? El Obrero Internacional nº 4, Buenos Aires,
dezembro de 2005.
89
diversos ministros mais à direita, radicais, estavam saindo do governo com duras críticas a
Sharon. A sustentação de seu governo só acontecia pela decisão do PTI de voltar a
participar do mesmo. Essa situação reverteu-se completamente desde a eleição de Peretz
para líder do Partido e com o pedido expresso deste para que novas eleições fossem
convocadas. Até mesmo o Partido de centro-direita, participante da coalizão de Sharon, o
Shinui, vinha defendendo novas eleições.97
No entanto, o mais inusitado foi o anúncio em 21 de novembro por parte de Sharon, de sua
desfiliação do Likud, Partido esse que ajudou a formar em 1973, quando ainda era general e
ativo participante de todas as guerras em que Israel se envolveu nesses quase 60 anos de
existência. Essa decisão de Sharon foi classificada pelo maior jornal de Israel, o Yediot
Aharonot, como um “terremoto político sem precedentes” em toda a história do país. Ao
tomar essa decisão, Sharon seguindo a constituição israelense pediu ao presidente de Israel,
Moshe Katav a dissolução do parlamento, que, no caso israelense, é apenas unicameral (não
tem senado).
Sharon apontava a dar uma resposta à fragmentação do establishment sionista. Os pequenos
partidos e as frações internas do partido governante tiveram, na atual legislatura, direito de
veto sobre o governo. Sharon impulsionou o presidencialismo para ter as mãos livres para
retirar umas poucas colônias isoladas na Cisjordânia, garantindo, em troca, o domínio
israelense em Jerusalém oriental (majoritariamente árabe), nas colônias vizinhas à cidade e
nos principais núcleos da zona ocupada no Oeste do Jordão. O governo britânico denunciou
a “judaização” de Jerusalém oriental, realizada através da expulsão de palestinos, a
construção do muro e de milhares de casas para a população judia. Com a morte de Sharon,
a perspectiva é de uma maior cisão política em Israel, alimentada pela polarização social
crescente.
A Vitória do Hamas
A 25 de janeiro de 2006, o movimento islâmico Hamas venceu as eleições legislativas da
Autoridade Nacional Palestina (ANP), o que acrescentou um novo elemento à crise política
do regime sionista em Israel. Hamas obteve 74 bancas parlamentares de um total de 132
(56%); enquanto o Al Fatah de Abu Mazen e Marwan Barghouti obteve só 45 (34%).
Distritos inteiros como Hebron, o distrito norte da Faixa de Gaza e Dir el-Balah foram
ganhos em bloco por Hamas. Em outros, como Nablus, Tul Karem, Ramallah e Jerusalém
oriental, o Hamas obteve 75-90%. A esquerda palestina obteve só 10% dos votos em alguns
distritos (a FPLP obteve três deputados; a FDLP, só dois; o Partido Iniciativa Nacional de
Mustafá Barghouti, dois, depois de ter obtido 20% dos votos nas eleições presidenciais). A
participação nas eleições na Cisjordânia, em Gaza e em Jerusalém Oriental foi de 77,69%.
A participação na Faixa de Gaza foi de 81,65%, ao passo que na Cisjordânia foi de 74,18%.
Ao todo, 1.341.000 palestinos foram convocados às urnas para escolher os 132 deputados
do Conselho Legislativo.
O principal antecedente e causa do resultado foi a retirada do exército israelense e os
colonos de Gaza, que fora percebida como um triunfo político do Hamas, alvo predileto dos
atentados sionistas. A corrupção da direção da ANP foi um dos eixos do “voto repúdio” das
massas, corrupção que reflete a degradação não só de uma direção política, mas de uma
classe social, a burguesia palestina compradora: “Las masas más desposeídas y degradadas
en Palestina han sido la base social del masivo voto a Hamas. Un análisis presentado en
97
El sionismo ante um cambio de régimen. Prensa Obrera n° 928, Buenos Aires, 9 de dezembro de 2005.
90
diciembre del año pasado por un experto de las Naciones Unidas indica que casi el 40% de
un estimado de 3,7 millones de palestinos en Cisjordania y Gaza han tenido problemas
para procurarse alimentos en 2004; casi otro 30% está en peligro de llegar a esa
situación. El mismo informe menciona que en ese mismo año más del 16% de la población
vivía con 1,5 dólar por día en 2004, y que llegaba al 35% en 2005. Ante esta situación la
red social del grupo islámico (escuelas, clínicas, etc.) vino a reemplazar la total parálisis y
la falta de infraestructura de la ANP”.98
Além disso, o Hamas tem a seu favor uma enorme rede beneficente na Cisjordânia e na
Faixa de Gaza. Chega-se a afirmar que “com relação à vitória do Hamas... a campanha
eleitoral não foi um referendo sobre guerra ou paz com Israel. O Hamas não venceu porque
prometeu varrer Israel do mapa. Venceu porque prometeu resolver alguns dos terríveis
desequilíbrios e as caóticas distorções que vêm definindo a sociedade interna palestina nos
últimos anos”.99 Mas essa visão aparece demasiadamente simplista: “Para ter certeza, o
próprio Hamas não é uma organização homogênea e têm discordâncias internas. Pode-se,
porém, afirmar que ao colocar em dúvida ‘o direito de Israel de existir’, o Hamas tentou,
embora sem sucesso, colocar na atualidade a catástrofe palestina, o Nakbah, de que em
1948 não se tinha consciência”.100 E não é o menor dos paradoxos que a fundação do
Hamas (que significa “ardor”), em 1988, fosse bem vista pelos políticos israelenses, que
viam no grupo um contrapeso à influência de Al Fatah.
A vitória do Hamas (como a de Evo Morales na Bolívia) questiona toda a estratégia de
terrorismo “democrático” promovida pela administração de George W. Bush ou, como
disse um colunista de The New York Times: “O sentimento dominante entre políticos e
intelectuais no Oriente Médio nos últimos dias foi de que o pequeno experimento químico
dos EUA tinha explodido na cara do país. O presidente George Bush vinha promovendo a
democracia com eleições livres como sua principal solução para os males da região – e
quando o Hamas venceu de maneira esmagadora as eleições palestinas, Bush colheu
resultados que não poderiam ser mais contrários aos interesses dos EUA e de seu aliado
Israel”.101 Também está quem assegura – como o ex-ministro Israel Katz, do partido Likud
– que o plano de desconexão unilateral israelense da Faixa de Gaza “garantiu a vitória de
Hamas”. Segundo Katz e outros porta-vozes da direita, a saída de Gaza “sem condições,
sem receber nada em troca, apresentou Hamas como vencedores que haviam “retirado
Israel da Faixa de Gaza”.
Para o diretor do Instituto Português para Estudos Estratégicos e Internacionais, a
“comunidade” (imperialismo) internacional deveria abrir uma frente de debate com o
islamismo político, como uma mudança de posicionamento estratégico: “O risco de
transições políticas que possam levar à vitória de partidos islâmicos representa um
paradoxo democrático que a Europa e os Estados Unidos precisarão aceitar se quiserem
arquitetar políticas de reforma inclusivas – em outras palavras, políticas que sejam o
extremo oposto do tipo de imposição democrática praticada no Iraque ocupado. Realmente,
uma das conseqüências menos felizes da intervenção no Iraque foi reforçar a noção de um
98
BETHZALEL, Yitzhak. Estruendoso triunfo de Hamas. Prensa Obrera n° 932, Buenos Aires, 2 de
fevereiro de 2006.
99
KHOURI, Rami G. Ocidente não entende a vitória do Hamas. Folha de S. Paulo, 29 de janeiro de 2006.
100
BEN-DOR, Oren. A new hope? Hamas’s victory, Counterpunch, 21 de janeiro de 2006.
101
GLANZ, James. Democracia liberta forças incômodas para os EUA. O Estado de S. Paulo, 5 de fevereiro
de 2006.
91
“choque de civilizações” entre o Ocidente e o Islã, que por sua vez serve para criar um
clima favorável aos movimentos islâmicos”.102
Os líderes do Hamas, Ismail Haniyeh e Mahmoud al-Zahar, também afirmaram que a
vitória de seu partido nas eleições legislativas palestinas teria conseqüências internacionais
sem precedentes: "Nossa vitória é uma lição à comunidade internacional e mudará a atitude
de Israel, dos países árabes e do Ocidente em relação ao conflito palestino-israelense". AlZahar afirmou que "a vitória terá conseqüências sem precedentes e que o Hamas se unirá à
Autoridade Nacional Palestina (ANP) e lutará de dentro contra a corrupção": "A luta
armada contra Israel continuará, e nossa vitória levará Israel a fazer concessões aos
palestinos e mudará a atitude da Jordânia e do Egito em relação ao conflito". E também:
"Nossa vitória é um golpe contra os Estados Unidos e Israel". Por sua vez, Haniyeh reiterou
que "a vitória reafirma nossas crenças e nossa estratégia, e estamos comprometidos com o
que anunciamos antes das eleições". Sobre as relações com Israel, Haniyeh pediu "a
resistência contra a ocupação até expulsá-la (dos territórios palestinos) e nos devolver
nossos direitos, e, acima de tudo, Jerusalém, os refugiados e a libertação de prisioneiros".
Al-Zahar pediu a todas as facções que se somem ao programa político do Hamas.
Nesse quadro, não existe uma organização independente e classista da classe operária e as
massas palestinas, que se manifestam esporadicamente, como na greve dos professores na
Cisjordânia, em 1997, ou na criação dos comitês independentes de trabalhadores e
desempregados em Gaza, em 2005. A candidata Mariam Farahat (Um Nidal), mãe de dois
suicidas, se dirigia a milhares de mulheres palestinas em Khan Younis, Gaza; em Hebron,
60 mil pessoas se reuniram no comício final da campanha do Hamas.103 Abu Mazen tinha
recebido uma “ajudazinha” de Bush de dois milhões de dólares, para a sua campanha
eleitoral, enquanto cresciam as ameaças de Israel, EUA e a UE, de que não reconheceriam
um governo de Hamas. Em entrevista publicada no site do The Wall Street Journal, Bush
afirmara: "No meu julgamento, um partido político viável é aquele que abraça a paz, que
mantém a paz". O Hamas está incluído nas listas de "organizações terroristas" do
Departamento de Estado dos Estados Unidos e da União Européia (UE).104
Sobre uma relação dos Estados Unidos com o Hamas, se este fosse incluído no novo
governo palestino, o presidente disse: "A resposta é: não negociaremos com vocês até que
renunciem ao seu desejo de destruir Israel''. Os Estados Unidos pressionaram o presidente
palestino, Mahmoud Abbas, a excluir o Hamas do governo. Sean McCormack, porta-voz do
Departamento de Estado, disse que a composição do parlamento palestino "se baseará
nestas eleições", mas que a escolha do gabinete e de suas políticas caberia ao poder
executivo palestino. McCormack disse que a relação com a ANP dependeria da nãoinclusão no gabinete de militantes do Hamas. "Nossas opiniões sobre o Hamas estão muito
102
VASCONCELOS, Álvaro de. O paradoxo democrático islâmico. Valor Econômico, São Paulo, 7 de
fevereiro de 2006.
103
www.palestine-info.co.uk
104
Lhe fazendo eco, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que qualquer grupo que quiser participar
do processo político democrático “deve se desarmar”. Ao ser perguntado se o Hamas deveria renunciar à
"violência" se pretende participar de um governo palestino, Annan declarou, durante o Fórum Econômico
Mundial em Davos, que "há uma profunda contradição em carregar armas e participar de um processo
democrático e ter cadeira no parlamento". "E eu estou certo de que eles (Hamas) estão pensando nisso",
afirmou. Annan disse ainda que está pronto para trabalhar com o governo eleito e que telefonou para o
presidente palestino, Mahmoud Abbas, para cumprimentá-lo pela organização. O porta-voz de Annan disse
que o secretário-geral "vê essas eleições como um passo importante rumo à conquista de um Estado
palestino".
92
claras", disse o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan: "Não lidamos com o Hamas. O
Hamas é uma organização terrorista. Sob as atuais circunstâncias, não vemos qualquer
mudança nisso". Ele deixou em aberto, porém, a possibilidade de os Estados Unidos
continuarem trabalhando com a Autoridade Palestina, mas não com seus representantes
ligados ao Hamas. É o que já acontecia no Líbano, onde os EUA tratam com o governo,
mas não mantêm contatos diretos com um ministro ligado ao grupo xiita Hezbollah.
O Hamas disse que pretenderia manter sua "política de resistência" quando assumir o
governo palestino: "Por um lado manteremos nossa política de resistência à agressão e
ocupação e, por outro, procuraremos mudar e reformar o cenário palestino", disse Sami
Abu Zuhur, porta-voz do Hamas. E também que "queremos formar uma entidade palestina
que una todos os partidos em torno de uma agenda política independente": "Queremos estar
abertos ao mundo árabe e à comunidade internacional". Ao mesmo tempo, o dirigente
máximo do Hamas em Gaza, Mahmoud Al-Zahar, reiterou que seu movimento não se
transformaria em um partido político, e não negociaria com Israel, "a menos que tenha algo
a nos oferecer, e, neste caso, negociaríamos por meio de terceiros".
Mas o principal negociador palestino, Saeb Erekat, quando admitiu a derrota de seu partido,
o Fatah, para o Hamas, afirmou que a legenda não ia participar de um governo de coalizão:
"No que diz respeito ao meu partido (o Fatah), nós vamos ficar na oposição. Não vamos ser
parte de nenhum governo de união e vamos focar na reconstrução do nosso partido". E o
papel de Al Fatah não é o do cachorro morto.105 Vejamos: falando em Gaza, Ismail
Haniyeh, do qual nos ocuparemos, afirmou que "americanos e europeus dizem para o
Hamas: armas ou Legislativo. Nós dizemos que não há contradição entre os dois". Na visão
mais “otimista” (para o imperialismo ianque e Israel), o Hamas irá resolver a contradição e
se tornar mais pragmático. Segundo um comentário jornalístico: “Se americanos e europeus
tiverem habilidade, vão guiar os radicais islâmicos para o caminho do Exército
Republicano Irlandês (IRA), que ao longo do tempo rachou entre as facções política e
militar, com a primeira pacientemente abafando a segunda. Mas para tal, o Hamas precisará
reconhecer o direito de existência de Israel e dar passos efetivos para o seu desarmamento”.
Na visão mais “pessimista”, o Hamas irá viver a contradição às últimas conseqüências: vai
aproveitar os espaços institucionais na democracia palestina (como um contrapeso à
ineficiência e corrupção do Fatah), mas também manter a luta armada contra Israel: “Tal
opção é intolerável para americanos, europeus, israelenses e irá resultar no colapso do
projeto político de Mahmoud Abbas. E aqui está mais um dilema: o caos palestino
tampouco interessa ao governo Bush”.106 (grifo nosso). Na falta de opções, Abbas é o
interlocutor dos americanos. Mas em Washington e em tantas outras capitais, ele é visto
como incapaz de desarmar o Hamas, consumando a conversão da milícia islâmica em
partido político que seja fiador de uma nascente democracia palestina. Do seu lado, tanto
Israel como os Estados Unidos e a União Européia repetiram que não estariam dispostos a
negociar com o Hamas, a menos que o grupo renunciasse à resistência armada.
105
O sucessor de Arafat à frente do Al Fatah é oficialmente Faruk Kadumi, que vive exilado na Tunísia, de
onde dirige o departamento político da OLP, que se ocupa das questões de relações exteriores. Mahmud
Abbas, co-fundador do movimento, preside as reuniões do Comitê Central, principal instância do Fatah, mas a
autoridade mais popular é Marwan Barghuti, que cumpre pena de prisão perpétua em Israel e disputou as
eleições. O último congresso do movimento, o quinto desde a sua criação, foi realizado em 1989, na Tunísia.
A conferência geral prevista para agosto de 2005 foi adiada indefinidamente.
106
BLINDER, Caio. Êxito do Hamas cria dilema para os EUA, Folha de S. Paulo, 28 de janeiro de 2006.
93
Abbas tentou salvar sua posição de intermediário múltiplo, a única que (potencialmente)
lhe restou. Elogiou “o espírito democrático do povo palestino”, e reiterou sua vontade de
negociar com Israel: "O pleito transcorreu com tranqüilidade e de maneira exemplar, o que
indica realmente que nosso povo, apesar da ocupação, esteve comprometido com este
grande acontecimento democrático", disse. O presidente da ANP ressaltou ainda que "o
povo palestino é um grande povo e tem um alto sentido democrático". Lembrou todos os
problemas e inconvenientes que tanto seu governo como os palestinos tiveram que superar
para realizarem as eleições, e agradeceu aos observadores internacionais pela ajuda
prestada durante o processo eleitoral à ANP. Ao mesmo tempo, reafirmou à "comunidade
internacional" seu desejo de retornar à mesa de negociações com Israel: "Queremos voltar a
negociar com Israel um processo de paz para colocar em prática os Acordos de Sharm elSheikh, com o objetivo de definirmos um estatuto final".
O dirigente político do Hamas, Khaled Meshaal, telefonou para Abbas prometendo "um
compromisso de parceria com todas as forças palestinas, inclusive com os irmãos do
movimento Fatah". Mas, na Faixa de Gaza, 20 mil manifestantes do Al Fatah reivindicaram
a exclusão dos corruptos e a não-parceria governamental com o Hamas.107 E a nova premiê
alemã, Ângela Merkel, em entrevista com Abu Mazen (Mahmoud Abbas), reivindicou o
reconhecimento de Israel pelo Hamas, como condição para a continuidade dos empréstimos
e da “ajuda” da UE à ANP.108
Pressão Internacional
A linha de intermediação principal entre o imperialismo norte-americano (e da UE) com o
Hamas começou a ser definida através e pelos regimes árabes de Médio Oriente. Líderes
muçulmanos pediram a Israel e ao mundo que aceitassem a vitória do Hamas. Durante o
Fórum Econômico Mundial de Davos, cúpula político-empresarial, os representantes dos
governos do Paquistão e do Afeganistão, além do secretário-geral da Liga Árabe,
argumentaram que o Hamas ganhou merecidamente. "Se o povo da Palestina expressou seu
desejo votando no Hamas, devemos respeitá-lo e dar ao Hamas uma chance de se provar no
governo", disse o presidente afegão, Hamid Karzai.
O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, disse que assumir a responsabilidade pelo
desenvolvimento e pela segurança dos palestinos será um desafio para o Hamas. "Não
fechem as portas ao Hamas, avaliemos suas atitudes e pressionemo-lo a se comportar
corretamente. Uma igual pressão deve ser posta sobre o outro lado, Israel. Enquanto se
aceita a realidade de Israel, devemos aceitar a realidade da criação da pátria palestina. E
darmos uma chance ao Hamas". "Se o Hamas formar o governo, ocupar a ANP, tendo a
responsabilidade de governar, negociar, obter a paz, será diferente do Hamas que é uma
organização cujas pessoas estão nas ruas", disse o chefe da Liga Árabe, Amr Moussa.
O rei Abdullah II, da Jordânia, disse que a criação de um Estado independente palestino
junto a Israel é a solução lógica. "Apesar dos resultados das eleições palestinas, a solução
dos 'dois Estados' continua sendo a solução lógica e plausível. Assegura a segurança e a
estabilidade na região e satisfaz a aspiração do povo de um futuro melhor", disse o rei em
um comunicado oficial: "O rei apóia o direito do povo palestino de criar um Estado
independente como a única maneira de restabelecer uma paz global e justa na região".
107
Fogo, tiros: Fatah protesta nas ruas. O Estado de S. Paulo, 28 de janeiro de 2006.
CREMONESI, Lorenzo. Niente aiuiti UE ai palestinesi se Hamas non riconosce Israele. Corriere della
Sera, Milão, 30 de janeiro de 2006.
108
94
O presidente do Líbano, Émile Lahoud, afirmou que "ninguém pode negar" o direito dos
refugiados palestinos de retornarem a seus territórios. Cerca de 400.000 palestinos vivem
no Líbano em condições muito precárias em pouco mais de 10 campos de refugiados.
"Ninguém poderá negar o direito do Líbano de prosseguir com sua resistência nacional para
recuperar as ocupadas Fazendas de Chebaa", acrescentou, em alusão ao território, único que
Israel não abandonou quando se retirou do sul do Líbano, em maio de 2000, encerrando 22
anos de ocupação: "Chegou o momento de que a voz do direito, da legalidade internacional
e da justiça das Nações Unidas prevaleçam em nosso mundo para dar um futuro melhor a
nossos filhos". Lahoud criticou aqueles que, segundo ele, atiçam os problemas no Oriente
Médio: "A comunidade internacional tem a obrigação de alcançar a paz em nossa região,
que tem que enfrentar agitações, divisões e desintegração por causa de guerras atiçadas pela
prepotência da injustiça e pela cobiça estrangeira". O presidente também acusou essas
forças de "inflamar as dissensões confessionais e as ocupações ilegais em numerosos países
árabes".
O governo egípcio sublinhou que mantém uma boa relação de trabalho com o Hamas.
Mohamed Habib, vice-líder da Irmandade Islâmica, disse que a vitória do Hamas apontava
para a opção dos palestinos pela via da "resistência": "Israel e os Estados Unidos não terão
alternativa a não ser negociar com o Hamas. Os norte-americanos vão se submeter a isso,
especialmente porque o Hamas não deseja monopolizar o poder". "Os norte-americanos
vão manter contatos secretos com o Hamas. Na verdade, esses contatos já começaram.
Mas, em um primeiro momento, eles vão fazer pressão para que o Hamas mude algumas de
suas idéias", acrescentou Diaa Rashwan, um egípcio especializado nos movimentos
islâmicos do Oriente Médio (grifo nosso).
Mohamed el-Sayed Said, vice-diretor do Centro Ahram de Estudos Políticos e Estratégicos
no Cairo, afirmou que os israelenses iriam provavelmente ser mais pragmáticos com o
Hamas do que o governo do presidente norte-americano Bush. Jawan Al Anani, um exministro da Jordânia, afirmou que os comentários recentes feitos por autoridades norteamericanas sobre as condições para negociar com o Hamas mostravam que um processo de
diálogo já havia começado.
Abdulaziz Al Mahmoud, colunista de jornal no Catar, disse que o Hamas estava fortalecido
politicamente após ter vencido as eleições em um período no qual conteve a ação de seu
braço armado. "Eles também são seres humanos que desejam viver em paz. Então, acho
que eles vão começar a negociar com Israel, mas como iguais e não como a ANP, que fez
tantas concessões sem nunca ter obtido nada em troca", acrescentou. "O que vem sendo
dito, que a vitória do Hamas inviabiliza o chamado processo de paz, não é verdade. Não há
nada a oferecer aos palestinos além de deixá-los vivendo em grandes prisões, a Faixa de
Gaza e a Cisjordânia", disse Sateh Noureddine, que escreve no jornal libanês As-Safir.
Deputados árabes-israelenses disseram que o governo de Israel semeou a vitória do Hamas.
"Israel está colhendo o que semeou todos estes anos", disse Mohammad Barakeh, deputado
da frente democrática pela igualdade Chadash. O deputado Abdel Malek Dahamshe, da
Lista Árabe Unida, disse que o mundo deve ver a vitória do Hamas como um passo para a
paz. "Vou repetir o que me disse o próprio (Yasser) Arafat muito antes de morrer após a
eleição de (Ariel) Sharon para o governo israelense: este é o homem que pode trazer a paz",
disse o deputado. Dahamshe acrescentou que "o mesmo princípio se repete agora com o
Hamas, mas no lado palestino".
95
O porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores do Irã, Hamid-Reza Asefi, parabenizou o
Hamas por sua vitória. "O povo palestino escolheu incondicionalmente a opção da
resistência e está disposto a apoiá-la totalmente", disse Asefi. Expressou seu desejo de que
os resultados do pleito levassem à consolidação da união do povo palestino e ajudem na
reivindicação de seus direitos. "A participação maciça do povo nas eleições parlamentares
indica a firme determinação dos palestinos de continuar a luta e a resistência contra os
ocupantes sionistas": "A República Islâmica do Irã congratula o grande povo palestino, o
movimento Hamas, os combatentes palestinos e a grande nação islâmica, e espera que a
grande presença do Hamas na cena política palestina alcance importantes avanços para a
nação palestina".
O Partido Islâmico do Iraque (PII), um dos principais dos árabes sunitas do país, também
manifestou sua satisfação: "Estamos satisfeitos com a vitória conseguida pelo Hamas no
pleito, e esperamos que sejam aliados do movimento Fatah — que lidera o governo em fim
de mandato da ANP — para formar um executivo de unidade", declarou Nasser al Ani, um
dos dirigentes do PII. Com relação à repercussão dessa vitória no conflito palestinoisraelense, Ani se mostrou otimista ao garantir que o Hamas "impulsiona um programa
político que contém canais de diálogo com os responsáveis israelenses": "Esse diálogo
pretende o reatamento do que se conhece como 'Mapa da Estrada', plano de paz palestinoisraelense que estipula o estabelecimento de um Estado palestino independente".
A “ajuda” dos EUA e da UE à ANP poderia ser mantida, porque Hamas realizou uma
virada política há já bastante tempo. Essa linha “pragmática” tem seu principal expoente em
Ismail Haniyeh, número 1 da lista de deputados, e candidato a primeiro ministro da ANP.
Em seu “discurso da vitória” não falou em destruir o Estado de Israel, mas que Hamas
poderia aceitar “os limites de 1967”. Hamas já disse que está disposto a uma trégua se
aceita no governo e reconhecida por Israel e a “comunidade internacional”. Também
assinou os Acordos de El Cairo (março de 2005), onde se compromete a “manter uma
atmosfera de calma”. Haniyeh afirmou em entrevista coletiva na Faixa de Gaza que o que
propõe seu movimento "não são só slogans, mas verdadeiras mudanças". Haniyeh se
comprometeu a tratar assuntos internos palestinos como a corrupção, a pobreza e o caos,
enquanto continua paralelamente com a luta armada contra os israelenses. No entanto, o
Hamas omitiu uma menção em seu programa eleitoral a um apelo à destruição de Israel.
O Cheikh Ahmed Hajj Ali, membro do Supremo Conselho da Shura de Hamas, disse:
“Nossa prioridade é a de atender a situação interna palestina mais do que confrontar com
Israel. Negociaremos com Israel porque é o poder que usurpou nossos direitos, se Israel
concorda com nossos direitos internacionais reconhecidos, incluindo o direito ao retorno
dos refugiados, (nesse caso) o Conselho da Shura consideraria seriamente reconhecer Israel
no interesse da paz mundial”.109 Khaled Meshaal, máximo dirigente político do movimento,
pediu à União Européia continuar a ajuda econômica à ANP “desejoso de empreender um
diálogo com os Estados Unidos e a Europa”.
Especialistas do International Crisis Group, fundado por um ex-membro do governo de
Bill Clinton, vinham apontando a mudança do Hamas: “Os especialistas do Crisis Group,
que entrevistaram dezenas de personalidades palestinas e israelenses, além de diplomatas,
acreditam que a decisão do Hamas de participar da eleição nacional corresponda a uma
mudança estratégica e seja acompanhada de modificações no discurso de seus líderes
políticos. Para eles, as eleições constituem uma oportunidade para a comunidade
109
Middle East Report, agosto de 2005
96
internacional e Israel testarem a disposição do Hamas de aderir ao processo político – como
fizeram o IRA na Irlanda e a OLP (Organização da Libertação da Palestina) nos anos 80...
Assim, após as eleições, o Hamas deverá promover a promulgação de uma nova lei sobre
os partidos políticos, convidados a agir ‘por meios legais e pacíficos’. O movimento deverá
também ratificar uma lei sobre a segurança que o leve progressivamente a desarmar suas
milícias e respeitar um cessar-fogo. Aos israelenses, o relatório aconselha que ponham fim
aos assassinatos políticos e libertem os líderes políticos das facções palestinas”.110
O próprio Quarteto de Madri, integrado por Estados Unidos, União Européia (UE), Rússia e
a ONU, em resposta, pediu que se respeitasse a vitória do Hamas. O Quarteto, que promove
o chamado “Mapa da Estrada”, em um comunicado divulgado na ONU, em Nova York,
parabenizou o povo palestino pelo sucesso de um processo eleitoral que foi "livre, justo e
seguro". A comissária européia de Relações Exteriores, Benita Ferrero-Waldner,
responsável pela ajuda financeira da UE à ANP, afirmou que o bloco está disposto a
trabalhar com qualquer governo, "se o governo estiver disposto a fazer a paz avançar com
métodos pacíficos". A porta-voz da comissária, Emma Udwin, destacou que os acordos de
cooperação da Comissão Européia são com a ANP e não com "um ou outro partido", e
disse que "não esperava" que a vitória do Hamas atrapalhe os projetos europeus em
andamento em território palestino.
A delegação do Conselho da Europa que atuou como observadora nas eleições destacou “o
pluralismo e a eficácia que caracterizaram todo o processo” e parabenizou “o grau de
democracia alcançado”. Numa nota, o Conselho lembrou que nove integrantes de sua
Assembléia Parlamentar permaneceram vários dias nos territórios palestinos para analisar o
desenvolvimento da campanha e do dia da eleição. O resultado “foi positivo pela
participação dos candidatos e partidos, assim como pelo clima em que transcorreu todo o
processo, ao longo do qual só ocorreram alguns problemas menores”: "É um sinal de que os
partidos reconhecem agora que o processo democrático é a única forma de se ir adiante
para resolver os problemas que a sociedade palestina enfrenta", disse o Conselho.
A Rússia também anunciou que respeitará "a eleição democrática" dos palestinos. "Sempre
respeitamos e respeitaremos a eleição democrática do povo palestino, com base na qual se
formarão os novos órgãos legislativos e executivos de poder palestinos", afirmou a
Chancelaria russa em comunicado. A nota indica que as eleições "demonstraram que os
palestinos são capazes de realizar, por si mesmos e em cooperação com Israel, tarefas de
grande importância e escala". O texto acrescenta que, depois deste pleito, "terá uma
importância fundamental a fidelidade de todos os participantes do processo político
palestino à solução pacífica dos desafios para tornar realidade as esperanças nacionais,
internacionalmente reconhecidas, do povo palestino".
A diplomacia russa avaliou as eleições ao parlamento da ANP como "um grande
acontecimento no caminho da democratização da sociedade palestina e da consolidação de
suas instituições estatais" e louvou a alta participação popular no pleito. O comunicado
também indicou que tal atitude do parlamento palestino, sempre que conte com
reciprocidade por parte de Israel, contribuirá para retomar o cumprimento do Mapa da
Estrada. Alexandr Kaluguin, representante especial da Chancelaria russa para o Oriente
Médio, afirmou que Moscou manterá sua política de colaboração com a ANP,
"independentemente da composição do futuro governo": "Nossa linha geral de cooperação
110
LE BARS, Stéphanie e Gilles Paris. Entrée du Hamas au gouvernement? Le Monde, Paris, 20 de janeiro de
2006.
97
com a ANP não sofrerá modificações. Julgaremos o futuro governo por suas ações",
declarou Kaluguin, que encabeçou a missão de observadores russos às eleições palestinas.
Os próprios EUA, encaixado o golpe da vitória do Hamas, começaram a fazer “política”:
Bush, disse que o Hamas deve renunciar a seus pedidos para "destruir Israel". "Os Estados
Unidos não apóiam um partido político que quer destruir nosso aliado Israel. Eles devem
renunciar a essa parte de sua plataforma. Um partido político que articula a destruição de
Israel como parte de sua plataforma é um partido com o qual não dialogaremos", afirmou
Bush. "Se sua plataforma é a destruição de Israel, isso significa que não é um sócio para a
paz. O que nos interessa é a paz". Bush também expressou seu desejo de que Mahmoud
Abbas permanecesse no poder, apesar da vitória do Hamas: "Gostaríamos que ele ficasse
no poder".111
O porta-voz do presidente Bush, Scott McClellan, disse que o pleito fora um evento
histórico, mas reafirmou a hostilidade de Washington ao Hamas, inclusive cristalizado
como uma força eleitoral formidável. Para os Estados Unidos, governos europeus e,
obviamente, Israel, o Hamas é uma organização terrorista, e o ex-presidente Jimmy Carter,
que chefiou uma equipe de observadores às eleições palestinas, antecipou a complicação.
Ele lembrou que “por lei” o governo americano não pode negociar com um governo
palestino que contenha o Hamas. Este é o verdadeiro papel das “pombas” internacionais:
pavimentar o caminho do terrorismo imperialista, com argumentos “legais”.
Bush, no discurso perante as duas casas do Congresso, O Estado da União, pediu ao Hamas
que reconhecesse Israel, e se desarmasse. Bush disse que as eleições palestinas "são vitais,
mas são só o começo". Os EUA "apóiam as reformas democráticas em todo o Oriente
Médio", sustentou: "Estabelecer uma democracia requer um Estado de Direito, a proteção
das minorias, e instituições fortes e transparentes que durem mais que uma só legislatura".
Sobre as eleições em Gaza e Cisjordânia, insistiu: "O povo palestino votou nas eleições;
agora os líderes do Hamas devem reconhecer Israel, desarmar-se, rejeitar o terrorismo e
trabalhar em prol de uma paz duradoura".
Mas um dos principais dirigentes do Hamas negou que o movimento tivesse se
transformado em um partido político com sua participação nas eleições parlamentares: "O
Hamas continua sendo um movimento de resistência, e sua participação nas eleições não
implica uma conversão a um partido político", disse Yasser Mansur, quinto na lista do
Hamas. Além disso, reiterou a negativa de seu movimento a reconhecer Israel e destacou os
direitos dos muçulmanos aos territórios onde se estabeleceu o Estado judeu em 1948. No
entanto, às vésperas das eleições, Mansur também ressaltou a proposta de uma trégua a
longo prazo com Israel, após a criação de um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza
com Jerusalém como capital.
Além disso, Mansur pediu à comunidade internacional, em particular à União Européia e
aos EUA, que mantenham abertos os canais de contato: "Esperamos que a comunidade
internacional entenda que resistir à ocupação é nosso direito legítimo, que nossa luta está
limitada geograficamente e que não cedam às pressões israelenses para que nos tachem de
terroristas".112 Mansur antecipou que, apesar de sua negativa a priori a reconhecer Israel, na
111
Disse também que "o que também é positivo é que foi um alerta para a liderança, obviamente as pessoas
não estão contentes com o status quo".
112
Mansur estudou lei islâmica na universidade de An Nayah, em Nablus, e, até se tornar candidato do Hamas
para as eleições legislativas, ganhava a vida como imã em várias mesquitas. Entre os anos 1992 e 1996,
98
hora de resolver problemas locais, como os de um posto de controle e do desemprego, e nos
quais a coordenação com as autoridades israelenses é freqüentemente inevitável, "estamos
comprometidos a ser pragmáticos e tomar uma decisão baseada no que beneficie mais os
palestinos".
Perspectivas Politicas
O primeiro ministro israelense Ehud Olmert, junto ao secretário geral do trabalhismo, Amir
Peretz, anunciaram que não dialogariam com o novo parlamento e governo palestinos. O
ministro da Defesa, Shaul Mofaz, advertiu que Israel seguiria com a política de assassinatos
seletivos, incluindo a membros eleitos do parlamento palestino (grifo nosso). Ainda assim,
a crise política em Israel já se manifestou. “Israel deve ser duro com a nova autoridade
palestina depois da vitória do movimento radical Hamas”, destacou o ex-primeiro-ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma entrevista coletiva com a televisão dos Estados
Unidos.
Netanyahu disse que a saída de Israel dos territórios palestinos foi um sinal de debilidade e
que a vitória do Hamas é um grande retrocesso para a paz: "A realidade nos golpeou na
cara. Pensamos que nos retiraríamos, unilateralmente, e conseguiríamos a paz. Só
conseguirmos que o Hamas se posicionasse ante nossos olhos", frisou o líder direitista do
partido Likud para a rede de televisão Fox News.113
Mas em Israel, também, as fissuras não aparecem só à direita. A postura oficial de Israel é
de não dialogar com um governo integrado por membros do Hamas. Mas o presidente
Moshé Katsav não descartou uma possível negociação entre seu país e o Hamas:"Se o
Hamas se encaminhar em direção à paz, poderemos avançar rumo à paz", afirmou o
presidente em declarações contidas na edição eletrônica do jornal Yediot Aharonot. No
entanto, ele condicionou qualquer avanço ao "reconhecimento de Israel e ao abandono do
terrorismo". "Só então poderemos avançar em direção à paz", disse: “Não há dúvida que,
do ponto de vista de Israel, criou-se uma nova realidade” (grifo nosso).114
A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, disse que as principais
potências mundiais concordaram que o Hamas “deve renunciar à violência” após a
surpreendente vitória da facção nas eleições legislativas da Palestina: "Reafirmamos a visão
de que... você não pode ter um pé no terrorismo e o outro na política", disse em uma
entrevista após uma conversa telefônica com autoridades do chamado Quarteto. A
secretária, que descartou a possibilidade de os EUA darem ajuda financeira ao Hamas,
também disse que assegurou a Israel que a comunidade internacional exigirá que o grupo
militante reconheça o Estado sionista.
Numa reação coordenada para pressionar o Hamas, o Quarteto lançou um comunicado em
que fez exigências: "Uma solução de dois Estados para o conflito requer que todas os
passou a maior parte de seu tempo em prisões israelenses e durante os últimos anos de confronto esteve detido
por Israel sem acusações ao longo de 14 meses.
113
O Dia Digital JB Online, 27 de janeiro de 2006.
114
O governo israelense esteve reunido, de imediato, por várias horas, para analisar as conseqüências da
vitória do Hamas. A reunião foi presidida pelo primeiro-ministro interino, Ehud Olmert, e dela participaram a
ministra de Exteriores, Tzipi Livni, o responsável de Defesa, Shaul Mofaz, o chefe dos serviços secretos,
Yuval Diskin, o chefe das Forças Armadas, general Dan Halutz, e outros altos comandantes dos serviços de
inteligência. Os dirigentes dos serviços de inteligência traçaram junto ao governo cenários possíveis após a
vitória do Hamas e concordaram que o pior de todos eles seria mesmo o de um governo formado
exclusivamente por membros do grupo islâmico.
99
participantes do processo democrático renunciem à violência, aceitem o direito que Israel
tem de existir, e se desarmem", afirma a nota. Na entrevista citada, a secretária Rice disse
ainda que o Irã "está sentindo" a pressão internacional sobre suas pretensões nucleares e
que Washington vai insistir em levar o país ao Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas (ONU).
O revide israelense à vitória do Hamas começou a ser preparado de imediato, na questãochave da Cisjordânia, muito mais importante que a retirada de Israel da Faixa de Gaza; “(O
primeiro-ministro) Olmert disse que pretende pôr em prática um plano unilateral de
separação dos palestinos na Cisjordânia, pelo qual Israel manterá sob seu controle a parte
oriental (árabe) de Jerusalém, os grandes blocos das colônias judaicas perto da atual
fronteira israelense e o Vale do Jordão, na fronteira com a Jordânia”.115
Essa politica visou dar uma resposta à mobilização conjunta judeo-palestina contra o muro
de divisão da Cisjordânia, uma construção que passa no meio de casas e plantações dos
palestinos da Cisjordânia.116 Na verdade, a galopante crise política e de regime do Estado
sionista não favorece apenas às facções religiosas (árabes ou israelenses), mas também uma
retomada da luta conjunta dos trabalhadores árabes e judeus, na perspectiva de uma aliança
classista em cuja base repousa o futuro de uma Palestina única, livre, secular e democrática.
Ilan Pappe resume a falta de perspectivas históricas, do ponto de vista isralense: “La
propuesta para acabar con el conflicto presentada por el gobierno Sharon-Peres -con la
silenciosa aquiescencia de la izquierda sionista- puede satisfacer a algunos regímenes
árabes, como los de Egipto y Jordania, no serán suficientes para la sociedad civil de estos
países, politizados por el Islam radical. El objetivo estadounidense de "democratizar"
Oriente Medio -como lo está llevando a cabo actualmente su ejército en Iraq- no rebaja,
sin embargo, la preocupación de la vida dentro de la fortaleza "blanca". El nivel de
violencia sigue siendo alto y el nivel de vida de la mayoría baja constantemente. Estas
cuestiones no se está tratando: su importancia en la agenda es casi tan escasa como la de
los problemas medioambientales o la de los derechos de la mujer.
“Lo que importa es que constituimos -me incluyo a mí mismo ya que procedo de una
familia de judíos alemanes- una mayoría de "blancos" en nuestra progresista isla en un
mar de "negros". Denegar el derecho de los refugiados palestinos al retorno equivale a
una promesa incondicional de defender el enclave "blanco". Esta postura es
particularmente popular entre los judíos sefardíes, que originariamente formaban parte del
mundo árabe pero que desde entonces han aprendido que el pertenecer a la sociedad
"blanca" requiere un proceso de Hishtakenezut - de "convertirse en ashkenazi". Hoy son
ellos los más vociferantes defensores de la isla "blanca", aunque muy pocos de ellos,
especialmente entre aquellos que proceden del norte de África, vayan a llevar la
confortable vida que disfrutan sus homólogos ashtenazis. Por muy estruendosamente que
se des-arabicen a sí mismos, tarde o temprano se darán contra un muro de cristal”.117
Para The Economist, no seu número prospectivo de 2006, o governo dos EUA está
confrontado, no Oriente Médio, a um teste no qual pode provocar “a pior derrota estratégica
115
Olmert anuncia plano para anexar blocos de colônias na Cisjordânia. O Estado de S. Paulo, 8 de fevereiro
de 2006.
116
Judíos y palestinos marchan unidos contra el muro que divide Cisjordânia. Clarin, Buenos Aires, 21 de
janeiro de 2006.
117
PAPPE, Ilan. Fortaleza Israel. In: www. rebelion.org. 26 de maio de 2005.
100
dos EUA desde a guerra do Vietnã”,118 mas sem acrescentar que este “Vietnã” se produziria
em condições de crise econômica e política mundiais infinitamente mais profundas do que
na década de 1970. A crise explosiva no Oriente Médio pode transformar-se no epicentro
de um Katrina geral das relações econômicas e políticas em que se assenta o imperialismo
capitalista em escala mundial.
As questões postas em jogo pela crise no Oriente Médio exigem, para uma efetiva oposição
e expulsão do imperialismo, a unidade de todos os explorados da região. Mas isto só seria
possível com um programa cujo norte estratégico fosse a unidade do Oriente Médio sobre a
base de uma Federação de Repúblicas Socialistas, suscetível de mobilizar todas as camadas
dos explorados, sem divisões “étnicas”, em prol de um objetivo comum. Somente a classe
operária poderia realizar essa unidade política, a única capaz de enfrentar a tarefa histórica
posta. Mas isso implica em superar criticamente as limitações políticas e programáticas das
direções nacionalistas e religiosas.
As principais direções políticas dos explorados, os seus programas, no Oriente Médio, não
estão à altura dos desafios objetivos postos pela situação. Mas o dinamismo político da
região é vertiginoso; a tradição teórica e política acumulada em décadas de luta, nacional e
internacional, serão um poderoso fator de maduração da consciência política das massas e
de sua vanguarda.
O maior genocídio da história moderna, o Holocausto judeu sob o nazismo (e com a
passividade cúmplice das potências “anti-nazistas”), foi usado como base para a criação de
uma das maiores injustiças do mundo contemporâneo, a expropriação do povo palestino, e
ao mesmo tempo para criar uma cabeça de ponte para a intervenção imperialista na região
que concentra a maior parte dos recursos energéticos do planeta. Ao longo do século XX, o
imperialismo capitalista exalou podridão por todos os poros; nas últimas décadas, só lhe
acrescentou uma dose ímpar de cinismo, ao veicular seus objetivos em nome da
democracia, dos direitos humanos e até dos “direitos das minorias”. O drama milenar do
povo judeu não foi eliminado, mas transformado na base do drama contemporâneo do povo
árabe palestino.
A sobrevivência do imperialismo capitalista compromete a sobrevivência da humanidade
como um todo. O problema palestino não tem solução no “mundo das nações”, ontem
portador da liberdade, hoje catalisador do massacre permanente dos povos. A unidade
socialista dos povos do Oriente Médio, no quadro da luta pela república socialista mundial
do trabalho, é hoje um objetivo de toda a humanidade trabalhadora consciente das
potencialidades e perigos da atual etapa da história.
118
DAVID, Peter. Hard going. In: The Economist, The World in 2006, Londres, janeiro de 2006.
101
CRONOLOGIA
1948: Fim do Mandato Britânico (14 de maio). Proclamação do Estado de Israel (14 de maio). Israel é
invadido por cinco exércitos árabes (15 de maio). Guerra árabe-israelense (maio de 1948-julho de 1949).
Criação das Forças de Defesa de Israel (IDF)
1949: Assinatura de acordos de armistício com o Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Jerusalém é dividida, sob
domínio de Israel e da Jordânia. Eleição do primeiro Knesset (parlamento). Israel é aceito como o 59o.
membro da ONU.
1948-52: Imigração em massa de judeus da Europa e dos países Árabes à Israel.
1956: Campanha do Sinai e Guerra do Canal de Suez.
1962: Adolf Eichmann é julgado e executado em Israel por sua participação no Holocausto.
1964: Criação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), no Egito.
1967: Guerra dos Seis Dias, ocupação dos Territórios e de Jerusalém pelo Estado sionista. Junho: Israel toma
a Faixa de Gaza do Egito como resultado da Guerra dos Seis Dias; o premiê israelense na época, Levi Eshkol,
declara que a área "jamais será devolvida ao Egito". Final de 1967: Eshkol planeja estabelecer colônias
judaicas na área capturada do Egito, para criar uma zona de distensão no flanco sudoeste do país. A idéia
encontra oposição dentro do governo, que teme a transformação da área num alvo para ataques palestinos e a
escassez de água no local.
1968-70: “Guerra de Desgate” do Egito contra Israel. Em 1970, “setembro negro” da monarquia hachemita
contra os palestinos refugiados na Jordânia. Junho de 1970: o governo israelense aprova a colonização de
Gaza.
1972 - Israel inicia o estabelecimento de dois postos do Exército em Gaza, que irão se transformar nas
comunidades de Netzarim e Kfar Darom.
1973: Guerra do Yom Kippur
1975: Israel torna-se membro associado do Mercado Comum Europeu, projeto estratégico do imperialismo do
velho Continente.
1977: O Likud forma o governo após as eleições para o Knesset; fim de 30 anos de governo trabalhista. Visita
do Presidente Egípcio Anwar Sadat a Jerusalém. Mais civis israelenses têm autorização para se mudar para as
instalações militares de Gaza, e novas colônias se estabelecem nesse território ocupado.
1978: Os Acordos de Camp David, patrocinados pelos EUA, apresentam as linhas gerais para uma “paz
abrangente” no Médio Oriente e uma proposta de “auto-governo” para os Palestinos.
1979: Assinatura do Tratado de Paz Israel-Egipto. O Primeiro-Ministro Menachem Begin e o Presidente
Anwar Sadat recebem o Prêmio Nobel da Paz.
1981: A Força Aérea Israelita destrói o reator atômico do Iraque, invadindo o espaço aéreo do paia árabe, e
sem receber nenhuma sanção séria por essa conduta.
1982: Completam-se as três etapas de retirada de Israel da península do Sinai. Setembro: maior ato de
terrorismo de Estado da história contemporânea no Oriente Médio, quando uma milícia de cristãos, que
representava o Estado judeu na ocupação do Líbano, pratica uma verdadeira chacina nos campos de
refugiados palestinos de Sabra e Chatila, matando quase duas mil pessoas em menos de três dias. O campo
fora aberto aos milicianos pelo criminoso de guerra Ariel Sharon, hoje primeiro-ministro de Israel, sob ordens
do primeiro-ministro da época, Menachen Begin. A ocupação do Líbano por Israel, que se retirou do país
somente em maio de 2000, causou a morte de cerca de 20 mil libaneses e palestinos, quase todos civis. A
Operação “Paz para a Galiléia” expulsa a OLP (Organização para a Libertação da Palestina) do Líbano,
depois de ataques contra a população civil de Beirute e de outros centros urbanos do Líbano. Israel esvazia a
colônia de Yamit, no Sinai, como parte de uma transferência de território para o Egito, em cumprimento a um
acordo de paz. Alguns dos colonos são transferidos para Gaza.
1984: Crise política em Israel: formado um governo de unidade nacional (Likud e Trabalhista) após as
eleições. Operação Moisés: imigração dos judeus da Etiópia (fallachas) para Israel.
1985: Israel assina Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos.
102
1987: Surge a Segunda Intifada nas áreas controladas por Israel. Primeiro levante palestino em Gaza. Israel
reage criando novas colônias.
1988: Israel: governo do Likud após as eleições.
1989: Israel propõe um plano de paz de quatro pontos. Início da imigração em massa dos judeus da antiga
União Soviética.
1991: Agressão dos EUA contra o Iraque. Israel é atacado por mísseis Scud do Iraque durante a Guerra do
Golfo. Reúne-se em Madrid a Conferência de Paz para o Oriente Médio.
1992: Estabelecimento de relações diplomáticas de Israel com a China e a Índia.
1993: Setembro: Depois de seis meses de negociações secretas em Oslo (Noruega), Israel e a OLP
(Organização pela Libertação da Palestina) chegam a um primeiro acordo sobre uma autonomia palestina
transitória. Israel e a OLP, como representante do povo palestino, assinam a Declaração de Princípios sobre os
procedimentos do “auto-governo interino” para os palestinos. Os Acordos de Oslo, abrem caminho para a
retirada israelense de partes de Gaza.
1994: Fevereiro: assinatura, no Cairo, de um acordo sobre as questões de segurança relativas à autonomia.
Julho: Arafat volta para a Palestina depois de 27 anos de exílio e forma em Gaza um governo autônomo, a
Autoridade Palestina. Agosto: acordo sobre a transferência à Autoridade Palestina de quatro assuntos civis na
Cisjordânia: serviços sociais, fiscalização, saúde e turismo. Implementação do “auto-governo palestino” na
Faixa de Gaza e na região de Jericó. Rabin, Peres e Arafat recebem o Prêmio Nobel da Paz.
1995: 28 de setembro: Rabin e Arafat assinam, em Washington, um acordo interino sobre a extensão da
autonomia palestina na Cisjordânia, chamado de Oslo 2. 13 de novembro a 21 de dezembro: retirada
israelense de Jenin, Kalkiliya, Tulkarem, Naplusa, Ramalá e Belém. Ampliação do “auto-governo palestino”,
implementado na Margem Ocidental e na Faixa de Gaza; eleição do Conselho Palestino. O primeiro-ministro
Yitzhak Rabin é assassinado num comício em prol da paz por um direitista israelense. Shimon Peres torna-se
o novo Primeiro-Ministro.
1996: 20 de janeiro: Yasser Arafat é eleito presidente da Autoridade Palestina. 5 de maio: Abertura formal,
em Taba (Egito), de negociações sobre um acordo de paz definitivo. 1 e 2 de outubro: Reunião de cúpula em
Washington entre o presidente americano Bill Clinton, Arafat, Benjamin Netanyahu e o rei Hussein da
Jordânia. Israel deflagra a Operação Vinhas da Ira, em retaliação aos ataques da Hizbollah ao norte de Israel.
O Likud sobe ao poder após as eleições para o Knesset.
1997: 15 de janeiro: Netanyahu e Arafat chegam a um acordo sobre a aplicação da autonomia palestina em
Hebron. 6 de outubro: Retomada das conversas de paz depois de sete meses de suspensão. 30 novembro:
Israel aceita o princípio da retirada limitada da Cisjordânia.
1998: 15 a 23 de outubro: em oito dias, Bill Clinton dedica mais de 70 horas às negociações israelopalestinas, que terminam com o acordo de Wye Plantation. O documento define a forma de uma segunda
retirada militar israelense da Cisjordânia e a libertação, por parte de Israel, de 750 prisioneiros palestinos.
1999: 25 de agosto: Israelenses e OLP concluem um acordo de princípios sobre o calendário da retirada
militar israelense da Cisjordânia. A primeira etapa (7% de retirada) foi marcada para começar em 1º de
setembro. 5 de setembro: Ehud Barak e Iasser Arafat assinam em Charm el-Cheij (Egito) uma versão
renegociada dos acordos de Wye Plantation. 8 de novembro: Começo de negociações israelense-palestinas
sobre o estatuto final da Cisjordânia, lançadas oficialmente em 13 de setembro. 20 de dezembro:
Negociadores israelenses e palestinos retomam discussões sobre o estatuto final de Cisjordânia e Gaza.
2000: 3 de fevereiro: Israelenses e palestinos se separam em uma atmosfera de crise depois do fracasso da
cúpula destinada a relançar as negociações de paz. A direção da OLP anuncia que um Estado Palestino
independente, com capital em Jerusalém, será proclamado em setembro. 11 de março: O negociador-chefe
palestino, Saeb Erekat, se reúne com o israelense Oded Eran, na retomada das negociações entre as duas
partes, em Washington. 21 de março: Israel transfere aos palestinos o controle total de 6,1% da Cisjordânia.
25 de junho: O presidente palestino, Iasser Arafat, declara em um discurso em Naplusa, Cisjordânia, que um
estado palestino será proclamado "em algumas semanas". 28 de junho: Arafat recusa uma proposta americana
de organizar uma cúpula trilateral nos Estados Unidos a partir de 15 de julho. 3 de julho: O Conselho Central
da OLP (CCOLP), reunido em Gaza, decide que os palestinos proclamarão um Estado Independente em 13 de
setembro de 2000.
103
2001: 6 de fevereiro: O líder do partido Likud, Ariel Sharon, 72, é eleito primeiro-ministro de Israel ao vencer
o premiê trabalhista, Ehud Barak, em 6 de fevereiro. Sharon obteve sua vitória prometendo “segurança” e a
retomada do processo de paz com os palestinos só depois do fim da Intifada (revolta palestina, iniciada em 28
de setembro). 1º de junho: Um militante palestino suicida mata cerca de 15 pessoas e fere cerca de 70 na orla
de uma praia de Tel Aviv, na maior ação desde o início da nova Intifada. O grupo Hamas reivindica a autoria
do atentado. Yasser Arafat condena a ação e sugere a Israel um comunicado conjunto de cessar-fogo. O
governo israelense, porém, aprova uma reação militar. 28 de setembro: Seis palestinos morrem e dezenas
ficam feridos em choques com soldados israelenses durante protestos para marcar o primeiro aniversário da
Intifada. 17 de outubro: Militantes do grupo palestino Frente Popular para a Libertação da Palestina matam,
num hotel de Jerusalém, o ministro israelense de extrema direita Rehavam Zeevi.
2002: Road map for peace ou “Mapa da Estrada”, re-definição dos cantões para a Autoridade Nacional
Palestina criar o “Estado palestino”.
2003: Guerra e ocupação dos EUA contra o Iraque, ao arrepio das Nações Unidas e de toda a ordem jurídica
internacional. Dezembro: o premiê israelense Ariel Sharon apresenta plano para desmontar todas as colônias
de Gaza e quatro pequenas colônias da Cisjordânia. Mais de 8.000 israelenses vivem em 21 colônias da Faixa
de Gaza. Setembro: falece Edward Said, considerado o maior intelectual palestino.
2004: Início da construção do Muro da Cisjordânia. Outubro: o Parlamento israelense aprova o plano de
Sharon de retirada de Israel das colônias de Gaza. Morre Yasser Arafat, dirigente de Al-Fatah e da OLP.
2005: Agosto: começa a retirada israelense da Faixa de Gaza. Amir Peretz derrota Shimon Peres nas eleições
internas do Partido Trabalhista, que se retira do governo de coalizão com o Likud, provocando eleições
antecipadas em Israel. A formação islâmica radical Hamas derrota Al Fatah nas eleições municipais palestinas
de dezembro.
2006: Janeiro: O Hamas vence nas eleições legislativas gerais na Palestina.
104
BIBLIOGRAFIA
ACHCAR, Gilbert. A estratégia imperialista dos EUA no Oriente Médio. Outubro n° 11, São Paulo, 2°
semestre de 2004.
AGHA, Husssein e Robert Malley. El poder palestino, sin aliento. Le Monde Diplomatique / El Dipló, Buenos
Aires, janeiro de 2006.
AHMED, Nafeez Mosaddeq. O sangue nas mãos de Israel. Quando criminosos de guerra posam de vítimas e
o mundo se inclina aceitando. In: http://www.mediamonitors.net/mosaddeq24.html.
AL ZAHAR, Mahmoud (entrevista). Hamas não negocia com Israel. Folha de S. Paulo, 27 de janeiro de
2006.
ALI, Tariq. The Clash of Fundamentalisms. Crusades, jihad and modernity. Nova Delhi, Rupa & Co, 2002.
ALOFS, Ben. Why Sharon is a War Criminal: an eye-witness report of the 1982 Shabra and Shatila massacre.
Media Monitors Network, 6 de junho de 2001, http://www.mediamonitors.net/drbenalofs1.html.
AVINERI, Shlomo. O caminho unilateral rumo à paz. Valor Econômico, São Paulo, 17 de agosto de 2005.
AVISHAI, Ehrlich. Palestine, global politics and Israel judaism. In: Leo Panitch e Colin Leys (Ed.). Socialist
Register. Kolkata, Merlin Press/Bagchi & Company, 2003.
BACIC OLIC, Nelson. Oriente Médio. Uma região de conflitos. São Paulo, Moderna, 1991.
BARGHOUTHI, Mustafa. O pesadelo de Sharon, Mundo Arabe, 8 de agosto de 2005.
BARON, Xavier. Les Palestiniens. Génèse d´une nation. Paris, Seuil, 2000.
BARSAMIAN, David e Tariq Ali. Palestina e Israel. In: Imperialismo & Resistência. São Paulo, Expressão
Popular, 2005, p. 182.
BEILIN, Yossi. Idéia de Sharon é não fazer nada depois da retirada. Folha de S. Paulo, 15 de agosto de 2005.
BEN JACOB, Matty. A Ordem do Dia: a Questão Palestina. São Paulo, 1988.
BEN-DOR, Oren. A new hope? Hamas’s victory, Counterpunch, 21 de janeiro de 2006.
BENN, Aluf. Ariel Sharon, um homem de ação. Folha de S. Paulo, 8 de janeiro de 2006.
BERNSTEIN, Deborah. Constructing Boundaries: Jewish and Arab Workers in Mandatory Palestine. Nova
Iorque, State University of New York Press, 2000.
BETHZALEL, Yitzhak. Estruendoso triunfo de Hamas. Prensa Obrera n° 932, Buenos Aires, 2 de fevereiro
de 2006.
BETZALEL, Itzhak. Amir Peretz, el Lula del sionismo? El Obrero Internacional nº 4, Buenos Aires,
dezembro de 2005.
BLINDER, Caio. Êxito do Hamas cria dilema para os EUA, Folha de S. Paulo, 28 de janeiro de 2006.
BLUMENTHAL, Sidney. The Clinton Wars. Londres, Penguin Books, 2003.
BRENNER, Lenni. Zionism in the Age of the Dictators. Londres, Croom Helm, 1984.
CHOMSKY, Noam. Limited war in Lebanon, Z Magazine, setembro de 1993.
CHOMSKY, Noam. The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians. Londres, Pluto
Press, 1999.
CLEMESHA, Arlene. A retirada da Faixa de Gaza e a armadilha política de Israel na Palestina. In:
www.icarabe.org.br, a partir de agosto de 2005.
CLEMESHA, Arlene. De la declaración de Balfour a la derrota del movimiento obrero árabe-judío. En
Defensa del Marxismo nº 30, Buenos Aires, maio de 2003.
CLEMESHA, Arlene. Palestina e a “solução dos dois Estados”. IV Internacional, São Paulo, junho de 2002.
CLIFF, Tony. The Middle East at the crossroads. Fourth International. Nova Iorque, dezembro 1945.
CLIFF, Tony. The world struggle for oil. Fourth International. Nova Iorque, junho 1947.
COHN-SHERBOK, Dan e Dawoud El-Alami. O Conflito Israel-Palestina. São Paulo, Palíndromo, 2005.
CORN, Georges. Le Proche-Orient Éclaté 1956-1991. Paris, Gallimard, 1991.
CREMONESI, Lorenzo. Niente aiuiti UE ai palestinesi se Hamas non riconosce Israele. Corriere della Sera,
Milão, 30 de janeiro de 2006.
105
DANTAS, Gilson. Iraque: ocupação, barbárie e imperialismo em crise. Antìtese nº 1, Goiânia, CEPEC
outubro 2005.
DAO, Bei et al. Viagem à Palestina. Rio de Janeiro, Ediouro, 2004.
DAVID, Peter. Hard going. In: The Economist, The World in 2006, Londres, janeiro de 2006.
Declaração Política de Al Fatah, 1° de janeiro de 1969.
DELCAMBRE, Anne-Marie. L´Islam. Paris, La Découverte, 1991.
Draft theses on the Jewish Question today. Fourth International. Nova Iorque, janeiro-fevereiro 1948.
EID, Bassem (entrevista). Dinheiro americano manchou Fatah. O Estado de S. Paulo, 29 de janeiro de 2006.
El sionismo ante um cambio de régimen. Prensa Obrera n° 928, Buenos Aires, 9 de dezembro de 2005.
ELDAR, Akiva. Comment on a laissé se fabriquer le chaos. Ha´Aretz, Tel Aviv, 30 de Janeiro de 2006.
ERLICH, Guy. Not Only Deir Yassin. Hair, Nova Iorque, 6 de maio de 1992.
Espero que alguien mate a Sharon, Clarin, Buenos Aires, 19 de agosto de 2005.
FAVROD, Charles-Henri (Ed.). Les Arabes. Paris, Le Livre de Poche, 1975.
FILHO, Expedito. Hamas não condenará ataques. O Estado de S. Paulo, 1° de fevereiro de 2006.
FISK, Robert. Occupied Lebanon. The Nation, Nova Iorque, maio 1996.
Fogo, tiros: Fatah protesta nas ruas. O Estado de S. Paulo, 28 de janeiro de 2006.
FRANCK, Claude e Michel Herszlikowicz. Le Sionisme. Paris, PUF, 1984.
GARAUDY, Roger. Palestina, Tierra de los Mensajes Divinos. Madri, Fundamentos, 1986.
GAUTHIER, Lucien. As origens da divisão da Palestina. A Verdade nº 8, São Paulo, julho de 1994.
GAWENDO, Michel. Porta a porta, Israel inicia a saída de Gaza, Folha de S. Paulo, 14 de agosto de 2005.
GLANZ, James. Democracia liberta forças incômodas para os EUA. O Estado de S. Paulo, 5 de fevereiro de
2006.
GOZANI, Ohad. Israelis admit massacre, Daily Telegraph, Londres, 16 de agosto de 1995.
GRESH, Alain e Dominique Vidal. Palestine 1947. Une division abortée. Paris, Éditions Complexe, 2004.
HABER, Eitan. Menahem Begin: the Legend and the Man. New York, Delacorte Press, 1978.
HAMZEH, A. Nizah. Lebanons Hizbullah: from Islamic revolution to parliamentary accommodation. Third
World Quarterly,Vol. 14, No. 2, 1993.
HANIYEH, Ismail (entrevista). Os países islâmicos acabarão nos apoiando financeiramente. O Estado de S.
Paulo, 1° de fevereiro de 2006.
HEDGES, Chris.Gaza Diary, Harpers Magazine, Nova Iorque, outubro de 2001.
HELLER, Mark (entrevista). Não há paz com o Hamas, não há paz sem o Hamas. O Estado de S. Paulo, 28
de janeiro de 2006.
HIRST, David. The Gun and the Olive Branch: the roots of violence in the Middle East. Harcout Brace,
Jovanovich, 1977.
HOLTZMAN, Elizabeth. O impeachment de George W. Bush. Folha de S. Paulo, 15 de Janeiro de 2006.
HUTTON, Will. Le príncipe de réalité s´imposera au Hamas. Courrier International nº 796, Paris, 2 de
fevereiro de 2006.
IGNATIUS, David. Crise também pode ser vítima da guerra. The Washington Post / O Estado de S. Paulo, 22
de outubro de 2001.
INBARI, Pinhas. The Palestinians between Terrorism and Statehood. Brighton, Sussex Academic Press,
1996.
INTERNACIONAL COMUNISTA. Manifeste de l’Internationale Communiste aux prolétaires du monde
entier! Thèses, Manifestes et Résolutions des Quatre Premiers Congrès Mondiaux de l’Internationale
Communiste 1919-1923. Paris, Maspero, 1978.
Israel’s Apartheid Wall (http://www.lawsociety.org/wall/ wall.html)
Israele, via alla barriera di Gerusalemme. Corriere della Sera, Milão, 11 de julho de 2005.
Judíos y palestinos marchan unidos contra el muro que divide Cisjordânia. Clarin, Buenos Aires, 21 de
janeiro de 2006.
KAROL, K. S. La Nieve Roja. Madri, Alianza, 1984.
106
KEPEL, Gilles. La Yihad. Expansión y declive del islamismo. Barcelona, Península, 2001.
KHOURI, Rami G. Ocidente não entende a vitória do Hamas. Folha de S. Paulo, 29 de janeiro de 2006.
KIRK, George E. História do Oriente Médio. Rio de Janeiro, Zahar, 1967.
KRESCH, Daniela. Haniyeh é a cara do Hamas nas urnas. O Estado de S. Paulo, 28 de janeiro de 2006.
KUTTAB, Daoud. Depois da retirada de Gaza. Valor Econômico, São Paulo, 18 de agosto de 2005.
LE BARS, Stéphanie e Gilles Paris. Entrée du Hamas au gouvernement? Le Monde, Paris, 20 de janeiro de
2006.
LEON, Abraham. Concepción Materialista de la Cuestión Judia. Buenos Aires, El Yunque, 1975.
LILIENTHAL, Alfred. The Zionist Connection, New York, Dodd, Mead & Co. 1978.
LINHARES, Maria Yedda. O Oriente Médio e o Mundo Árabe. São Paulo, Brasiliense, 1982.
LIVNI, Tzipi (entrevista). Hay que hacer concesiones: al final habrá dos Estados. El País, Madri, 22 de
janeiro de 2006.
LOCKMAN, Zachary. Comrades and Enemies: Arab and Jewish workers in Palestine, 1906-1948. San
Francisco, University of Califórnia Press, 1996.
LUZZANI, Telma. La redistribución del ingreso y la paz, grandes urgencias para el futuro israelí. Clarín,
Buenos Aires, 15 de janeiro de 2006.
MARGULIES, Marcos. Israel. Origem de uma crise. São Paulo, Difel, 1967.
MAROM, Ran. The Bolcheviques and the Balfour Declaration. In: Robert Wistrich (org.). The Left against
Zion. Londres, Vallentine/Mitchell, 1979.
MASSOULIÉ, François. Os Conflitos do Oriente Médio. São Paulo, Ática, 1996.
MATSAS, Savas-Michael. Irak: el referendum bajo la ocupación. Uma farsa dentro de uma tragédia. El
Obrero Internacional nº 4, Buenos Aires, dezembro de 2005.
MAYER, Arno. La “Solution Finale” dans l´Histoire. Paris, François Maspéro, 1983.
MERALI, Arzu. Operation Grapes of Wrath: revisiting genocide. Islamic Human Rights Commission,
Londres, julho de 1996, http://www.ihrc.org .
Middle East Report, agosto de 2005
MILLER, Edward W. Lebanon, Israels killing fields. Coastal Post, Nova Iorque, maio de 1996.
MORRIS, Benny. Israels Border Wars 1949-1956, Tel Aviv, 1996.
MUNIER, S. Zionism and the Middle East: the aftermath of the Jewish-Arab war. Fourth International.
outubro 1949.
MUÑOZ, Juan Miguel. Duelo fratricida em Palestina. El País, Madri, 22 de janeiro de 2006.
MUÑOZ, Juan Miguel. El gobierno israelí reconoce que Hamas está actuando de manera responsable. El
País, Madri, 30 de janeiro de 2006.
MYRE, Greg. For a Palestinian leader, the name’s the thing. International Herald Tribune, Washington, 23
de janeiro de 2006.
NOJA, Sergio. Breve Storia dei Popoli Arabi. Milão, Arnaldo Mondadori, 1997.
NOUSCHI, André. Luttes Petrolières au Proche-Orient. Paris, Flammarion, 1970.
NOVICK, Paul. Solution for Palestine. The Chamberlain White Paper. Nova Iorque, National Council of
Jewish Communists, 1939.
Official biography of Ariel Sharon, Israeli Ministry of Foreign Affairs, http://www.israel-mfa.gov.il .
Olmert anuncia plano para anexar blocos de colônias na Cisjordânia. O Estado de S. Paulo, 8 de fevereiro de
2006.
ONU. Damage to the Lebanese Infrastructure During the Israeli Operation Grapes of Wrath, abril de 1996.
OVIEDO, Luis. Irak: Los yanquis reculan El Obrero Internacional nº 5, Buenos Aires, janeiro de 2006.
Palestine Media Center (http://palestine-pmc.com/apartheid.asp).
PAPPE, Ilan. Fortaleza Israel. In: www. rebelion.org. 26 de maio de 2005.
PAPPE, Ilan. History of Modern Palestine. One land, two peoples. Nova Iorque, Cambridge University Press,
2004.
PAPPE, Ilan. The Making of the Arab-Israeli Conflict 1947-1951. Londres, I. B.Tauris, 1992.
107
PAPPE, Ilan. There is no peace movement in Israel. In: www.cmaq.net/es/node.php?id=21684, site do Centro de Médios
de Información Alternativos de Québec, 14 de julho de 2005.
PERICÁS, Luiz B. Israel e Palestina. IV Internacional, São Paulo, maio de 2002.
RAPOPORT, Meron. Quitter Gaza pour mieux garder la Cisjordanie. Le Monde Diplomatique, Paris, agosto 2005.
RATTNER, Henrique (Org.). Nos Caminhos da Diáspora. São Paulo, Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1972.
RICARD, Philippe. L´UE conditionne son aide à l´attitude du Hamas. Le Monde, Paris, 31 de janeiro de 2006.
RICHMAN, Sheldon L. The Golan Heights: a history of Israeli aggression. Washington Report on Middle East Affairs,
novembro de 1991.
ROCKACK, Livia. Israels Sacred Terrorism. Belmont, Arab-American University Graduate Press, 1986.
ROSENFELD, Stephen. Israel and Syria: correcting the record, Washington Post, 24 de dezembro de 1999.
ROTSCHILD, Jon. How the arabs were driven out of Palestine. Intercontinental Press, nº 38, New York, 1973.
SADEQ, Adli (entrevista). La réalité forcera à faire des concessions. Courrier International nº 796, Paris, 2 de fevereiro
de 2006.
SAGHIEH, Hazem et al. Islamisme: porquoi il triomphe? (Dossier). Courrier International nº 795, Paris, 26 de janeiro de
2006.
SAÏD, Edward. O panorama da oposição. Al-Ahram, 8-14 de junho de 2000.
SAID, Edward. Palestina: temos que abrir a segunda frente. Rebelión, 15 de abril de 2001, traduzido de Al-Ahram Weekly
On-line.
SAID, Edward. The Question of Palestine. Nova Iorque, Vintage Books, 1980.
SALAM, Elie A. Arab-American relations: an interpretative essay. In Han-Kyo Kim (ed.). Essays on Modern Politics and
History. Athens, Ohio University Press, 1969.
SANZ, Luis. Guerra y Revolución en Palestina. Madri, Zero, 1976.
SARTRE, Jean-Paul (ed.). Le Conflit Israelo-Arabe. Paris, Les Temps Modernes/Les Presses d´Aujourd´hui, 1968.
SCHOENMAN, Ralph. Historia Oculta del Sionismo. Barcelona, Marxismo y Acción, 1988.
SILVERMAN, Erica. Palestine: Islam in life. Al-Ahram Weekly, Cairo, Janeiro de 2006.
SMITH, Barbara J. The Roots of Separatism in Palestine. British economic policy 1920-1929. Nova Iorque, Syracuse
University Press, 1992.
SMITH, Craig S. Hamas “político” seguirá hostil a Israel. Folha de S. Paulo, 15 de janeiro de 2006.
SOARES, Jurandir. Israel e Palestina. As raízes do ódio. Porto Alegre, UFRGS Editora, 2004.
STIGLITZ, Joseph (entrevista). Guerra pode custar quase US$ 2 tri. Folha de S. Paulo, 12 de janeiro de 2006.
Teses do Grupo Trotskista Palestino (1948). A Verdade n° 36, São Paulo, abril de 2004.
The Apartheid Wall Campaign (http://www.pengon.org/wall/report1.html)
The Israeli Massacre of Civilians at Qana. The Arab Journal, 18 de abril de 1997.
VASCONCELOS, Álvaro de. O paradoxo democrático islâmico. Valor Econômico, São Paulo, 7 de fevereiro de 2006.
VIDAL, Dominique. Saint Sharon. Le Monde Diplomatique, Paris, janeiro de 2006.
WARSHAVSKI, Michel. One year after: second thoughts on the DOP. News from Within, 10 de novembro de 1994.
WARSHAVSKI, Michel. The principle of bi-nationalism and the right of self-determination. News from Within, 13 de
marco de 1998.
WARSHAWSKI, Michel, Bombes sur Gaza. Rouge, Paris, novembro de 2000.
WEINSTOCK, Nathan. El Sionismo contra Israel. Barcelona, Fontanella, 1970.
YAGHI, Mohamed. Le Hamas a-t-il changé? Al-Ayyam, Ramallah, 25 de janeiro de 2006.
YERGIN, Daniel. O Petróleo. Uma história de ganância, dinheiro e poder. São Paulo, Scritta, 1994.
Zionism and the Jewish Question in the Near East. Fourth International. Nova Iorque, outubro 1946.
108
Download