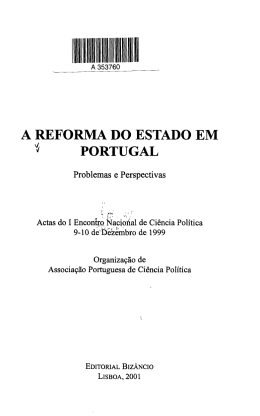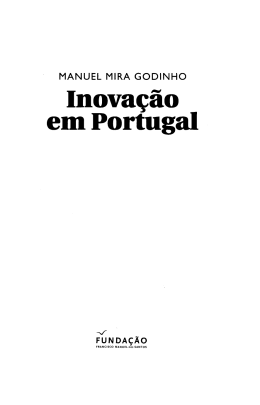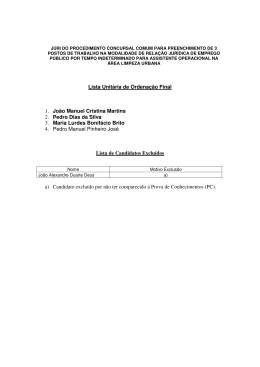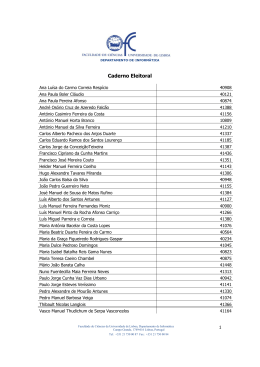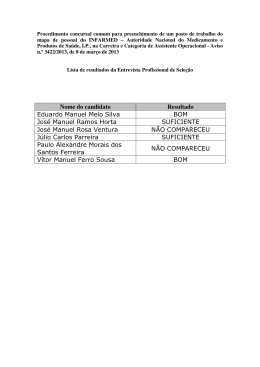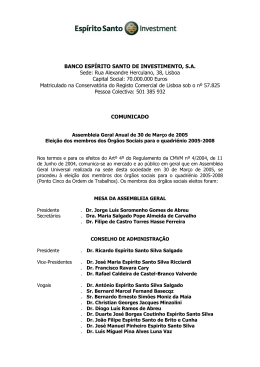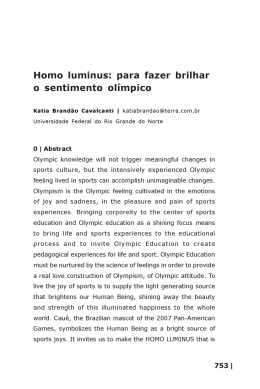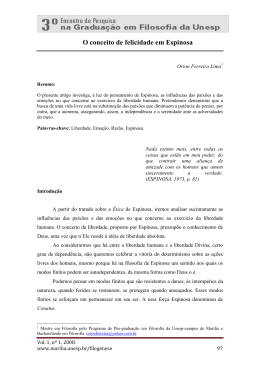Recensões TRATADO DOS TRÊS IMPOSTORES, MOISÉS, JESUS, MAOMÉ, autor anónimo (O Espírito de Espinosa); Prefácio de Manuel Dias Duarte, tradução de Luís Manuel A. V. Bernardo e Luís Alves da Costa, notas de tradução de Luís Manuel A. V. Bernardo, Vega, 2004 Todos podemos encontrar gostosamente, em certas obras de autores anónimos, envoltas num persistente mistério que os episódios da sua recepção tenderiam a adensar e a complicar, um interesse que vale de imediato por tal significação enigmática e mítica, e que por si só justificaria uma edição actual, apresentada com um competente aparelho de notas; esse interesse espontâneo independe, pois, da importância ou da qualidade literárias, filosóficas, ou de outra índole, que o conteúdo possa em si mesmo possuir. Deste ponto de vista, o Tratado dos Três Impostores: Moisés, Jesus, Maomé, publicado pela primeira vez em 1712, em Roterdão, contraditoriamente remetido para as mais diversas paternidades, reclamando-se do espinosismo, ou do «Espírito de Espinosa» - ao ponto de reproduzir na íntegra longas passagens da Ética ou do Tratado Teológico-político, numa reordenação singular e muito própria à sua conveniência - , revelando e levando ao extremo um princípio ateu e anti-religioso identificado nesse mesmo espinosismo, mas evocando igualmente, como seu paradigma, o texto medieval De Tribus Impostoribus, também este atribuído polemicamente a múltiplos autores possíveis, reúne razões mais do que suficientes para um encanto e para um interesse directamente históricos, indirectamente filosóficos, que convidam a uma leitura sem excessivas pretensões. Daí que o maior mal-entendido da presente edição portuguesa resida nas palavras com que, no prefácio — e só o refiro porquanto, como «via real» para a obra, um prefácio lhe reivindica um estatuto que é sempre gerador de legítimas expectativas e de um certo modo de nos dispormos a ler o texto - , Manuel Dias Duarte acrescenta ao imediato e natural interesse pelo Tratado, um outro, deveras surpreendente: uma vez que, na sua óptica, o 11 de Setembro marcaria o fim da modernidade, ou seja, «o fim inadiável da filosofia e do pensamento dicotômico, feito de oposições e 198 Recensões de contradições'» , substituída por uma «pós-moderna» (contudo «velha») «divisão por "culturas" ou "civilizações" caracterizadas cada qual pela religião dominante [...]», só restaria respondermos a esse declínio, conclui ele, pelo reforço da filosofia, reabrindo «o debate e a discussão», começando «por uma reflexão exigente apoiada em obras de referência» - o que julgo constituir precisamente tudo aquilo a que este texto nunca deveria aspirar, ou seja: ser uma «obra de referência» capaz de reabrir uma «reflexão exigente». Uma vez assumido, sem desprimor, o carácter menor do livro em causa, concebido entre o intuito do combate político-religioso e o da invocação de pensamentos que, nesse combate, apoiem uma determinada posição sem a fundamentarem, percebe-se melhor a sua incessante oscilação de qualidade: se os capítulos-chave denotam a incompreensão sectária em relação ao que se quer combater, visando desmascarar Moisés, Jesus, Maomé — e haveria que, a estes nomes já presentes no título, acrescentar o de Numa Pompííio - , através da simplificação grosseira das ideias atacadas, outros capítulos revelam, contudo, uma cultura da reflexão e da argumentação; estes são, e digo-o sem ironia, transcrições de páginas de Espinosa, Charron, Naudé. Um exemplo: a desconstrução da «ilusão finalista» (capítulo II, «Razões que Levaram os Homens a Representar um Ser Invisível, ou O que se Chama Habitualmente Deus», pp. 25-31) ou as curiosas passagens acerca dos motivos e das motivações da superstição (capítulo XV, «Sobre os Supersticiosos, Sobre a Superstição e a Credulidade do Povo», pp. 83-86) permanecem momentos filosoficamente estimulantes, que darão ao leitor, quanto mais não seja, o desejo de reler a argumentação completa e mais profunda nos originais. 1 É, todavia, fundamentalmente a «impostura» de Jesus Cristo que se pretende provar, num exame que se estende ao longo de quatro capítulos, V I I a X - enquanto que a cada um dos demais «impostores» se dedica um único - , pondo-se finalmente em causa a sua divindade a partir da sua humanidade (capítulo X, «A Divindade de Jesus Cristo», pp. 61-63): «Mas, aliás, se Jesus Cristo fosse Deus, seguir-se-ia, como diz São João, que Deus tinha sido feito carne e teria assumido a natureza humana, o que encerra uma contradição tão grande como a de afirmar que o círculo assumira a natureza do quadrado, ou que o todo se transformara em parte.», p. 62. Significa isto incompreender por inteiro um dos aspectos em que o cristianismo mais vibrantemente pode falar ainda ao homem, propondo-lhe o sentido de uma moral: o exemplo da generosidade extrema que é chamar a si, por amor, a culpa e o sofrimento de outrem, encar1 Mas cabe perguntar: é «isso» a modernidade - a não ser no quadro estrito, demasiado específico e, neste caso, nunca mencionado, da «desconstrução» a que Derrida procede desse conceito? Recensões 199 nando-o - e a palavra adequa-se bem aqui - por um acto de vontade, através de uma radical diminuição de si (um despojamento escolhido por amor), que só nos termos estritos de uma lógica formal(ista), more geométrico, pode ser tomada por contraditória. (E, de resto, na posição de não-Cristão que o penso: digo-o para que não subsistam equívocos, não porque esse lugar acrescente à minha posição qualquer tipo de autoridade e crédito indiscutíveis.) Ora essa incompreensão do sentido mais fundo dos ensinamentos daqueles que se intenta refutar, de que demos um exemplo mas que subsiste ao longo das páginas, pode ser aceitável para o leitor advertido de estar lendo um texto que afina uma retórica da intervenção e da eficácia num contexto histórico e cultural específico, mas não é compatível com o fardo da «exigência» filosófica que o prefácio injustamente parece fazer recair sobre o livro. Há que reencontrá-lo, portanto, na sua verdadeira dimensão: a de um aguçado instrumento de polémica em elemento de guerras político-religiosas. Para essa transferência, aliás, a própria edição portuguesa oferece os meios indispensáveis e proveitosos, guiando-nos através das notas com que um dos tradutores, Luís Manuel Bernardo, reconstitui e nos devolve, muito atenta e rigorosamente, as preocupações de uma época, ou todo um universo de pressupostos e de influências, ou de proximidades e debates filosóficos, que sustentam subterraneamente o texto. Julgo mesmo ser por esse suplemento que o leitor mais tem a ganhar, reatando os caminhos de polémicas que esquecera ou cujos pormenores não conhecia de todo, como uma visão global dos embates históricos e particulares, sociais, políticos, religiosos, sobre os quais se vai configurando a posição do autor que se esconde sob o «Espírito de Espinosa». José António Leite Cruz de Matos Pacheco CARLOS JOÃO CORREIA, Mitos e Narrativas. Ensaios sobre a Experiência do Mal, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2003, 245 pp. I . O mito, em concretizações que culturas longínquas entre si produziram ao longo dos mais variados tempos da história humana, tem merecido a Carlos João Correia, de há muito, uma atenção que o torna, entre nós, um estudioso de singularíssimo perfil: um investigador que, no território sempre insuficientemente desbravado que é o da circulação entre o mito e a filosofia, faz falar ao mesmo tempo as duas linguagens: se, por um lado, o seu olhar é sempre o do filósofo, o do sujeito de uma razão que reflecte criticamente, por outro lado, os mitos estão muito longe de,
Baixar