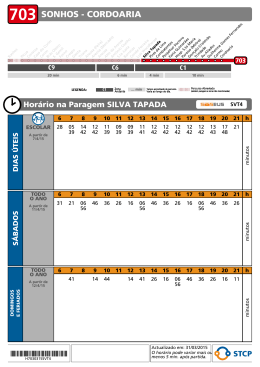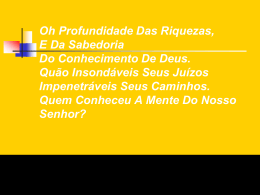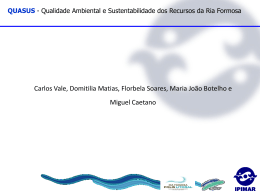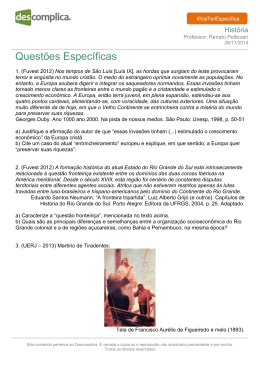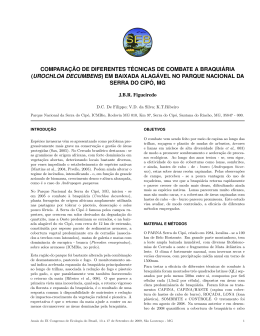HOMEM DO MAR Longe vão os tempos em que eu era um jovem pescador nas águas da Ria de Aveiro. Era o mais novo de quatro irmãos, que, como era tradição, começava na lida apenas com dez anos. Juntos, íamos numa pequena embarcação em que os mais velhos ensinavam aos mais novos os segredos escondidos entre as rigueiras e regatos da nossa bela mas sinistra ria. À noite tudo era assustador e a escuridão tomava conta de nós, apoderandose da nossa mente e, secretamente, envolvendo-nos naquela eterna magia… A vida era muito difícil para uma família de nove pessoas, em que tudo faltava menos a vontade de vencer e ultrapassar os obstáculos. A ria era a nossa única fonte de sustento, assim como a de muitas famílias no concelho. Nas noites de Inverno, em que o vento e a trovoada se uniam às tranquilas águas da ria e as transformavam em ondas agitadas e nervosas, o nosso barco parecia ainda mais pequeno no meio delas. Muitos foram os sustos que apanhámos, mas o segredo para uma boa pescaria era esperar que o tempo melhorasse, uma vez que as águas estavam revoltas e o peixe desorientado, logo seria mais fácil de apanhar. Naquele tempo tínhamos que remar durante várias horas, o que significava longas jornadas de sacrifício para chegar aos sítios de boa pescaria que eram junto da barra, onde o peixe entrava com maior abundância. Percorríamos, o conhecido “Rio do Além”, a “Rigueira das Canas”, o “Vale da Burra” entre tantos outros. Mas não era só o mau tempo que nos assustava, ou os longos e árduos dias de trabalho, mas também os marinheiros, homens que nos perseguiam sem dó nem piedade, não só cumprindo a lei, mas impondo-a da forma mais injusta para as famílias que viviam da ria. O regime da altura era o de Salazar, um ditador com mão de ferro que proíba a prática de algumas artes de pesca, como a conhecida “fisga”. Era com estas artes que nós mais pescávamos e que, mesmo proibidas, nos aventurávamos. O meu pai sabia todos os recantos da ria por onde escapar, quando os marinheiros nos queriam alcançar. Mas isso não impedia que, às vezes, também não fosse apanhado e, consoante a arte praticada, os dias de cadeia já estavam marcados. Quando os marinheiros vinham atrás de nós, o nosso coração disparava e, entre rigueiras, corríamos sem tempo para parar, porque não era só a fuga da cadeia que nos queríamos livrar, mas principalmente salvar as nossas vidas. Muitos foram os que morreram, outros ficaram feridos devido às balas por eles disparadas. Era um mapa de encruzilhadas que às nossas custas tínhamos que aprender para assim nos conseguirmos defender e lutar por uma vida melhor. Mas ainda hoje, passados mais de cinquenta anos, sinto a tristeza a invadir o meu coração quando recordo os dias em que via o meu pai de saco na mão a caminho da prisão. Eram dias ou semanas em que tínhamos de assumir sozinhos as responsabilidades e irmos para a pesca enfrentar quer a força da natureza, quer a força dos homens. A minha mãe era uma pessoa muito forte e insatisfeita com o que a vida lhe tinha reservado e dizia sempre que os seus filhos iriam ser uns grandes homens no futuro. Quando o meu irmão mais velho foi para a tropa, durante dois longos anos, a minha mãe jurou que mais nenhum lhe seguiria as pisadas. E então tomou a decisão mais difícil de toda a sua vida! Pediu dinheiro emprestado a uma vizinha e deu como garantia o nosso único bem – a nossa casa! Nas conversas em de família, ela dizia ao meu pai, que confiava nos seus lobosdo-mar, que em qualquer parte iriam ser sempre vencedores. E assim foi, enquanto o meu irmão mais velho andava na tropa, foi ao Agostinho e ao meu pai que o destino reservou o rumo à Venezuela. Fiquei eu e o meu irmão António na pesca, enquanto não chegava a nossa vez de embarcar. Passado algum tempo, também ele partiu e aos dezanove anos, também fui, sozinho, na viagem mais assustadora que alguma vez fiz, rumo ao Brasil. No dia 27 de Janeiro de 1963, à noite, despedi-me com emoção dos meus amigos e familiares e foi nesse dia que mudei o destino da minha vida. Numa viagem de comboio, até Santa Apolónia, tentava não pensar nas saudades que iria sentir, enquanto via o dia a nascer. Dali parti num táxi para o Porto de Alcântara, onde teria de deixar as minha bagagens e regressar no dia seguinte. Nessa noite, senti-me um estranho no meu próprio país, sem sítio onde dormir, já a preparar uma noite de sono num dos bancos perdidos à beira Tejo. Mas recordei cartas que a minha mãe escrevia a uma prima que vivia em Lisboa e perguntando em cada esquina pela Rua de Santos encontrei um lar, onde o meu corpo pôde finalmente repousar. Na manhã seguinte, parti rumo a Alcântara, onde vi a casa que iria ser minha na travessia do gigantesco oceano. Italianos saíam à pressa para visitar Lisboa e eu entrava à pressa para não deixar fugir o meu futuro. Foram nove dias em que o mar foi o meu confidente. No dia 7 de Fevereiro chegava ao Brasil e, no Rio de Janeiro, esperavam-me pessoas que eu nunca tinha visto, mas que ansiavam a minha presença naquela cidade quente e movimentada. Niterói era, a partir daquele momento, o meu lar e foi neste lugar que comecei a trabalhar numa traineira. Éramos trinte e três pessoas e apesar de falarmos a mesma língua não a pronunciávamos da mesma forma. Quando saíamos do porto de pesca, sabíamos que só voltaríamos dali a três ou dez dias. Como em Portugal dizíamos, tudo o que viesse à rede era peixe e nada era desperdiçado: no entanto, pescávamos mais sardinha, sarda, peixe-galo e corvina e os melhores sítios de pescaria eram “Cabo Frio”, ilhas Santana, Macaé, Copacabana, Ilha Jorge Grego e Angra dos Reis. O barco só podia descarregar o peixe durante a madrugada no mercado da Praça 15 no Rio de Janeiro e, assim sendo, muitas vezes tínhamos de ficar do lado de fora da barra durante algumas horas. Era nesses momentos que, deitado nos convés, via passar os aviões e sentia no meu rosto escorrerem lágrimas de saudade, imaginava a minha mãe e a minha irmã sozinhas naquela casa que seria tão triste sem todos nós que estávamos tão longe daqueles olhares tão doces. Depois de um ano naquela árdua labuta, surgiu a oportunidade de ir para a Venezuela e assim ficar junto do meu pai e irmãos e sem qualquer receio embarquei numa nova aventura. Foi no Aeroporto do Galeão, no Rio, que disse adeus a uma fase triste da minha vida: passadas cinco horas e meia dizia “olá” a uma fase próspera no Aeroporto Internacional de Maiquetía “Simon Bolívar“, na quente e tropical Venezuela. Com os pés em terra firme, comecei a trabalhar na recauchutagem com o meu irmão Agostinho e, anos mais tarde, consegui ter o meu próprio negócio de pneus numa estação de serviço. Sentia-me quase realizado. Tinha naquele momento parte da minha família junto de mim e uma situação económica confortável. Foi nessa altura que decidi voltar a Portugal para matar saudades da minha mãe e irmã. No entanto, e apesar de estar junto delas, sentia que faltava algo… e foi num passeio pelas ruas do concelho que encontrei o brilho que faltava à minha vida: encontrei a mulher que viria a ser a mãe da minha filha e a companheira, na alegria e na tristeza, para o resto da minha vida. Regressei novamente para a Venezuela. E tantas foram as cartas que cruzaram o oceano, até que decidi que não conseguia estar mais tempo longe daquele tímido sorriso; voltei, casei e levei-a comigo e foi em La Florida que nasceu a princesa da minha história – Rosa Clara. Um dia dir-te-ei o final desta história. Nesse dia partirei sem rumo neste mar sem fim… Bárbara Filipa Fernandez Rebelo, 12.º ano. Escalão D (Prosa) – 1.º lugar Escola dos 2.º e 3.º Ciclos o Ensino Básico c/ Secundário Padre António Morais da Fonseca
Baixar