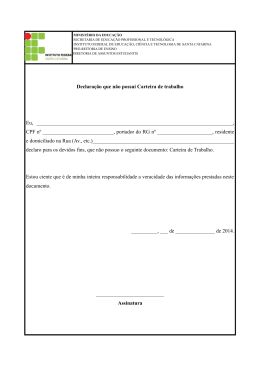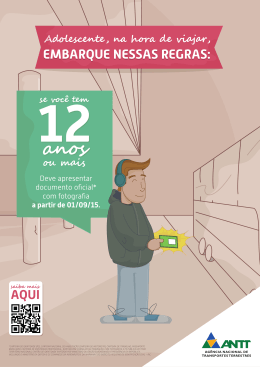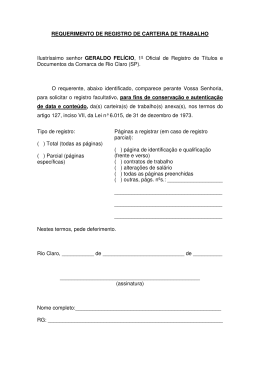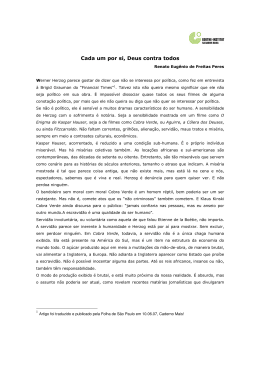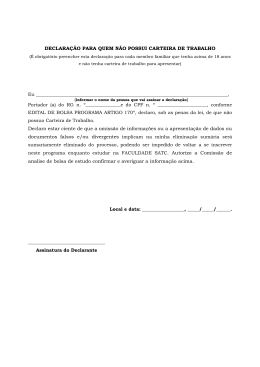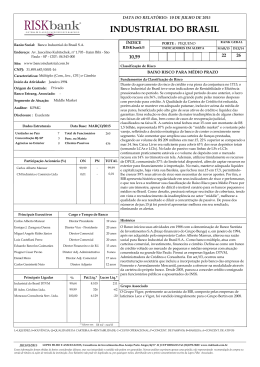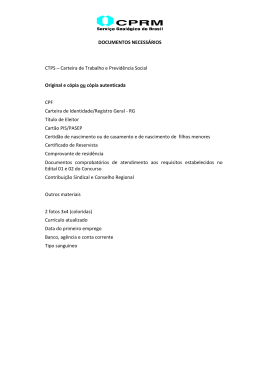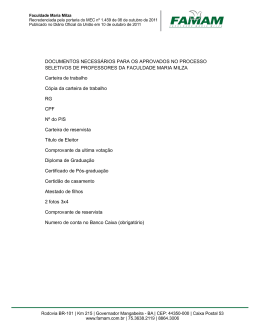Uma visão pessoal da crise Confissões de um Diretor de Risco Por que os bancos tornaram-se tão expostos às vésperas da crise de crédito? Um diretor de risco de um grande banco internacional - alguém cuja função é assegurar que a empresa não tome riscos desnecessários - explica pelas suas próprias palavras. Em janeiro de 2007, o mundo parecia que não tinha riscos. No início do ano reuni minha equipe em um encontro externo para identificar os nossos cinco principais riscos para os próximos doze meses. Nós éramos pagos para ponderar sobre as possíveis deteriorações que pudessem ocorrer no mercado, mas naquele instante era difícil imaginar de onde poderiam vir os problemas. Eram quatro anos de queda nos “spreads” no crédito, com uma taxa de juros baixa, com uma carteira de empréstimos virtualmente sem inadimplência e níveis historicamente baixos de volatilidade. Era o ambiente de risco mais benigno que eu já havia visto em 20 anos. Como administradores de risco, nós éramos responsáveis pela aprovação das propostas de crédito e das transações que nos eram submetidas pelos executivos e operadores da linha de frente do banco. Nós também monitorávamos e reportávamos o nível de risco do portfólio de ativos do banco e estabelecíamos limites para as posições com risco de crédito e mercado. A possibilidade de que a liquidez pudesse subitamente desaparecer era sempre um ponto relevante na nossa lista de preocupações, mas o que nós víamos era o mercado cada vez mais líquido, nenhum sinal ao contrário. Os investidores institucionais, os “hedge funds”, as empresas de “private equity” e os fundos soberanos estavam todos à caça de alternativas de investimento. Por isso, os “spreads” de crédito estavam se reduzindo. “De onde seria que a crise de liquidez viria?”. Alguém questionou nesse encontro. Ninguém pôde dar uma boa resposta. Olhando retroativamente, vemos que nós deveríamos ter prestado mais atenção para os primeiros sinais de que haveria problemas. Nenhuma crise surge de repente, há sempre dicas e advertências se você conseguir interpretá-las corretamente. Foi um soluço no mercado estruturado de crédito em maio de 2005 o sinal mais forte do que estaria por vir. Naquele mês, os títulos de dívida da General Motors perderam o grau de investimento e foram rebaixados para a categoria “junk” pelas agências de “rating”. Como esses títulos eram largamente utilizados nas carteiras de créditos estruturados, o rebaixamento provocou um grande reboliço no mercado. Como a maioria dos bancos, nós possuímos uma carteira de diferentes “tranches” em CDOs (collateralised-debt obligations), que eram pacotes de instrumentos financeiros lastreados em ativos. Nosso negócio e estratégia de risco era comprar um conjunto de ativos, principalmente títulos de dívida, colocarmos no nosso balanço, estruturá-los em CDOs, para finalmente distribuí-los aos investidores finais. Nós éramos mais ávidos para vender as “tranches” que não tinham o grau de investimento e a nossa aprovação de risco para essas posições era condicionada à eliminação dessas posições na nossa carteira. Nós permitíamos que as posições de ativos com classificação AAA e Super-senior (melhor ainda que AAA) ficassem no nosso balanço, apoiados no pressuposto de que o risco de “default” estava protegido para as “tranches” de maior risco que teriam que absorver quaisquer perdas prévias. Em maio de 2005 mantínhamos “tranches” com classificação AAA, esperando que elas aumentassem o seu valor, vendíamos as “tranches” que não tinham grau de investimento, esperando que os preços dessas caíssem. Do ponto de vista de um administrador de risco, isto era perfeito: Tínhamos uma posição comprada em ativos com baixo risco e uma posição vendida em ativos com maior risco. Mas aconteceu justamente o contrário, os ativos AAA tiveram o seu preço reduzido e os preços dos que não eram grau de investimento subiram, o que resultou em perdas quando nós marcávamos a mercado as nossas posições. Isto era inteiramente contra-intuitivo. Explicações sobre porque isto tinha ocorrido eram confusas e baseadas em complicadas correlações cruzadas entre as “tranches”. Em essência, esse resultado inesperado tinha sido o reflexo de um movimento dos investidores que estavam com posições vendidas em ativos que não tinham grau de investimento, produzindo uma alta dos preços, e uma venda generalizada das “tranches” com menor risco, mesmo as que possuíam uma classificação AAA. Essa mini-crise de liquidez foi retomada em grande escala no verão de 2007. Mas nós falhamos porque não conseguimos tirar as conclusões corretas. Como gerentes de risco, nós deveríamos ter insistido que todas as “tranches” estruturadas, não somente as que não tinham grau de investimento, deveriam ser vendidas. Mas não acreditávamos que os preços dos ativos AAA pudessem cair mais do que 1%. Uma queda de 20% em ativos com praticamente nenhum risco de default parecia inconcebível, embora eventualmente isso pudesse ocorrer. O risco de liquidez não foi avaliado suficientemente bem e o mercado o considerasse em pequena margem antes da crise. Como caímos nessa situação onde montamos posições de negociação tão amplas? Houve algumas circunstâncias que, se levadas em conta, nos ajudariam a responder a questão. Como é frequentemente o caso, tudo ocorreu tão gradualmente que se tornou quase imperceptível. Lutando a última batalha O foco no gerenciamento de risco era no portfólio de empréstimos e no clássico risco de mercado. Os empréstimos que eram ilíquidos eram contabilizados pela taxa histórica na carteira de investimentos ao invés de serem marcados a mercado como na carteira de negociação. A análise de crédito rigorosa para o cálculo da provisão dos empréstimos era fundamental. Os riscos dos empréstimos e os clássicos riscos de mercados eram geralmente bem compreendidos e regularmente revistos. As ações, títulos do governo, o mercado de câmbio e seus derivativos eram bem gerenciados na carteira de negociação e monitorados em base diária. A lacuna no nosso gerenciamento de risco foi aberta gradativamente ao longo dos anos com o crescimento das negociações com produtos de crédito, como as “tranches” em CDOs e outros instrumentos lastreados em ativos. A avaliação desses instrumentos ocupava uma posição incômoda entre o risco de mercado e o de crédito. O departamento de risco de mercado nunca tomou a responsabilidade pelo gerenciamento, acreditando que esses produtos fossem primariamente instrumentos de risco de crédito. Já o departamento de risco de crédito acreditava que eles deveriam ser administrados pela área de risco de mercado, já que estavam contabilizados na carteira de negociação. O crescimento explosivo e a lucratividade do mercado estruturado de crédito transformaram isso em um grande problema. A nossa administração de risco foi tímida. Nós estabelecíamos os limites em cada categoria de risco, mas de outro lado deixamos a cargo das mesas de operação a definição dos esquemas. Tínhamos duas hipóteses que nos custaram muito. Primeiro, pensamos que todas as posições marcadas a mercado na carteira de negociação receberiam atenção imediata, no momento em que as perdas ocorressem, pois os ganhos e perdas eram registrados imediatamente. Segundo, nós assumimos que se o mercado enfrentasse dificuldades, nós poderíamos facilmente ajustar e liquidar as nossas posições, especialmente as com ativos de “rating” AAA e AA. Nosso foco estava sempre concentrado na parcela da carteira que não tinha grau de investimento, especialmente os papéis dos mercados emergentes. As crises anteriores na Rússia e América Latina tinham deixado um profundo temor quanto aos choques súbitos de liquidez e à elevação nos “spreads” no crédito. Ironicamente e cristalinamente, nessa crise de crédito os títulos dos mercados emergentes tiveram uma performance melhor do que as dos ativos de crédito do Ocidente. Nós também confiamos nas agências de “rating”. É duro imaginar agora, mas a reputação dos “ratings” dos títulos divulgados pelas agências era tão alta que se o departamento de risco tivesse alguma vez atribuído um “rating” pior do que o das agências, a nossa avaliação seria prontamente questionada. O pressuposto assumido era de que as agências de risco simplesmente teriam o melhor conhecimento para a avaliação. Nós estávamos dessa forma confortáveis com os ativos com grau de investimento e estávamos nos debatendo com o elevado número de negócios. Éramos tão lentos para vender os ativos com melhor “rating”, pois necessitávamos pouco capital para bancá-los, não havia cobrança por liquidez, era muito baixa a inadimplência e, até havia uma pequena margem positiva para manter os ativos e financiá-los no líquido mercado de interbancário e de “repos”. Gradualmente, as estruturas foram se tornando mais complicadas. Elas eram mantidas na carteira de negociação, dado que muitos evitavam o processo rigoroso de crédito aplicado na carteira de investimentos, se isso fosse feito poderíamos ter identificado algumas das fraquezas. A pressão no departamento de risco para manter e aprovar as operações era imensa. A psicologia tinha um grande papel nas relações. O departamento de risco tinha uma linha de reporte para o conselho para preservar a sua independência. Esse tipo procedimento foi sublinhado pelos reguladores que acreditavam que isso era essencial para o objetivo de análise e cálculo do risco. Entretanto, esta separação prejudicava o nosso relacionamento com os executivos e operadores que tínhamos que monitorar. Desmancha-prazeres Nos olhos desses profissionais, não estávamos ganhando dinheiro para o banco. Pior ainda, nos tínhamos o poder de dizer não e desse modo impedir que os negócios fossem feitos. Os operadores nos viam como um obstáculo para ganharem maiores premiações. E eles não se sentiam felizes quanto a isso. Algumas vezes o relacionamento entre o departamento de risco e as linhas de negócio terminava em fortes discussões. Eu frequentemente recebia ligações dos meus próprios gerentes de risco antecipando que um operador mais graduado iria me ligar para queixar-se da recusa de uma operação. Na maioria das vezes, as áreas de negócio não aceitavam um não como uma resposta, especialmente quando os lucros das operações eram grandes. Críticas de que não éramos comerciais, que não tínhamos senso construtivo e éramos obstinados não eram incomuns. É justo afirmar que nem sempre o departamento de risco ajudava na sua causa. Ainda que nossos gerentes dominassem fortemente as técnicas analíticas, não eram necessariamente bons comunicadores e homens de venda. Explicações diplomáticas para as razões da não aprovação das operações não eram o nosso forte. Os operadores ficavam frequentemente enfurecidos com a forma como a reprovação da operação era efetuada. Na raiz de tudo, entretanto, estava – e ainda está - uma falha impregnada no processo de tomada de decisão. Ao contrário dos processos judiciários, onde é permitida a defesa dos dois lados, nos bancos há sempre um viés para um lado das posições. As linhas de negócio eram mais concentradas na aprovação das transações do que em identificar os riscos de suas propostas. Os fatores de risco tomavam apenas uma pequena parte das apresentações e sempre eram minimizados. O que tornava difícil desencorajar as operações. Se um gerente de risco dizia não, imediatamente ele entrava em rota de colisão com as linhas de negócio. As decisões de tomada de risco, desse modo, inclinavam a dar sempre o benefício da dúvida para os tomadores de risco. Como resultado, o senso comum coletivo sofria. Frequentemente nas reuniões, nossas reações viscerais como administradores de risco eram negativas. Mas era difícil apontar em argumentos duros e concisos as razões para a recusa da operação, principalmente quando você opõe-se a um time que tinha trabalhado semanas na proposta que você só recebeu à uma hora do início do encontro. Ao final, com a pressão para a geração de lucro e um ambiente de mercado tranqüilo, ainda que de forma relutante, nós concordávamos com algumas transações. Através do tempo nós acumulamos um balanço de ativos negociáveis que permitiam pouca margem para erro. Nós mantínhamos um portfólio muito grande de ativos de baixo risco que se mostraram de alto risco. Um pequeno movimento de preços em um montante de bilhões de dólares poderia se traduzir em elevadas perdas com a marcação a mercado das posições. Nós pensávamos que tínhamos focado corretamente nos ativos que não eram grau de investimento e que eram poucos em nossa carteira. Nós não tomamos a devida atenção para o acúmulo de ativos com melhor “rating”, mas potencialmente ilíquidos. Não tínhamos considerado totalmente que 20% de um grande número podem produzir mais perdas do que 80% de uma pequena parcela. Gols e Goleiros O que temos, nós como administradores de risco e a indústria financeira, a aprender com a crise? Algumas respostas vêm à mente. Uma lição é voltar para o básico, analisar as nossas posições por tipo, tamanho e complexidade, antes e depois de ter feito o “hedge” das mesmas. Não assumir que os “ratings” estão sempre corretos e se estão, que os mesmos podem mudar rapidamente. Uma outra lição é contabilizar propriamente em duas formas o risco de liquidez. Uma é aumentar a alocação capital interna e externa para posições de negociação. Há tão poucas quando comparadas com as de posições de investimento e necessitam ser sempre reecalibradas. A outra é reutilizar esquemas de reservas de liquidez. Isso até agora tem recebido pouca atenção da indústria financeira. Através do tempo as práticas de contabilização pelo valor justo têm eliminado as reservas de liquidez, quando elas eram consideradas a só permitir um ajuste suave dos ganhos. Entretanto, em um ambiente em que uma parte cada vez maior do balanço é composta por ativos negociáveis, seria mais sensível voltar a utilizar reservas de liquidez cujo tamanho seria determinado conforme a complexidade do ativo subjacente. Isso seria melhor do que questionar todo o princípio da contabilização pela marcação a mercado, como alguns bancos estão fazendo. Por último, mas não menos importante, mudar a percepção e o posicionamento dos departamentos de risco dando a eles mais importância. A melhor maneira para fazer isso seria encorajar que mais operadores tornassem administradores de risco. Infelizmente, a tendência é outra, os bons administradores de risco terminam nas linhas de frente, enquanto os bons operadores e executivos, uma vez na linha de frente raramente seguem um outro caminho. Os administradores de risco necessitam ser vistos como bons goleiros: sempre no jogo que ocasionalmente podem estar no centro do jogo, como na hora da batida de um pênalti. Isso é difícil alcançar porque a profissão que exercemos é um portfólio de risco com uma posição vendida de uma opção sem limite de perda, mas com limite de ganho. Esta é a posição que todo bom administrador de risco sabe que ele precisa evitar a qualquer custo. Uma empresa sábia necessita ter isto em mente quando tenta persuadir o seu melhor quadro a tomar uma opinião em uma tarefa crucial. Artigo publicado na revista Economist em 7 de agosto de 2008. Tradução livre de Everton P.S. Gonçalves, assessor econômico da ABBC- Associação Brasileira de Bancos.
Download