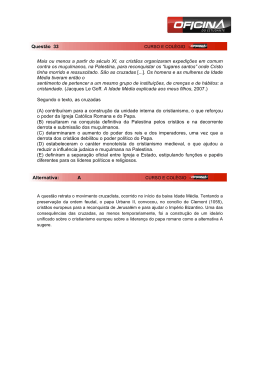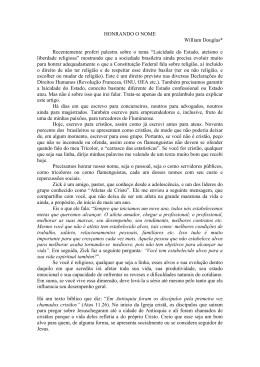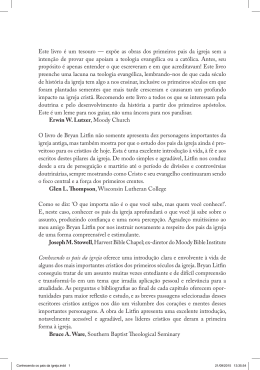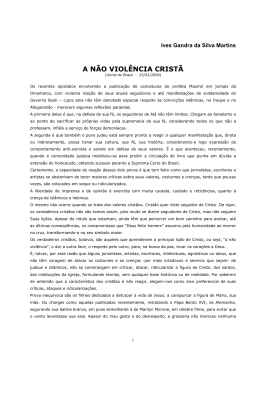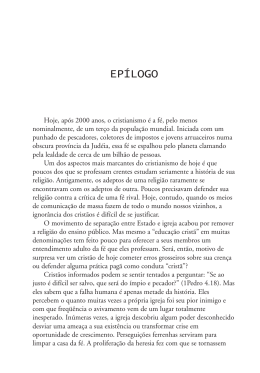ANACORESE (Parte I) A anacorese cristã “Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, retirou-se (anechóresen) de novo, sozinho, na montanha” (Jo 6,15). O verbo grego anachoréo significa “retirar-se”, “partir”, e o substantivo correspondente, anachóresis, “retiro”, “partida”. Logo no início do monaquismo cristão esses termos adquiriram o significado técnico de “vida retirada do mundo” – daí “anacoreta”, pessoa que vive separada do mundo. Todavia, em seu sentido cristão mais profundo, a anacorese é um valor espiritual não apenas válido, mas até necessário a qualquer batizado que queira levar a sério a fé que professa. Para a Bíblia, o mundo é bom, mas dominado pelo mal. No Antigo Testamento, desde Abraão, a postura do Povo de Deus em relação ao mundo é de ruptura, de saída, de separação, até mesmo legal e ritual, de tudo o que é contrário a Deus. Para os profetas, essa ruptura não devia se limitar ao aspecto meramente exterior, mas tinha de ser, sobretudo, interior. Os profetas relembravam com saudade os quarenta anos de peregrinação no deserto, após a libertação da escravidão no Egito, como um tempo privilegiado da história do Povo de Deus, quando foi selada a Aliança. Mais tarde, surgiram os movimentos monásticos judeus, em Qumran, perto do Mar Morto, e nas vizinhanças de Alexandria, no Egito, com os denominados terapeutas, cuja anacorese (retiro, separação) no deserto não se dava apenas em relação aos pagãos, mas aos próprios outros judeus. Esses dois movimentos desapareceram com a derrota imposta aos judeus pelos romanos entre os anos 66 e 70. Não podemos igualmente deixar de notar que João Batista, que era “mais do que um profeta” (cf. Mt 11,7-15), pregou no deserto a chegada do Messias, e o próprio Jesus lá se preparou para o seu ministério, retornando depois à solidão diversas vezes. Para o Novo Testamento, notadamente nos escritos de São João e de São Paulo, “mundo” tem geralmente uma conotação negativa, não enquanto realidade material, criada por Deus e boa em si mesma (não há dualismo), mas como uma mentalidade inimiga de Deus, como o mal que contaminou a criação: “o mundo inteiro está sob o poder do Maligno” (1Jo 5,19). O demônio é chamado por Jesus de “Príncipe deste mundo” (Jo 16,11), e São Tiago convida o cristão a “guardar-se livre da corrupção do mundo” (Tg 1,27). A apostasia torna as pessoas piores do que eram antes de abraçarem a fé: “Se, depois de fugir às imundícies do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo seduzidos se deixam vencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro” (2Pd 2,20). O apóstata abandona o Reino de Deus, ao qual já pertencia, e retorna a “este mundo” dominado por Satanás e, por isso, é visto com horror pela Igreja: “o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama” (2Pd 2,22). Existe uma incompatibilidade radical entre o Reino de Deus e o mundo: “Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Belial? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos?” (2Cor 6,14-16). É por causa desse antagonismo inconciliável com o mundo que o cristianismo é por ele perseguido. O motivo dessa perseguição é essencialmente religioso, não político, como pensam alguns (nada nas fontes justifica tal afirmação). O cristianismo nasceu e em seguida se difundiu no seio do Império Romano. Ora, esse Império vasto e multicultural era extremamente tolerante em matéria religiosa. No extenso território dominado pelos romanos coexistiam muitos povos, e seus respectivos deuses eram sempre bem-vindos à própria capital, Roma. Ao contrário do Deus judeu-cristão, os deuses pagãos não eram ciumentos, não se importando com o culto prestado a deuses vizinhos. Por que, então, os cristãos foram perseguidos? Afinal, o seu Deus não era apenas mais um entre uma infinidade de outros? Na verdade, essa tolerância dos deuses (e de Roma) exigia algo em troca: adorar um determinado deus não podia implicar na negação dos demais, principalmente dos deuses da cidade, nem na dispensa das cerimônias religiosas oficiais. Além disso, essa condescendência religiosa requeria também a adoção do modus vivendi da cultura romana. Os judeus eram mais ou menos aceitos como exceção a essa regra geral, pois constituíam uma nação bem determinada e com o seu próprio Deus nacional – o que não impediu que fossem expulsos de Roma mais de uma vez. De início as autoridades romanas não distinguiam os cristãos dos judeus. O cristianismo era considerado uma seita judaica e, como tal, não era perseguido. Não demorou muito, porém, para ser identificado como uma religião diferente e a ser visto com maus olhos pela população pagã. No ano 64 dois terços da cidade de Roma foram devastados por um terrível incêndio, e as suspeitas recaíram sobre o imperador Nero como possível responsável pela tragédia, algo, aliás, nunca provado até hoje. Em todo caso, para desviar de si as atenções, Nero acusou os cristãos de terem posto fogo na cidade. Ao fazer isso, o imperador tinha consciência de que estava lançando a culpa sobre um grupo que já era detestado pelo povo, que, assim, não teria dificuldade em acreditar que os cristãos tinham mesmo cometido esse crime. Em seguida foi promovido um massacre que causou muitos mártires, entre os quais São Pedro e São Paulo. O cristianismo foi definido como superstitio illicita (“superstição ilícita”) ou superstitio malefica (“superstição maléfica”) e colocado na ilegalidade, passando doravante a ser perseguido pelo Estado, situação que persistiu até o início do século IV. Em consequência, o simples fato de alguém ser cristão acarretava um risco de vida, pois se tratava de um crime passível de morte. Com isso, naturalmente, o nível de fé e de moral das comunidades era bastante alto, pois apenas pessoas inteiramente comprometidas com a Igreja pediam o batismo – lembremos que nessa época a grande maioria dos cristãos era de convertidos provenientes do paganismo. Além disso, quando um adulto pedia para ser inscrito entre os catecúmenos, a comunidade o acompanhava atentamente, a fim de verificar se, de fato, havia mudado de vida. A população pagã, por outro lado, considerava esse novo comportamento como antissocial. De fato, os cristãos não assistiam às lutas de gladiadores, não frequentavam os espetáculos no circo (que frequentemente eram acompanhados de atos idolátricos), não iam ao teatro (havia muitas peças imorais e, não raramente, também atos de idolatria). As mulheres cristãs não abortavam e os pais não podiam abandonar os filhos recém-nascidos (dois costumes frequentes e aceitáveis na época). Além disso, se houvesse um perigo iminente para o Império ou para determinada cidade, ou se ocorria alguma calamidade, eram convocados atos de culto público para aplacar a cólera dos deuses, mas os cristãos não compareciam a eles. Em uma sociedade religiosamente relativista e de moral laxa, e que não separava as obrigações civis e as religiosas, os cristãos foram oficialmente acusados de “ateísmo” (por renegarem os deuses) e de “ódio ao gênero humano” (por se ausentarem de muitos atos da vida civil “normal”), embora fossem pacíficos, não contestassem a legitimidade do poder do Estado e se submetessem às leis (com exceção daquelas que os obrigavam a praticar atos de idolatria). Além da crença em um Deus único, com exclusão de qualquer outro deus, o comportamento público é que diferenciava os cristãos dos outros súditos do Império – e essas duas características os tornavam socialmente irritantes e antipáticos em extremo: “o mundo os odiou porque não são do mundo” (Jo 17,14). Conforme o famoso texto de um cristão anônimo do século III, que é uma resposta a um amigo pagão chamado Diogneto, os cristãos assumiam as culturas locais onde se encontravam, mas, ao mesmo tempo, constituíam uma poderosa e incômoda contracultura: “Não se distinguem (os cristãos) dos demais, nem pela região, nem pela língua, nem pelos costumes. Não habitam cidades à parte, não empregam idioma diverso dos outros, não levam gênero de vida extraordinário. Moram alguns em cidades gregas, outros em bárbaras, conforme a sorte de cada um; seguem os costumes locais relativamente ao vestuário, à alimentação e ao restante estilo de viver, apresentando um estado de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Casam-se como todos os homens e como todos procriam, mas não rejeitam os filhos. A mesa é comum; não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Se a vida deles decorre na terra, a cidadania, contudo, está nos céus. Obedecem às leis estabelecidas, todavia superam-nas pela vida. Os cristãos residem no mundo, mas não são do mundo” (Carta a Diogneto 5,1-2.4-10; 6,3; trad. de Dom Frei Fernando Figueiredo, OFM). A conversão ao cristianismo exigia uma completa mudança de mentalidade, a adesão a uma inteiramente diversa escala de valores fundamentais (é o que significa o termo metánoia) e, por conseguinte, supunha um estilo de vida coerente com essa nova compreensão da realidade. Em resumo, na Igreja dos primeiros séculos (paradigma para a Igreja de sempre), todos os cristãos deviam praticar uma “anacorese espiritual” em relação ao mundo. O “retiro do mundo” ou a “separação do mundo” eram entendidos como retiro ou separação do “mundanismo”: “Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno” (Jo 17,15). Nesse sentido, com o justo e urgente objetivo de adaptar a Igreja ao mundo moderno, o Concílio Vaticano II, notadamente com a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, assumiu uma postura bastante positiva diante das realidades humanas e das legítimas conquistas da modernidade, sem esquecer, por outro lado, que a Igreja tem a missão de evangelizar o mundo, não de ser mundanizada por ele. “Moderno” não é, necessariamente, sinônimo de “bom”. Ninguém pode ser um cristão autêntico estando impregnado por uma mentalidade que é contrária ao Evangelho.
Baixar