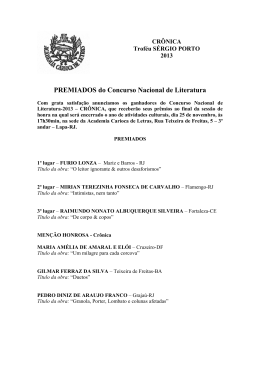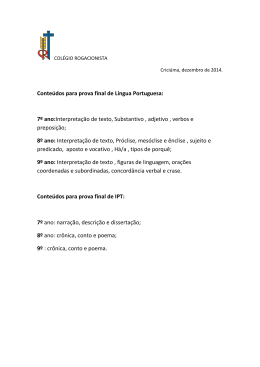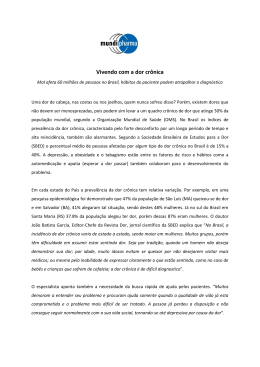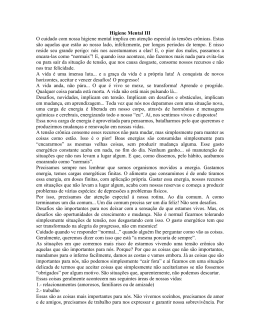DEZ ANOS DEPOIS: COMO VAI VOCÊ, RIO DE JANEIRO? - ano 3 - nº 5 - março 2003 A ciclotimia crônica Zuenir Ventura Jornalista e escritor Nesses últimos dez anos _ da chacina da Candelária ao massacre de Tim Lopes; de Vigário Geral aos recentes atentados a bomba e incêndios de ônibus _ uma espécie de ciclotimia crônica tem feito com que, no Rio, a cada sensação de alívio se siga uma de pânico. “Logo agora que parecia estar melhor”, costuma-se lamentar diante das rebordosas que se sucedem. Se há um surto mais agudo, chama-se o Exército na crença de que tudo será resolvido. Tempos de altos e baixos, de avanços e recuos. Um dia, a esperança; no outro, a depressão _ isso quando o pessimismo não predomina, como tem acontecido ultimamente. Uma resposta negativa vem acompanhando as perguntas que os visitantes estrangeiros nos fazem ou que nós mesmos nos fazemos com freqüência: O Rio melhorou ou piorou? De 1993 para 2003 o que mudou? A primeira impressão é de que tudo piorou. O tráfico mudou de escala, passou a apelar para ações terroristas, ampliou seus limites, estendeu seus domínios, rompeu com antigos laços de solidariedade que mantinha com as comunidades, perdeu o respeito às instituições, declarou guerra à polícia e está conseguindo manipular a população das favelas nas batalhas do asfalto. “Tá tudo dominado”, como eles dizem. A febre chegou a tal ponto, a um grau tão elevado que o termômetro não serve para registrar o verdadeiro estado do paciente, mesmo quando melhora. Os índices de violência perderam a credibilidade, seja porque costumam ser manipulados politicamente pelas autoridades, seja porque a sensação térmica é o que acaba contando: assim eu sinto, assim é. Essa violência subjetiva, feita de sensações, pode estar provocando tantos estragos no modo de ser da cidade, na sua auto-estima, quanto a violência objetiva, real. Um cidadão que saia de casa achando que será assaltado, ainda que não seja, sofre o mesmo estresse de expectativa do assaltado, “apenas” com a vantagem de ser poupado do trauma do desfecho. O que será psicologicamente mais desgastante: a violência ou a percepção da violência? Ela ou o pânico que inspira? É uma história antiga, mas que começou a ficar mais visível nos anos 90, exatamente em 1993, quando as chacinas de oito meninos de rua na Candelária e de 21 moradores em Vigário Geral, as duas executadas por policiais, se transformaram em marcos da violência. De um dia para o outro, famosos cartões postais do Rio como o Pão de Açúcar e o Corcovado INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRABALHO E SOCIEDADE deram lugar a dois anti-símbolos, que passaram a correr o mundo em forma de fotos: meninos com o rosto coberto por cobertores para não serem reconhecidos e 21 caixões estirados na rua da favela chacinada. Nesse ano, chocado como toda a cidade, desembarquei em Vigário Geral procurando resposta para a pergunta que toda a sociedade se fazia: “como explicar tanta violência?”. O resultado foi o livro “Cidade partida”, que em forma de crônica, uma “crônica noir”, registrava um fenômeno ainda pouco estudado: o “apartheid social”, para usar uma expressão então pouco usada. “Desde a reforma de Pereira Passos”, dizia o texto a certa altura, “e passando pelos planos Agache e Doxiadis, a opção foi sempre pela separação, senão pela simples segregação. A cidade civilizou-se e modernizou-se expulsando para os morros e periferia seus cidadãos de segunda classe”. Relendo o que escrevi, escreveria tudo de novo, ou quase tudo: “Ao empurrarem as ‘classes perigosas’ para os espaços de baixo valor imobiliário, as ‘classes dirigentes’ não perceberam que as estavam colocando numa situação estrategicamente privilegiada em caso de confronto _ como nem os bárbaros do século V tiveram para derrubar o Império Romano (...) Os nossos bárbaros já estão dentro das muralhas e suas tropas detêm as melhores armas e a melhor posição de tiro”. A experiência relatada no livro mostrava que “nenhuma operação de força fará sentido se a expulsão da minoria delinqüente não se fizer acompanhar de uma ação de cidadania que incorpore socialmente a massa de excluídos”. Depois do choque inicial das chacinas, veio a rotina. A última década do século XX foi de banalização da violência. Por ter-se transformado em cultura, a Cultura da Violência, e essa talvez tenha sido a construção mais nociva desse período, não se pode isolá-la como se faz com um vírus: ela é difusa e onipresente, tem seus costumes e comportamentos, códigos e práticas morais. A agressividade gratuita e a crueldade vêm tornando-se um padrão e um valor entre nós: os pit-boys, os filhos de famílias abastadas que se divertem espancando homossexuais, os motoristas que matam por um arranhão no carro, as torcidas organizadas, o prazer quase erótico da porrada, o gosto mórbido de sangue. Nem tudo, porém, piorou durante esse tempo em que perdemos a ilusão e a inocência. É bem verdade que o tiroteio entre os governantes continua, entre os que entram e os que saem. A culpa é sempre do outro. O estado de beligerância generalizado, uma espécie de guerra permanente, foi incorporado pelo discurso de certas autoridades. No Rio, já se viu secretário de Segurança ameaçar bandidos com a morte (“se tiver que morrer que morra”) e prefeito sugerir a execução de presidiários (“mata quem tiver que matar”). Em vez de propostas de políticas públicas, o estímulo à matança. Em compensação, bem ou mal, a sociedade vem adquirindo a consciência de nossa tragédia social. Acabou-se o tempo do repasse, sabemos que somos responsáveis. Nunca tantos DEZ ANOS DEPOIS: COMO VAI VOCÊ, RIO DE JANEIRO? - ano 3 - nº 5 - março 2003 movimentos sociais _ ongs, igrejas, associações _ trabalharam tanto quanto agora pela inclusão e contra a violência. Os exemplos são muitos, mas um tem para mim valor emblemático: o AfroReggae. Surgido nos escombros da chacina de Vigário Geral, o grupo cultural e social conhecido inclusive internacionalmente, vem disputando com o tráfico os jovens das favelas cariocas, fornecendo-lhes um futuro. Em dez anos, ele fez mais pela incorporação social dos que se encontram em situação de risco do que todas as operações de repressão policial.
Download