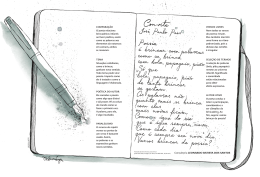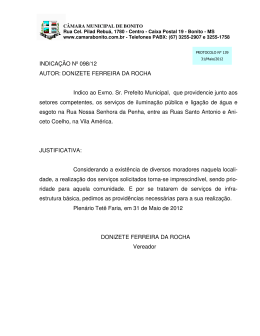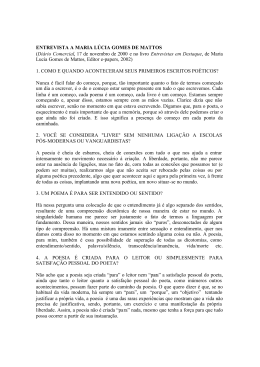grafias POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA Clovis Carvalho | Diretor Executivo Plinio Corrêa | Diretor Administrativo Maria Izabel Casanovas | Assessora da Direção Executiva Ivanei da Silva | Museólogo Dirceu Rodrigues | Imprensa Angela Kina | Design CASA DAS ROSAS – ESPAÇO HAROLDO DE CAMPOS DE POESIA E LITERATURA Frederico Barbosa | Diretor Carmem Beatriz de Paula Henrique | Coordenadora Administrativa Márcia Kina | Supervisora Administrativa Fabiano da Anunciação | Assistente Administrativo Neide Silva | Copeira Daniel Moreira | Supervisor Cultural Thaís Feitosa | Técnica Cultural Débora Nazari | Comunicação Annelise Csapo / Luis Felipe Lucena / Kryslei Cipriano Goes | Educativo Waltemir Dantas / Jackson Oliveira / Beto Boing | Produção Marcelo Macedo | Zelador CENTRO DE REFERÊNCIA HAROLDO DE CAMPOS Julio Mendonça | Coordenadora Rahile Escaleira | Bibliotecária Irana Magalhães | Assistente de Organização e Pesquisa Leonice Alves | Assistente de Biblioteca CENTRO DE APOIO AO ESCRITOR Reynaldo Damazio | Coordenador Maria José Coelho | Assistente Mayne Benedetto | Assistente de Biblioteca grafias GRAFIAS – revista do centro de apoio ao escritor Diretor: Frederico Barbosa Editor: Reynaldo Damazio Assistentes: Maria José Coelho / Mayne Benedetto Produção: Carmem Beatriz Henrique de Paula Design: Angela Kina / Assistência de Design: Carlos Santana Revisão: Centro de Apoio ao Escritor Imprensa: Dirceu Rodrigues / Débora Nazari ANO I – N° 2 – Dezembro de 2014 sumário 7 8 12 14 22 24 30 Editorial Minhas primeiras palavras Evandro Affonso Ferreira A terra exilada: viagem e literatura Tiago Novaes Donizete Galvão (1955-2014) in memoriam Guilherme Gontijo Flores Escrever é fácil Marcia Tiburi O spray da poesia concreta Anelise Csapo Literatura lenta Noemi Jaffe editorial Os desafios da escrita criativa e do complicado mundo das letras são questões centrais nas atividades do Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas, desde a formação de um repertório pessoal e consistente ao desenvolvimento do projeto literário, que pode ser um livro impresso, ebook, fanzine, site, revista eletrônica ou qualquer outro veículo para divulgar ideias, textos e imagens. A revista Grafias é uma das ferramentas do CAE nesse percurso tão incerto quanto fascinante. Em seu segundo número, Grafias apresenta a contribuição de escritores, que são também parceiros do CAE, sobre as dificuldades de escrever, a profissão do escritor, a viagem na literatura, a poesia dos grafites, as primeiras experiências literárias, além de um ensaio primoroso sobre a poesia de Donizete Galvão (19552014). Reynaldo Damazio 8 MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS 9 Evandro Affonso Ferreira Leitor compulsivo. Já havia catalogado nela minha biblioteca particular quase quatro mil livros – bons. Costumava dizer sem abrir mão do gracejo que o pior autor dele meu acervo era Borges, sim, o Jorge Luis, segundo o qual cada homem corre o risco de ser o primeiro imortal. De repente, dias começaram a amanhecer anêmicos, nada-ninguém para me ajudar a esconjurar reveses, sortilégios, as digamos impremeditações bancarroteiras. Pensei em vendê-los – todos. Adeus meu Bruno Schulz, minha Hilda, meu Faulkner, meu Chesterton, meu Juan Carlos Onetti, meu Cornelio Penna, meu Hölderlin, meu Dino Buzzatti, meu Lucrécio, meu Musil, meu Hermann Broch, meu Homero, assim por diante. Náufrago sem possibilidade de resgate. Senti aquela dor sem espasmo, inane, escura e triste, dor modorrenta, apática, contida, para a qual nem alívio nem saída. Quem lê Coleridge entende inquietudes deste naipe. Vender – mesmo sabendo que sem aqueles valiosos volumes meus caminhos se tornariam mais estreitos. Mesma angústia dele Abraão a caminho do Monte Moriá. Jeito era me desfazer deles todos meus amigos, minhas armaduras meus escudos contra o tedium vitae. Cheguei ao primeiro sebo, ofereci. Dono já me conhecia, sabia dela minha exigência, da substancia- lidade qualitativa do acervo. Sugeriu ato contínuo que eu abrisse a própria loja de livros usados. Abri: Sagarana – meu primeiro sebo. Fali no terceiro ano: excesso de qualidade. Não me abati: tempo todo soube à semelhança dele Luciano, aquele de Samósata, que a vida não é um mar de leite com enormes queijos-ilhas. Antes, de tanto ler, descubro num dicionário antigo, a palavra bangalafumenga. Gostei da sonoridade. Cataloguei mais uma, mais outra, zaratempô aqui, zuruó ali, catrâmbias acolá, pronto: três mil palavras sonoras. Pensei: dia desses tiro proveito dessa palavrosidade infindável. Lendo tempo todo dentro da própria loja, belo dia, frente a frente com as histórias de cronópios e de famas do Cortázar, pensei petulante: Acho que sei escrever textos curtos assim. Dito e feito: ano depois havia nascido “Grogotó” – primeiro livrinho de minicontos. Cheio delas palavras sonoras tiradas do meu léxico digamos particular. Já estou no meu nono, décimo livro, perdi a conta. Fui abrindo mão aos poucos desse apego lexical exagerado. Hoje parece que faço prosa mais aceitável, não me preocupo em vivificar palavras abstrusas. Confesso que ainda não aprendi que para escrever bem é preciso passar por cima das ideias intermediárias. Montesquieu, sim: aprendeu. Evandro Affonso Ferreira é escritor, autor de “Crogotó”, “Minha mãe se matou sem dizer adeus” e “O mendigo que sabia de cor os Adágios de Eramos de Rotterdam” (este último ganhador do Prêmio Jabuti). 10 A TERRA EXILADA: VIAGEM E LITERATURA Tiago Novaes Para muitos Homero foi um andarilho cego que oferecia suas epopeias a troco de um prato de comida e abrigo ante as intempéries. O crepitar do fogo e um cozido no estômago estimulavam o canto das musas e a postergação do desenlace, cada um dos vinte anos que levará para que Odisseu retorne a Ítaca. Homero poderá dormir uma noite mais sob o teto de algum senhor porque seu herói está ao relento, ao embalar das ondas divinas e dos feitiços nas ilhas. Quando a estrada de Odisseu termina, a de Homero precisa recomeçar. Planejar o que não é plano, a navegação sobre mares e desertos e a sedução do distante não serão apenas temas fascinantes para os leitores de todos os tempos e lugares como também o próprio terreno da escrita: o mistério do narrar que se descortina como uma paisagem, o acontecimento que não é senão abertura à continuidade da trama e do horizonte, um deslizamento dos sentidos que nunca se fixam e o atestado da alteridade do autor, fluente em uma língua que jamais será sua, intimado ao umbigo do sonho que se desabriga em cada cali- 11 grafia. A aventura só é exótica porque é intrínseca. E nos escapa na mesma injunção que nos faz humanos. Em tempos remotos, quando a terra não era um lugar, inconcebível posto que familiar, quando os povos se conservavam pela distância e acidentes geográficos, a narrativa contemplava o augúrio e a ameaça do inaudito. A terra era guardada por dragões de fogo, o mar por tempestades e criaturas do fim do mundo. Para além, o nada, o abismo. O homem submetia-se ao jugo dos titãs (forças naturais) e de seus filhos olímpicos (caprichos da fortuna). A viagem foi fuga e encontro ao destino. A palavra irá reviver o mito do retorno. Ulisses foi reconhecido por sua terra, personificada por Argos, ainda que não por seus homens. Édipo reconheceria o pai muito depois de derramar o seu sangue. A viagem desfigura, mas há sempre uma cicatriz que enraíza o viajante. A partir do início da história do mundo como um lugar, as narrativas contarão do domínio, do anseio total e devorador humano. Os dentes da descrição são os mesmos das engrenagens das máquinas. A afirmação da alteridade denunciará a ocupação do empreendedor e do antropólogo. A análise decomporá o mundo em partículas e a alma em instâncias psíquicas. São os tempos de Robinson Crusoé, self-made man, da pressa de Mr. Phileas Fogg, e a revelação do avesso do sistema-mundo na barbárie civilizatória em Joseph Conrad. O sistema, desde o século XIX convertido em aparato brutal de liquidação planetária, começa a arder a partir das beiradas. Aquele que ousa adentrar as colônias testemunhará a outra face do homem esclarecido e tranquilizado pelo pensamento cartesiano. A partir de então, a beleza será apenas máscara da verdade, e não mais a mimese da natureza. Filhos de Rimbaud e de Nietzsche, poetas sulcarão vida e obra na mesma vertigem, no amor ao acaso como libertação da estereotipia, do banal como vacina e veneno perante a grandiloquência do fascismo burguês. Na terra exilada já não há o homem. Na geografia integrada pelos sistemas de produção, a viagem será impossível. A beleza será recoberta pela tempestade do deserto. O destino, abolido. Nenhum heroísmo na jornada, apenas um movimento natural, naturalmente subversivo de negação de nacionalismos e nações. O poeta aguarda na aduana que o separa daquilo que seguirá desconhecido. O oficial das fronteiras observa seus documentos e não decifra ali qualquer identidade. Está consternado. O poeta ri. É um infrator por querer chegar ao outro lado. O exílio lhe dá asas, pois ele habita o estreito onde as pessoas não se entendem e precisam recomeçar do nada. Mas é claro: já não há reconhecimento. Já não estamos mais nos lugares que nos foram caros. O nômade margeia o trauma, o limite entre a palavra e o silêncio, entre a dor germinal e a antimatéria cancerígena. Nada nos fala, e este nada é o nosso legado. Tiago Novaes é psicanalista e escritor, autor de “Estado vegetativo” e “Documentário”, entre outros. Foto: Divulgação DONIZETE GALVÃO (1955-2014) IN MEMORIAM 13 “A caminho de que Ítaca Branca e rochosa nos perdermos?” (“Figan ta Pedia”, Donizete Galvão) Guilherme Gontijo Flores Há um descompasso grande que praticamente funda toda literatura: se as obras ficam, por outro vão-se os homens; a leitura é, no geral, a marca de uma ausência do corpo pela presença do texto; e a regra é lermos quase sempre nossos ilustres desconhecidos, pela distância ou pelo tempo, nomes que insistimos em atribuir à obra, sem sabermos nada dele, meras chancelas. No último século e meio, pudemos muitas vezes ver as fotos dessas figuras, mas ainda digo — fotos enganam: dão uma casca enquadrada àquela chancela desprovida de sentido, e nessa fissura entre nome, imagem & necessidade de sentido é que nossa imaginação funda o autor (um tema obsessivo no Ventrakl de Christian Hawkey, que apresentei faz pouco tempo no escamandro). O Donizete, por exemplo, eu conheci primeiro em livro & foto, aquela poesia pesada, noturna (“a noite é nossa sina”), mineiramente doída (com seus bois, taperas, capins &c. “Nunca saí dessa Minas que não termina”), ou melhor, paulistomineira & doída (como negar que sua roça é provavelmente a mais urbana da poesia brasileira?), de algum modo combinava com a imagem forte que eu tinha dele nas (2 ou 3) fotos que eu conhecia. Sempre tive a impressão de que era um homem alto e robusto — o que era imaginação, invenção daquela chancela, desejo de lhe dar uma unidade coerente que nada tem de humano. Em setembro de 2012, ele veio a Curitiba fazer uma oficina de poesia: claro que fui pra conhecer a 14 figura, o Bernardo Brandão veio junto. Depois de um momento curioso de primeira vista, comecei a rever o homem imaginado: não era tão alto, notavelmente tímido, com uma voz hesitante & fina — fina que não cabia naquele corpo pouco forte, mais afeito à barriga civilizatória. Essa mesma voz fina sempre viria a me espantar nas outras vezes que o veria, como que nunca pertencendo ao corpo. Pra terminar, a presença de anéis coletivos, apinhados num mesmo dedo, cujo sentido nunca cheguei a perguntar, talvez por simplesmente gostar daquilo sem compreender. Enfim, a oficina foi ótima, de Eliot ao Drummond profundo que eu sei que ele carregava consigo, independente da mineirice partilhada (eu mesmo, mineiro pelas metades, acabei por carregar esse modo & até penso que talvez esteja mais na terra do que nas leituras de Drummond), passando por Sophia de Mello Breyner Andresen. O que importa é que, depois da oficina, a gente foi conversar com o homem & depois fomos tomar uma cerveja & depois fomos jantar com o homem, de uma gentileza carinhosa & de uma abertura que vi poucas vezes no meio literário: aqui convém dizer que muitas vezes o melhor, em literatura, é ficar sem conhecer as pessoas, porque em geral o homem decepciona, está sempre aquém da obra. O Donizete não. Não é nem que estivesse além da obra — ele simplesmente era a contraparte da obra. Com isso eu quero dizer que encontrei no homem um aspecto solar que (quase) não aparecia na sua poesia. Essa característica contrastiva — pessoa X obra — tirava toda a aura da obra, & isso, penso eu, talvez fosse o melhor da obra. Quem lê a sua poesia sente exatamente um estado de fim da aura, de poesia inacabada, homem inacabado (título do seu último livro), cortado entre uma origem roceira & uma vida urbana que nunca termina de se completar: um homem a caminho do nada. Mas o Donizete ria bastante, pude dar longas risadas com ele nas outras vezes que nos encontramos ao longo desse ano & meio, além de discutir essas questões solares e noturnas, de qualquer modo sublunares, que era o que nos importava. A última foi agora em dezembro, quando estive em São Paulo: voltei de lá com uma garrafa de cerveja artesanal que ele me presenteou. Como a vida segue banal & sempre, a cerveja já se foi na banalidade dos dias. Foi-se entre amigos, sem sentido, talvez antes da hora, sem a atenção que eu poderia ter dado. Talvez como o Donizete. É diante dessa perda banal de um casco de cerveja, que se ressignificou pra mim com a perda imensa do Donizete que eu escrevo este micromonumento. Estou com quatro livros dele aqui em casa, vou selecionar cinco poemas que mais me comovem — a mim, este homem solar que sou — do meio da noite do Donizete, para comentar brevemente. Hoje acho que, mais do que noturna, a poesia dele é uma poesia de sombras, porque areja, não nos trava no puro breu, como naquela sua injunção: “ama o inominado / o perecível / o particular”. 15 CRINAS “Amei um cavalo – quem era? – ele me olhou bem de frente, sob suas crinas.” Saint-John Perse Amou um potro baio, bicho em cujo frêmito de aguda animalidade o vigor do sangue corria. Amou um cavalo cego, que teve o olho vazado pela ponta de um prego na triste hora da doma. Amou um cavalo morto, que, em sonho, o visita. Nos seus ombros, carrega a sina dele e do cavaleiro que já não mais existe. Amar, para além de um sentido objetivo do objeto presente, é sempre um ato de rememoração. Donizete percebeu isso com uma força tão impressionante neste poema: amar o cavalo vigoroso mesmo depois, no cavalo velho, cego, até o cavalo morto. Sem saber ao certo as causas desse amor por um animal, se estaria nele mesmo ou nesse cavaleiro (um parente? um amigo?) que, como o cavalo, persiste amado. 16 REBOCO Para Niura Bellavinha Sexta-feira: dia de rebocar o chão. É preciso ir ao curral e trazer na bacia o estrume das vacas. Melhor aquela pasta que solta fumaça, ainda cheirando a capim. Na beira do barranco, perto do córrego, cava-se a tabatinga. Do branco do barro com o verde da bosta, que se mistura com os dedos, surge uma argamassa com que se barreiam o piso da cozinha, a taipa e os lados da trempe. Para quem não tem muito tudo tem serventia: a argila, a bosta da vaca, o perfume da grama, o giro ágil das mãos. Faz-se sem saber como, sabendo-se desde sempre essa alquimia. “Para quem não tem muito: tudo tem serventia”: essa concretude da existência é uma das grandes marcas da poesia do Donizete. O seu mundo está sem mediação facilitadora, repleto de esterco e terra, mas de um esterco e de uma terra que tem suas funções fertilizantes para vida. De algum modo, pra mim, esse poema é sobre a vida: não há qualquer comiseração pela miséria de que não tem muito, mas apenas mistura, a terra e a bosta da vaca fundam a casa, fundam o homem. 17 ORAÇÃO NATURAL Fique atento ao ritmo, aos movimentos do peixe no anzol. Fique atento às falas das pessoas que só dizem o necessário. Fique atento aos sulcos de sal de sua face. Fique atento aos frutos tardios que pendem da memória. Fique atento às raízes que se trançam em seu coração. Fique atento. A atenção é sua forma natural de oração. Essa poética nos dá um olhar de sombra para o Donizete. Contrariando a simplicidade de uma poesia só da noite, esse poema aponta para as migalhas, ou para a luz delas. A pesca, a fala mínima (matuta), o suor, a memória, o enraizamento na memória diante do desenraizar urbano — temas centrais da sua poesia. Diante das perdas incontornáveis & da precariedade da existência, numa poesia que nunca apela para um conforto no além, é na materialidade mesma que se pode formar uma religiosidade, uma oração à vida. E este poema bem que poderia ser uma religião. 18 O CORTADOR DE BAMBUS Por que o poeta diz “Cortei bambu: para ti, meu filho” quando não precisamos mais de bambus se temos cimento e tijolos? Para que servem os bambus se ninguém dá um tostão por eles e não podem ser deixados como herança? Quem sabe cortou bambus para que o filho fizesse uma cerca perfeita, dentro dela cresceriam um jardim e uma horta. Para que o filho fizesse arapucas que caçassem sombras e pássaros inventados. Para que construísse uma casa que conservasse o frescor do vento e da água da chuva. Cortou bambus para manter-se vivo. e não soçobrar antes que as crianças crescessem. Cortou bambus mesmo em meses errados e muitos deles foram carcomidos pelos carunchos. Cortou como quem, às cegas, abre com o corpo uma picada, delimita um território, clareira de sol e ar limpo em que se possa viver. Cortar bambus foi sua maneira de não ficar de mãos atadas. A metapoesia aqui me parece ir além. Não se trata apenas da figura do poeta como resistência ao mudo caduco, mas do próprio movimento de existência: cortar os bambus, como poeta, é equivocar-se na vocação, fazer a coisa errada pelo único motivo que se justifica, ainda que esse motivo não seja claro ou unívoco. Os bambus não são dados ao leitor — mensagem numa garrafa —, e sim endereçados ao filho — com ele, aos pósteros em geral —, então por que dar o obsoleto para o filho, por que esses bambus mal cortados, cheios de caruncho, marca da incompetência do poeta? Cortar bambus é fundar o espaço (novamente precário) da existência e mais: ser capaz de conceder esse espaço, fundado e destinado ao fracasso, ao outro, a um outro amado, como um filho. Diante do fiasco do mundo, sem remendos, ao poeta é dada a reconstrução, mesmo que errada, ou segundo as palavras do próprio Donizete, num poema dedicado a Orides Fontela: “[...] no reino do poeta / não há juízo / ele acerta / mesmo quando / fracassa.” 19 MIOLO Lembro-te mata tenda de folhas ninhal de minas, casulo de sombras, alcova de brotos, renda de luzes. vertigem de avencas, friagem de sapos, labirinto de cipós, manto de limos, frescor de cambraias, grafias de cascas, acridez de sumos, açúcar de flores. Recorro a todos os nomes sem nunca recuperar o frêmito do espanto, o susto da criança inaugurando a mata. Um dos poemas mais solares do Donizete, com o tema da infância, com suas percepções atentas & reveladoras; porém a graça deste poema está no fracasso da linguagem: ao recordar a primeira imagem da mata (uma mata sem nome & sem local), o poeta recorre a uma série de imagens, deslocamentos metafóricos ou resumos imagéticos do que representaria a mata, porém nada a resume: o objeto, longe de estar perdido por inteiro, está apenas inominado, permanece na memória como algo que extrapola a linguagem, talvez como fonte primária do poético. Afinal, inaugurar a mata: é a criança que se inaugura, ou a mata que é inaugurada pela criança? Eu ousaria dizer que esse poema é o mito da inauguração da poesia, na sua falta de explicação. Guilherme Gontijo Flores é poeta, tradutor e professor de latim, autor de “Brasa enganosa”. 20 ESCREVER É FÁCIL Marcia Tiburi Escrever é fácil. Dizer que escrever é fácil é que não é fácil. Escrever que dizer que escrever é fácil é que não é fácil, é fácil. Eu poderia dizer que é difícil. Mas escrever é fácil. Se digo por escrito que escrever é fácil, então, é mais fácil ainda. A coisa dita e escrita de uma vez foi realizada: escrevi e foi fácil. A prova é que está escrito. Em resumo, dizer que escrever é fácil por escrito é a prova de que é fácil escrever que escrever é fácil. E é fácil porque foi escrito. Alguém pode achar difícil. Mas quem achar difícil estará lendo e não escrevendo. Quem escreve que escrever é fácil pode estar mentindo, mas digamos que, como eu, pense estar dizendo a verdade enquanto escreve. Escrever dizendo que escrever é difícil seria mais fácil do que dizer que escrever é fácil. É que é fácil escrever sobre o que é difícil. As dificuldades sempre parecem mais verdadeiras do que as facilidades. As facilidades em geral são desprezadas. Não seria diferente com as da escrita. Privilegia-se o difícil. As facilidades não parecem desafiar. É que as facilidades parecem baratas. Uma coisa barata é fácil, mas isso é só para quem também não entende do barato de escrever que é, de fato, bem barato. E o barato não tem desafio. E o desafio é que tem valor. Porém, escrever que é fácil escrever é fácil, mesmo assim, é um desafio. Escrever que é difícil seria ainda mais fácil, mas um fácil menos barato e por isso menos valioso porque mais valioso. 21 Um desafio totalmente barato, totalmente sem valor e muito barato é o que vale na hora de escrever qualquer coisa. Um desafio sem valor é um desafio que vale mais porque vale menos. É realmente mais fácil se escrevo que é difícil. Antigamente se falava de mulher fácil. Quem falava da mulher fácil era o machista, ele mesmo um fóssil. Infelizmente um fóssil vivo. Melhor ser fácil do que ser fóssil, diz a mulher fácil. Isso foi fácil de escrever. Uma mulher fácil é uma boa metáfora para a escrita fácil. Uns podem achar ruim porque se digo que a mulher é fácil é porque ela não desafia seu conquistador. Mas escrever é fácil como uma mulher fácil que não está nem aí para o seu conquistador. Escrever é fácil quando é um prazer perverso. Ou seja, é um prazer desapegado. Um prazer sem função. Um prazer vadio. Diante disso, quem escreve só tem duas alternativas: a melancolia e a depressão, quando escrever é difícil, ou a perversão, quando escrever é fácil. Em nenhum dos casos, quem escreve conquistará a escrita. Por que a escrita não está nem aí. Se a escrita fosse mulher ela seria como a Vênus das Peles que era uma facílima mulher fácil que se travestia de nada fácil. Se a escrita fosse mulher quem escreve seria um tonto como Severino. E Sacher Masoch seria o nosso maior deus literário. É fácil escrever que ele é. Ele é. Escrever é fácil porque exige condições básicas. Ter sido alfabetizado é a primeira. Continuar acreditando que escrever é fácil é a segunda. O narrador é aquele que acredita que escrever é fácil. Ele não é o autor. É alguma coisa no autor que não é ele mesmo, enquanto, ao mesmo tempo, é ele. O narrador é o não-eu que fala dentro de quem escreve. Os antigos chamavam de Daimon, Genius e outros nomes estranhos. Sócrates tinha um. Sócrates nunca escreveu nada e não gostava das coisas escritas porque as considerava falsas como aqueles que, mesmo alfabetizados, acham que escrever é difícil. Sócrates era o narrador de Platão. Platão era o autor que, por sentir-se sozinho, por viver meio tonto como Severino, deixava o personagem falar o que quisesse. Todo escritor é um ventríloquo que usa um boneco para falar e por motivos de força maior, deixa o boneco falar o que quiser. Sócrates era o boneco de Platão. Era um narrador contra a escrita que era escrita por Platão. Rebelião inocente de Platão que não se importava com Sócrates e continuava escrevendo por que escrever, para ele, era fácil. Quem diz que escrever é fácil não tem medo do ridículo. O ridículo é inevitável. É a parte mais fácil das facilidades da escrita sempre negadas por quem diz que escrever é difícil. Problema mesmo é você não ter sido alfabetizado. O resto é o draminha burguês do escritor que quer agradar o leitor rebaixado a freguês. Quem escreve ou lê, só se liberta desse draminha nascido da lei não escrita que diz que escrever é difícil na vadiagem em que escrever é fácil. Marcia Tiburi é filósofa e escritora, autora de “Era meu esse rosto” e “Filosofia prática – ética e vida cotidiana”, entre outros. 22 O SPRAY DA POESIA NO CONCRETO 23 Foto: Carlos Santana Anelise Csapo A cidade cresce na vertical, arranha e risca céus, e poucos são os que sabem ou que se interessam pela riqueza da comunicação direta “pixada” em letras, nomes e frases de cima a baixo nos muros e muretas de brancos preenchidos com as mais variadas tipografias entre tags retos* e xarpis*. Basta nos permitirmos traçar alguns paralelos de leitura interpretativa para vislumbrar a relação entre a poesia concreta nascida na cidade de São Paulo e seus reflexos na pichação da cidade, com fins de tecer o mais adequado questionamento a essa criação tão liberta e expressiva. Foto: Carlos Santana 24 25 Para um dos maiores expoentes da poesia concreta, Augusto de Campos, a mensagem codificada da pichação em seu aspecto plástico tem lá seus padrões determinantes que não dizem muito à comunidade em geral - a não ser aos grupos ligados a essa escrita pelas intervenções na paisagem urbana - a que completa concluindo a questão da pichação por seu caráter mais destrutivo, “não tanto pelo intuito de ser uma criação artística, mas pelo impulso rebelionário, uma contradita de uma sociedade que não abrigou aquele protagonista desse tipo de grafia da qual eu gosto e vejo com bastante interesse” conforme afirmação no link: https://www.youtube.com/ watch?v=Bo4P2vE67CY (O que é poesia? Com Augusto de Campos – VIII). E ali perto, outro fundador do movimento estético concretista, Décio Pignatari, realizador de experiências com a linguagem poética, desde os anos de 1950, ao incorporar recursos visuais com fragmentação de palavras, se posicionou com relação ao nascente grafite/pichação paulista em entrevista de 1981, afirmando que “a pichação é poesia concreta em si”. “O que aproxima a pichação da poesia concreta é justamente o fato de ambas manifestarem de maneira artística suas expressivas ideias revolucionárias em espaços públicos com certo minimalismo vocabular”, e foi essa pretensão de sintetizar as palavras em manifestação poética contestatória que em 52 o Décio faz seu ante anúncio Beba Cola-Cola “ relata Augusto de Campos. E então essa cartografia urbana de subversão efêmera e denúncia aos valores sociais se apropria do espaço urbano para discutir e imprimir a interferência humana na arquitetura da metrópole. Com o uso das mais variadas técnicas, de pasteup (colagem) às tags, os pichadores questionam concepções artísticas ligadas à estética e à liberdade de expressão, além de demarcar a linha tênue que relaciona espaço público e espaço privado. Lembrando que a definição da palavra grafite no 26 dicionário Larousse é: “inscrição, figura, frase ou risco, geralmente de caráter jocoso, informativo e contestatório, traçados em superfícies de objetos, monumentos, paredes ou muros em local público” e que, a pichação se insere no contexto do grafite por seu carácter de ilegalidade civil, como bem observou Décio Pignatati no livro A Poesia do Acaso, “o que caracteriza o SPRAY é o fato de ele ser uma escritura em público, o modo pelo qual o poeta conseguiu ir além da barreira da escritura particular. Na escritura solitária, o evento só passa a existir no momento em que vem a público, enquanto no SPRAY o ato de escrever já é público, e isso muda tudo”. A pichação como objeto de comunicação visual que disputa espaço com placas e outros elementos da rotina de sinalização urbana agita e desmascara a inquietude do anonimato, como experiência poética de decodificação da palavra na consistência de um grito oco, reverberando no ar. Em Palestra na UFPR, o escritor, poeta de vanguarda, redator publicitário e grafiteiro entre outras tantas atribuições, Paulo Leminski afirma: “Existe um caráter criminoso implícito no ato de grafitar. Quando o grafite aparece como fenômeno poético no Brasil, em meados dos anos 70, essa manifestação pública encontra na necessidade de colocar uma marca nos escritos das paredes do próprio corpo do panóptico, aquela sociedade fechada e prisional, que é a própria sociedade moderna. Nós estamos presos na cidade e o grafite é uma tatuagem na pele da cidade”. Para saber mais acesse o link: http://goo.gl/jzd7PH * Tags são assinaturas e marcas dos autores, que em São Paulo segue a tipografia reta e comprida assim como se imprimem os prédios na cidade. *Xarpi (anagrama de trás pra frente da palavra pixar – Xar-pi corresponde a Pi-xar) é o nome dado à pichação no RJ. Foto: Lucas Borges Barbosa 27 Anelise Csapo é supervisora do Núcleo Educativo da Casa das Rosas e jornalista que grita em muros, papéis e bites com palavras e sprays. 28 LITERATURA LENTA* Noemi Jaffe 29 1. Demorar para escrever. 12. Pesquise para escrever. 2. Demorar para publicar. 13. Invente personagens que têm pouco a ver com você. 3. Reescrever muitas vezes. 14. Suporte não explicar. 4. Ler muitas vezes. 5. Uma literatura que exige muito de quem escreve e de quem lê. 6. Ler e reler Samuel Beckett, cada vez com mais dificuldade. 7. Escrever até que o texto fale sozinho. 8. Cortar. 9. Ter consciência da (quase) todas as escolhas narrativas. 10. Uma escrita que se abra para interpretações, mas não excessivas. 15. Para expressar sentimentos, não os mencione, mas crie situações intensas que sejam alusivas e oblíquas. 16. Não existe literatura realista. O escritor que consegue descrever minuciosamente o contorno e a psicologia do formato de um nariz não é realista, pois na realidade não é possível perceber algo assim. Por isso mesmo, é bom descrever a psicologia e o formato de um nariz. 17. A realidade da literatura é a ficção. 18. Escrever a respeito de asas de xícara e capachos. 19. A política da literatura é ser literária. 11. Escreva sobre o que você sabe pouco ou não conhece. 20. Correr riscos. (*) Extraído da página da autora no Facebook. Noemi Jaffe é escritora e crítica literária, autora de “O que os cegos estão sonhando?” e “A verdadeira história do alfabeto”, entre outros. Foto: Lucas Borges Barbosa realização
Download