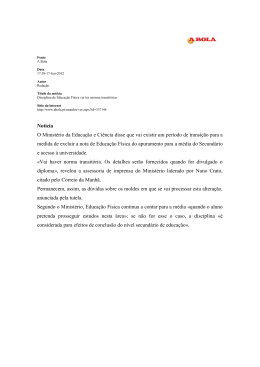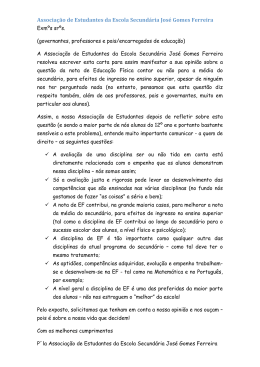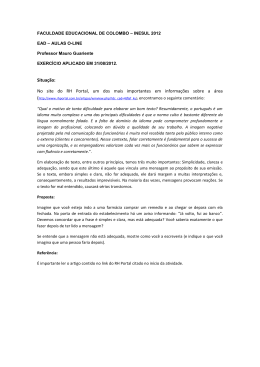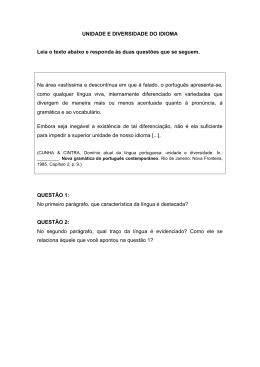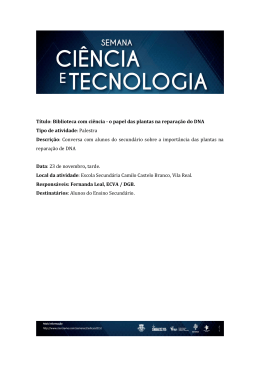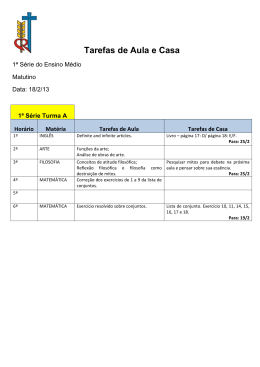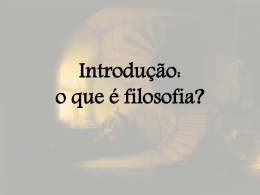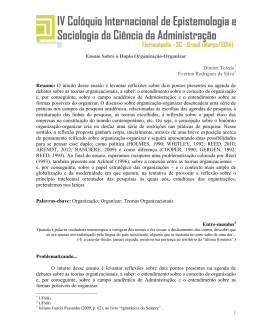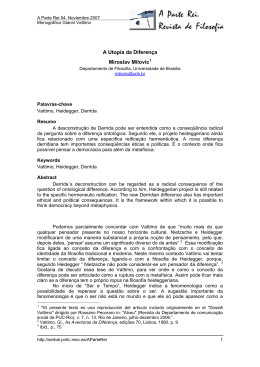A ESCOLA CONTRA A FILOSOFIA A Filosofia ocupa, no sistema do ensino secundário, um lugar cada vez mais precário e sofreu rudes golpes, em termos institucionais, que a põem em causa. Texto de António Guerreiro A condição institucional da Filosofia como disciplina e o seu lugar no sistema de ensino é uma velhíssima questão que se alimenta de paradoxos, como aqueles que Derrida formulou, num momento em que se empenhou numa intervenção pública pelo «direito à filosofia»: essa disciplina «impossível e necessária, inútil e indispensável», esse «ensino do não ensinável», não se reduz a uma identidade e a um corpo de saber e «excede as suas instituições» (para reduzir uma ambiguidade que, de resto, tem um valor fundamental escreverei «Filosofia», com maiúscula, sempre que, de maneira evidente, designar a disciplina). O título de um apelo da comunidade filosófica francesa, «Não há universidade sem filosofia» (de 1983), chegou depois a ser declinado como «Não há escola sem filosofia». As ameaças que desde sempre pesam sobre a Filosofia acabam de ser reactualizadas na escola portuguesa (mais propriamente, no ensino secundário) sob a forma da extinção dos exames no 11. ° ano e a passagem a disciplina opcional no 12.°. Foi sob a forma de um lapso que o Ministério da Educação mostrou, em 2002, que a Filosofia estava excluída dos seus cálculos. Era ministro David ]ustino, e no plano para um «novo ensino secundário» desapareceu a Filosofia para o 12.° ano. Foi um engano, garantiu o ministro, que tratou de repará-lo recolocando a grande ausente entre um leque de disciplinas opcionais, tais como Psicologia e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). As nefastas consequências começam agora a verificar-se: as turmas de Filosofia no 12.° ano reduziram-se ao número mínimo de alunos, já que tanto as TIC, que ganharam reputação de ser uma disciplina que serve para ensinar aos alunos aquilo que eles já sabem, como a Psicologia são reconhecidas como mais fáceis. Além disso, muitas escolas nem sequer oferecem a Filosofia como opção porque não têm número suficiente de alunos para constituir uma turma. Os que estão verdadeiramente interessados têm de procurar outra escola na área, quando ela existe, que preserve esta pequena reserva disciplinar. Um problema, aliás, que não é só da Filosofia: entre o número de opções consagradas na legislação e aquelas que existem de facto há uma diferença abissal. Tanto quanto a Filosofia, as línguas são vítimas deste «realismo» implacável e, na prática, o Inglês é quase a única língua estrangeira disponível neste mercado das opções. O segundo momento da liquidação chegou em Dezembro de 2005, quando o secretário de Estado da Educação anunciou que neste ano lectivo de 2006/2007 chegariam ao fim os exames nacionais de Filosofia no 11.º ano (muito embora se mantenha como obrigatória a disciplina no 10.º e no 11.º). A condição que a Filosofia adquiriu no ensino secundário faz com que as universidades (que, ameaçadas pela falta de alunos em muitos cursos, não se podem dar ao luxo de grandes exigências) prescindam dela como disciplina específica. Para perceber o que isto significa na desqualificação institucional da Filosofia, temos de saber que ela era requerida por mais de trezentos cursos (contando obviamente todos aqueles que, tendo muito embora o mesmo nome — como, por exemplo, Direito —, se multiplicam por diferentes universidades) e que agora já nem sequer é exigida a quem entra no curso de Filosofia. Todas estas circunstâncias tornaram necessária a defesa do ensino da filosofia e das condições, em termos efectivos e simbólicos, que garantem a manutenção do seu prestígio. Não se trata de reivindicar pergaminhos e antigos títulos de nobreza: entre a filosofia e a escola há um antigo diferendo, mas há também — e regressamos aqui aos paradoxos formulados por Derrida — uma relação consubstancial que Kant estabeleceu no seu texto sobre O Conflito das Faculdades: a ideia da filosofia como disciplina da razão, como modelo de racionalidade, aquilo que ensina a pensar e, em última instância, transforma o ensino em educação. É neste sentido que Kant definiu a figura do filósofo como «mestre da razão pura». A mobilização em defesa da Filosofia já começou. Para além de vários artigos em jornais vindos da comunidade filosófica, realizou-se um debate no dia 15 de Dezembro, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. E outro está previsto para Março, em data a anunciar, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. «A relevância da Filosofia na sociedade de hoje» foi o tema do encontro/debate na Universidade Nova. A sessão teve a participação de dois filósofos da casa, Maria Filomena Molder e José Gil (o qual, de resto, já tinha publicado uma crónica na revista «Visão» de 12/10/06 com o título «O Apagamento da Filosofia?»), de João Lobo Antunes (neurocirurgião), de Cados Fiolhais (físico), de Nuno Crato (matemático), de Rosa Maria Perez (antropóloga) e de Fernanda Palma (professora de Filosofia do Direito e juíza do Tribunal Constitucional). Tratava-se, portanto, de um leque de participantes vindos de várias áreas, o que deu ao debate uma dimensão que nada tinha de corporativo nem de institucionalmente académico. Os testemunhos ali apresentados em defesa da disciplina (e do seu lugar legítimo no sistema de ensino) não falavam certamente a mesma linguagem. Mas tiveram em comum a reivindicação da importância da filosofia como modo de pensar, de argumentar, de fornecer instrumentos de crítica e de inteligibilidade do mundo. Em suma: um saber fundamental, no sentido literal, que não pode, em termos institucionais, ser relegado para a condição de ornamento cultural, que é aquilo a que a disciplina de Filosofia no ensino secundário acaba por ser. Fernanda Palma falou da filosofia como um «direito» de cidadania. Fazendo referência a Derrida, percebeu-se bem que este «direito à filosofia» não se pode confundir com os ideais da filosofia como instrução cívica ou como fornecedor de um mínimo de matéria espiritual de que o cidadão necessita. Esses ideais são caducos e só servem para tornar a filosofia substituível por doutrinações de vária ordem e proveniência ou por um culturalismo inerte e muito bem comportado. Outro tópico importante que foi abordado, de diversos ângulos, para percebermos a irredutibilidade da filosofia, tem a ver com a sua capacidade de resistência: resistência ao pedagogismo (Nuno Crato); resistência à homogeneização do quotidiano e aos seus efeitos anestésicos e de anulação da capacidade de espanto (Lobo Antunes); resistência ao pragmatismo tecnicista, ao utilitarismo e ao mundo da opinião e da doxa - o senso comum - em que estamos mergulhados (José Gil). As resistências da filosofia e o seu estatuto disciplinar muito pouco conforme a uma poderosa efusão pedagógica que se tornou, nas palavras do filósofo francês Jacques Rancière, «um ersatz da graça divina» têm feito emergir um conflito, senão mesmo um diferendo, entre a escola e a filosofia. A França fornece um bom exemplo desta relação difícil porque conheceu, desde os anos 70 do século passado, manifestações públicas aguerridas, com uma intensa mobilização da comunidade filosófica, e uma resposta que fortaleceu o campo da filosofia, não tanto por conquistas políticas e institucionais, mas mais por ter promovido um debate interior à disciplina (de acordo com a sua vocação de se interrogar a si mesma) e de se mostrar como a única que está à altura — e não as chamadas ciências da educação — de uma filosofia crítica do ensino. Façamos então um breve percurso diacrónico pela história desses conflitos. Em 1975 foi constituído o Groupe de Recherches sur l'Enseignement Philosophique (GREPH), que organizou um conjunto de estudos sobre as relações entre a filosofia e o seu ensino e entre a filosofia e o ensino em geral. Estávamos numa altura em que a filosofia e as ciências humanas gozavam de um enorme prestígio e tinham uma forte irradiação em todos os campos onde se produzia «teoria». Um livro colectivo, Qui a peur de la phiIosophie? (Flammarion, 1977), que recolheu importantes e variadas contribuições cuja actualidade não se extinguiu com a passagem do tempo, permanece como uma prova de toda essa produtiva actividade intelectual. Foi o GREPH que mobilizou os professores, em 1979, para a defesa da Filosofia quando esta sofreu a ameaça que se verifica agora em Portugal: a de adquirir um carácter opcional. Um acontecimento marcou essa contestação: Os «États Généraux de la Philosophie», convocados em 1979. Esta mobilização geral da comunidade filosófica fez com que a ameaça fosse anulada e permitiu consolidar o papel institucional da Filosofia no sistema de ensino e discutir os programas. Poucos anos depois, o apelo «lI n'y a pas d'université sans phi!osophie" (1983) e os «Encontros Escola e Filosofia», que tiveram lugar na Universidade de Nanterre (1984), prolongaram este imperativo de defesa da Filosofia. Não se pense que tudo isto foi acção de um grupo corporativo de professores: Derrida, Lyotard, Châtelet e Rancière, entre muitas outras figuras importantes, empenharam-se fortemente nestas acções. Em Portugal, a história da mobilização em torno do ensino da filosofia está longe de ser grandiosa ou de se ter mostrado à altura do que era necessário. E, no entanto, não se pode dizer que, nesta matéria, tudo correu da melhor maneira: para além das questões institucionais da disciplina, que chegaram agora a um estado de gravidade que fez despertar muita gente, veja-se a miserável qualidade dos manuais, reflexo, aliás, da indefinição e do carácter mole e vago dos programas, que parecem temer que os alunos leiam os textos filosóficos e pensem com conceitos. A condição «anómala» da filosofia, as suas resistências a uma ideologia da finalidade (e da «empregabilidade», como hoje se diz) e da limitação do saber às competências tecnocientíficas e tecnoeconómicas, o facto de ela falar um «idioma» que não é o que triunfou em todo o lado tornaram-se um tópico obrigatório sempre que se fala das ameaças a que a filosofia está sujeita. Lyotard formulou uma vez a questão desta maneira: «Os alunos falam o idioma que lhes ensinou e lhes ensina ‘o mundo’, e o mundo fala a linguagem da velocidade, do prazer, do narcisismo, da competitividade, do sucesso. O mundo fala segundo a regra da troca económica, generalizada a todos os aspectos da vida, incluindo as afecções e os prazeres. Esse idioma é completamente diferente do idioma do discurso filosófico, é incomensurável em relação a ele.» Por outro lado, sem se deixar reduzir à noção e ao uso ecléctico das ciências humanas, a filosofia acompanhou o destino destas e foi afectada pelo mesmo processo de deslegitimação. Assim, depois de momentos grandiosos, as ciências humanas, no final dos anos 70, entraram numa fase de desencantamento, tendo-se começado mesmo a colocar questões sobre o seu futuro quando as universidades se renderam a uma lógica de sujeição ao cálculo económico: haverá lugar para o estudo da filosofia quando se chegou ao completo domínio das determinações económicas e da tecnociência? Um outro factor veio aqui acrescentar-se: as disciplinas de carácter mais teórico foram submersas por aquilo a que um académico americano, Wlad Godzich, chamou «novo vocacionalisno» e «literacia vocacionalista". Trata-se de uma concepção utilitária da escola e da universidade em que estas não passam de um local de produção da força essencial da sociedade pós-industrial: os conhecimentos e aptidões devem responder imediatamente a critérios pragmáticos. A noção de literacia que Godzich desenvolve e que se tornou, entre nós, a grande obsessão ministerial, transmitida às escolas por todos os meios, tem a ver com a competência para desempenhar funções específicas, num determinado campo de actividade. Trata-se de uma literacia restrita, na medida em que fornece competência num código específico, com muito pouca, senão mesmo rudimentar, consciência da problemática geral dos códigos e das linguagens. A filosofia situa-se no lado oposto: não fornece formação específica, não é susceptível de se adaptar aos fins da tecnologia, não forma o aluno para nada. Em suma: é um luxo no sistema de ensino. Logo, a suprimir. in Expresso ACTUAL, n.º1785, 13 de Janeiro de 2002 / NORTE, pp. 4-7
Baixar