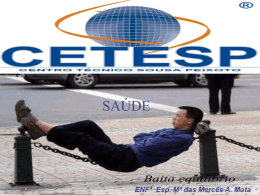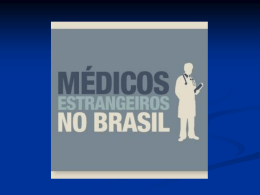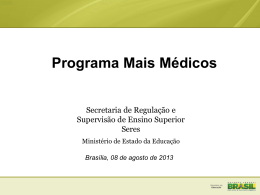O que acontece quando o cotidiano vivido é diferente daquele que está previsto pela lei? Algumas Reflexões sobre o Sistema Único de Saúde - SUS Autoria: Milka Alves Correia, Fátima Regina Ney Matos, Daniel Lins Resumo A proposta do trabalho é tentar buscar, através de um exercício teórico, as razões pelas quais um sistema concebido a partir de sólidos valores democráticos ainda tem problemas e dificuldades para colocar em prática o cerne que o referencia. E, como conseqüência, talvez provocar alguma inquietação no sentido de questionarmos por que o Sistema Único de Saúde (SUS) universal, que possui um programa de excelência (referência) como a prevenção e cuidado da AIDS, é também reconhecido por avaliações negativas sobre o acesso e as condições indignas do atendimento efetuado pela rede de serviços de saúde (ABRASCO, 2006). Não nos ocuparemos da banalização da crítica, mas sim tentaremos lançar um olhar diferenciado sobre alguns aspectos do SUS e fazer uma (re) leitura deste Sistema. As reflexões e observações aqui apresentadas não foram construídas assepticamente: somos cidadãos, pesquisadores sociais, mas antes de tudo seres políticos. Introdução A Constituição de 1998 é um marco importante para o setor de saúde na medida em que o definiu como setor de relevância pública, ficando o Estado, a partir desta definição, obrigado a garantir as condições necessárias ao atendimento à saúde da população (LACERDA, 1998): Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1998). Complementando, a Lei 8080/90 define o Sistema Único de Saúde (SUS) como um conjunto de ações e serviços de saúde, a serem prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, envolvendo participação social e organizado segundo o princípio da descentralização. Em outras palavras, Universalidade, participação social, descentralização são as linhas mestras que conduzem o funcionamento do SUS. E, ainda mais, a Lei 8142/90 prevê a implementação de um processo decisório amplo, com a instituição dos conselhos de saúde em cada esfera de governo, atuando de maneira integrada. Com toda essa proteção da lei, à primeira vista pode-se ter a impressão de que ao necessitar de assistência à sua saúde, nenhum cidadão terá problemas para garanti-la. Entretanto, quase diariamente assiste-se a divulgação na mídia das infindáveis filas de pacientes nos serviços de saúde, da falta de leitos hospitalares, escassez de recursos financeiros, humanos e materiais para manter os serviços de saúde, atrasos no repasse de pagamentos do Ministério da Saúde (MS) para os serviços de saúde, crescimento de epidemias, aumento da incidência e o ressurgimento de diversas doenças já erradicadas, situações endêmicas de corrupção nas esferas federal, estadual e municipal da saúde pública. Com esse quadro cabe aqui um questionamento: estas condições estão sendo vivenciadas em nosso cotidiano por todos aqueles que recorrem ao SUS? 1 Obviamente, por outro lado não se deixa de reconhecer o quão bem estruturado, pelo menos na forma da lei e na teoria, está o SUS. Notáveis avanços e conquistas vêm ocorrendo nestes últimos 16 anos. Num exemplo tem-se a assistência prestada pelo SUS aos portadores de HIV, as campanhas de vacinação, os mutirões da cirurgia da catarata, entre outros. “Esses resultados constituem os esforços de milhares de trabalhadores da saúde, de todos os níveis e especialidades de formação, para concretizar o direito à saúde no cotidiano da população brasileira” (ABRASCO, 2006, p. 2). A questão-chave que aqui se coloca é entender que o acesso à saúde pública não está somente condicionado ao número de hospitais e postos de saúde, medicamentos ou profissionais. Fazer saúde pública não é um exercício fácil e não é apenas uma responsabilidade da Medicina, da Enfermagem ou da Nutrição. Desde a década de 70 que o campo de reflexão sobre a saúde se abriu também para as ciências políticas e para outras áreas de ciências sociais (MINAYO, 2004). Neste trabalho, procuramos assumir nosso espaço nesta reflexão. A proposta aqui é tentar buscar, através de um exercício teórico, as razões pelas quais um sistema concebido a partir de valores tão democráticos ainda tem problemas e dificuldades para colocar em prática o cerne que o referencia. E talvez provocar alguma inquietação no sentido de questionarmos por que o SUS universal, que possui um programa de excelência (referência) como a prevenção e cuidado da AIDS, é também reconhecido por avaliações negativas sobre o acesso e as condições indignas do atendimento efetuado pela rede de serviços de saúde (ABRASCO, 2006). Não nos ocuparemos da banalização da crítica, mas sim tentaremos lançar um olhar diferenciado sobre alguns aspectos do Sistema Único de Saúde (SUS) e fazer uma (re) leitura deste Sistema, contribuindo assim para as discussões como as de Akerman (2005), Cecílio (1997), Abrasco (2006, 2003), entre outros. Ademais, esclarecemos que as reflexões e observações aqui apresentadas não foram assepticamente construídas: somos cidadãos, pesquisadores sociais e antes de tudo políticos. “Políticos somos todos nós, pelo simples fato de ocuparmos uma posição qualquer na sociedade, dominante ou dominada”.(DEMO, 1987, p. 19). Convém mencionar que nossa postura comunga com a de Demo (1987 p.16): “quando estudamos a sociedade, em última instância estudamos a nós mesmos, ou coisas que nos dizem respeito socialmente” e assim sendo, neste trabalho não houve o esforço ingênuo de dicotomizar nosso papel de cidadãos do de pesquisadores. Com o intuito de contextualizarmos nossas reflexões, achamos pertinente apresentar inicialmente um breve histórico do surgimento e do desenvolvimento do sistema público de saúde em nosso país, com o objetivo de entendermos sobre que bases históricas sob as quais se deu a criação do Sistema Único de Saúde. Foi feito um recorte histórico e a descrição inicia-se a partir da década de 30. Um breve histórico do sistema público de saúde no Brasil As primeiras políticas de saneamento básico de repercussão nacional somente vieram a acontecer a partir da Revolução de 30, quando o Estado brasileiro passou a regulamentar e uniformizar a prática de assistência médica. Com a extensão da prestação de serviços hospitalares aos associados das CAPs (Caixas de Aposentadorias e Pensões), a assistência médica passou a fazer parte do modelo da Previdência Social. Durante o período do Estado Novo, com os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), este modelo ganhou maior definição a partir da instituição de uma contribuição suplementar. Estava imposto, por via autoritária, um modelo contratual no qual a extensão dos 2 benefícios estaria condicionada à capacidade financeira do indivíduo. Neste momento, a prestação de serviços de assistência médica não era um direito universal. A proposta de unificação do sistema de previdência impôs-se como um tema de grande importância na pauta das reformas da República Populista. Mas a agenda de mudanças no setor de previdência somente ocorreu durante o regime militar. O Instituto Nacional da Previdência, criado em 1966, viria a substituir os IAPs, estendendo os benefícios da assistência médica aos trabalhadores formalmente empregados, vinculados pela Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS). Ainda permanecíamos numa cidadania regulada pela via autoritária. Somente na metade da década de 70, com a articulação de setores organizados da sociedade civil contra o regime autoritário, chega ao cenário da história da saúde de nosso país um dos atores fundamentais no processo de universalização do acesso à assistência médica pela via pública: o movimento sanitarista. Tratava-se de um movimento liderado por um grupo de médicos sanitaristas; tinha como base de atuação os institutos de pesquisa universitários; e pretendia estabelecer um novo relacionamento entre o setor privado e o governo na área da saúde. Tinha como proposta a melhoria dos serviços no setor de saúde através de uma outra concepção de pensar e fazer saúde mais humana e universal, além de lutar contra a mercantilização da atenção médica e a exploração do trabalho assalariado. O movimento sanitarista acontecia simultaneamente às propostas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), para que se desse maior atenção à saúde, especialmente quanto à mudança da visão curativa para a assistência médica preventiva. Em 1982, foi criado o Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP). Este elaborou um plano que, em 1983, deu origem às AIS (Ações Integradas de Saúde), o que já significou um avanço na adoção dos princípios de universalização, equidade e integração dos serviços de saúde. Neste cenário de reorganização das políticas e serviços de saúde, foi realizada, em março de 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde; considerada um marco na saúde pública do Brasil, pois contou pela primeira vez com a participação de vários segmentos sociais. Na ocasião foi definido um sentido mais amplo para saúde: “resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde” (RELATÓRIO FINAL DA VIII CNS, ANAIS, 1987), articulando desta forma a saúde com a qualidade de vida da população. Já durante o período do Congresso Constituinte, o Ministro da Previdência e Assistência Social, Raphael de Almeida Magalhães, criou o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). Ao SUDS caberia transferir recursos aos estados e municípios desde que estes se propusessem a criar conselhos municipais ou estaduais de saúde e elaborassem planos municipais nessa área. Como o governo Sarney nesta época vivia crise acompanhada de isolamento político, em virtude da impopularidade vinda do fracasso do Plano Cruzado, houve uma reforma ministerial que afastou o Ministro da Previdência Social e o Presidente do INAMPS, e assim o SUDS não foi à frente. A promulgação da nova Constituição, em 1988, daria continuidade ao processo de descentralização iniciado pelas AIS e pelo SUDS, no sentido de transferir a responsabilidade pública dos cuidados com a saúde para o âmbito dos municípios. A Carta de 1988 estabeleceu o novo modelo da política de saúde no Brasil. Ao separar definitivamente as áreas de saúde e de previdência, a nova Constituição promoveu uma ruptura com o modelo criado durante a Era Vargas. A partir de 1988, a Previdência Social perdeu as atribuições relativas ao atendimento médico-hospitalar (COSTA, 3 2002). A inclusão do SUS na Constituição Federal significaria então a vitória das propostas aprovadas na VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986. Segundo Médici (1995 apud Costa, 2002), o SUS apresenta três inovações relevantes na política de saúde: a definição de um comando único para o sistema de saúde em cada esfera de governo; a descentralização como princípio organizador básico, cabendo aos estados e municípios a primazia da prestação dos serviços de saúde; e a co-responsabilidade do financiamento dos recursos entre União, Estados e municípios. O Sistema Único de Saúde é um sistema público, ou seja, destinado à toda a população e financiado com recursos arrecadados através dos impostos que são pagos pela população. Segundo o artigo 198 da Constituição, as diretrizes do SUS são a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade. De forma complementar, mas não menos importante, teremos também alguns princípios que devem ser observados na operacionalização destas diretrizes. São eles: a universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência (todas as pessoas, sem discriminação, têm direito ao atendimento público e gratuito à saúde); a igualdade da assistência à saúde (mesmo tipo de atendimento deve ser oferecido a todas as pessoas sem preconceitos ou privilégios); equidade na distribuição de Recursos (destinar mais recursos para localidades mais pobres e com menor capacidade de atender às suas populações) e a resolutividade dos serviços (capacidade de resolver os problemas de saúde da população) (LACERDA, 1998). Alguns desses princípios e diretrizes serão objeto da reflexão teórica a seguir. Sobre universalidade, a igualdade e a equidade do acesso ao direito à saúde Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (LEI 8080, 1990). É como base neste deste texto da Lei que serão feitas algumas reflexões sobre a saúde como direito fundamental e o acesso universal e igualitário. Falar em direito fundamental pode ser muitas vezes apenas usar uma linguagem persuasiva ou de controle. Pode ser um discurso para nos fazer acreditar em igualdade de oportunidades perante a lei. Concordamos com Abrasco (2003) que “o princípio da eqüidade deve reger as políticas e ter materialidade no cotidiano dos cidadãos, tanto nas condições de vida e saúde quanto no acesso a serviços de saúde de boa qualidade”. Entretanto, nosso cotidiano mostra duramente o quanto somos desiguais. Basta lembrar que enquanto poucos de nós têm acesso a um plano de saúde privado, milhares de outros se acotovelam em filas do SUS à espera de atendimento, e destes nem todos conseguem ser atendidos. Parece que apesar de ser um direito universal, o acesso ao SUS não segue este princípio tampouco se mostra como uma oportunidade acessível a todos. Entendemos que nosso problema não é prever formalmente em textos legais o direito à saúde, mas sim assegurar que este seja cumprido incondicionalmente e independe de qual seja nossa condição social, financeira ou educacional. Posto isso, como explicar que enquanto os progressos técnicos e científicos têm possibilitado recursos profiláticos e terapêuticos de grande alcance, e o progresso econômico e social têm alongado a esperança e aumentado a qualidade de vida de um (pequeno) contingente populacional, a miséria, a fome, doenças evitáveis e a violência continuam a reduzir a existência de grande parte população brasileira? 4 Disto, nota-se que os princípios da equidade na saúde e da universalidade no acesso aos serviços de saúde não vêm sendo mantidos, pois se assim fosse, não haveria a cisão da assistência à saúde em um sistema para pobres e outro para ricos e “remediados”, com benefícios diferenciados de acordo com a capacidade de pagamento e não segundo suas necessidades de saúde (ABRASCO, 2003). Nessa dicotomização entre ricos e pobres, estamos sendo assistencialistas e desfazendo a noção essencial de direito e de cidadania, recriando a miséria sob a forma de tutela. [...] É típico de uma postura assistencialista reservar para o pobre uma educação pobre, uma saúde de segunda categoria, uma habitação subumana, e assim por diante. Ademais, paga-se a esmola com a subserviência. (DEMO, 1996, p. 11). Parece-nos estar claro que vivenciamos atualmente um problema de saúde pública que não pode ser resolvido com ajuda apenas das ciências da saúde; estamos diante de um problema político-social. E como resolver este tipo de problema? Esta é uma questão difícil; sem respostas ou receitas prontas. Demanda reflexões e por isso agregaremos outras idéias neste sentido. Primeiramente, urge esclarecer que declarar ou proclamar um direito não significa necessariamente desfrutá-lo efetivamente (BOBBIO, 1992). Não basta ter o direito escrito (até porque com o contingente de analfabetos que temos em nosso país isto não assegura que serão lidos), fazer declarações verbais ou ainda aperfeiçoar textos constitucionais, se os interessados (teoricamente nós, todos os brasileiros) não agirmos no sentido de fazer com que o acesso à saúde esteja assegurado. Seria por isso então que depois de 16 anos de SUS muitos de nós ainda estamos fora do sistema? Talvez encontremos esta resposta na constituição de nossa sociedade. Segundo Chauí (1994) na base de nossa cultura política há uma matriz teológica política que nos acompanha desde o descobrimento de nosso país. Seus principais elementos são a perspectiva providencialista da história, a elaboração jurídica-teocêntrica do governante, a elaboração de que as classes populares têm acesso à política como luta entre o bem e o mal (história messiânica milenarista). Como se isso não fosse suficiente ainda somos reconhecidos por nosso autoritarismo, revelado na verticalização e hierarquização de nossa sociedade, quer seja sob a forma da cumplicidade, ou sob a forma do mando e da obediência entre um superior e um inferior. As relações de tutela, de favor e clientela têm sido os meios mais comuns para repetir e conservar o autoritarismo. Com esse mix - matriz teológica e autoritarismo – parece-nos claro porque temos tanta dificuldade em assumir uma postura reinvidicatória, questionadora e participante na conquista de nossos direitos. Estamos habituados, condicionados a conviver com relações baseadas em tutela, favor e clientela. Não nos espanta então que uma boa parte da população ainda acredite estar recebendo favores tomando como normal o não acesso à saúde ou mau serviço prestado pelo SUS. Nesta perspectiva Demo (1996) caracteriza a pobreza política em que vivemos com a seguinte descrição: “falta de discernimento crítico quanto aos deveres do Estado frente à população, o que dá margem à manipulação de toda sorte dos donos do poder” (p.65). Um outro aspecto que merece destaque é a noção de que direito não se refere apenas às garantias que a lei prevê, mas dizem respeito também ao modo como as relações sociais se estruturam (TELLES, 1994). Ou seja, quando reconhecidos os direitos estabelecem uma forma de vida social regida pelo reconhecimento do outro como sujeito de interesses válidos, com valores e demandas legítimos. Então chegamos a outro ponto: como são as relações sociais no Brasil? 5 Em poucas palavras podemos dizer que Telles (1994) foi bastante precisa ao descrever o apartheid social do qual fazemos parte: “o fosso social é imenso, e parece obstruir a possibilidade mesma de uma linguagem comum e, portanto, do convívio social, interlocução e debate comum em torno de questões pertinentes” (p.95). Percebemos então que a forma como nossas relações sociais estão organizadas caracteriza uma sociedade que tem dificuldades de se articular para assegurar que um direito, neste caso o da saúde, possa ser usufruído por todos. Estamos em uma sociedade desigual, injusta e cada dia mais violenta, cuja sociabilidade se encontra rompida e na qual o outro é visto como uma ameaça. Como conseqüências temos a perda da coesão social, expressa não apenas em milhares de mortes e internações, mas também no sofrimento mental, na insegurança e no desalento, que seriam evitáveis onde predominassem uma cultura de paz e a justiça social (ABRASCO, 2006). Diante deste cenário, emerge o imbricamento entre as desigualdades regionais e sociais, desigualdades de renda, de gênero e racial/étnica e o enfraquecimento dos princípios da equidade, a igualdade e a universalidade do direito à saúde. É indubitável que as políticas de saúde são parte integrante e estão profundamente articuladas com as políticas de erradicação da miséria, combate à pobreza e de redução das desigualdades. Em assim sendo, não podemos fugir da nossa responsabilidade (e aqui nos incluímos enquanto pesquisadores e cidadãos) de buscar formas de avançar em direção a uma sociedade politicamente mais democrática, fundada na criação, reconhecimento, garantia e consolidação de direitos e não na perpetuação de privilégios, favores e tutelas que nada mais são do que a fonte que alimenta o distanciamento social e a pobreza política. Nosso esforço fundamental deve ser então no sentido de parar de alimentar e reforçar a matriz teológica e o autoritarismo com os quais temos convivido desde nosso descobrimento, e partir disto começarmos a pensar como verdadeiros cidadãos que exigem com direito a ter seu direto á saúde praticado concretamente. Continuaremos nossa reflexão abordando dois outros eixos preconizados pelo SUS: a descentralização e a participação. Quando estes dois elementos estão juntos é bem possível alcançarmos um patamar de democratização salutar ao alcance da universalização de direitos, aqui especialmente aquele referente à saúde (AMANTINO-DE-ANDRADE e ARENHART, 2005). Descentralização Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. (LEI 8080, 1990). Concordamos com Amantino-de-Andrade e Arenhart (2005), que a descentralização em conjunto com a participação social constituem o eixo para o Estado que pretende ser eficaz. No nosso entendimento, a eficácia do Estado corresponde ao atendimento das necessidades dos cidadãos seja de saúde, educação, assistência social, entre outros. 6 De acordo com Arretche (2004) o Governo Federal através do Ministério da Saúde (MS) tem autoridade para tomar as decisões mais importantes da política de saúde, enquanto aos governos locais cabe implementá-la. É importante salientar que há uma dependência das políticas locais das transferências financeiras federais e das regras definidas pelo MS. Nesta dinâmica, as portarias ministeriais funcionam como instrumentos de coordenação das ações nacionais de saúde. Ainda conforme esta autora, em maio/2002, 99,6% do total de municípios brasileiros havia assumido a gestão parcial ou integral dos serviços de saúde. Esse percentual está relacionado ao uso da autoridade financiadora e normalizadora do Governo Federal para obter adesão dos municípios a um dado projeto de política de saúde. Com estes dados cabe-nos questionar: o que é essa tal descentralização? Seria uma desconcentração fiscal? Certamente que não. Trata-se de um processo de natureza política, com embates e confrontos de poder, tanto ao nível de governo como entre atores políticos e sociais diferentes. Descentralização implica em repensar e reorganizar a distribuição do poder. Guimarães (2002) nos oferece uma visão bastante ampliada de descentralização: como forma de organização da oferta de serviços de saúde e da aplicação de recursos financeiros; como um conceito estratégico das reformas políticas da saúde com vistas à redemocratização; como enfrentamento político, intermediações de interesses e possíveis tendências do projeto de reforma política da saúde no Brasil. Seja qual dessas três vertentes consideremos, a experiência com a municipalização não tem tido o mesmo efeito para todos os municípios. A desigualdade horizontal dos governos subnacionais permanece como um aspecto que faz diferença ao analisarmos os impactos da descentralização nas diversas unidades federativas. “Os resultados redistributivos da concentração de autoridade no Governo Federal não se revelaram, entretanto tão evidentes. A municipalização dos serviços de saúde não foi acompanhada de uma redução na desigualdade intermunicipal nos padrões de sua oferta” (MARQUES, ARRETCHE, 2003 apud ARRETCHE, 2004). Além de não diminuir as desigualdades intermunicipais, nosso impulso inicial poderia nos levar a supor que a descentralização traz como conseqüência a democratização. Isto pode até acontecer, mas não como numa relação causa-efeito. A descentralização não é o único caminho para a democratização ainda que seja de fundamental relevância para a organização de sistemas de saúde mais eficientes e eficazes. Não vamos nos iludir de que o poder local é mais democrático devido à descentralização. Pelo contrário, ele pode ser tão autoritário como qualquer outro, da mesma forma que o poder dos Estados e da União. Em outras palavras, a descentralização prevista no SUS não implica necessariamente na prática que o processo de definição das políticas de saúde seja mais democrático, ou livre das amarras de nossa matriz teológico-política. “Não há uma relação necessária entre descentralização e redução do clientelismo, pois esta redução supõe a construção de instituições que garantam a capacidade de enforcement do governo e a capacidade de controle dos cidadãos sobre as ações deste último” (GUIMARÃES, 2002). Ou seja, mais uma vez, temos a diferença entre o que está escrito na lei e o que acontece na realidade dos municípios brasileiros. Obviamente não discordamos da necessidade e pertinência da descentralização para a superação das desigualdades na distribuição do poder, de serviços e de recursos entre esferas de governo e sociedade. Entretanto, seria ingênuo e injusto imputar à descentralização a tarefa de tornar o SUS tão eficiente como esperamos que seja. Participação Social 7 Relembrando um pouco da história do campo da saúde pública no Brasil, percebemos que esta foi marcada pela participação social. Cabe mencionar, especialmente nas décadas de 70 e 80, o movimento social da reforma da saúde e a 8ª Conferência Nacional de Saúde, respectivamente. O primeiro era um movimento que reivindicava a ampliação do número de profissionais e equipamentos para os bairros situados nas áreas mais periféricas das grandes cidades brasileiras. O segundo foi um momento chave na formulação político ideológica do projeto de reforma sanitária no Brasil, uma vez que na oportunidade foi estimulada a participação popular em núcleos de decisão com a finalidade de assegurar o controle social sobre as ações do Estado (AMANTINO-DE-ANDRADE e ARENHART, 2005). Tem-se também o texto da Constituição de 1988 que representou uma conquista, um sinal da força do movimento da reforma sanitária, pois definiu as linhas mestras da política de saúde e do SUS. Em particular, já em 1990, foi sancionada a Lei 8080 que regulamentou as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; e a Lei 8142, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde: Artigo 1° - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. (....)§ 2° - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. (....)§ 4° - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Pelo texto acima, formalmente os conselhos de saúde são marcados pela lógica da socialização do poder abrindo espaço para o controle cidadão da ação pública. O controle social exercido pelos conselhos é fundamental no processo de consolidação democrática do SUS, pois abre espaço para a efetiva participação da sociedade na deliberação e no controle das ações governamentais no campo da saúde e funciona como vetor na direção do fortalecimento das bases descentralizadas e universais do SUS. A participação nos conselhos é o meio que leva a infiltração do poder da sociedade no aparato do Estado. Teoricamente, tudo está bem definido: conselho de saúde é um espaço onde participação e controle social se encontram para promoverem a redistribuição do poder, articulação entre grupos de interesse e burocracia estatal, de forma a estabelecer pactos sobre as diretrizes da política da saúde. Entretanto, entre as potencialidades dos conselhos e sua efetividade na formulação e controle das políticas, existe uma grade diferença (CARNEIRO, 2002 apud AMANTINO-DE-ANDRADE e ARENHART, 2005). Em termos práticos, encontramos muitos exemplos em que os conselhos municipais foram criados somente para atender a uma formalidade da Lei 8080/90 (Art. 4º). Mas por outro lado, também existem experiências onde há uma verdadeira aproximação entre a administração pública e a comunidade para decidir como melhorar a saúde da população (AMANTINO-DE-ANDRADE e ARENHART, 2005). 8 È fato que a sociedade civil e os Conselhos de Saúde não têm conseguido participar com efetividade e assim influir na formulação de políticas e estratégias do SUS (ABRASCO, 2006). Primeiramente nos preocuparemos com a situação dos conselhos que ainda estão voltados somente à aprovação de planos normativos: nestas ocasiões não podemos nos eximir de questionar por que a prática é diferente do que prevê a teoria (lei). Existem algumas hipóteses. Segundo Demo (1996), participação é conquista, autopromoção e um processo que não se completa nunca. Não é para ser entendida como dádiva, concessão ou algo já preexistente. Se for dádiva não há conquista, seria uma participação tutelada no espaço permitido e delimitado pelo doador. Não é concessão porque não é um aspecto residual ou secundário da política social, mas um dos eixos principais. Não é algo preexistente porque o “espaço da participação não cai do céu por descuido” (p.18). Assim, a participação nos conselhos de saúde pode estar sendo vista como algo a ser exercido quando for concedido, permitido ou agraciado. Numa outra perspectiva, participação pressupõe compromisso, envolvimento. Exige muitas vezes tomar parte em ações, fazer escolhas que podem levar a conflitos. E grande maioria de nós ainda age como “homens cordiais” (tomando emprestada a expressão de Sérgio Buarque de Holanda), preferindo o consenso ao conflito, a acomodação à conflituosidade, a reforma à transformação. Quantas vezes temos a propensão sistêmica de buscar superar conflitos passando, de preferência, bem longe da transformação? Não seria por isso que evitamos participar de espaços como os Conselhos onde teríamos que nos posicionar? O consenso dos homens cordiais aproxima-se mais da postura de resignação e aceitação; ambas nos remetem a nossa matriz teológico-política e nos afasta de espaços como os conselhos de saúde onde o conflito é o oxigênio para a participação social. Estes questionamentos e inquietações cabem também para aqueles que têm planos de saúde privado. Será que a comodidade e a segurança dos planos de saúde nos deixaram entorpecidos e alheios à necessidade e a responsabilidade de assumirmos nosso espaço na construção da política de saúde em nosso município? Parece que estamos andando em círculos. Mas como podemos assumir nosso efetivo papel de ator (cidadão) nos conselhos de saúde se não nos propusermos a mudar o padrão favor-tutela-privilégio de nossa cultura política? Estaríamos presos ainda ao que Da Matta (apud SOUZA, 2000) chamou de “dilema brasileiro”: a coexistência de uma ideologia integrada a moderna cidadania e baseada no princípio de igualdade e civilidade e uma prática enraizada nos vícios da desigualdade e clientelismo? É possível que sim, e talvez esta seja uma das razões pelas quais temos dificuldade em participar da construção de uma política de saúde descentralizada, universalizada e eqüitativa. E qual seria a saída? O que fazer? Começaríamos a partir do entendimento de participação como meio e fim; e como uma metodologia comum a políticas sociais redistributivas (DEMO, 1996). Uma política que se preze como redistributiva não pode se privar de ter a participação como eixo principal. Assim sendo, teríamos que assumir e participar do espaço que nos é devido nos conselhos de saúde, para, assim, fazê-los na prática (não no faz-de-conta) a oportunidade que temos que integrar os interesses coletivos da sociedade à gestão pública em cada município brasileiro, e nos infiltrarmos no Estado através do poder social. Se conseguirmos avançar nesse sentido, já será um grande passo. Participação social e descentralização estão juntas na tarefa de conduzir a política de saúde e o SUS por um caminho mais democrático e eficiente. Para tanto, há a necessidade do comparecimento dos interessados, atuando como sujeitos principais que não se deixam levar pelo assistencialismo da tutela e do favor (DEMO, 1996). 9 A criação dos conselhos de saúde traz em si o ideal da politização da gestão da saúde e o controle social como instrumento de democracia. Entretanto, a participação social parece ainda não fazer parte do imaginário coletivo como força transformadora, capaz de mobilizar a sociedade para reflexão sobre nossa cultura política e conseqüentemente, aproximá-la da democratização do Estado e da conquista de bases mais igualitárias no acesso à saúde. A partir destas considerações, passaremos às reflexões finais deste trabalho. Reflexões finais As reflexões que aqui tentamos trazer são frutos de nossa percepção de que o cerne do SUS ainda não se estabeleceu como o previsto na lei. Nossas inquietações surgiram com o entendimento de que o SUS não é algo estático; é processo que caminha na direção da produção social da saúde; iniciou-se bem antes da Constituição de 1998, e não tem data certa para concluir sua construção. É resultado de propostas defendidas ao longo de muitos anos pelo conjunto da sociedade e por muitos anos ainda estará sujeito a aprimoramentos (ALBUQUERQUE, 2005). Sob nosso ponto de vista, é fato inquestionável a relevância da criação do SUS na trajetória do movimento da saúde no Brasil, posto que rompeu com o modelo de saúde que privilegiava a medicina privada e sacrificava o atendimento estatal público, o qual tinha foco curativo em detrimento de trabalhos preventivos, beneficiava pessoas formalmente empregadas, enquanto grande parte da população sem emprego formal ficava sem praticamente acesso à assistência à saúde. O esforço das pessoas que pensaram e participaram da concepção do Sistema é merecedor de reconhecimento. Avanços aconteceram nestes 16 anos de SUS. Entretanto, não podemos fechar os olhos a alguns problemas que muitos de nós vivenciam ao tentar ter acesso à saúde em nosso país. Aparelhos quebrados, longas filas de espera, cirurgias suspensa, falta de medicamentos, número de leitos insuficientes para internação são apenas alguns exemplos das distorções com as quais nos deparamos ao procuramos um sistema baseado em valores tão nobres: universalidade, participação social, descentralização. Temos também assistido a forte presença da política neoliberal, que evidencia a redução dos gastos públicos, o sucateamento da saúde pública, a falta de investimento no setor da saúde, afetando a gestão da saúde pública devido à ausência de infra-estrutura que impede as instituições públicas de saúde de oferecerem serviços de qualidade. Não é raro encontrarmos instituições públicas já adotando o caráter empresarial, esquecendo-se que não tratam com clientes, mas com cidadãos que têm a saúde como bem público ao qual todos têm direito de ter acesso. A reposição do usuário-cidadão como o centro das formulações e operacionalização das políticas e ações de saúde deve ser a premissa que norteia a reinvenção de modelos e alternativas de gestão para superar a crise do SUS. A subordinação dos problemas e necessidades de saúde da população a interesses econômicos das indústrias de equipamentos e insumos, de prestadores de serviços, de burocracias governamentais ou corporativos está refletida no cotidiano da assistência à saúde do nosso país: inúmeros brasileiros em busca de assistência e cuidados à saúde na rede do SUS são submetidos a filas que se formam desde a madrugada para pegar senhas, passam por triagens, aguardam infindáveis horas em locais de espera, em geral desconfortáveis, e, quase sempre, necessitam percorrer mais de um estabelecimento nos casos que exigem realização de exames e/ou obtenção de medicamentos. Ademais, ao trazer uma forma e modelo único para todo o país, o SUS deixa de considerar as nuances das realidades de cada região, e desta forma dificulta a construção do ethos da participação social. Não nos parece plausível que um sistema único consiga atender 10 de forma satisfatória a uma sociedade cujas camadas sociais estão tão distantes umas das outras. Essa diferença social não é um aspecto a ser desprezado, pelo contrário é algo que inviabiliza qualquer modelo de assistência à saúde que não considere as diversas necessidades de saúde dos diferentes grupos da população brasileira. Em vários momentos deste exercício teórico, nos foi possível perceber o quanto ainda estamos impregnados pelo autoritarismo social e presos a matriz teológico-política que descrevemos numa das seções anteriores. Essa nossa cultura política nos paralisa e nos faz esperar por uma mão mágica que virá resolver nossos problemas com o SUS, poupando-nos de assumir a responsabilidade de gerar soluções e participar de conflitos. Ora para uma sociedade autoritária e que cultiva a acomodação, nada mais óbvio que se contentar com o que SUS quiser ofertar, e na forma e tempo possível, ainda que nosso direito à assistência de saúde não esteja sendo usufruído como proclamado na nossa Constituição. Se quisermos construir modelos que melhor atendam às nossas necessidades de saúde teremos que adotar uma postura de transformação e abandonar o hábito histórico de adaptar ou remendar aquilo que não está funcionando bem. Teremos também que procurar alternativas que não se limitem apenas aos modelos prédefinidos e que caminhem em direção a consolidação de velhas práticas (AMANTINO-DE-ANDRADE e ARENHART, 2005). Contudo, quaisquer que sejam as alternativas, estas só ultrapassarão as contradições do “dilema brasileiro” a partir da construção de uma cultura política que não repita a desastrosa combinação favor-tutela-privilégio. Neste processo, caberá aos conselhos de saúde o desafio de ser espaço de construção de uma política de saúde fundamentada nas realidades e práticas locais e que suplante o mero dever de obedecer ao modelo do SUS e seus procedimentos normativos. Finalmente, pensamos que nosso exercício principal é nos fazer a seguinte pergunta: Como deve ser o sistema de saúde que queremos para nós? Pode parecer uma retomada do tema da XII CNS: “Saúde: um direito de todos e dever do Estado – a saúde que temos e o SUS que queremos”, mas a resposta a esta questão será nosso guia para escolhermos em que direção caminhar. Podemos optar pelo árduo trabalho de transformar o SUS em um sistema no qual possamos vivenciar em nossa prática cotidiana a igualdade, a descentralização e a participação social; ou podemos permanecer na mesmice de acreditar que uma força divina resolverá nossos problemas e proverá tudo o que precisarmos ou que nos for merecido, cabendo-nos apenas rezar e esperar um milagre. REFERÊNCIAS ABRASCO. Considerações da Associação Brasileira de Saúde Coletiva sobre Saúde Pública Internacional com vistas às novas direções gerais da Organização Panamericana da Saúde – OPAS e da Organização Mundial da Saúde- OMS. 2003 Disponível em: < http://www.saudecoletiva2006.com.br/Saude_publica_internacional.doc> Acesso em 12 julho2006. ___________. O SUS pra valer: universal, humanizado e de qualidade. Fórum da reforma sanitária brasileira. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <http://www.abrasco.org.br/publicacoes/arquivos/20060712143044.pdf.> Acesso em 12 julho2006. ALBUQUERQUE, Jullyana Maria Chagas de. Programa de Orientação e Normas do Hospital Ana Néri - PRONHAN: O resultado de uma Intervenção. 2005. 95 f. Monografia (Graduação) - Serviço Social, Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. 11 AKERMAN, Marco. Saúde e Desenvolvimento: princípios, conceitos, práticas e cooperação técnica. São Paulo. Hucitec, 2005. AMANTINO-DE-ANDRADE, Jackeline; ARENHART, Ariane J. Participación social en el Sistema Único de Salud: una utopía por cumplirse en municipios de pequeño porte del Valle del Taquari. In: MISOCZKY, Maria Ceci; BORDIN, Ronaldo. (Org.). Géstion Local de Salud, prácticas y reflexiones. Porto Alegre: DaCasa/OPAS, 2005, p. 37-56. ARRETCHE, Marta. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e autonomia. São Paulo em Perspectiva. v. 18, n. 2, 2004. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 7a. reimpressão. Rio de Janeiro: Campus, 1992. BRASIL. Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.saude.inf.br>. Acesso em: 06 dezembro 2005. BRASIL. Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: < http://www.pge.sp.gov.br>. Acesso em: 06 dezembro 2005. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05 dezembro 2005. CHAIU, Marilena de Souza. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, messianismo dos dominados. In: DAGNINO, Evelina. (org.) Anos 90, Política e Sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1994, p. 19-30. COSTA, Ricardo César Rocha da. Descentralização, financiamento e regulação: a reforma do sistema público de saúde no Brasil durante a década de 1990. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 18, p.49-71, 2002. DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo. Atlas, 1987. ____________Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 1996. GUIMARAES, Maria do Carmo. O debate sobre descentralização de políticas públicas: um balanço bibliográfico. Organizações & Sociedade. Salvador, v. 9, 2002, p. 57-77. LACERDA, Eugênia et al. O SUS e o Controle Social: guia de referência para conselheiros municipais. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. Hucitec, São Paulo, 2004. SOUZA, Jessé. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro. Brasília: UNB, 2000. 12 TELLES, Vera da Silva. Sociedade civil e a construção de espaços públicos. In: DAGNINO, Evelina. (org.) Anos 90, Política e Sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense. 1994, p. 91102. 13
Download