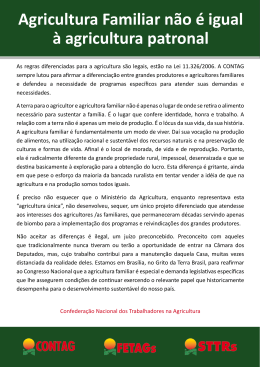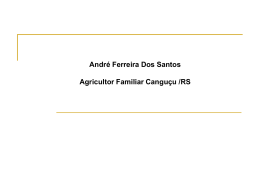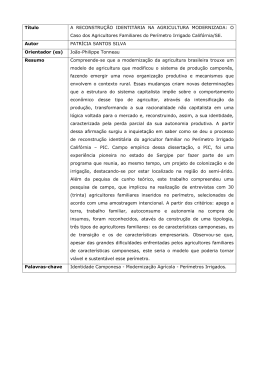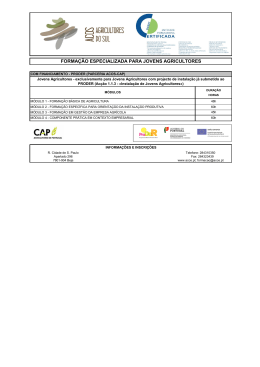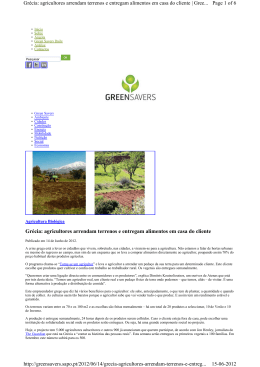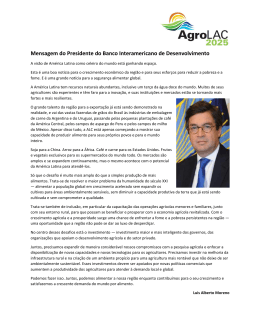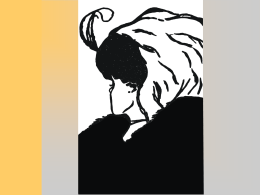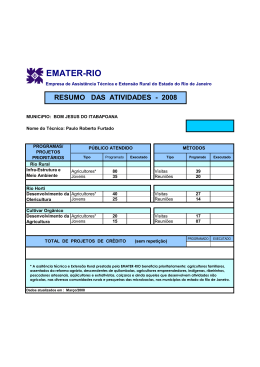“Projeto Redes de Referências para a Agricultura Familiar”: análise dos resultados apresentados em uma das propriedades acompanhadas no período de 1998 a 2003 Anais Naomi Kasuya Saldanha Márcia Regina Gabard da Câmara Dimas Soares Júnior Adenir de Carvalho Resumo Registros desapontados com a realização de iniciativas para o desenvolvimento da agricultura familiar mostram que, precisa ser criada uma nova aproximação para a concepção e implementação de projetos, buscando diminuir a distância entre propostas escritas e a realidade dos grupos de beneficiários. Esta nova aproximação, não pode estar baseada apenas em aspectos técnicos ou ambientais, mas é importante que se leve em conta os processos sociais. O presente trabalho faz algumas reflexões acerca da agricultura familiar e das dificuldades enfrentadas pela pesquisa e extensão voltadas para este estrato de produtores, seguida da apresentação e análise de alguns resultados do Projeto das Redes de Referências para a Agricultura Familiar (“Projeto Redes”), o qual está sendo desenvolvido no Estado do Paraná, desde 1998, numa parceria entre o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/PR), utilizando-se de uma nova proposta metodológica a qual, entre outras características, utiliza-se de princípios do enfoque sistêmico, da pesquisa e desenvolvimento e das organizações em rede ao longo do processo de acompanhamento aos agricultores. Palavras-chave: agricultura familiar, pesquisa agropecuária, extensão rural. Introdução O objetivo deste trabalho é apresentar e analisar os resultados de acompanhamento de uma das propriedades que estão sendo acompanhadas pelo Projeto Redes de Referências para a Agricultura Familiar1. Este projeto está sendo desenvolvido no Estado do Paraná, desde 1998, numa parceria entre o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/PR). No Brasil, o debate sobre a agricultura familiar ainda é recente e não possui contornos definidos. Os estudos de Abramovay (1992) merecem destaque em função do mérito de terem revelado que a agricultura familiar é uma forma reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura agrária é majoritariamente composta por explorações nas quais o trabalho da família assume uma importância decisiva. A “descoberta” difundiu entre os estudiosos brasileiros a noção de agricultura familiar, e operou um deslocamento teórico e analítico decisivo na sociologia dos estudos rurais e agrários, cujas preocupações, até então, giravam em torno da discussão do caráter capitalista, tradicional ou moderno, das relações sociais predominantes na agricultura. Para melhor compreender os conceitos a serem utilizados neste trabalho, a agricultura familiar será definida, segundo Mussoi (2002:06), que a vê como: “Uma forma de vida, que tem (seus atores sociais) um saber/conhecimento construído histórica e coletivamente; que tem uma lógica própria de decisão; tendo uma relação 1 O Projeto das Redes de Referências para a Agricultura Familiar será detalhadamente apresentado mais adiante e para maior facilidade na redação e leitura do trabalho, este será designado apenas por Projeto Redes. 1 harmônica com o meio ambiente (ou pelo menos, muito mais harmônica que a agricultura empresarial-capitalista convencional); usando de forma articulada e eficiente o trabalho familiar; baseando-se num processo de diversificação produtiva que garanta a produção para o abastecimento próprio e a necessária integração com o mercado local/regional, garantindo também níveis adequados de biodiversidade (produtiva, medicinal, artesanal e de reserva biológica); sendo capaz de processar muitos dos produtos por ela produzidos e reciclar dejetos para sua re-utilização. Este tipo de agricultura é, a nível externo, capaz de se articular no seu conjunto, possibilitando a resolução organizada/coletiva de seus problemas, uso de potencialidades e instrumentos de produção". Estas características lhes proporcionam mecanismos próprios de resistência ao processo de "modernização" convencional. Isso torna o trabalho da pesquisa e extensão rural voltado para este segmento da agricultura, um tanto quanto complexo, pois estes trabalhos devem respeitar e condizer com a lógica e realidade desses agricultores. Para Lima et alli (1995), na propriedade familiar, as decisões sobre o que e como produzir são determinadas não apenas por fatores como lucro e preço, mas também pelas necessidades da família. Os sistemas familiares possuem também um subsistema decisional, o qual gera as decisões em função das finalidades e objetivos do sistema. As diferenças entre o empresário rural e o empresário urbano devem ser consideradas, podendo-se citar entre estas que a principal diferença é o apego a terra e a família que muitas vezes são maiores que o bem estar e o desejo de progresso. (Brandt & Oliveira, 1973). De modo geral, os princípios econômicos que se aplicam à indústria e ao comércio, são também válidos para a agricultura, entretanto esta tem certas características que devemos ter presentes ao estudar a economia de uma empresa agrícola (Hoffmann et alli, 1984). Como ressaltado por Lima et alli (1995), deve-se sempre atentar para a necessidade de se analisar a maneira com que o produtor organiza sua propriedade transmitindo-lhe a importância de se atualizar, frente às muitas mudanças que estão ocorrendo na economia. No Brasil, a agricultura familiar é responsável pela geração de sete vezes mais postos de trabalho por unidade de área, do que a agricultura patronal (FAO/INCRA, 1995). Também no Paraná, os principais produtos agrícolas são produzidos por propriedades familiares, utilizando-se a mão de obra de homens, mulheres, crianças e idosos da família. Ao se analisar os dados descritos por Doretto et alli (2001), pode-se comprovar a importância deste estrato de produtores para a economia do estado, segundo os quais, no Paraná 90% dos estabelecimentos agropecuários são familiares. Tais estabelecimentos detêm 55,7% da área total, empregam 83% do pessoal ocupado e são responsáveis por 57% do valor bruto da produção vegetal. É fundamental analisar e compreender de que maneira são utilizados os recursos naturais, os meios técnicos e a mão de obra disponível. Isto impõe, necessariamente, o conhecimento das condições locais de produção ou como salienta Abramovay (1985), buscase não somente o aumento da produção e o rendimento dos produtores, mas principalmente, o sistema de produção que melhor se adapta ás condições ecológicas e sócio – econômicas. Possivelmente isto justifique um dos grandes problemas dos programas de administração rural, conforme apontado por Lima et alli (1995) para quem os agricultores começam a participar de tais programas esperando alternativas para melhorar sua produção e logo desistem quando percebem que o programa limita-se ao acompanhamento e controle dos registros contábeis, aconselhamento técnico – gerencial e a uma formação administrativa. Já para Souza (1986) duas hipóteses explicam o baixo nível de adoção de tecnologia por pequenos agricultores ou a transferência é inadequada, ou a tecnologia proposta não é apropriada às suas condições, sendo essa a causa mais comum. 2 Fazendo uma análise, sob o enfoque da percepção, Byrnes (apud Burke, 1977:19), num artigo intitulado “Algumas variáveis faltantes na pesquisa de difusão e estratégia de inovação”, coloca a percepção como a mais fundamental das variáveis: Fazemos suposições a respeito de pessoas e de mudanças com base em determinadas experiências, freqüentemente, inconscientemente selecionadas. Percebemos novas mensagens, nós mesmos e outros, num contexto particular de tempo e lugar. O que acontece antes e depois, o que cerca ou é visto em associação com alguma coisa, influencia a maneira pela qual nós a vemos e compreendemos. Finalmente, nossos pontos de vista (cultural, organizacional, físico e conceitual) influenciam nossa percepção”. “Percepção”, conforme usada aqui, refere-se ao significado que uma pessoa atribui para uma pessoa, lugar, evento ou mensagem. A realidade – o significado e a significância – disto para ela pode ser totalmente independente da “verdade” ou realidade conforme é experimentada por outras pessoas. Ao se compreender o comportamento humano, devemos tomar a percepção de um fato dado e estarmos alertas para o fato de que percepções diferem em função dos perceptores. Mais adiante, Byrnes (apud Burke, 1977: 20) tratando do problema da “resistência” dos agricultores a certas mudanças, pergunta: “Os agricultores resistem à mudança?” Segundo o autor, a resposta é que inegavelmente alguns o fazem, mas outros não e “ freqüentemente, eles parecem resistir não à mudança, mas a maneira pela qual a mudança é apresentada, ou aquilo que eles percebem ser a mudança. Assim, vemos que as pessoas respondem ou reagem - ou também resistem – em termos da sua definição de uma situação. Se quisermos modificar sua reação, devemos conhecer o que eles percebem e a base desta percepção”. Concordando-se com a perspectiva de Byrnes (op.cit.), é que se verificou a relevância de entrevistar o agricultor, buscando identificar e compreender melhor a percepção dele, sobre o Projeto Redes, esta questão será abordada mais à frente. O artigo está estruturado em seis partes, a saber: introdução; pesquisa e extensão rural no Brasil, explorando-se no referencial teórico os conceitos de enfoque sistêmico, pesquisa e desenvolvimento e organizações em redes; os procedimentos metodológicos do artigo; a descrição do Projeto Redes; discussão e demonstração da eficácia da metodologia, utilizando os resultados da análise do desempenho econômico-financeiro de uma das propriedades acompanhada pelo Projeto, associada à análise do discurso do agricultor que aderiu ao programa com sucesso, em entrevista realizada para identificar a percepção do participante e as considerações finais, item no qual se buscou identificar em que aspectos o acompanhamento do Projeto foi relevante para o desempenho da propriedade nos últimos cinco anos. 1. Pesquisa e Extensão Rural no Brasil A produção agrícola sofreu uma profunda e intensa transformação neste século decorrente da modernização tecnológica, principalmente nos países industrializados. A transferência dessas tecnologias modernas aos demais países foi feita, muitas vezes, sem o devido cuidado de adaptação às realidades locais. A introdução destas tecnologias no Brasil aprofundou a diferenciação social já existente no meio rural, além de agravar os problemas sociais na cidade, a partir, da chegada em massa, dos agricultores que foram expulsos. O processo de modernização partia da premissa de que a simples transferência de tecnologias melhoradas promoveria o desenvolvimento econômico de uma dada região. No entanto, essas categorias de agricultores não apresentavam condições de recursos materiais e 3 financeiros para absorverem os pacotes tecnológicos propostos, uma vez que estes pacotes não estavam adequados as suas realidades. O enfoque de pesquisa que orientou o processo de modernização baseia-se no controle de todos os fatores, exceto um ou alguns que se deseja estudar. Isto significa pesquisar, em estação experimental e/ou laboratórios, apenas uma parte do sistema de produção, considerando fatores de caráter técnico e desprezando-se as questões sócio-econômicas. Concluída a pesquisa de uma nova tecnologia, gerada como peça isolada e depois oferecida aos agricultores para ser incluída em seus sistemas. A extensão rural segue esta mesma lógica, desde sua implantação no Brasil ha 50 anos, caracterizando-se por: • Pontualidade da assistência – os técnicos estão voltados para um determinado problema dentro da propriedade, como uma doença ou uma praga. Não assistem a lavoura como um todo, mas apenas aquele problema isolado. Como conseqüência os agricultores recebem um grande número de técnicos, cada um orientado a um problema, quando muito a uma cultura. No entanto, a propriedade como um todo, não é considerada. Muitas vezes o agricultor, com dificuldades financeiras e econômicas, vem a falir, uma vez que não recebe orientação ao negócio agrícola. • A ausência de uma visão de planejamento: trabalhos de 5, 10 ou 20 anos em uma propriedade, poucas mudanças trouxeram. Isso dada à falta de uma visão de planejamento, na qual se parte de um diagnóstico interno (pontos fracos e fortes) e externos (ameaças e oportunidades), para elaborar projetos de médio e longo prazo, com metas e objetivos bem definidos e que busquem a evolução da exploração agrícola. • Tecnologias de produção – o técnico sempre esteve preparado para discutir questões tecnológicas ligadas a produção, eximindo-se de questões gerenciais. • Foco “dentro da porteira” – é rara a assistência técnica que trabalha questões de mercado, decisão de plantio, gerência econômica e financeira, decisões de investimento, etc. Nos últimos 20 anos, os métodos de inovação na agricultura vêm sofrendo mudanças muito rápidas, questionando a separação entre pesquisa e extensão, que caracterizou o período inicial da extensão rural e da revolução verde. Paralelamente, se intensificou a discussão sobre a importância da participação dos agricultores e de suas organizações representativas, assim como de outros envolvidos, partindo da idéia que as inovações na agricultura devem ser conduzidas pelos próprios agricultores em diálogo com os técnicos. A dinâmica de desenvolvimento, especialmente num sistema ao serviço de agricultores requer uma alta flexibilidade para poder reagir rapidamente às mudanças sócio-econômicas, infra-estruturais e técnicas. A participação dos agricultores nos programas voltados para a agricultura familiar, se baseia na autoconfiança, compreensão e confiança por parte de todos os envolvidos (Schmitz, 2001). Simões e Oliveira (2002), dividem a história dos sistemas de pesquisa e extensão, para a agricultura nos últimos cinqüenta anos, da seguinte maneira: modelo de transferência de tecnologia, impulso da revolução verde e emergência da pesquisa-desenvolvimento em sistemas de produção. Os autores também fazem uma breve descrição dessas fases, as quais se mostram bastantes oportunas para este trabalho. Antes dos anos 60, o modelo era simplesmente de transferência uniforme do progresso técnico. Os centros de pesquisa agronômica trabalhavam quase que exclusivamente para aumentar a produtividade do trabalho na agricultura dita “moderna” cujo paradigma era a agricultura norte americana, altamente mecanizada. O papel dos agentes de extensão se limitava em fazer conhecer as tecnologias aos agricultores interessados. Neste mesmo período, foi constatado que vários países do chamado terceiro mundo não conseguiam desenvolver a sua produção agrícola no mesmo ritmo que seu crescimento populacional. Concluiu-se que o modelo mecanizado e intensivo em capital não era adaptado e que se fazia 4 necessário um novo modelo de agricultura, adequado aos trópicos e às condições agroecológicas e socioeconômicas dos pequenos agricultores, predominantes na maioria desses países. Os centros de pesquisas agronômicas internacionais impulsionaram a Revolução Verde, ao selecionar e disponibilizar tecnologias modernas e promissoras para os centros de extensão que repassaram aos pequenos agricultores, mobilizando em particular os conhecimentos acerca do melhoramento genético das espécies cultivadas, dos fertilizantes químicos e dos agrotóxicos. Nessa época já se considerava que havia vários tipos de agricultores com interesses diferenciados e isso diferenciava este modelo do precedente. A Revolução Verde foi um sucesso em algumas áreas específicas. Não obstante o rápido crescimento da produção houve sérios desequilíbrios sociais, associados ao favorecimento de agricultores médios e grandes, verificou-se a exclusão dos pequenos agricultores, fator que intensificou conseqüentemente, o êxodo rural. (Simões e Oliveira, 2002) No início dos anos 70, as pesquisas enfocaram a difusão das tecnologias e constataram que as decisões dos agricultores não podiam ser analisadas a partir de cálculos econômicos clássicos. Não se tratava de simplesmente aceitar ou rejeitar uma tecnologia em função dos custos adicionais gerados e dos retornos econômicos que as mesmas poderiam propiciar, mas de considerar os objetivos das famílias, suas diferentes estratégias assim como as interrelações entre as diferentes atividades em nível do sistema de produção. A partir daí, então, o conceito de sistema de produção que já era bem conhecido na tradição agronômica européia, foi estendido para designar todo o estabelecimento agrícola. A terceira fase da pesquisa e extensão, inaugurada no fim dos anos 70, criticou os métodos da Revolução Verde e suas conseqüências, estimulando o desenvolvimento de uma nova metodologia de geração e transferência de tecnologias adaptadas aos pequenos agricultores a partir do enfoque sistêmico. A idéia geral da abordagem sistêmica é mudar a ênfase das estações experimentais para os experimentos em propriedades com a participação dos agricultores. Na agricultura, o enfoque sistêmico tem se tornado cada vez mais necessário, devido à crescente complexidade de sistemas organizados e manejados pelo homem e da emergência do conceito de sustentabilidade. (Simões e Oliveira, 2002) O aperfeiçoamento da pesquisa agropecuária, por volta de 1974, levou ao desenvolvimento da metodologia de pesquisa-desenvolvimento, que parte da observação da realidade agrária para distinguir os diferentes tipos de agricultores em função do meio envolvente, compreender a lógica interna dos sistemas de produção de cada tipo em função dos objetivos da família, dos meios de produção e tecnologias disponíveis e dos principais constrangimentos/restrições encontradas. O conhecimento aprofundado dos sistemas de produção dos agricultores permite selecionar tecnologias promissoras que podem ser introduzidas a partir de testes nos estabelecimentos agrícolas, da experimentação em meio real (nas áreas de produção dos agricultores) ou depois de validação em estações experimentais deslocadas para áreas rurais. Poder-se-ia, também, reorientar as prioridades de pesquisa agronômica para atender as necessidades maiores de todos ou certos tipos de agricultores em função da política geral do país. Apenas no fim dos anos 80 é que a metodologia de pesquisa-desenvolvimento, baseada no enfoque sistêmico aplicado à agricultura, chega ao Brasil (Schmitz, 2001). Diante das restrições acima apontadas, a estratégia proposta para a operacionalização do Projeto Redes conjuga: o enfoque de sistemas, que busca por intermédio do envolvimento entre a pesquisa, a extensão e o produtor uma maior objetividade na resolução dos problemas e uma maior adequação das tecnologias para os sistemas de produção, a metodologia de pesquisa e desenvolvimento, através da implantação de unidades de teste e validação de tecnologias, dentro das propriedades rurais e alguns princípios das organizações em redes, pois o Projeto Redes busca a formação de uma rede de comunicação, para dar início a um 5 processo eficiente de troca de informações entre os agricultores. Para uma melhor compreensão destes conceitos, estes serão brevemente discutidos a seguir. 1.1 Enfoque Sistêmico na Pesquisa Agropecuária No enfoque sistêmico, o estabelecimento agrícola é visto como uma unidade complexa, administrada pela família, abrangendo tanto o sistema de produção (com os subsistemas de cultivo, de criação, de extrativismo, de beneficiamento, etc.) como o sistema de consumo (reprodução), que são economicamente bem sintonizados. A família toma suas decisões, tentando combinar da melhor maneira os recursos disponíveis que dependem entre outros das condições do meio ambiente (Schmitz, 2001). O enfoque sistêmico tem sido aplicado em diversas ações de pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão rural, principalmente em resposta às crescentes críticas relacionadas aos projetos agrícolas reducionistas e disciplinares, direcionados aos pequenos produtores familiares, os quais não têm se beneficiado dos resultados. Através do desenvolvimento de vários modelos sistêmicos de pesquisa e extensão em sistemas de produção, a expectativa é de que os resultados destas experiências se tornem mais adequados e úteis aos pequenos agricultores familiares (Pinheiro, 2000). Entretanto, mais importante do que a própria definição, são os princípios que o conceito de sistemas enfatiza, dentre os quais destacam-se os seguintes (Capra, 1996): • Visão do todo: A abordagem sistêmica visa o estudo do desempenho total de sistemas, ao invés de se concentrar isoladamente nas partes. • Interação e autonomia: Sistemas são sensíveis ao meio ambiente com o qual eles interagem, o qual é geralmente variável, dinâmico e imprevisível. A fronteira do sistema estabelece os limites da autonomia interna, a interação entre os componentes do sistema e a relação deste com o ambiente. • Organização e objetivos: Em um sistema imperfeitamente organizado, mesmo que cada parte opere o melhor possível em relação aos seus objetivos específicos, os objetivos do sistema como um todo, dificilmente serão satisfeitos. • Complexidade: Este enfoque parte do princípio de que, devido a interações entre os componentes e entre o meio ambiente e o sistema como um todo, este é bem mais complexo e mais compreensivo do que a soma das partes individuais. • Níveis: Sistemas podem ser entendidos em diversos níveis, como por exemplo, uma célula, uma folha, um animal, uma propriedade, uma região, o planeta e assim por diante. Um sistema em determinado nível pode ser entendido como um sub-sistema de outro nível. 1.2 Metodologia de Pesquisa-Desenvolvimento A pesquisa-desenvolvimento surgiu em torno de 1974 e tornou-se mais relevante a partir dos anos 80, coincidindo com uma nova etapa de abordar o desenvolvimento rural, especialmente em função de críticas ás conseqüências da Revolução Verde. Os princípios básicos desta nova abordagem de pesquisa e desenvolvimento eram (Schmitz, 2001): a consideração da diferenciação social na sociedade agrária e conseqüentemente, a necessidade de identificar grupos homogêneos para desenvolver soluções apropriadas; o enfoque sistêmico; a hipótese da racionalidade do agricultor e assim da complexidade e capacidade de evolução da agricultura “tradicional”; a busca de explicação para os fenômenos observados e das estratégias dos agricultores e de outros atores envolvidos, exigindo uma abordagem interdisciplinar. O conceito de pesquisa e desenvolvimento propõe a substituição do esquema linear de geração e transferência de tecnologia, por uma relação triangular e recíproca entre 6 pesquisadores extensionistas e agricultores. O objetivo principal é aumentar o bem estar das famílias rurais de baixa renda, através da adoção de tecnologias apropriadas aos seus níveis de recursos e circunstâncias socioeconômicas. Isso é buscado pela mudança de ênfase das pesquisas realizadas nas estações experimentais, para ensaios conduzidos nas propriedades, com a participação dos agricultores, pois o desenvolvimento de tecnologias apropriadas é embasado no entendimento do contexto de seus sistemas produtivos, oportunidades, problemas e objetivos. A pesquisa e o desenvolvimento são muito mais interligados, existindo uma necessidade de expansão da atividade do pesquisador ao campo e do agricultor e do agente de desenvolvimento participarem na programação e realização de projetos de pesquisa. Não precisa de “participação plena” em todas as etapas de um projeto, a participação dos envolvidos pode alcançar níveis diferentes em cada etapa. Quem participa e em que nível depende da visão e da decisão dos principais atores (Schmitz, 2001). Uma dificuldade permanente ao se tentar examinar a literatura sobre o desenvolvimento econômico e a mudança social é determinar o que se deve entender pelo conceito de “desenvolvimento” que, juntamente com sua noção de “crescimento” evoca toda uma série de metáforas orgânicas. A maioria dos cientistas sociais distingue entre “crescimento econômico” - identificado com referência a um índice quantificável, como o aumento da renda per capta ou no produto nacional bruto - e o desenvolvimento econômico, que implica a transformação estrutural e organizacional da sociedade, embora existam discordâncias sobre o que representa exatamente esta última. A tendência mais comum é definir o desenvolvimento em termos do progresso no sentido de um complexo de metas de bem estar, como a redução da pobreza e do desemprego e a diminuição da desigualdade. Esta definição envolve a idéia de mudança estrutural, mas é parcial na abordagem, pois enfatiza as conseqüências positivas ou benéficas do desenvolvimento socioeconômico (Long, 1982). 1.3 Organizações em Rede Migueletto (2001:22), define as organizações em redes como “uma estrutura organizacional formada por um conjunto de atores que se articulam com a finalidade de aliar interesses em comum, resolver um problema complexo ou amplificar os resultados de uma ação, estes atores consideram que não podem alcançar tais objetivos isoladamente”. Na rede, os atores sociais mantêm a sua autonomia e estabelecem múltiplos vínculos de interdependência entre si, resultando numa dinâmica arena permeada por relações de cooperação e conflitos de opinião. Sendo uma arena de confluência de percepções, a rede manifesta a capacidade dos atores sociais explicitarem sua riqueza intersubjetiva, organizacional e política, trata-se de um espaço no qual os atores estão dispostos a trocar informações, dividir tarefas e agregar valor às iniciativas (Jacobi apud Migueletto, op.cit.). De forma geral, podemos observar três fatores principais e inter-relacionados, que favorecem a constituição de redes, tanto no âmbito do setor privado quanto do setor público, quais sejam, o processo de modernização, o dinamismo do ambiente globalizado e o impacto das tecnologias de informação. Kliksberg (apud Migueletto, op.cit.) propõe que o estado ocupe o locus de articulador das redes, integrando às instituições públicas, as organizações não governamentais, fundações empresariais, movimentos sindicais, organizações religiosas, universidades, organizações de moradores e as comunidades pobres organizadas, identificando o papel de cada um e suas contribuições. Com isso, faz-se necessário que cada organização desenvolva seu saber para integrá-lo ao interesse coletivo, pois as redes políticas viabilizam a otimização dos recursos e principalmente, a construção de conhecimentos e práticas sociais que lhes são próprios. 7 O desafio da coordenação dos empreendimentos em rede está relacionado ao fato de que as organizações atuam de acordo com lógicas, valores e normas de conduta próprias e desejam conciliar ações, visando alcançar um objetivo comum. Nesse processo, as organizações necessitam negociar uma interpretação da realidade para conseguirem trabalhar em conjunto. As características essenciais das redes são a condição de autonomia e a relação de interdependência dos atores. Os vínculos fortes na rede são definidos pela interação freqüente, uma longa história e a confiança mútua entre as partes do relacionamento. Trata-se de um processo que busca alcançar a coesão entre os participantes (Migueletto, 2001). O Projeto Redes é importante porque une pesquisa, extensão e agricultor, no desenvolvimento deste trabalho e segundo Migueletto (op.cit.), na rede, as organizações precisam umas das outras para alcançar seus objetivos particulares e o poder de uma entidade se afirma na medida em que a sua participação se torna essencial para as ações do grupo. Nas redes, a distribuição de poder não obedece a uma hierarquia, mas à importância de cada ator na viabilidade da rede, fator que possibilita a aproximação entre as atividades de planejamento e execução, e evita os gargalos na operacionalização das políticas, que se devem em grande medida às diferenças de percepção e aos conflitos de poder entre os que planejam e os que executam. A participação ativa dos diversos atores que estão envolvidos em determinada política pública é um elemento fundamental para a eficácia do processo, pois assegura maior integridade dos objetivos ao mesmo tempo em que agiliza as adaptações. Os fatos expostos acima justificam a importância deste trabalho, apesar da ampla abrangência do Projeto Redes, da utilização do enfoque sistêmico e do envolvimento entre pesquisa, extensão e agricultor. Para confirmar os impactos do projeto, é necessário analisar com maior profundidade os resultados obtidos nos anos agrícolas de 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Procura-se também delinear a percepção do agricultor sobre a participação no projeto e sobre o processo de evolução da propriedade. 2. Procedimentos Metodológicos A primeira parte, preponderantemente teórica, discutiu os conceitos utilizados na operacionalização do Projeto Redes, foram realizadas as revisões teóricas sobre agricultura familiar, pesquisa agropecuária, extensão rural e sobre os conceitos de enfoque sistêmico, pesquisa e desenvolvimento e organizações em rede, uma vez que o Projeto Redes propõe uma reformulação dos métodos, técnicas e procedimentos de pesquisa e extensão rural que possam, ao obter referências e parâmetros técnicos e econômicos, subsidiar a agricultura familiar em tecnologias apropriadas e novos arranjos de seus sistemas de produção, que possibilitem melhorar sua renda e sua qualidade de vida. Entre tais tecnologias enquadram-se não somente aquelas voltadas à melhoria dos sistemas produtivos, mas também novas técnicas que permitam aperfeiçoar a gestão das propriedades familiares no que diz respeito aos seus recursos econômicos. Para alcançar o objetivo proposto por este trabalho, apresentar e analisar os resultados alcançados por uma das propriedades acompanhadas pelo Projeto Redes, nestes cinco anos de acompanhamento, foi realizada uma pesquisa caracterizada como quanti-quali, pois foi feita em duas etapas principais, primeiramente foi feita uma análise quantitativa das informações econômico-financeira e dos resultados de produção, coletados pelo Projeto Redes. Nesta análise, buscou-se demonstrar as alterações ocorridas nas propriedades durante os anos agrícolas de 1998 a 2003. Em seguida apresenta-se a análise qualitativa, através de uma entrevista realizada com o agricultor, da propriedade selecionada para a análise dos dados quantitativos. Com todo este estudo, buscou-se identificar, sob a perspectiva do agricultor, em que aspectos o 8 acompanhamento do Projeto foi relevante para o desempenho da propriedade nos últimos cinco anos. O objeto de estudo do trabalho foi uma das pequenas propriedades acompanhadas pelo Projeto Redes, da região de Apucarana, norte do Estado do Paraná. A escolha deste agricultor foi determinada pelo fato de este ser um dos primeiros participantes do projeto. 2.1. Análise Quantitativa Para a análise quantitativa foram utilizadas as informações dos registros efetuados pelos produtores em instrumentos de coleta de dados, formulados pelo Projeto e em seguida foram repassados aos extensionistas da EMATER, os quais as armazenaram no software denominado de SAP – Sistema de Acompanhamento de Propriedades, um sistema preparado para receber informações técnicas e econômicas de cada propriedade, desenvolvido numa parceria entre a Organização das Cooperativas do Paraná - OCEPAR e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/PR e utilizou-se também de relatórios das planilhas RPR’S (Redes de Propriedades de Referência), desenvolvido especialmente para facilitar e automatizar o cálculo dos indicadores globais de desempenho. Para a caracterização e análise quantitativa do desempenho global dos sistemas de produção trabalhados foi utilizado um conjunto de indicadores, proposto para o Projeto Redes, por Soares Jr. & Saldanha (2000), o qual está dividido em cinco grupos, a saber: dimensionamento, custos, receitas, margem bruta e performance global. Os indicadores utilizados na análise quantitativa são sumariamente descritos a seguir, segundo os diferentes grupos, bem como apresentadas suas siglas, unidades de medidas e, quando pertinente, os cálculos necessários para sua obtenção. Tabela 01 - Indicadores Econômicos - Financeiros 1.Medidas de dimensionamento 1.1Superfície Agrícola Útil – SAU (há) Compreende as terras trabalhadas ou exploradas pelo produtor não importando se próprias, arrendadas ou sob qualquer outra condição legal. É calculada subtraindo-se da área total as áreas que não se incluem no conceito conforme segue ao lado. 1.2.Equivalente Homem – Eq. H. (unidade) Unidade padrão de mão de obra utilizada para avaliar a disponibilidade e calcular a remuneração do fator trabalho em uma exploração agrícola. Corresponde ao trabalho de um adulto em tempo integral durante um ano, totalizando 300 dias/ano. Considerando-se as diferentes condições de gênero, idade e possibilidade de dedicação da mão de obra disponível tomou-se como referência para uniformização a tabela abaixo, tendo sido considerada entretanto a ocorrência de algumas situações mais específicas de enquadramento. 1.3.Capital Total – KT (R$) Expressa a disponibilidade total de capital do produtor segundo as diferentes classificações deste fator, apresentadas em parênteses, após a descrição dos itens ao lado. Área Total - áreas com matas plantadas e/ou nativas - áreas inaproveitáveis - área com construções e/ou benfeitorias - áreas com estradas e/ou carreadores _______________________________ = Superfície Agrícola Útil IDADE 07 a 13 14 a 17 18 a 24 25 a 59 60 ou mais ESTUDA Masc Fem 0,25 0,25 0,33 0,33 0,50 0,50 - NÃO ESTUDA Masc Fem 0,50 0,50 0,66 0,66 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 - Valor atual das instalações, benfeitorias e culturas permanentes (fundiário) + Valor dos animais de trabalho (exploração fixo vivo) + Valor dos reprodutores e matrizes (exploração fixo vivo) + Valor atual das máquinas e equipamentos (exploração fixo inanimado) +Valor dos insumos (exploração circulante) +Valor do rebanho para engorda e/ou venda (exploração circulante) ______________________________________________________ 9 = Capital Total Fonte: Soares Júnior & Saldanha, 2000. (Cont.) Tabela 01 - Indicadores Econômicos - Financeiros 2.Custos 2.1.Custos Variáveis Totais – CVT (R$) São aqueles em que o administrador tem controle em determinado ponto no tempo, podendo aumentar ou diminuir, de acordo com sua decisão gerencial. Podem ser definidos também como sendo aqueles que variam quando se altera o nível de produção no período de tempo considerado. Abrangem os seguintes itens principais: valor dos insumos despendidos na produção vegetal e animal, valor da mão de obra contratada e contribuição ao INSS 2.2.Custos Fixos Totais – CFT (R$) São aqueles que existem mesmo que os recursos não sejam utilizados, não variando quando muda o nível de produção, não se encontram no curto prazo sob o controle do administrador. Englobam principalmente as depreciações e a mão de obra extra-familiar permanente. 3. Receitas 3.1.Renda Bruta da Produção – RBP (R$) Corresponde a renda gerada na propriedade pelas atividades de produção vegetal e animal. Engloba o valor das vendas, auto-consumo, cessões internas, produtos usados como pagamento em espécie e diferenças no estoque. 3.2.Outras Rendas – OR (R$) Corresponde a outros ingressos monetários na exploração, como por exemplo, aposentadorias, salários e o valor monetário mão de obra vendida. 3.3.Renda Bruta Total – RBT (R$) RBT = RBP + OR 4.Margem Bruta Total – MBT (R$) Corresponde à diferença entre a Renda Bruta e os Custos Variáveis das diferentes atividades. São MBT = RBT-CVT consideradas como contribuição para os Custos Fixos e Lucro depois dos Custos variáveis serem pagos. 5.Medida de Performance Global 5.1.Remuneração da Mão de Obra Familiar – (R$/Eq.h./mês) RLG Corresponde ao valor atribuído à mão de obra - Juros sobre capital fixo familiar, cujo custo não está incluído em nenhum dos - Juros sobre capital variável indicadores mencionados até aqui. É obtido após os / Equivalente homem pagamentos dos juros, ou custo de oportunidade, dos / 12 capitais fixos e variáveis, sendo calculados por _______________________ equivalente-homem por mês. = Remuneração da Mão de Obra Familiar Fonte: Soares Júnior & Saldanha, 2000. 2.2. Análise Qualitativa Para a análise qualitativa, o conceito de percepção é fundamental. Ele é uma dimensão chave na compreensão da difusão de idéias. Embora uma nova idéia possa ser considerada como vantajosa pelos especialistas de algum campo, atores particulares poderão não perceber a inovação de forma semelhante. Assim é essencial que o modelo para o comportamento de adoção leve em consideração a percepção do ator em relação à situação. Rogers ( apud Burke, 1977:11) define percepção como: “a maneira pela qual um indivíduo responde a qualquer sentido ou impressão que ele detecta”. Percepção é uma função do campo situacional dentro do qual o indivíduo opera. O conhecimento dos campos situacionais, a maneira pela qual o indivíduo identifica-se a si próprio, seu senso de segurança e as regularidades normativas poderão permitir a especificação teórica de algumas das condições para o comportamento de adoção. Assim, realizou-se uma entrevista com o agricultor, para que se torne possível analisar qualitativamente, as transformações ocorridas nesta propriedade e identificar a importância e colaboração do projeto para essas modificações. Como também identificar como o agricultor se vê dentro deste processo. Para a coleta das informações qualitativas foi feito um 10 questionário dividido em aspectos gerais, aspectos técnicos, aspectos econômico-financeiro e algumas questões conclusivas, orientadas para as seguintes questões investigativas: Tabela 2 – Roteiro de Entrevista com o Agricultor 1.Questões de aspectos gerais 1.1.Por que começou a participar do Projeto Redes? 1.2.Houve algum tipo de mudança nas atitudes dos membros da família, após a participação no Projeto Redes? 2.Questões de aspectos técnicos 2.1.Houve modificações com relação aos aspectos técnicos da produção? Como? 2.2.Houve modificações com relação à produtividade da propriedade? Como? 2.3.Antes de participar do Projeto, o Sr. Fazia algum tipo de controle, anotação? 2.4.Houve modificação na gestão da propriedade? Como? 2.5.Realiza-se a pesquisa de preço de insumos antes de comprá-los ? Como é feita a pesquisa? 2.6.São feitas pesquisas de preço na hora de vender os produtos? Como é feita esta pesquisa? 3.Questões de aspectos econômico-financeiros 3.1.Houve modificação na renda da propriedade ? Como? 3.2.Houve modificação nos custos da propriedade ? Como? 4.Questões conclusivas 4.1.O que acha de estar participando do Projeto Redes? 4.2.O que pode ser feito para melhorar o Projeto Redes? 3.Projeto Redes de Referências para a Agricultura Familiar2 A afirmação da agricultura familiar no cenário social e político brasileiro está relacionada à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 1996. Este programa que em larga medida foi formulado como resposta as pressões do movimento sindical rural realizado desde o início da década de 1990, nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional as categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das políticas públicas ao longo da década de 1980 e encontravam sérias dificuldades de se manter na atividade. A partir do surgimento do PRONAF, o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo aquele localizado nas regiões Sul e Nordeste, passou a reforçar a defesa de propostas que vislumbram o compromisso cada vez mais sólido do Estado com uma categoria social considerada específica e que necessitava de políticas públicas diferenciadas (juros menores, apoio institucional, etc.). 2 Descrição baseada na apresentação do Projeto Redes, publicado na “Revista Redes de Referências para a Agricultura Familiar – apresentação do enfoque de trabalho através de descrições de propriedades acompanhadas.” Projeto Paraná 12 Meses, 2000. 3 Pode-se definir um sistema de produção como sendo um conjunto de culturas (milho, feijão, mandioca e pastagem) e criações (aves, suínos e bovinos) interdependestes e interatuantes entre si, realizadas em determinada condição ambiental e manipulados pelo agricultor e sua família, de acordo com suas aspirações, preferências e recursos disponíveis. 4 Projeto Redes está inserido no Projeto Paraná 12 Meses, que é um programa do Governo do Estado do Paraná, que teve início em 1998 e visa promover o desenvolvimento econômico e social da população rural e o manejo e conservação dos recursos naturais, atuando em todo território estadual com apoio financeiro do BIRD e do Tesouro Estadual. 11 A nível estadual, para apoio a agricultura familiar, o governo estabeleceu o Programa Paraná 12 meses, e é dentro deste programa que se insere o Projeto das Redes de Referências para a Agricultura Familiar. Com o objetivo de desenvolver e difundir sistemas de produção3 melhorados para a agricultura familiar paranaense, a Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/PR) e o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), vêm desenvolvendo desde 1998 o projeto “Redes de Referências para a Agricultura Familiar”, integrante do Programa de Estado “Paraná 12 Meses4”, em seu componente Manejo e Conservação dos Recursos Naturais – Fase 2 (Modernização). A metodologia utilizada neste projeto surgiu de um convênio firmado com uma instituição de pesquisa francesa, que realiza este trabalho em toda a França, há 25 anos. Uma nova tecnologia, selecionada com a participação dos agricultores, se adapta localmente melhor do que aquela recomendada pelos técnicos que trabalham por conta própria. E mais ainda quando os agricultores estão presentes desde o início do processo de geração da tecnologia, o resultado é mais facilmente aceito pelos demais agricultores. Este é o conceito que está sendo adotado no Projeto Redes. Nele rejeita-se a idéia de que cada componente do sistema funciona isoladamente do meio ambiente e independente dos outros componentes. É uma abordagem holística, onde os sistemas devem ser tratados no seu conjunto, com ênfase principalmente deste com o meio ambiente e na interação das partes que o constituem. Porém, não se trata de buscar somente o aumento da produção e dos produtos cultivados, mas, principalmente, o sistema de produção que melhor se adapta as condições ecológicas e sócio-econômicas. Nesse caso, é fundamental procurar analisar e entender de que maneira é feita a utilização dos recursos naturais, dos meios técnicos e da mão de obra disponível. E isto impõem, necessariamente, o conhecimento das condições locais de produção e uma mudança de postura de pesquisadores e extensionistas. Evidentemente que para ter uma pesquisa e uma extensão rural que gerem e difundam tecnologias agrícolas que não sejam injustas, requer-se a correspondente reformulação ou adequação dos métodos, técnicas e procedimentos pedagógicos e de difusão a serem utilizados. Faz-se fundamental a utilização de instrumentos operacionais realmente adequados em função das características dos agricultores envolvidos. O Projeto Redes, constitui-se em uma metodologia inovadora que se propõem a enfrentar o desafio de construir um novo modelo de pesquisa e extensão rural para transpor os problemas aqui mencionados. Para isso apóia-se em propriedades analisadas, planejadas e acompanhadas em seu conjunto (recursos naturais, produção vegetal e animal, recursos humanos e econômicos) com o enfoque sistêmico, que após apresentarem melhorias, são utilizadas como fontes de referências técnicas e econômicas5. A partir do acompanhamento das propriedades, procura-se ajustar os sistemas de produção as potencialidades e limitações locais (de natureza agroecológicas e/ou econômicas) visando atingir a maior rentabilidade possível, obedecidas às premissas de sustentabilidade. Isso torna esses sistemas passíveis de serem adotados por um grande número de agricultores. Essa forma de trabalhar, além de promover a adaptação de tecnologias para o desenvolvimento da agricultura, busca resolver o principal problema dos projetos de desenvolvimentos, que é a interação entre os agentes – pesquisadores, extensionistas e agricultores. Assim, pode-se definir como objetivos das Redes: 5 Uma referência técnica e/ou econômica é um conjunto de informações sobre uma atividade agrícola que ajuda a assistência técnica na orientação dos agricultores na tomada de decisão. 12 • Ofertar novas tecnologias e/ou atividades ampliando as possibilidades de modernização • Servir como pólo de demonstração de tecnologias e sistemas de produção para potencializar o processo de difusão • Disponibilizar informações e propor métodos para orientar os agricultores na gestão da empresa agrícola • Servir como base para a capacitação e treinamento de agentes de assistência técnica e extensão rural e de agricultores • Possibilitar a identificação de demanda de novas linhas de pesquisa Para atender a esses objetivos, as Redes estão organizadas em três níveis: • Uma coordenação estadual em conjunto com a Unidade de Gerenciamento do Programa Paraná 12 Meses (UGP) para garantir a execução homogênea do método • Uma equipe mesoregional para apoiar técnica e metodologicamente as equipes de campo, além de serem responsáveis pelas pesquisas adaptativas. • Um extensionista por região, encarregado do acompanhamento a uma rede de vinte propriedades e pela difusão dos resultados. Nas regiões as Redes contam ainda com um comitê de coordenação composto pela unidade de assistência técnica da comissão regional do “Programa Paraná 12 Meses” e outros agentes locais e regionais de desenvolvimento, que tem a função de ajudar nas reflexões e escolhas dos sistemas a estudar. A instalação de uma rede envolve três etapas complementares: • Estudo prévio, onde é realizada a delimitação de zonas homogêneas, com a caracterização das regiões trabalhadas no tocante aos aspectos de clima, solos, estrutura agrária e infra-estrutura. Realiza-se também a tipologia dos sistemas de produção buscando identificá-los e caracterizá-los, com o objetivo de compreender sua lógica e entender as diferenças e particularidades que existem entre os agricultores. • Escolha dos sistemas prioritários, feitos a partir das informações da etapa precedente. É realizada pelo comitê de coordenação regional, que discute as hipóteses sobre a evolução desses sistemas de produção e suas conseqüências, como peso econômico, peso demográfico, evolução provável de seu número, influência do contexto sócio-econômico sobre os sistemas atuais, potencialidades de novos sistemas, etc. • Seleção das propriedades, uma vez que o comitê refletiu e escolheu os sistemas a serem estudados. Esta escolha garante parte da eficácia dos trabalhos, por isso ela deve seguir o consenso entre os representantes dos agricultores e dos agentes de desenvolvimento. Feita a escolha da propriedade, o primeiro passo é realizar um diagnóstico, com o intuito de conhecer seu conjunto, seus pontos de estrangulamento, suas potencialidades e os objetivos do agricultor. A partir dessas informações, extensionista e agricultor elaboram um projeto de médio prazo para a melhoria da propriedade. Na seqüência o extensionista passa a acompanhar a implantação do projeto e registrar os resultados técnicos e econômicos que vão surgindo das mudanças e que servirão para construir as referências modulares e globais do sistema. A evolução dos trabalhos permitirá a obtenção de diversos produtos, que servirão aos agentes de desenvolvimento ligados a agricultura familiar (extensão, pesquisa, formuladores de políticas públicas) entre eles estão: • Propriedades que servirão como pólo de demonstração de novas tecnologias, local para treinamento e capacitação de técnicos e agricultores. • Orientação para a definição de novas pesquisas. • Estudos setoriais (cadeias produtivas, utilização de mão de obra, utilização de máquinas, entre outros). 13 As Redes de Referência para a Agricultura Familiar envolvem uma metodologia de pesquisa adaptativa (validação) e difusão de tecnologia apoiada em uma rede de propriedades (grupo de 20 propriedades representativas dos sistemas de produção encontradas em uma dada região agrícola), analisadas e acompanhadas com o enfoque sistêmico, que após sofrerem intervenções para a melhoria das mesmas, servem para o fornecimento de referências técnicas e econômicas. A partir do acompanhamento das propriedades, procura-se elaborar sistemas de produção bem adaptados à região e possíveis de serem adotados por um número maior de produtores. Os sistemas de produção são analisados no seu conjunto (produção animal, vegetal, florestal; e recursos naturais, financeiros e humanos), avaliando-se sua viabilidade a partir dos resultados econômicos gerados. Nas redes é possível aprender como funcionam e evoluem os sistemas de produção no curto e médio prazo e também fazer os ajustes e análises de sistemas inovadores, podendo-se ainda utilizá-las como local de teste e validação de tecnologias desenvolvidas em estações experimentais. Entre tais tecnologias enquadram-se não somente aquelas voltadas à melhoria dos sistemas produtivos, mas também novas técnicas que permitam aperfeiçoar a gestão das propriedades familiares no que diz respeito aos seus recursos econômicos. 4.Resultados: Análise econômico-financeira da propriedade acompanhada e a percepção do produtor sobre o Projeto das Redes A propriedade selecionada para a realização desta análise, encontra-se localizada no município de Apucarana, região norte do Estado do Paraná. E para uma melhor compreensão da análise apresentada, será feita a seguir, uma breve descrição da propriedade6. Natural de Boracéia, Estado de São Paulo, o Sr. João da Silva7 tem sua história fortemente vinculada à história da cafeicultura do Norte do Paraná. Mas a partir da segunda metade da década de 70, a cafeicultura paranaense enfrenta um contínuo declínio na produção e área cultivada. O Norte do Paraná reconhece a expansão da soja e do trigo e então o Sr. João erradica parte de seu cafezal para dedicar-se ao cultivo de grãos. Em 1988 passa a arrendar áreas para o plantio de milho, além de prestar serviços motomecanizados de preparo de solo e colheita. Deparando-se ao longo dos anos seguintes com a redução da rentabilidade dos cultivos em áreas arrendadas e a necessidade de deslocamento cada vez maiores, o Sr. João chega a 1995 pensando em novas alternativas. Era o ano no qual começava a popularizar-se o novo modelo tecnológico para a cafeicultura paranaense e o Sr. João visualiza aí a possibilidade de voltar a produzir exclusivamente em sua própria terra. Em 1996 planta 1,5 há de café adensado, área que foi ampliada com o plantio de 1,3 há no ano seguinte. Paralelamente continua o plantio de grãos no próprio sítio e na área arrendada, contínua à sua, dedicando também maior atenção à pecuária leiteira, atividade que sempre explorara para o auto consumo. Com relação à mão de obra, o Sr. João trabalha em conjunto com a esposa, o filho e a nora, priorizando a plena ocupação da mão de obra familiar na definição de suas estratégias para, no futuro para alcançar a qualidade de vida desejada pela família. Entretanto, essa mão de obra não é suficiente para a realização de todas as tarefas de manejo de cultura, sendo necessário o pagamento de 180 diárias anuais nos períodos de capina e colheita. 6 Descrição realizada com base nas informações apresentadas na Revista Redes de Referências para a Agricultura Familiar / Apresentação do enfoque de trabalho através de descrições de propriedades acompanhadas – Adenir de Carvalho e Dimas Soares Júnior. 7 O nome do agricultor foi alterado, para manter a identidade do agricultor. 14 4.1 Resultado Quantitativo: Demonstrativo dos resultados econômico-financeiros Tabela 3 - Benfeitorias, Máquina e Equipamentos 1998 Benfeitorias (R$) Maquinas e equipamentos (R$) Total (R$) 2003 14.151,62 17.698.03 Benfeitorias (R$) Maquinas e equipamentos (R$) Total (R$) 31.849,65 15.941,93 20.955,90 36.897,83 Tabela 4 - Indicadores Técnicos – Medidas de Dimensionamento INDICADORES SAU (há) Eq. Homem (un.) Capital Total (R$) 98/99 37,16 3 38.102,31 99/00 37,16 3 43.150,49 00/01 37,16 2,5 43.150,49 01/02 37,16 3 52.722,29 02/03 37,16 2,5 52.722,29 Tabela 5 - Indicadores Econômicos – Custos INDICADORES Custos variáveis (R$) Custos fixos (R$) Custos totais 98/99 10.170,00 99/00 10.066,00 00/01 13.609,23 01/02 16.575,96 02/03 23.099,76 3.000,00 13.170,00 3.000,00 13.066,00 3.000,00 16.609,23 3.000,00 19.575,96 3.000,00 26.099,76 Tabela 6 - Indicadores Econômicos - Receitas INDICADORES Renda Bruta da Produção (R$) Outras Rendas (R$) Renda Bruta Total (R$) Margem Bruta Total (R$) R$/há 98/99 29.676,00 99/00 42.417,00 00/01 39.000,00 01/02 70.530,04 02/03 93.805,25 00,00 29.676,00 00,00 42.417,00 00,00 39.000,00 00,00 70.530,04 00,00 93.805,25 16.506,00 29.352,00 22.390,77 50.954,08 67.705,49 444,19 789,87 602,55 1.371,21 1.822,00 Tabela 7 - Indicadores Econômicos – Medidas de Performance Global INDICADORES Remuneração da mão de obra familiar (R$/Eq h/mês) 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 354,79 378,49 428,59 501,04 568,75 4.2 Resultado Qualitativo: A percepção do agricultor Conforme descrito, nos procedimentos metodológicos, a percepção do agricultor entrevistado envolveu aspectos gerais, aspectos técnicos, aspectos econômico-financeiros e algumas questões conclusivas. Nas questões de aspectos gerais, procurou-se identificar o que levou o agricultor a participar do Projeto e também saber o que ele esperava desta participação. Pode-se constatar que ele não tinha uma idéia muito clara do que ia ser feito, mas agora se mostra satisfeito por saber quanto gasta e quanto ganha em cada atividade, como se pode perceber em seu discurso: 15 Sr. João da Silva – “Ah, eu resolvi participa porque a gente sabe a renda que dá a renda que não dá, antes mesmo, ás vezes uma coisa que você achava que tava dando renda, na verdade você tava trabalhando no vermelho, né. E agora não, vai levando tudo marcado e então a gente sabe o que a gente pode continua e o que a gente não pode, né. O soja, nóis cumecemos plantar o soja, mas num tava sobrando. Pelo que nóis plantava, a saca por alqueire não tava sobrando, não tava correspondendo, né, então... Nós achemos que ia acontecer só de bom pra nóis, né. Nós falamos, né, porque nós faz as coisas e leva tudo marcadinho. Ajuda nóis pra chuchu, então eu acho que pra nóis foi uma boa” Quando se perguntou ao agricultor que tipo de controle ele realizava na propriedade, antes de começar a participar do Projeto, ele alega que não fazia nem um tipo de anotação, por isso não sabia por onde entrava e por onde saia o dinheiro: Sr. João da Silva – “Não anotava nada. Era tanto de adubo, tanto de calcário, ia lá vendia tanto e nem sabia o que dava nem o que não dava, ás vezes tirava do café pra ponha no milho ou no soja e achava que tava dando ainda, e não é o que tava dando, o que tava dando era o café.” Com relação aos aspectos técnicos, procurou-se identificar se o agricultor tinha consciência das mudanças ocorridas no processo produtivo, houve também a preocupação em saber se o acompanhamento do Projeto colaborou para o aumento de sua produção e produtividade: Sr. João da Silva – “Vo fala a verdade, depois que nóis começo a trabalha junto, né. Através da EMATER ai, mudo porque nois diversifico, né. Ai entro com café, milho, leite, mudo totalmente. Nóis era tranqüilo pra chuchu.O que mudo bastante é que de primeiro nóis ficava envolvido com pranta roça arrendada, lembra. Teve época que nóis prantava 30, 40 alqueires de roça arrendada.” Sr. João da Silva – “Nossa, aumento. A gente consegue produzi mais, porque sei lá, a semente de milho mais produtiva né. Que em outros tempos se plantava uma semente de milho ai e parece que não produzia igual nos ta produzindo agora. Esse 90/90 é um milho bom. É deu pra vê que aumenta, por causa que nas colheita né, cada ano que passa parece que... Só que aumento também por causa de orientação certa, porque nóis tirava uma quantidade de milho por alqueire de 150 (sacas) no pau da viola e agora 300. Só que era pra da mais, porque nóis aqui bruto, em 2 alqueires nóis tiramo 940 saca de milho.” Buscando analisar a questão da gestão da propriedade, pode-se observar que o agricultor está muito vinculado ao extensionista que o acompanha e também ao acesso direto à EMATER: Sr. José da Silva – “Ficou mais fácil, porque qualquer dúvida a gente corre com eles lá e conversa com eles lá. Já tem orientação, já tão por dentro. Não tem nem comparação. Em outros tempos nóis levava no escuro, a miguelão, agora não, agora é diferente que a gente já sabe o que que ta dando, o que dá pra continuar e o que tem que largar. Que nem o barracão de frango, nóis tava afim de colocar, mas daí eles vieram e falaram que tem que pensa, vamo soma o negócio ai pra vê porque, eu acho que isso ia dá pra cabeça” 16 Nas questões conclusivas, procurou-se analisar o que o agricultor esta achando de participar do Projeto e mais uma vez constatou-se o grande vínculo com o extensionista e com a EMATER : Sr. João da Silva – “O que nóis podia dizer é que a EMATER ai, o pessoal da EMATER, ajuda bastante a gente. O que agente precisa vai lá. Faz análise de terra não cobra nada de nóis.” Com a preocupação de melhorar o acompanhamento e o trabalho do Projeto Redes, perguntou-se ao agricultor o que pode ser feito para melhorar, mas devido a sua satisfação, ele não pode dar maiores contribuições: Sr. João da Silva – “A eu acho que pra nóis aqui ta bom demais eu to contente, pra nóis aqui ta beleza.” 5. Discussão Para uma maior representatividade dos resultados econômico-financeiros apresentados, tornou-se interessante comparar a renda/ha anual encontrada nesta propriedade, com a renda/há anual apresentada recentemente no trabalho, Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil Redescoberto (FAO/INCRA, 2000), que comprova a importância da agricultura familiar comparado sua capacidade de geração de renda com a agricultura patronal sobre o indicador de renda total por unidade de área (hectare), na região Sul de R$ 241,00 e R$ 99,00 para a agricultura familiar e patronal, respectivamente. E com base nos resultados apresentados neste trabalho, pode-se observar que a renda total por unidade de área (hectare) evolui de R$ 444, 19 na safra de 98/99 para R$ 1.822,00 na safra de 02/03, valores muito superiores a média brasileira. Os dados quantitativos foram confirmados pela análise qualitativa que revelou que na percepção do agricultor houve muitos benefícios e que tais benefícios são tangíveis (maior) receita e intangíveis( incremento no bem-estar familiar, estar contente) . 6. Considerações Finais Nos últimos anos, muitos trabalhos vêm se dedicando aos estudos e análises das formas de organizações familiares. Segundo Abramovay (1992), pode-se extrair pelo menos dois ensinamentos: a) a existência de diferentes estratégias sociais e econômicas através das quais as populações, grupos e indivíduos identificados com a agricultura familiar vêm viabilizando sua reprodução social e sobrevivência econômica nas sociedades contemporâneas e b) o Estado tem sido o maior responsável pela manutenção de políticas e formas de apoio à expansão e à consolidação das unidades que se organizam e estruturam com base no trabalho familiar nas nações mais desenvolvidas,. Daí a importância de instituições como o Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/PR, desenvolverem trabalhos como o Projeto Redes. E apesar de ainda não estarem mensurados os resultados dos cinco anos de acompanhamento deste projeto, a proposta mostra-se bastante adequada ao segmento de agricultores familiares, pois a metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto está voltada para questões técnicas e questões sociais destes agricultores. Com relação a análise econômico-financeira, verificou-se um aumento bastante significativo na renda do Sr. João da Silva, comparando-se a renda de R$ 29.676,00 em 1998, que passou para R$ 93.805,25 em 2003. Analisando-se a entrevista realizada, pode-se observar que, apesar dos aspectos positivos da metodologia utilizada pelo Projeto, constatou17 se que o agricultor está fortemente ligado ao extensionista, fato que futuramente poderá causar problemas, um a vez que, caso o projeto interrompa o acompanhamento, o agricultor pode se estabilizar na situação atual, até se tornar ultrapassado. Uma outra idéia que pretende-se explorar futuramente, são as características das propriedades familiares rurais e também as suas estratégias de sobrevivência em um sistema capitalista, uma vez que, de acordo com Mann (apud Schneider, 2003), a persistência das formas familiares e não capitalistas de produção na agricultura é explicada não pela sua dependência a formas mais complexas de exploração, mas, ao contrário, pela incapacidade do próprio capitalismo em superar, pelo menos até o presente, os limites naturais impostos pela produção agrícola. Referências Bibliográficas ABRAMOVAY, R. Progresso Técnico: A Indústria é o caminho?. Caderno se Difusão de Tecnologia, Brasília, 1985. V2, p 233 – 245. ABRAMOVAY, R. Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão. Anpocs. Unicamp. Hucitec. São Paulo, 1992. BURKE, Thomas Joseph. A percepção e o processo de adoção de inovações na agricultura. Dissertação apresentada a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz“ da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de mestre em Sociologia Rural. Piracicaba, 1977. 122p. BRANDT, Sérgio Alberto & OLIVEIRA, Francisco Tarcísio Góes de . O Planejamento da Nova Empresa Rural Brasileira, Rio de Janeiro: APEC, 1973. p.260 (pp 63 – 98) CAPRA, F. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996. DORETTO, Moacyr; LAURENTI, Antônio Carlos & DEL GROSSI, Mauro Eduardo. Diferenciação de Estabelecimentos Familiares na Agricultura Paranaense. Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR. Londrina, 2000. FAO/INCRA – Diretrizes de Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável. Março, 1985. FAO/INCRA – Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil redescoberto. Agosto, 2000. HOFFMANN, Rodolfo; ENGLER, Joaquim José de Camargo; SERRANO, Ondalva; THAME, Antônio Carlos de Mendes; NEVES, Evaristo Marzabal. A Administração da Empresa Agrícola. Piracicaba, ESALQ/USP, 1984. 325p. LIMA, Arlindo Prestes de; BASSO, Nilvo; NEUMANN, Pedro Selvino; SANTOS, Alvori Cristo dos; LONG, Norman. Introdução a Sociologia do Desenvolvimento Rural. Zahar Editores. Rio de Janeiro, 1982. MULLER, Artur Gustavo. Administração da Unidade de Produção Familiar: Modalidades de trabalho com agricultores. Ijuí: Editora da Unijuí, 1995. 176p. MANUAL OPERATIVO DO PROJETO PARANÁ 12 MESES. Governo do Estado do Paraná. Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral / Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Curitiba, 1999. 232p. MIGUELETTO, Danielle Costa Reis. Organizações em Rede. Dissertação apresentada a Escola Brasileira de Administração Pública para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública. Rio de Janeiro, 2001. MUSSOI, Eros Marion. “Agricultura familiar: transitando para onde?”. In: Anais do V Simpósio Latino Americano sobre Investigação e Extensão em Pesquisa Agropecuária / V Encontro da Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção. Florianópolis, 2000. PINHEIRO, S. L. G. O enfoque sistêmico e o desenvolvimento rural sustentável: uma oportunidade de mudanças de abordagem hard-systems para experiências com soft18 systems. In: V Seminário Estadual de Administração Rural / I Seminário Sul Brasileiro de Administração Rural. Itajaí, 2000. REDES DE REFERÊNCIAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR: Um dispositivo Multifuncional e Participativo de Articulação da Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. In:Anais do Seminário Internacional sobre Experiências Inovadoras em Metodologias para Capacitação de Agricultores. IICA / Procoder. Caldas Novas/Goiás, 1999. REVISTA REDES DE REFERÊNCIAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR – apresentação do enfoque de trabalho através de descrições de propriedades acompanhadas”. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. EMATER/PR – Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná. Projeto Paraná 12 Meses. Curitiba, 2000. 78p. SCHMITZ, Heribert. Reflexões sobre métodos participativos de inovação na agricultura. In: Agricultura Familiar – Métodos e Experiências de Pesquisa – Desenvolvimento. Universidade Federal do Pará. Belém, 2001. SCHNEIDER, Sérgio. A pluriatividade na Agricultura Familiar. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 2003. SIMÕES, Aquiles & OLIVEIRA, Myriam Cyntia César de. O enfoque sistêmico na formação superior voltada para o desenvolvimento da agricultura familiar. In: Anais do V Simpósio Latino Americano sobre Investigação e Extensão em Pesquisa Agropecuária / V Encontro da Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção. Florianópolis, 2000. SOARES JÚNIOR, Dimas & SALDANHA, Anaís Naomi Kasuya. Indicadores econômicos propostos para a análise dos sistemas de produção e propriedades agropecuárias trabalhadas nas “Redes de Referências para a Agricultura Familiar” do estado do Paraná. In: Anais do V Seminário Estadual de Administração Rural / I Seminário Sulbrasileiro de Administração Rural. Itajaí, 2000. SOUZA, Ricardo de & ANDRADE, José Geraldo de. Administração Rural: Um Enfoque Moderno. Informe Agropecuário. nº 143, 1986. P3-5. 19
Download