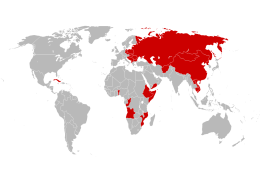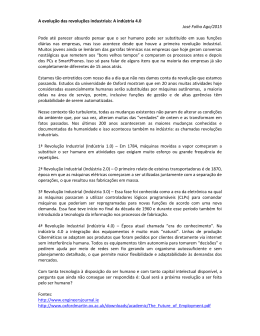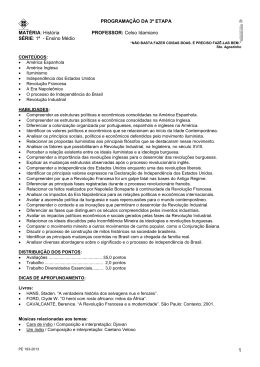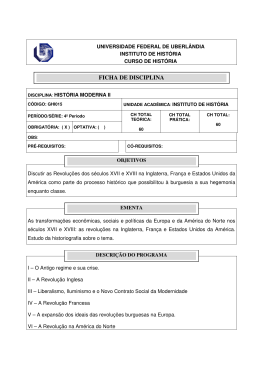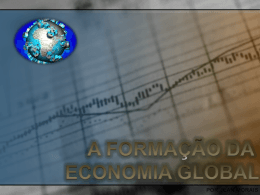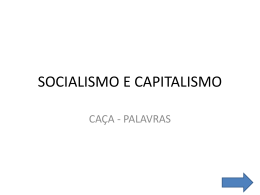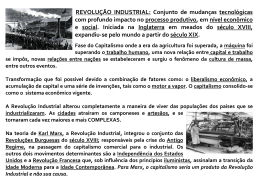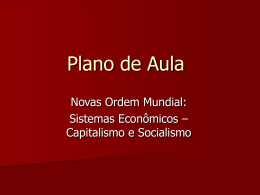Pelo Socialismo Questões político-ideológicas com atualidade http://www.pelosocialismo.net _____________________________________________ Enviado por mail Colocado em linha em: 2015/11/16 A propósito do conceito de “etapa” na luta pelo socialismo, nos planos ideológico e prático [2] Pedro Miguel Lima [Este trabalho é publicado por partes. Hoje publica-se o capítulo II] II Discernir períodos históricos Estudar a história implica, naturalmente, a constatação da existência de vários períodos marcados quer por acontecimentos de grande relevo, como guerras e revoluções, quer por traços característicos e leis próprias cujas vigência se prolongam e se vão mantendo em determinada fase e desaparecem noutra, e assim sucessivamente. Porém, dependendo do ponto de vista filosófico de que se parte, existem duas formas de estudar a história: a materialista e a idealista. A idealista que «explica a práxis a partir da ideia»1 e a materialista que «explica as formações de ideias a partir da práxis material»2. O materialismo dialético histórico parte da base do «desenvolvimento do processo real da produção, partindo logo da produção material da vida imediata e na conceção da forma de intercâmbio intimamente ligada a este modo de produção e por ele produzida»3. Mas, do ponto de vista ideológico do historiador e da historiografia, também se podem observar diferentes formas de estudar a história. O marxista-leninista aborda a história de um ponto de vista materialista dialético, científico, e o historiador 1 Karl Marx e Friedrich Engels - FEURBACH. OPOSIÇÃO DAS CONCEÇÕES MATERIALISTA E IDEALISTA (Capítulo primeiro de A IDEOLOGIA ALEMÃ), em Obras Escolhidas de Marx-Engels, em 3 tomos, Ed. Avante!, 1982, t. 1, p. 32. 2 Id., ibid. 3 Id., ibid. 1 burguês de um ponto de vista que apresenta e interpreta o movimento histórico de acordo com a ideologia dominante, que, como sabemos, é a da classe dominante e apresenta os factos na perspetiva invertida, determinada pelas relações burguesas de produção, que se baseiam na alienação do homem em relação àquilo que produz. Sem nos determos no desenvolvimento da questão, interessa fundamentalmente sublinhar que o materialismo dialético encontra o fundamento da sua interpretação histórica nas relações concretas, materiais, entre o homem e a natureza e os homens entre si no processo de produção material que visa satisfazer as suas necessidades (crescentes). Para se projetar para os dias de hoje um simplicíssimo exemplo da interação do homem com a natureza, podemos lembrar a importância do petróleo, que tanto serve de combustível como de matéria-prima para o fabrico de inúmeros objetos, ou a utilização do silicone, de origem mineral, no fabrico de computadores e outros artefactos eletrónicos. A produção material provém sempre desta relação entre natureza e homem (também ele um ser que pertence à natureza). Ao criticar a historiografia idealista alemã, em A Ideologia Alemã, Marx e Engels dizem: «A história não é senão a sucessão das diversas gerações, cada uma das quais explora os materiais, capitais, forças de produção que lhe são legados por todas as que a precederam, e que por isso continua portanto, por um lado, em circunstâncias completamente mudadas, a atividade transmitida…»4. O estudo da história orientado pelo materialismo histórico é a única historiografia que considera o processo de evolução da sociedade – o conjunto dos homens enquanto produtores e as relações que estabelecem entre si no decurso do processo de produção material – na sua relação dialética com a natureza, como qualquer fenómeno da realidade, como coisa material, que está fora da consciência do sujeito, que decorre segundo as suas próprias leis. Sublinha-se que a relação entre homem(ns) e natureza é um processo dialético também. A natureza influencia o homem e o homem transforma a natureza, mas também os processos de produção das suas condições de vida. Os fenómenos sociais, determinados materialmente pelas relações de produção, são extraordinariamente complexos, uma vez que em cada período decorrem não só processos absolutamente caraterísticos desse período, mas também outros que eram próprios do período anterior ou já são próprios do período seguinte e que acompanham as fases de crescimento, amadurecimento e fim de um determinado modo de produção. Na história, tal como em qualquer outro fenómeno material (social, logo existente fora da consciência dos indivíduos) existem períodos de acumulação, mais lentos, prolongando-se durante séculos ou milénios – por exemplo, o comunismo primitivo ou o feudalismo – e momentos de salto dialético normalmente marcados por revoluções, mais ou menos violentas, mais ou menos prolongadas num período de 4 Id., p. 29. 2 tempo, em função das tarefas históricas objetivas que essas revoluções têm em vista realizar. As revoluções dão origem à tomada do poder político – do Estado – pela classe principal no sistema de produção que se torna dominante, isto é, que põe de acordo as relações de produção com as necessidades do desenvolvimento das forças produtivas. São saltos históricos decorrentes da natureza dialética do processo histórico. A luta de classes é o motor, e a violência a parteira da história (Karl Marx)5. A Revolução francesa, a maior revolução burguesa, tem lugar no século XVIII, mas a época das revoluções burguesas prolonga-se na Europa quase até ao início do século XX. É toda uma época histórica, a época das revoluções burguesas. E são essas revoluções burguesas que marcam o conteúdo dessa época – a época das revoluções burguesas na Europa, altura em que o capitalismo representava um progresso para o desenvolvimento das forças produtivas e o seu Estado democrático republicano, representativo, constituía um avanço em relação ao reacionarismo das monarquias e aristocracias. As tarefas dessas revoluções consistiam em derrotar o poder político da aristocracia, erguer um Estado capaz de esmagar o seu poder político e promover por toda a parte as relações de produção capitalistas, varrer as relações de produção feudais e estabelecer o domínio político da burguesia que iria favorecer, a partir do Estado que se erguia como força de imposição do seu domínio sobre as outras classes, o desenvolvimento das relações de produção capitalistas. Nessa época – a época das revoluções burguesas – era impossível realizar uma revolução socialista, porque a burguesia ainda não tinha resolvido o seu conflito com a aristocracia de modo a permitir o máximo desenvolvimento das relações de produção capitalistas e ainda não possuía o aparelho de poder político, o Estado. A classe operária encontrava-se ao lado da burguesia na luta pelos objetivos desta última, ainda dependia dela para resolver o seu problema mais adiante - liquidar essa burguesia. «Nesta etapa os proletários combatem, pois, não os seus inimigos, mas os inimigos dos seus inimigos, os restos da monarquia absoluta, os proprietários da terra…»6. A revolução antifascista portuguesa era uma etapa necessária para o prosseguimento da luta da classe operária portuguesa para o socialismo. Tratava-se de criar as condições para que a luta de classes se desenvolvesse em terreno aberto, livre dos constrangimentos políticos, económicos e sociais impostos pelo fascismo. Sem o preenchimento destas condições seria quase impossível o caminho para a revolução socialista. Em fevereiro de 1917, na Rússia, a revolução burguesa para afastar o poder político feudal do czarismo e entregar o poder político à burguesia foi uma etapa necessária para criar as condições para a revolução socialista de outubro, tal como a revolução de 1905, que foi derrotada, mas, mesmo assim, foi imprescindível para as posteriores revoluções de fevereiro de 1917 e de outubro do mesmo ano. 5 “A violência é a parteira de toda a velha sociedade que está grávida de uma nova. Ela própria é uma potência económica” – Karl Marx, O Capital, Ed. Avante!, Livro I, tomo III (1997), p. 849. 6 Karl Marx e Friedrich Engels - Manifesto do Partido Comunista, em Obras Escolhidas de MarxEngels, em 3 tomos, Ed. Avante!, tomo 1 (1982), p. 114. 3 No caso das revoluções russas de 1905 e de fevereiro de 1917 (o caso da revolução democrática e nacional portuguesa não será tratado neste momento; o mesmo para outras situações especiais que determinaram uma diferente política de alianças) o proletariado já constituído em classe, politicamente organizado e com objetivos políticos autónomos, teve de fazer duas revoluções: uma revolução democrática, contra o poder político feudal ao lado da burguesia que não podia prosperar sob ele, e uma revolução socialista, ao lado do campesinato pobre, contra a burguesia.7 Seguem-se alguns exemplos, em situações históricas diferentes, de como Lénine utilizava estas designações, que mostram a dinâmica do movimento social que ele observa, o entrelaçamento e sucessão dialéticos de períodos, etapas, fases (não se trata aqui de circunstanciar cada uma das situações por ele referidas, mas apenas sublinhar a ideia de que seria absurdo não considerar a existência de etapas, fases, degraus, no processo histórico, um continuum dialético): «A julgar pelos escassos dados de que se dispõe na Suíça, a primeira etapa desta primeira revolução, concretamente, da revolução russa de 1 de março de 1917, terminou. Esta primeira etapa certamente não será a última etapa da nossa revolução»8. «A luta destas três forças [a monarquia tsarista, o governo burguês, o Soviete de deputados operários] determina a situação que se apresenta agora e que constitui a transição da primeira etapa da revolução para a segunda»9. «(…) a revolução camponesa geral é ainda uma revolução burguesa e […] sem uma série de transições, de degraus transitórios, não se pode fazer dela uma revolução socialista num país atrasado»10. «(…) no parasitismo e na decomposição do capitalismo, inerentes à sua fase histórica superior, quer dizer, ao imperialismo»11. “A princípio, juntamente com “todo” o campesinato contra a monarquia, contra os latifundiários, contra o medievalismo (e nesta medida a revolução continua a ser burguesa, democrática burguesa). Depois, juntamente com o campesinato pobre, juntamente com o semiproletariado, juntamente com todos os explorados, contra o capitalismo, incluindo os camponeses ricos, os kulaques, os especuladores e, nesta medida, a revolução torna-se socialista. Tentar erguer uma muralha da China, artificial, entre uma e outra, separar uma da outra doutro modo que não seja pelo grau de preparação do proletariado e o grau da sua união com os camponeses pobres, é a maior deturpação do marxismo, a sua vulgarização, a sua substituição pelo liberalismo.” - V. I. Lénine – A revolução proletária e o renegado Kautsky, em Obras Escolhidas de V. I. Lénine, em 3 tomos, Ed. Avante!, tomo 3 (1979), p. 56 (realces do autor). 7 Sublinhe-se que Lenine considerava não existir “uma muralha da China” entre as duas etapas, era um processo histórico a decorrer. 8 V. I. Lénine – Cartas de longe, em Obras Escolhidas de V. I. Lénine, em 3 tomos, Ed. Avante!, tomo 2 (1978), p. 1 (realces nossos, a negrito; e do autor, tipo de letra diferente). 9 Id., p. 6 (realces nossos, a negrito; e do autor, tipo de letra diferente). 10 V. I. Lénine – A revolução proletária e o renegado Kautsky, em Obras Escolhidas de V. I. Lénine, em 3 tomos, Ed. Avante!, tomo 3 (1979), p. 59 (realces nossos, a negrito; e do autor, tipo de letra diferente). 4 Estas etapas, fases, transições concetualmente utilizadas pelos fundadores do socialismo científico são conceitos completamente diferentes do conceito “etapa” que estamos a discutir. Os primeiros correspondem a realidades históricas, materiais, verificadas e verificáveis. O último é uma construção mental, um ideal que não existe nem existirá historicamente (noutros pontos mais avançados deste trabalho, serão desenvolvidos outros argumentos que fundamentam melhor esta afirmação). A prossecução da sua defesa encaminha a luta do proletariado para becos sem saída, por caminhos errados, atrasa a formação da sua consciência de classe, compromete a sua missão histórica. Em suma: não permitirá nunca que a sua luta saia dos marcos das reformas, eventualmente melhorias, do capitalismo (e hoje nem o capitalismo tem condições para acomodar essas reformas, mas esse é outro problema). Portanto, é obviamente possível discernir períodos históricos – épocas, etapas, graus transitórios, etc. – mas este facto não chega para credibilizar a teoria da «etapasanduíche» para chegar ao socialismo a partir do capitalismo. Metaforicamente, pode dizer-se que essa teoria está para o marxismo-leninismo como a «restauração» que uma senhora velhinha fez da imagem de Cristo na igreja da sua terra está para a obra do artista que a concebeu e executou originalmente. O materialismo histórico estuda as leis do desenvolvimento da sociedade não apenas para a compreender, mas para, a partir do conhecimento das leis que regem o seu desenvolvimento, tornar o homem condutor do devir da sua existência em sociedade e deixar de ser conduzido por leis que o alienam da determinação desse mesmo devir. Pensar que o desenvolvimento do processo histórico pode ocorrer dentro de limites temporais fabricados na «ideia» e em função de «processos» arbitrariamente criados na mesma «ideia», sem ligação com a realidade histórica material e as leis objetivas do seu movimento, é idealismo filosófico e utopia política (se quisermos ser amáveis). É isto o que se passa quando se considera a existência de uma «fase» ou «etapa» intermédia entre o capitalismo e o socialismo, o que equivale a dizer que se pode passar gradualmente do capitalismo ao socialismo sem uma revolução, como por exemplo a «democracia avançada» do Manifesto de Champigny, do PCF, anteriormente referido. A realidade amarga é que a essa «democracia avançada», cujos propugnadores projetavam construir a partir de Maio de 68, nunca conquistou a classe operária francesa – que deve ter intuído que aquelas bem-aventuranças da «democracia avançada» eram uma utopia -, nunca se consumou, nem deu um passo adiante na luta e, nesta sequência, que passou pela participação do PCF com um ministro num governo de Miterrand, levou o PCF ao desmoronamento e à vergonhosa situação em que hoje se encontra. 11 V. I. Lénine – O imperialismo, fase superior do capitalismo (Prefácio às edições francesa e alemã), em Obras Escolhidas de V. I. Lénine, em 3 tomos, Ed. Avante!, tomo 1 (1977), p. 584 (realces nossos, a negrito; e do autor, tipo de letra diferente). 5
Download