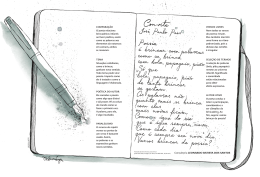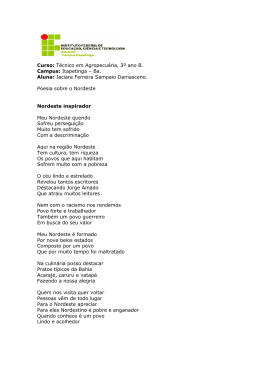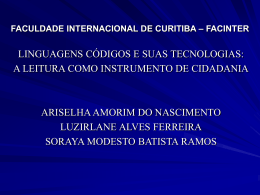edição 147 desde abril de 2000 O jornal de literatura do Brasil Curitiba, juLho de 2012 | WWW.rascunho.com.br | esta edição não segue o novo acordo ortográfico fotos: matheus dias e reprodução | arte: ramon muniz O que vai salvar o mundo é a divisão de renda, a grana. Mas a literatura vai salvar o espírito humano, no sentido do encontro direto com a arte.” Paulo Lins • Paiol Literário • 4/5 O gauche Com uma voz poética altamente idiossincrática, Carlos Drummond de Andrade observou e abraçou o mundo em seus livros • 10/15 Longo grito Toda a obra de William Gaddis é uma ampla meditação sobre o colapso da sua própria existência como homem e escritor • 20/21 O 147 • juLho_2012 2 eu recomendo : : Simone Campos C a rta s A menina sem qualidades : : [email protected] : : Aviso aos leitores CARTAS PAIOL LITERÁRIO Devido a um erro dos Correios, a edição 146 (junho de 2012) do Rascunho foi entregue com atraso. No entanto, o envio do jornal já foi normalizado. Pedimos desculpas pelo transtorno. PRATELEIRA NOTÍCIAS reprodução QUEM SOMOS EDIÇÕES ANTERIORES COLUNISTAS CONTATO DOM CASMURRO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS CARTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO OTRO OJO Sugestão Quero deixar uma sugestão: o Rascunho poderia filmar o Paiol Literário e criar um canal no YouTube. Assim, os pobres amigos que habitam outras plagas se beneficiariam também. Dag Bandeira • Rio de Janeiro (RJ) Afugentou o leitor Fernando Monteiro [Fora de seqüência #146] é o cara perfeito para ter um blog e virar herói na internet. É bem verdade que tem razão quanto à qualidade dos textos na internet, mas pelo menos ainda se escreve. Em um mundo de cultura visual isto é a exceção e deve ser motivo não de comemoração, mas que pelo menos não seja alvo de tanta raiva e agressividade. Quem nunca escreveu mal no início que atire a primeira pedra. Caras assim, que para parecerem distintos defendem que o terreno da escrita é por demais distinto e exclusivo, mais afugentam do que criam leitores e escritores. Jorge Alberto Benitz • Via Facebook A menina sem qualidades Juli Zeh Trad.: Marcelo Backes Record 546 págs. Simone Campos Nasceu em 1983, no Rio de Janeiro (RJ). É autora de Owned – Um novo jogador, A feia noite e No shopping. Seus contos foram publicados em diversas coletâneas e revistas especializadas. translato : : eduardo ferreira Trevisan eterno Ótima análise [O vampiro ao meio-dia, Rascunho #146]. Dalton já deixou sua literatura com leitura de eternidade. Bruno Scuissiatto • Ponta Grossa (PR) Escritor-mor Excelente e histórico o ensaio com o laureado escritor-mor do Paraná! Sou fã do estilo único de Dalton Trevisan. Com vasta e profícua obra e diversos prêmios, Trevisan não precisa provar nada! Oxalá! Que seus famigerados detratores e ingratos discípulos tupiniquins logrem êxitos similares! No jornalismo de literatura, Rascunho é show de bola no Brasil! Luís Santos • Curitiba (PR) O melhor romance adolescente que li nos últimos tempos não tem nada a ver com realidade — não no sentido de reproduzi-la. Também não foi escrito por uma adolescente. Chama-se A menina sem qualidades, da autora alemã Juli Zeh. O título nacional faz menção ao romance de Robert Musil (O homem sem qualidades), mas, ao fim do livro, as notas de tradução do ótimo Marcelo Backes elucidam o título original: Spieltrieb (Pulsão de jogo). Ada, uma adolescente “não linda” e superdotada, que se proclama filha do niilismo, encontra seu parceiro de jogo em Alev, jovem totalmente impotente que, na falta de melhor passatempo, trava uma partida de lances sucessivos em que Ada, seu professor Smutek e toda a sociedade são os peões. A surpresa é que Ada começa a ficar à vontade com a possibilidade de enfim ter uma identidade — nem que seja a de peão. Smutek também é marcante, representando a perplexidade de quem ainda tem uma história pra contar frente ao jogo que tomou conta de tudo. É um livro de ação: faz-se sexo, pratica-se esporte e o clímax é no tribunal. Nenhuma cena, porém, é gratuita; tudo faz pensar. O estilo é magistral. Saí desse livro me sentindo renovada. Texto que flui lento e nervoso por leito irregular QUEM SOMOS EDIÇÕES ANTERIORES COLUNISTAS CONTATO DOM CASMURRO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS CARTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS F de até então insuspeitadas utilidades, para a língua de chegada, de elementos gramaticais do original. Travamento da leitura, em favor do reconhecimento de detalhes do fazimento do texto. Fluida, a tradução parece quase natural. Quase original, como escrita mesmo, antes que em qualquer outra, na língua de chegada. Texto escrito para o deleite e o entretenimento — puro prazer de ler por ler. Literatura como simples diversão — e por que querer mais? Travado, o texto traduzido busca o leitor raro. Livro caro, para poucos. Estranhos prazeres — esporte radical que cede satisfação (ou explosão de júbilo e orgulho) à custa de cota de medo e dor. Terreno acidentado, o olhar sobrevoa rasante e agitado, pinçando em fendas e picos restos do léxico, rastros da estrutura original. Fluida, a escritura desce mansa do original à tradução. Resultado do esmero de bom tradutor — nada menos que escritor nato, talvez em desvio de função. Mas bom escritor. Conduz pela mão, com cuidado, levando na travessia em águas calmas a letra de margem a outra. Sem sobressaltos, com a leveza da pena precisa e segura. Mais que isso: talentosa. Travado, pegajoso, o texto. A leitura claudica sob o signo do esforço intelectual. Não tanto prazer, mas trabalho. Maçante, luidez e travamento: conceitos presentes no percorrer de uma tradução. Critérios para definir a qualidade ou a natureza do texto traduzido. Fluida, a tradução tenta parecer original, no que carrega de próprio da língua de chegada. Natural, nacional, doméstica. Velha conhecida, vale como aconchego. O doce amparo do lar, sem os riscos da língua rude lá de fora. Travado, o texto, como rio de escolhos, carrega tanto líquido quanto sólidos seixos próprios para distrair e embaraçar. Texto de obstrução, tradução. Fluido, o texto parece vender mais, como escritura risonha, maneira. Leveza feita toda de letras e pontos sobre papel macio. Desliza o olhar, sem pousar, afaga a mão ao passar as páginas. Travada, cheia de reminiscências e amarguras do original e sua língua, a tradução se revela difícil, desajeitada. Não rende a leitura, não rende à editora. A sintaxe do original transvasa, difunde-se pelo texto traduzido, espalhando estranhezas pela tela da escritura e provocando ora ira ora pasmo. Ira pelo embaraço e o excesso de esforço — necessidade de atenção adicional que gera desinteresse e desgaste, quando não o abandono puro e simples. Pasmo positivo pela descoberta De longe Sou um leitor italiano do Rascunho e ler o vosso jornal é um prazer. Vocês se tornaram um excelente hábito de leitura que me permite, mesmo de muito longe, acompanhar a literatura brasileira contemporânea. Giorgio de Marchis • Roma (Itália) Online Vale a pena acompanhar a versão em PDF do Rascunho: diagramação e conteúdo de excelência. Tom Correia • Salvador (BA) Impresso Acabo de receber a versão impressa do Rascunho... Estou adorando! Parabéns pelo trabalho! Luiz Mozzambani Neto • Monte Alto (SP) Bacana Achei o jornal muito bacana. Parabéns a todos pelo belíssimo trabalho. Gostei muito dos poemas de Viviane de Santana Paulo. Guilherme Meyer • Via e-mail OTRO OJO a tradução parece exibir — como texto em transparência sobre texto — aquilo que era o original. Fratura exposta. Vísceras visíveis, livres da opacidade da pele. Todo o processo da escritura revelado. Fluidez no texto escorreito. Tradução que corre sem pejo, corre fácil e aprazível sob os olhos interessados do leitor. Legibilidade completa. Texto dócil, composto do tempero mais brando e delicado. Leitura como recompensa depois de um dia de cão. Descanso para o olhar, que só se deixa levar pela letra solta e corrente. Tudo o que sempre quis o editor: divertir, prender, mesmo que não enleve. Travado, flui lento — quase nem líquido, mas pastoso. Travando a leitura, elementos alheios semeiam o incômodo — talvez despertem curiosidade por conhecer o original. Talvez despertem vontade de ler a tradução pela tradução — novo texto recriado e quase autônomo, que pode ser lido sem que se saiba de nenhum antecessor. Como tradução de original perdido. Atração pelo que surpreende — por estranho — e instiga. O velho apego ao arrebatamento. Fundir, traduzir, os dois num só texto? União impossível dos opostos — tão desejada quanto impossível. Texto que flui lento e nervoso por leito irregular, tortuoso. Nunca corredeira, nunca remanso. Nunca conheci. Enriquecedor rodapé : : rinaldo de fernandes Sou poeta, dou aula no projeto “Patrulhando a cidadania” e curso o 2º ano do ensino médio. Agradeço o envio do jornal à Biblioteca Comunitária de Valéria, pois nos enriquece, principalmente em um bairro carente de informação. Valter Bitencourt Júnior • Salvador (BA) Tom Jobim: o amor e a natureza (2) QUEM SOMOS Belo trabalho EDIÇÕES ANTERIORES Gostaria de parabenizá-los pelo belo trabalho que vêm realizando com o Rascunho. Reynaldo Bessa • Via e-mail Envie carta ou e-mail para esta seção com nome completo, endereço e telefone. Sem alterar o conteúdo, o Rascunho se reserva o direito de adaptar os textos. As correspondências devem ser enviadas para: Al. Carlos de Carvalho, 655 • conj. 1205 • CEP: 80430180 • Curitiba - PR. Os e-mails para: [email protected]. COLUNISTAS CONTATO DOM CASMURRO T ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS CARTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS om Jobim, em Corcovado, especialmente nos versos “Quero a vida sempre assim/ Com você perto de mim/ Até o apagar da velha chama”, pensa o amor nos termos do chamado “amor romântico” (afinal, “até o apagar da velha chama” é o mesmo que “até que a morte nos separe”). Zygmunt Bauman chama a atenção para as transformações pelas quais as relações amorosas passam em nosso tempo, tornando o amor romântico definitivamente deslocado: “Pode-se supor (mas será uma suposição fundamentada) que em nossa época cresce rapidamente o núme- OTRO OJO ro de pessoas que tendem a chamar de amor mais de uma de suas experiências de vida, que não garantiriam que o amor que atualmente vivenciam é o último e que têm a expectativa de viver outras experiências como essa no futuro. Não devemos nos surpreender se essa suposição se mostrar correta. Afinal, a definição romântica do amor como ‘até que a morte nos separe’ está decididamente fora de moda, tendo deixado para trás seu tempo de vida útil em função da radical alteração das estruturas de parentesco às quais costumava servir e de onde extraía seu vigor e sua valorização” (in: Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos, p. 10). Há uma série de canções de Tom cujo tema central é a queixa pela ausência da amada. Às vezes a solidão imobiliza o “eu” poético, que, incontinente, se enche de lágrimas: “Tarde cai a tarde/ E a sombra vem andando pelo chão/ Tarde cai a tarde/ E a saudade também cai no coração// Pois alguém foi embora e não voltou/ outro alguém tão sozinho aqui chorou/ Tarde cai a tarde/ Cai o pranto dos meus olhos sem amor” (Cai a tarde — Tom Jobim). CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO. 147 • juLho_2012 3 quase-diário : : affonso romano de sant’anna o jornal de literatura do brasil fundado em 8 de abril de 2000 Rascunho é uma publicação mensal da Editora Letras & Livros Ltda. Rua Filastro Nunes Pires, 175 • casa EDIÇÕES 2 ANTERIORES CEP: 82010-300 • Curitiba - PR (41) 3527.2011 [email protected] www.rascunho.com.br tiragem: 5 mil exemplares ROGÉRIO PEREIRA editor CRISTIANE GUANCINO diretora executiva COLUNISTAS Affonso Romano de Sant’Anna Carola Saavedra Eduardo Ferreira Fernando Monteiro José Castello Ionesco, Drummond, Candido... QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS 28.05.1988 Leio na revista italiana Panorama entrevista com Ionesco a propósito de sua última peça/ livro, A busca intermitente, e do libreto de ópera Maximiliano Kolbe. Curioso: confessa que não gosta de teatro, por isto fez A cantora careca, em 1950. Diz também: “Gostaria de ter escrito ensaios e romances ou não escrever nada e ser um pequeno empregado honesto ou um professor ou padre. Me disse sempre que quando tivesse tempo o escreveria. Mas tive tempo a não ser tardiamente e então não tive mais vontade de escrever nada”. Ver: a síndrome de modéstia só dada a quem já conseguiu fama. Talvez se não tivesse alcançado o sucesso cedo... Ou então é uma boutade típica e natural do seu modo paradoxal de pensar: ironia, antítese. Sintomático que, na entrevista, Ionesco comece a desenvolver seu lado místico, a falar de Deus, etc. COLUNISTAS DOM CASMURRO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO Luiz Bras 02.06.1988 Plínio Doyle me conta que num dos caixotes doados por Murilo Miranda (cunhado de Rubem Braga, ex-diretor da Rádio MEC) ao Museu de Literatura da Casa Rui Barbosa descobriu um documento do Drummond fazendo a adaptação do poema Os bens e o sangue Raimundo Carrero Rinaldo de Fernandes Rogério Pereira ILUSTRAÇÃO para teatro. Texto autógrafo. Rachel de Queiroz ontem no Clô para os íntimos (TV Manchete), numa entrevista muito simpática e honesta dizendo que achava “um horror” escrever e que era “muito doloroso”. Que fazia aquilo porque era o que sabia. Mas algo aí me incomoda: se acha um “horror”, pode fazer outras coisas, não é obrigada: você não deve passar a vida inteira fazendo o que lhe causa tanto desprazer. 09.07.1988 Curioso Helen Hanft (Charing Cross Road) dizendo em entrevista ao Geneton Moraes, no caderno Idéias, do Jornal do Brasil, que não gosta de Joyce e Beckett, nem de romances. Interessante seria alguém pesquisar (em diários, entrevistas) a opinião de gente famosa sobre obras famosas. Seria um quadro duplo: não conferiria exatamente com o consenso. Ver-seia que a unanimidade preserva certos clássicos, intelectuais citariam por hábito (ou constrangimento) alguns autores. Há uma inércia (meias verdades, mentiras), como na física, falsificando o quadro artístico-literário. De novo João Cabral joga farpas contra Drummond (morto ano passado). Em entrevista à revista Diálogo (para médicos, onde colaboro como cronista), diz que Drummond “desbocou” depois que leu Neruda. Se somarmos isto a outras entrevistas em que falou mal do verso lírico e longo, ou outras em que disse que o Drummond que lhe interessa é o dos primeiros livros... 11.08.1988 Outro dia Antonio Candido aqui em casa contava que um aluno lhe perguntou sobre o conceito de alegoria em Benjamin. Candido respondeu que não sabia, que usava um conceito antigo que tinha aprendido. E me confessou que não leu Benjamin. Começou Adorno, mas achou-o chato. Dizia isto a propósito de uma conversa em Paris em que um professor teve a coragem de dizer que não tinha lido Guerra e paz. Demonstrou de novo seu entusiasmo por Ungaretti. Narra que professores como Braudel representavam quando ensinavam. Tudo planejado, até a hora em que os alunos deviam chorar quando ele contava certas estórias. 27.06.1988 Morre o fotógrafo que esteve há algum tempo aqui e me mostrou fotos que tirou de Picasso, Andy Warhol, Mitterrand, Kennedy, Aznavour, Klee, Chagall e mais 50 outros, até do Imperador do Japão. Seu nome: Eddy Novarro — West Germany. Se bem me lembro (e não me lembro mais...), fez uma foto minha para um álbum sobre personalidades locais. Onde? Pra quê? Esqueci. Bruno Schier Carolina Vigna-Marú Felipe Rodrigues vidraça : : Yasmin Taketani Marco Jacobsen Osvalter Urbinati Rafa Camargo Castello reunido Rafael Cerveglieri Ramon Muniz QUEM SOMOS Rettamozo Ricardo Humberto EDIÇÕES ANTERIORES Robson Vilalba Tereza Yamashita Theo Szczepanski FOTOGRAFIA CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO divulgação CARTAS Colunista do Rascunho e do Prosa & Verso, do jornal O Globo, José Castello tem textos sobre literatura publicados em diversos jornais e revistas. Neste ano, dois projetos reunirão parte de sua produção: durante a Bienal do Livro de São Paulo, em agosto, a Bertrand Brasil publica As feridas do leitor, coletânea com textos do escritor publicados na imprensa e no próprio Rascunho, além de algumas conferências. Já suas colunas publicadas no Prosa & Verso — cerca de 100 das mais de 250 — serão reunidas em Sábados inquietos e publicadas pela Leya até o fim deste ano. COLUNISTAS DOM CASMURRO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO Matheus Dias Espécie de censura? SITE/MÍDIAS SOCIAIS Yasmin Taketani PROJETO GRÁFICO Rogério Pereira / Alexandre De Mari PROGRAMAÇÃO VISUAL O aguardado edital de bolsas de Criação e Circulação Literária da BN/Funarte foi motivo de riso e críticas em relação ao que, no texto, foi entendido como restrição temática. Consta do edital que assuntos como pornografia, tráfico de drogas, terrorismo e discriminação de raças e/ou credos, entre outros, não poderão figurar como temas dos projetos concorrentes. Segundo a Biblioteca Nacional, a intenção era apenas mostrar que não seriam consideradas obras que fizessem apologia a esses temas. Versão Design ASSINATURAS Cristiane Guancino Pereira colaboradores desta edição Everardo Norões Fabio Silvestre Cardoso Godofredo de Oliveira Neto Henrique Marques-Samyn Julián Ana Luís Augusto Cassas Luiz Guilherme Barbosa Luiz Horácio Marcos Pasche Martim Vasques da Cunha Maurício Melo Júnior Mirhiane Mendes de Abreu Patricia Peterle Paula Cajaty Rodrigo Gurgel Simone Campos Victoria Saramago Vilma Costa Prêmio Paraná de Literatura Manoel Carlos Karam, Newton Sampaio e Helena Kolody emprestam seus nomes para a primeira edição do Prêmio Paraná de Literatura, nas categorias romance, contos e poesia, respectivamente. O concurso da Secretaria de Cultura do Paraná vai selecionar livros inéditos, de autores de todo o país. O vencedor de cada categoria receberá R$ 40 mil e terá sua obra publicada pela Biblioteca Pública do Paraná, com tiragem de mil exemplares. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 31 de agosto deste ano. Os livros serão avaliados por uma comissão julgadora e o resultado será divulgado em dezembro. O Prêmio retoma uma tradição do estado, que entre os anos 1960 e 1980, através de seu Concurso Nacional de Contos, revelou e premiou escritores como Dalton Trevisan, Clarice Lispector e Ignácio de Loyola Brandão, entre outros. Mais informações em www.bpp.pr.gov.br. Independente Fanzine pulp nascido no final da década de 1940, em Curitiba, e interrompido cerca de 30 anos depois, LODO, idealizado e editado pelo escritor Florestano Boaventura, foi retomado pelo escritor Otávio Linhares e pelo editor da revista Lama, Fabiano Vianna. A partir de sua atual edição, LODO adquiriu periodicidade bimestral e tiragem de 200 exemplares. Sob o pseudônimo de Detetive Linhares, Dragomir Kephas, Matryona Yaba e Fúlvio Lopes, escritores da capital paranaense, entre eles os editores da revista, colaboram nas edições. Com distribuição limitada, ela pode ser encomendada através de [email protected]. Vida longa ao VB Está de volta neste mês o Vida breve, site de crônicas e ilustrações criado por Rogério Pereira, editor do Rascunho, e o jornalista e escritor Luís Henrique Pellanda em 2009. Além dos próprios editores do site, Eliane Brum, Fabrício Carpinejar, Humberto Werneck e Marcia Tiburi escreverão crônicas semanais, de segunda a sábado, sempre acompanhadas por uma ilustração. Por aí 1 Miguel Sanches Neto está à frente da entrada da editora Intrínseca no mercado da ficção nacional. Ele é o autor convidado a escrever Deportações, primeira ficção brasileira da editora, prevista para 2014. A idéia do romance, ainda com título provisório, é imaginar como seria o Brasil se Getúlio Vargas tivesse se vinculado a Hitler na Segunda Guerra Mundial. Por aí 2 Já o seu A máquina de madeira, concluído no início deste ano, está de casa nova: o romance histórico de Miguel será publicado pela Companhia das Letras, em novembro de 2012. O livro ficcionaliza a vida do paraibano Francisco Azevedo, que inventou a primeira máquina de escrever industrializável do mundo em 1859, mas que não teve sua idéia pioneira reconhecida como tal. Por aí 3 Segundo o escritor, a mudança de editora se deu por conta do entusiasmo com que o livro foi recebido na Companhia, apesar de ter sido avaliado por outras editoras, entre elas a Record, responsável pela publicação de seus livros anteriores. “Não houve rompimento, apenas achei que a Companhia se entusiasmou mais com o livro e isso foi determinante para mim. Literatura se faz com entusiasmo”, afirma Neto, cujos livros continuam na Record. Aliás, seu romance de estréia, Chove sobre minha infância, acaba de ganhar uma nova edição pela editora. Atualmente, Luciana Villas-Boas, ex-diretora editorial da Record, é sua agente literária. 147 • juLho_2012 4 Paulo Lins N o dia 20 de junho, o projeto Paiol Literário — promovido pelo Rascunho, em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, o Sesi Paraná e a Fiep — recebeu o escritor PAULO LINS. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 1958, Paulo Lins estreou na literatura com o livro de poesia Sobre o sol (1986). Morador da Cidade de Deus, dedicou-se ao magistério e à pesquisa antropológica sobre a criminalidade e as classes populares antes de escrever o romance Cidade de Deus (1997), adaptado para o cinema por Fernando Meirelles. Em abril deste ano, lançou Desde que o samba é samba, seu segundo romance, no qual resgata momentos da formação da cultura brasileira através da história do samba. Como roteirista, Lins redigiu episódios da série Cidade dos homens e o roteiro do filme Quase dois irmãos, de Lúcia Murat, pelo qual recebeu o prêmio de melhor roteiro da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Na conversa com o jornalista e editor Rogério Pereira no Teatro Paiol, em Curitiba, Paulo Lins falou da escrita como um ato menos solitário do que se imagina, do sucesso de Cidade de Deus, do Brasil desigual e racista e da relação entre fato histórico e ficção em sua obra, entre outros assuntos. Leia a seguir os melhores momentos do bate-papo. • Liberdade A questão da leitura é uma coisa séria. Mas deram à leitura um poder que ela não precisava ter, que é justamente a obrigatoriedade de ler. Falo porque dei aula de literatura e português durante muitos anos, e quando você pergunta para o aluno quem é o antagonista, quem é o protagonista, o clímax, ele não quer responder. Ele quer contar a história de novo e tal. Então, essa questão da leitura não livre... Tem que ser livre. A arte é livre, e temos que encarar a leitura como o cinema, a televisão, o circo, uma coisa assim. Dentro da sala de aula, a gente fez uma experiência: ao invés da aula de português, aula de leitura. Então, o leitor tem o direito de não ler o livro e falar que leu; o leitor tem o direito de não ler o prefácio; ele tem o direito de pular páginas; ele tem o direito de não terminar o livro. Essa liberdade é para o aluno conseguir ler por prazer. Funcionou. No começo, uma turminha saía, aquela turma rebelde, ficavam só uns cinquinho ali, uns três. Mas depois voltaram e começaram a ler. • História e entretenimento Na minha vida, a literatura veio da forma oral. Eu tenho 54 anos, venho de um bairro no Rio bem peculiar, Pequena África, ali no Estácio, onde se passa o Desde que o samba é samba. Tinha a turma de baianos que foi para o Rio no final do século 19, [início do] século 20, quando o Rio se tornou capital. E tinha a grande chegada de imigrantes. O povo se reunia. Como é o Brasil? É muito gueto, né? Aquela coisa de gueto negro, gueto branco, coisas assim. No Rio, isso continua. Então, a literatura vinha através da forma oral, mas com histórias que os avós e os amigos dos meus pais, os mais velhos, contavam. Eles contavam histórias e a história era entretenimento. Através daquelas histórias de assombração, os causos, você tinha a compreensão da própria cultura, da história de seus avós, de seus antepassados, de sua vida, da Bahia. Eu sou carioca, mas meus pais são baianos. Conheci a Bahia através das histórias. E esse projeto que fiz em Angra dos Reis, dando aula, já tinham feito comigo. Havia um livro chamado Leitura silenciosa. Era um livro que tinha umas historinhas — Drummond, Paulo Mendes Campos, vários escritores —, e a gente lia aquilo ainda no primário. A turma ficava em silêncio, depois a professora lia em voz alta, a turma lia uma parte. Então, a leitura, a literatura, para mim, foi tão importante que se tornou a minha profissão. • Ler os amigos Eu viajei agora e trouxe Antonio Candido, Octavio Paz e Roberto Schwarz para ler. Estou numa fase em que estou lendo crítica. Mas são todos livros que já li. Por exemplo, O arco e a lira [de Paz], já li umas 20 vezes. Mas assim: da primeira vez, leio tudo; depois, pego e abro capítulos. Porque são livros sobre os quais dei aula. Aí, por exemplo, você vai falar sobre Octavio Paz e a tradução do Blanco, de Augusto de Campos, vai fazer um paralelo en- tre esses dois autores. Você vai dar uma aula, vai dar uma palestra e tem que ler de novo. Então é o tempo todo, esses livros sempre voltam. A questão é ler os novos, isso é que é difícil para todo mundo. Eu não tenho lido nada, terminei o livro agora [Desde que o samba é samba] e voltei aos clássicos. Eu leio coisa nova, mas... O Arnaldo Antunes me chamou para escrever um texto sobre o disco que ele estava lançando. Aí o Arnaldo pediu, eu sou fã dele, ele é meu amigo, gosto dele, vou escrever. Aí fiquei um mês dentro da obra dele, lendo Arnaldo Antunes direto. Quer dizer, só li aquilo que ia trabalhar. E, para fazer esse livro, tive que ler quase 200 livros sobre o assunto. Muita pesquisa, muita coisa. Eu lia só isso. Aí, quando eu cansava, pegava e lia Fernando Pessoa, revia os clássicos. O Ferréz estava fazendo um livro, esse novo [Deus foi almoçar]. Tudo diferente, ele foge daquela coisa de São Paulo. Aí li o livro dele. Ele foi à minha casa, botou o livro na minha tela, salvou na área de trabalho. Tive que ler. O Guillermo Arriaga, um cineasta [e escritor] mexicano, esteve no Brasil: “Pablo, tem que ler isso aqui”. Aí tive que ler. Li os amigos que vinham, com quem eu estava trocando trabalho. O Marçal Aquino estava fazendo roteiro. O Marcelo Yuka estava lançando um disco, tive que ler as músicas todas. • Salvar o espírito Acho que o mesmo efeito que [a leitura] vai fazer nas pessoas pobres, fará nas pessoas mais ricas. É o poder da leitura. É como ver um filme. Mas não vai salvar o mundo. O que vai salvar o mundo é a divisão de renda, a grana. Mas a literatura vai salvar o espírito humano, no sentido do encontro direto com a arte. É onde a gente se encontra, onde a gente conversa com pessoas do século 19. Não é documento — por exemplo, um historiador vai ao Arquivo Nacional, pega um documento e analisa a História, faz pesquisa de campo e tal, essa junção da Antropologia com a História. Agora, a linguagem viva, mesmo, a fala direta com a gente, está na literatura. Depois, no cinema. Mas Aristóteles: ele estava falando, ele escreveu para seus alunos. Platão escreveu para o mundo, mas Aristóteles tinha uma turma. Então, quando escreve para seus alunos, ele está falando diretamente com o outro ali presente, no tempo dele. E quando você pega a Retórica, por exemplo, você está conversando com a pessoa que viveu aquela época. A literatura tem esse dom de unir os tempos. • Desde sempre Muito criança, decidi escrever. Eu não escrevia, mas já “escrevia” e minha mãe anotava. Eu tinha essa coisa da literatura dentro, sempre quis contar histórias. Foi uma necessidade que eu... Por exemplo, se eu não tivesse publicado Cidade de Deus, se o livro não tivesse saído, se não tivesse editora, se a editora tivesse recusado o meu livro, eu estaria escrevendo do mesmo jeito, sabe? A coisa foi normal, eu fazia letra de samba, tudo que era para escrever eu escrevia. Minha primeira obra de arte, assim, que me deu uma grana, foi um sambaenredo que ganhei lá no bloco da Cidade de Deus. Mas sempre escrevi, sempre escrevi. • Quinze anos sem escrever A editora é uma empresa. Os caras não querem fazer um trabalho social. Os caras querem ganhar dinheiro. Todos eles. E quando o livro [Cidade de Deus] fez sucesso no exterior, na Europa, assim que o livro saiu, foi vendido para as quatro grandes línguas do Ocidente — inglês, francês, italiano e espanhol. Aí, quando sai nessas línguas, você vai ser publicado em vários países. E os editores: “Não, se mandar um livro dele agora vai vender pra caramba, vai sair que nem Cidade de Deus”. E me pediram um livro. Eu falei: “Pô, como é que eu vou escrever?”. Tinha acabado de escrever, por dez anos, o Cidade de Deus, entendeu? Aí peguei, tentei escrever, mas mandei para a editora e a editora não aceitou. Falou: “Paulo, pára. Dá um tempo. Você não vai conseguir escrever”. E fui para a praia, me mudei. Fui morar numa praia e descansar, porque Cidade de Deus me tomou muito tempo de pesquisa, de tensão, de desequilíbrio emocional, de trabalho. Uma coisa muito profunda. Que nem esse aí. Fazer um livro... é difícil. Romance é difícil. • Sucesso Não esperava. Eu já caminhava na literatura. Tinha lançado um livro de poesia, conhecia os escritores, conhecia os críticos, dava aula de literatura, vivia no meio. E quando a gente lança um livro, quando lança três mil livros, o povo que vai ler, aquele povo reduzido, é o da universidade, é o do debate, é esse pessoal que vai às palestras. É muito pequeno. [Cidade de Deus] foi um livro feito dentro da universidade, um trabalho de pesquisa na Antropologia, primeiro abrigado na Unicamp. Depois, esse projeto foi para o IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro). E depois para a UERJ. Dez anos. Foi um projeto sobre o judiciário, o crime e a criminalidade nas classes populares e sobre as pessoas que estavam envolvidas na criminalidade. Uma pesquisa longa, com mais de dez pesquisadores passando pelo projeto, com transcrição de fitas, entrevistas com mais de três mil pessoas — uma coisa gigantesca. E aquilo foi tomando um corpo que não teve limites. [...] Eu era poeta e não queria fazer um romance. [Minha intenção era mostrar] como eram as pessoas, como se formavam, como se davam na infância, o que pensavam. Porque o bandido não tinha fala. Na televisão, você não vê o bandido dando entrevista, é sempre o repórter falando. Ele não tem voz. Ninguém conhece, só fala “bandido, bandido”, mas não sabe como são essas pessoas, o que elas pensam, o que elas dizem, qual é a sua motivação. Era um trabalho científico, era como fazer um remédio, um iPad. Um trabalho de pesquisa mesmo, para a universidade, para ficar nos bancos de tese de doutorado, para todo mundo ler e para servir à sociedade. Mas eu não conseguia fazer um texto crítico com aquilo. Eu conseguia fazer um texto crítico com literatura, mas não com um monte de pesquisa, de entrevistas. Eu não dominava a Antropologia, apesar de trabalhar no Departamento de Antropologia da Unicamp e, no final, da UERJ. • Nem tão solitário Desde a faculdade é assim, quando os poetas se encontravam lá. A gente sempre vai se encontrando. Porque tem que começar. Não é a crítica nem os leitores que te fazem artista, são os outros artistas. Então, se você escreve um livro, se não fizer contato com os outros escritores, você pára de escrever. Então, quando você tem os outros escritores com quem conversa, você sempre está mostrando, “olha o que eu fiz” e tal. O ato de escrever é solitário, mas você está sempre mostrando — cinema, então, nem se fala. Cinema, todo mundo lê o roteiro. Todo mundo lê o tempo todo. Tem motorista de produção que pede para mudar o roteiro: “Pô, vai ter que fechar a rua, manda ele fazer na outra rua lá”. Sabe assim? Você faz o roteiro, tem que fechar uma rua: “Pô, o que é que há, o cara vai querer que feche a Avenida Brasil?”. Porque posso botar isso: “Fecha a Avenida Brasil”. Aí o guarda: “O quê?!”. E vai querer mudar o roteiro. Agora, nessa parte de poesia, todo dia, lá na faculdade, aqueles poetas que se encontravam lá, Carlito Azevedo, Eucanaã [Ferraz], tudo da mesma geração, Chacal — a gente se encontrava e começava a falar poesia um para o outro o tempo todo. Eu me lembro que estava em Paris e encontrei dois autores (eles não gostam muito que eu fale isso). Lá estou eu, escrevendo um livro, e eles também estavam escrevendo um livro. Aí, fomos para o hotel. Paris linda, maravilhosa, e a gente dentro do hotel, uma semana lendo, o tempo todo. “Poxa, gente, vamos passear, dar uma volta, a gente está em Paris!” E o pessoal lendo poesia. Não saía do hotel. Porque é quando você está ali produzindo, escrevendo. • Imagem do país Quando vou para fora do Brasil, sempre aparecem os bandidos do local querendo me conhecer. Na França, no dia em que o Ronaldi- nho casou, parou o trânsito, aquela coisa toda. Eu estava no centro de Paris, e me chegou um cara numa moto. Falou comigo sem tirar o capacete, dizendo que o chefe do lugar queria me conhecer. Eu fui lá. Montei na moto, disse: “Vambora, vamo lá”. Agora, esse Brasil que conheço, é verdade, é o Brasil em que fui criado. [...] Escrevi sobre Cidade de Deus porque era o meu mundo, o mundo que eu conhecia. Mas é um Brasil que existe. Um bairro do Brasil, um local — são vários “Brasis”, né? Do outro lado da rua não é mais aquele Brasil. É só você atravessar a rua, é só você ir para a Barra. Cidade de Deus e a Barra, é coladinho. Se você pegar um carrinho e andar cinco minutinhos já é outro Brasil. • Arte sem ter a arte A minha preocupação é com a vanguarda. O que é a vanguarda? Vanguarda é quando você faz um projeto de arte sem ter a arte. Isso é que é vanguarda. Um plano-piloto. Vou fazer a arte e vou fazê-la a partir daqui. Primeiro nasce a crítica para depois nascer a arte. Uma coisa que é elaborada. O samba foi feito assim. Não foi uma coisa que foi mudando. Foi um grupo de pessoas que se reuniram, em determinado espaço, num momento X, e resolveram fazer uma música diferente. O Ismael Silva falava isso: “Eu queria fazer uma música diferente. Eu queria uma música para dançar, cantar e andar”. É a música-desfile. A representação do Rio de Janeiro, hoje, é o samba. • Erro de digitação O [nascimento do] samba foi na casa de Ismael Silva — tem lugar, tem endereço. Foi na zona do baixo meretrício. Rio de Janeiro. Zona de prostituição. Morro de São Carlos. É tudo muito estudado, muito pesquisado. Inventaram o surdo, inventaram o tamborim. Erro histórico eu não cometo, não deixo isso acontecer. Já que o livro se propõe a ser histórico, ele não pode ter erro histórico. Passou a Estação Maracanã, que não existia. Mas isso foi erro de digitação [risos]. A Estação Maracanã não existia, pô. Isso foi uma falha. Eu fiquei invocado com isso. É o seguinte. Você tem dois rigores: o rigor histórico, que é científico, e o rigor da literatura, que é a composição da estrutura do livro. Mas não briguei com as minhas pesquisadoras, não briguei 147 • juLho_2012 5 apresentação Realização apoio MATHEUS DIAS/ RASCUNHO A arte é livre, e temos que encarar a leitura como o cinema, a televisão, o circo.” A literatura tem esse dom de unir os tempos.” com o pessoal, porque passou por todo mundo. O livro passou pela mão de umas dez pessoas. Inclusive, eu tinha cinco revisores. E todo mundo trabalha assim. De Paulo Lins a Antonio Candido, o livro vai passar por copidesque. Roberto Schwarz, por exemplo, vai passar por copidesque, vai ter todo mundo escrevendo. Não tem essa coisa: “Ah, mandei o texto, não pode mudar nada”. Poeta, sim. Poeta, você não muda nada. Poeta faz um texto, não pode mudar nada. Poesia é diferente. Agora, romance, todo mundo quer meter o bedelho. • Os bandidos de vanguarda Tem uma passagem muito emblemática para mim. Por isso escrevi Desde que o samba é samba. Comecei a escrever esse livro antes de Cidade de Deus, e parei. Eu morava no Estácio, e o Estácio virou, até bem pouco tempo, um reduto de samba, porque lá tinha a zona do baixo meretrício, um lugar de prostituição a que todo mundo ia, os turistas, os marinheiros. É uma coisa de porto, de confluência de muita gente. E a zona continua sendo “o local”. Por exemplo, o rei do baião, Luiz Gonzaga, começou a carreira na zona, fazendo shows na zona. Cartola fazia, Nelson Cavaquinho fazia. Todo mundo fazia show e passava o chapéu na zona de prostituição. E tinha um bar, lá na Rua Maia Lacerda, que a gente não podia passar por ele. Quando eu tinha dez anos, começando a sair de casa para ir à padaria comprar pão, fazer essas coisas, nesse bar eu não podia entrar. E também não podia ganhar bala daquele pessoal, não podia olhar. Eu passava ali com medo, passava correndo. Depois, estou lendo num livro sobre esse bar. Sabe quem eram os bandidos? Cartola, Nelson Cavaquinho. Eram os compositores de samba que iam para lá. E aquilo ficou na minha mente. E eu fui lá também, depois que comecei a andar com músicos. Fiz um clipe e comecei a andar com o pessoal do Rappa, com o Marcelo Yuka, o Pedro Luís, o pessoal de música lá do Rio. Comecei a ver o pessoal falando de música, do samba, dos ritmos que estavam fazendo, o que ia misturar, o que vou botar nessa música. Vou botar um ritmo afro, vou botar mais candomblé, mais macumba, mais samba, mais sincopado, mais baião. Eu ficava vendo o pessoal discutir sobre essa questão do samba. O Não é a crítica nem os leitores que te fazem artista, são os outros artistas. Então, se você escreve um livro, se não fizer contato com os outros escritores, você pára de escrever.” Marcelinho [Yuka] é quem me deu o mote desse livro — para realmente voltar a ele, para levar, escrever. Foi essa coisa da vanguarda. Tem um livro do Gilberto Mendonça Teles, Modernismo brasileiro e vanguarda européia. É o livro que o pessoal do primeiro período de Letras lê. Era obrigatório, pelo menos na minha época. Livro básico, sabe? É livro para universidade, teórico, mas bastante didático. Eu li as Vanguardas européias do Gilberto Mendonça Teles e vi esse exercício de vanguarda. Depois, Octavio Paz falando de vanguarda. Ezra Pound falando que existem vários tipos de escritores: aqueles que inventam uma nova literatura, que modificam o mundo. A literatura passa a ser antes e depois deles. É o caso de Machado de Assis, de Dostoievski. E dos escritores que vêm na cola desses, na mesma época, e passam a fazer parte desse movimento. Os criadores é que são poucos. São 10, 15, no máximo, em toda a história da humanidade, até chegar aos beletristas, que são os escritores que não servem para nada. Então, eu via que o Ismael Silva era um artista de vanguarda, e não recebia o devido valor que tem. • Desigual e racista Os negros ainda estão numa situação de pós-escravidão. Se você não tem uma escola funcionando bem, se você não tem um ensino bom, nunca vai ter igualdade. Porque essa diferença só vai se dar através da educação. Para o sujeito chegar ao mercado de trabalho com a mesma formação de uma pessoa de classe média que não tem a história da escravidão, do racismo, na família. Porque a coisa é familiar, a gente traz o carma do passado. O que eu sou, hoje, foi o que me fizeram. É toda uma tradição de avós, de bisavós, de herança, de tudo, de coisas que se passam através da família, através do Estado. Estou trabalhando para a televisão agora, fazendo uma minissérie [Suburbia]. A gente vai ver e está a mesma coisa. Por exemplo, a questão da violência. O que fizeram com o samba fizeram agora com o hiphop e o funk. E são as mesmas pessoas que se manifestaram. Você ser racista e não gostar de negro é uma coisa. Agora, quando você é patrão e não dá emprego para o negro, é outra coisa. Quando você é policial e vai abordar um negro, é outra. Quando o Estado é racista, aí... A sociedade brasileira é racista. • Nada de incenso Ontem fui dormir às quatro horas, acordei às sete, comecei a trabalhar no texto, fui para o aeroporto, peguei o avião, trabalhei no avião, cheguei ao hotel, trabalhei até a hora de vir para cá, vou sair daqui e vou continuar trabalhando até as quatro da manhã. Televisão é assim. Antigamente, eu, para escrever, acendia uma velinha, botava um incenso, botava música clássica para estudar, para preparar aula. Hoje, em fila de banco eu estou escrevendo, em laptopzinho... Cinema, você trabalha às vezes com uma equipe de 50 pessoas e todo mundo tem que ler o roteiro para saber o que tem de fazer, o que está acontecendo no set, o que vai filmar. Agora, com internet, você tem um plano do dia. Tem a “opção chuva”. Quando é “opção chuva”, você só vai filmar interior. E sol, quando está um tempo bom, tem que filmar o máximo possível, porque pode chover a semana toda, e isso atrasa a produção do filme. Você trabalha com 50 pessoas, botando aí maquinista, motorista, operador, pessoal da técnica, todo mundo. Agora, na televisão você trabalha com 150 pessoas, pois você faz quatro longas. O diretor escreve junto comigo, é um texto meu e dele, Luiz Fernando Carvalho. Um diretor que faz um trabalho diferenciado na televisão. Aí é essa correria. Tem que entregar texto, às vezes falta uma coisa ali e tem que corrigir, muda um personagem, muda o tempo todo. Nunca pensei em fazer o filme. O filme é do diretor; ele chega e me convida para trabalhar para ele. O filme é dele, o filme não é meu. Eu sou apenas o roteirista. E costumo dizer que roteiro é treino, a filmagem é que é o jogo. A edição. Então, em todos os filmes que fiz, o sujeito me disse: “Quero fazer essa história aqui”. Aí faz a escaleta, vai ter 50 cenas, sei lá, 80, um roteiro geralmente tem cem páginas, o padrão hollywoodiano — o padrão comercial que os empresários adoram financiar porque “não vai cansar”. Ninguém quer financiar filme de três horas. É difícil. Luiz Fernando Carvalho fez um de quatro, Lavoura arcaica. • Todos os deuses Eu fui criado com a minha mãe me levando para a umbanda e para a igreja católica. Aquela coisa bem carioca, digamos assim. Era um terreiro de umbanda na terça-feira e igreja católica no final de semana. Fui do grupo jovem da igreja, fiz primeira comunhão, rezo, acredito em Deus. Mas, por exemplo, isso foi até os 18, 19 anos. Quando faz 19 anos, a gente corta isso tudo. Aí comecei a ler Adorno, Marx, Foucault. Aí não acreditei mais em Deus. Deus e ciência não combinam. Depois que meus filhos nasceram, comecei a acreditar em Deus de novo. “Pelo amor de Deus, cuida do meu filho.” E comecei a rezar de novo, a ter uma relação com Deus bem forte. E com a umbanda também. Freqüento. Esse livro narra a criação da umbanda. Sobre ela, não fiz pesquisa em livro. Fui ao terreiro e entrevistei as entidades de umbanda. “Como é que foi, como é que era” e tal. Então, tudo o que está aí foi eles que disseram. Falei com a Pomba-gira, com todo mundo, com os vovôs, com as vovós. Só não podia gravar. Tem a criação da umbanda também, ela nasce junto com o samba. Eu vou, freqüento, gosto. Não sou aquela coisa, assim, assídua. Mas gosto, tenho fé. E quando meu filho está demorando na rua, rezo para todos os deuses. • Dar um floreado Tinha um bloquinho lá na Cidade de Deus — a escola de samba da Cidade de Deus. Eu tinha 10, 15 anos, e eles [os compositores] tinham 25, 30. Minha professora, dona Maria Silva Dias, me deu uma máquina de escrever e tinha um mimeógrafo, que rodava para fazer xerox, para imprimir. Eles tinham que escrever o samba para distribuir para o povo, para o povo aprender, porque, na hora, se o samba fosse o mais cantado, isso valia ponto. E eles pediam a mim. O pessoal me chamava de otário porque eu fazia isso. Eu pegava todos os sambas e escrevia. Aí, tinha alguns sambistas que falavam assim: “Paulo, você não é compositor? Pode dar um floreadozinho aí”. Dar uma melhorada, corrigir o português e tal — isso é dar um floreado. Aí comecei a dar um floreado em todos os sambas. Eu ia para a reunião dos compositores — para o samba, minha mãe não deixava —, ou então ficava lá só até dez horas, tinha que voltar para casa. Eu escutava o samba e tinha sempre uma frasezinha minha. Aí, um dia, resolvi fazer um. O primeiro samba que fiz ganhou. Eu e Téo [Etelvino Henrique Ramos]. Sobre a Amazônia. E dava uma grana. Ganhei, mas não fui defender o samba na quadra, nem fui ao desfile. Minha mãe não deixou eu ir, eu era muito criança, não dava. Mas foi assim. Quando eu estou com músico, componho. Por exemplo, se eu for na casa de um músico e ficar lá tocando alguma coisa, acabo fazendo uma letrinha. O Samba da lata foi na época da lata de maconha lá no Rio. Um artista plástico fez uma lata gigantesca num chassi de caminhão — uma lata mesmo, de leite Ninho, só que era do tamanho de um caminhão — e deu baqueta para o pessoal bater. E o caminhão era um trio elétrico que passava cantando. Era obra do Jorge Duarte. E tinha que ter um samba, porque era um desfile, era um bloco de carnaval. Tinha um monte de artista plástico, o Cabelo, Ana Durães, Pedro Luís estava no meio, Chacal. • Sentar e escrever Cidade de Deus também foi uma encomenda, só que eu demorei dez anos, pude atrasar. Eu não vou conseguir fazer uma coisa assim, que esteja mais ou menos. Mesmo fazendo rápido. Porque na literatura tem muita coisa que posso deixar para depois. O editor espera, espera mesmo. Eles têm aquela coisa com o escritor: “Ah, não, ele é escritor. Ah, inspiração”. Mas na televisão não tem isso, porque você não pode ter preguiça. Na verdade, é preguiça mesmo, de sentar e escrever. Porque, se você faz trabalho de arte, vai viver o tempo todo com aquilo. Quando você não está fazendo, você está vivendo. Você acaba fazendo, né? O Henfil falava que a inspiração é um cachorro, um dobermann latindo atrás de você. É que nem aprender japonês, chinês. É muito difícil. Mas, olha, te dou dez milhões para você aprender japonês. Você vai lá e aprende, né? Então é assim. Estou trabalhando com outro artista, com três. Então, o cara faz lá e você tem que fazer aqui, não tem jeito. Aí, nego troca e-mail às três e meia, quatro horas da manhã, e ele responde. Você fica até as quatro, três da manhã, acorda cedo e trabalha. E de vez em quando, você acha uma pérola. É gostoso também, é legal. • Confusão A gente vai ficando velho. Vai ficando menos revoltado, aceitando mais as coisas. Tem mais sexo, tem mais amor. Eu comecei a escrever Cidade de Deus com vinte e poucos anos. Então, você quer mudar o mundo, né? As coisas estão erradas, você quer mudar o mundo, também na base do tapa. É nessa idade que a gente faz. Na verdade, é nessa idade que as pessoas fazem a revolução, que os jovens se reúnem, o movimento estudantil está aí, é nessa idade. Depois de um tempo, você quer mais é ver a Ana Maria Braga de manhã na televisão, aprender receita, ver a Sessão da Tarde. Você não quer muita confusão. • Cem mil Tem muito mais gente lendo. Muita feira de livro. Feira de livro é impressionante: no Brasil todo tem. No exterior. Na América do Sul — onde não tinha. Tem feira do livro em Bogotá, em Caracas. Na Argentina sempre teve. Em Medellín. Há sempre um público muito resumido para as palestras, mas as feiras... Então, o mercado está melhor. Impressionante, isso é bom. Eles lançaram cem mil exemplares [de Desde que o samba é samba]. Eu fiquei: “Gente, o que é isso?”. Eles apostaram que todo mundo que leu Cidade de Deus ia ler isso. No mínimo, né? Mas apostaram nessa coisa da mídia, porque a mídia é muito forte. Mas deu em tudo que é jornal, em tudo que é site, porque o advento do filme, o Oscar, essas coisas, tudo isso vai a favor do mercado. E está vendendo bem. Espero que venda cem mil. • Crítico adivinhão Na verdade, quando estou escrevendo, boto uns cinco, seis livros abertos. E não boto romance não, boto mais poesia. E poemas de que já gosto. Não vou para coisa nova, não. Aí, quando não consigo escrever, vou lá e leio. Mesmo para fazer roteiro. Roteiro, até mesmo filme, eu assisto, vejo a trama e tal. Agora, fazendo televisão, estou vendo muita minissérie, série, novela. Vejo porque preciso daquilo e estou fazendo aquilo. Mas costumo ler poesia quando estou escrevendo romance. E filosofia. Boto muita filosofia, gosto muito de filosofia. Filosofia mesmo, de verdade. Nietzsche, Platão, Aristóteles — os clássicos. Leio também crítica literária de grandes críticos —, mas têm que ser grandes críticos. E geralmente coisas que conheço. Porque crítica literária de crítico... Acho que o crítico tem que ser adivinhão. Que nem Mário de Andrade, que tinha o Brasil nas costas. Ele dizia o que ia acontecer e tudo o que ele falou que ia acontecer está acontecendo. É o crítico que vai apontar para você, vai falar sobre o momento agora. É interessante. Ele fala sobre o passado, mas tem que apontar o que vai acontecer. E isso o Antonio Candido faz. E também aquele que está próximo da filosofia, que fala aquelas coisas que são verdades, as verdades absolutas que estão na poesia e na filosofia. Tem críticas que são negativas e são boas. E críticas que são boas e são ruins. Leia na pág. 6 resenha de Desde que o samba é samba 147 • juLho_2012 6 Tímido compasso Em Desde que o samba é samba, a precisão histórica acaba por limitar a criação literária de Paulo Lins :: Fabio Silvestre Cardoso pois de tanto tempo, é de se esperar uma espécie de continuidade da trajetória autoral — e não se quer dizer aqui seqüência — iniciada com aquele primeiro romance. São Paulo – SP O projeto literário de um escritor muitas vezes se confunde com a própria estrutura da ficção. Em alguns casos, notamos o surgimento de um protagonista cuja jornada se destaca como a do herói, em especial porque suas características são tão fora do comum que ele nem mesmo fazia parte do imaginário de quem acompanha aquele contexto. Esse é o caso do escritor carioca Paulo Lins, de quem a Planeta acaba de publicar Desde que o samba é samba. A obra encerra mais de dez anos de silêncio por parte de Paulo Lins, levado à condição de grande revelação literária no final dos anos 1990, por ocasião do livro Cidade de Deus. A essa altura, o título é dessas obras consumidas mundo afora como parte de press kit para um guia rápido sobre a história da violência urbana no país. Sim, depois que o livro virou filme, com o auxílio do autor na adaptação para o cinema, a obra se tornou um paradigma da produção cinematográfica nacional. Já o livro de Lins não ficou por menos: críticos como Roberto Schwarz observaram a qualidade do texto do romancista no que havia de mais genuíno: em linhas gerais, a passagem para a ficção de uma condição social degradada. De fato, aquele livro de Lins produzia esse efeito de sentido e, como se vê, conquistava não só o leitorado das margens, mas o público sofisticado da academia. De lá para cá, após muita expectativa, além de participações em programas sobre violência urbana e até mesmo em debates em telejornais, Paulo Lins não havia mais publicado (em tempo: atuou como roteirista na última década). E Desde que o samba é samba pode O AUTOR Paulo Lins Nascido em 1958 no Rio de Janeiro, o poeta e escritor Paulo Lins, além de ter assinado o romance Cidade de Deus, publicado em 1997 pela Companhia das Letras, é roteirista de televisão e cinema, tendo já dirigido episódios da série Cidade dos homens e ser um dos responsáveis pelo roteiro de Quase dois irmãos, filme de Lúcia Murat. Desde que o samba é samba Paulo Lins Planeta 336 págs. ser visto, de várias formas, como uma resposta em fogo mais brando àqueles que esperavam outra obra de grandes proporções como Cidade de Deus. Essa comparação pode ser e é cruel, haja vista o sucesso e a repercussão daquele livro. Todavia, parece lícito colocar essas obras lado a lado, uma vez que, de- Amarras da realidade No livro, o autor retoma a temática da favela (que alguém poderá qualificar como desgastada), não para expor o cenário idealizado da Rio+20 ou das UPPs, tampouco para denunciar o retorno da violência e do tráfico de drogas; antes, prefere resgatar o Rio antigo, notabilizado pelos cardeais do samba, bem como as festas populares, simbolizadas, aqui, pelos terreiros de candomblé. Nada de equivocado ou fora de tom quanto à escolha. Em verdade, é mesmo interessante observar o caminho percorrido por Lins na abordagem do tema, algo entre o pesquisador e o cronista que observa e relata ao leitor contemporâneo os usos e os costumes daquela época. Uma tese subjacente ao romance: o autor aponta que os casos relacionados à violência já existiam naquele Rio de Janeiro de 1920. Tão importante quanto isso é o indicador, sugerido pelo autor, de que essa violência naquele tempo era mais naïf. De modo semelhante, o autor resgata outra tese sobre o desenvolvimento das comunidades no Rio de Janeiro: as mudanças promovidas pelo então prefeito Pereira Passos no início do século 20, cuja conseqüência pode ser percebida no trecho que segue: Depois de uma semana, levantou cedo para tirar os documentos que faltavam e levá-los ao Departamento de Pessoal do Cais do Porto, feliz da vida com a alegria que a esposa e a sogra demonstravam por ele ter arrumado emprego. Ivete queria sair daquela casa de cômodos no alto da ladei- ra, morar na Rua do Matoso, lugar de rico. Pobre é que mora no morro ou então em casa de cômodos. É, iria morar na rua em que passavam as lotações, os bondes, rua de comércio de ponta a ponta. O casamento foi bom para subir na vida, pois juntando o dinheiro da lavagem de roupa da mãe, o salário de Brancura, que passaria a fiscal logo, logo, e seu dinheiro de professora primária, que começaria a receber assim que se formasse, daria para pagar o aluguel de um bom apartamento. No fragmento acima — e, em certa medida, ao longo do romance —, Paulo Lins fundamenta a trajetória dos personagens à lógica centro-periferia, o que faz a cabeça de críticos como o já citado Roberto Schwarz, por sua vez autor, entre outros, de Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. Nele, o pensador mostra o quanto da obra de Machado serve para a análise de certo movimento das classes sociais no Brasil. Na obra de Lins, o que existe é invenção literária servindo como continuidade de linha de pesquisa acadêmica. Em outras palavras, o argumento é extremamente refinado; todavia, o texto se torna menos contundente se comparado com outra construção carente de fontes e pesquisa histórica. É bem verdade que Paulo Lins cumpre o seu papel de tornar o texto mais impuro, seja na forma (com os palavrões), seja com os personagens que destoam de certa narrativa “pequeno-burguesa”. E ele é competente, sim, ao propor uma história que desafia o senso comum dos leitores sobre o tema. Dito de outra maneira, o impasse de Desde que o samba é samba não está nas premissas ideológicas que fundamentam o livro e pautam o discurso de seu autor, sobretudo porque esse argumento é o que faz a cabeça da intelligentsia no país. E qual é o motivo de impasse na obra de Paulo Lins? Reside precisamente no fato de que, por obedecer a diversos detalhes de reconstrução histórica e ao mesmo tempo atender aos rigores da sociologia de turno, a obra perde o aspecto inexato da imaginação, o espaço de inventividade que o escritor pode percorrer sem as amarras do texto de não-ficção, podendo, a depender do caso, inventálos. Correndo o risco de o paralelo soar como trocadilho infame, o território demarcado aqui impediu que o autor, mais uma vez, se destacasse no campo em que foi mais elogiado: a superação de uma realidade a ponto de inventá-la no imaginário do leitor. Tal como está escrito, o público tem acesso agora a uma leitura correta, precisa e bem escrita sobre o Rio de Janeiro dos anos 20. Agora, essa experiência intelectual não supera o impacto fundador da literatura, que, para o bem ou para o mal, nem sempre atende a todos os critérios da reconstrução de época. Em Desde que o samba é samba, Paulo Lins retorna aos morros cariocas e, mérito elementar desse seu novo romance, não repete o livro anterior. Pelo contrário, pois, ao escrever sobre os acontecimentos do início do século, mostra ao leitor sua habilidade como narrador. Ocorre que, homem de seu tempo, faz da literatura um trampolim para a concepção de uma tese sobre a história das camadas excluídas do Rio de Janeiro. O lastro da crítica acerca de sua obra pode, sim, ter assuntado o projeto estético do autor: de escritor que não pertencia ao imaginário da literatura, tornouse agora um dos representantes da explicação oficial da narrativa sobre violência, pobreza e exclusão. Os superpoderes da palavra :: Vilma Costa Rio de Janeiro – RJ M ário de Andrade, ainda no início do século passado, introduzia Vestida de preto, de Contos novos, com a seguinte ressalva: “Tanto andam agora preocupados em definir o conto que não sei bem se o que vou contar é conto ou não, sei que é verdade”. No seu quase-romance De todas as únicas maneiras & outras, Jorge Viveiros de Castro manifesta a mesma (des)preocupação, quase um século depois: “Não parece exatamente um livro de contos, mas também pode-se dizer que sim. Fica por conta do leitor descobrir o que seja”. Em determinado momento da modernidade, o gênero do texto passou a assumir um caráter secundário na leitura e era delegado ao próprio leitor defini-lo. Hoje, o leitor é chamado a, se não descobrir um enigma, rever as velhas expectativas para admitir novas possibilidades de narrar: “Às vezes basta apenas descobrir qual a palavra mágica, e — shazam! — revela-se num raio a chave de todos os abracadabras”. Outras vezes, a palavra mágica, por si só, não dá conta de um universo tão complexo. Se o poder da palavra ainda sobrevive no desejo de dizer e modificar o mundo, a precariedade de seus sentidos golpeou suas utopias de totalidade. O poder mágico da palavra não se encontra mais num sentido único, é preciso ouvir nesse “silêncio contido, todas as canções, e frases O AUTOR Jorge Viveiros de Castro É carioca, nascido em 1967. Trabalhou como jornalista e livreiro antes de abrir sua própria editora, a 7Letras. Além de Shazam!, é autor do livro de contos De todas as únicas maneiras & outras histórias. Shazam! Jorge Viveiros de Castro 7Letras 80 págs. e acontecimentos e histórias, todas as combinações de possibilidades e todos os universos paralelos ou alternativos, reais e imaginários, que puderem ser narrados”. Homens e deuses Shazam!, de Jorge Viveiros de Castro, também nos apresenta este desafio. É uma coletânea de textos curtos, aparentemente independentes entre si, cujos persona- gens são velhos conhecidos do nosso imaginário midiático e popular, que perpassa inúmeras gerações: os super-heróis. Em suas 11 partes distintas, anunciadas por subtítulos sugestivos, os personagens são apresentados, mantendo suas características já fixadas no imaginário ficcional, estas acrescidas de outros ou novos aspectos que enfatizam sua fragilidade humana, demasiada humana. O poderoso Super-Homem, único sobrevivente de seu planeta, “no fundo do espelho, ao despir sua fantasia, vai encontrar apenas o tímido e desajeitado personagem que inventou para dar conta de si mesmo, a única pessoa do universo que ninguém poderá salvar”. Mordido por uma aranha radioativa, o jovem Peter Parker ganha superpoderes. Tece acasos numa energia criativa frente ao inesperado, mas não consegue salvar a amada. Isto significa, na onipotência de um super-herói, nenhuma capacidade de aceitar ou lidar com o inexorável. Ou seja, “a culpa atravessa sua alma”. Namor “vive no eterno movimento das ondas o sentimento” de um amor impossível “que flutua oculto nos abismos marinhos por onde vaga, sem rumo, o príncipe desencantado”. Batman bravamente luta, “sua arma é o medo, fantasiado de morcego. Conhece os mistérios do terror e da loucura, e tenta resistir a eles”. Até quando sua carta na manga vai sobreviver ao blefe? Quem vai suspeitar que o Homem de Ferro possui como fraqueza, nada mais, nada menos, do que um “coração em des- compasso... por trás de um mundo falso feito de glamour e álcool”? O Demolidor, ágil e atento a todos os perigos, “cego de paixão, não sabe o que o espera”. Como Batman, conta, como campo privilegiado de luta, com as trevas. Um Quarteto Fantástico também entra em cena, e três homens poderosos são acolhidos “numa redoma protetora, transparente, indevassável” pela Mulher Invisível. Um “talentoso” cientista traz em si uma fera destruidora, não só de tudo o que toca como também de sua tão prezada reputação e racionalidade. O incrível Hulk é refém de sua própria força. E, por fim, um alado ser mutante — anunciando tantos outros, com poderes diversos e destinos atravessados por acasos e maldições —, revestido da poesia nossa de cada dia, aponta o dedo sobre a ferida aberta de nossa heróica humanidade. A solidão atinge tanto o lado excepcional dos deuses quanto o tão vulnerável e frágil da condição humana e mortal. Profusão de sentidos A leitura de Shazam! pode nos fazer repensar velhos dogmas. O autor explicita seu projeto como “uma tentativa de algo musical, na composição”. Cada fragmento cabe em si como um breve poema em prosa. Digamos que seja correspondente na música a uma variação de um mesmo tema. Esta tentativa de algo musical acontece tanto em Shazam! quanto em De todas as únicas maneiras & outras. Este último tematiza o amor através de fragmentos de um discur- so amoroso. Diferentemente do narrador de Roland Barthes, que usava discursos de outros amantes célebres para falar de seus amores e suas dores, parece que o narrador de Jorge Viveiros de Castro busca a própria voz em tamanha profusão de sentidos que por vezes chega a sua mais completa ausência: a “ausência de uma presença”. Uma “Ela” tão forte e inatingível serve de contraponto para a construção instável desse sujeito. Ela, sem nome, perpassa todos os fragmentos poéticos num presente narrativo sustentado pela banalidade mais simples do cotidiano. Em Shazam!, o homem e seus super-heróis e anti-heróis são a mistura visceral de deuses e mortais. Hoje transformados pela sociedade do espetáculo em mitos modernos e contemporâneos. Para alguns são invenção de manipuladores de um povo inocente; para outros, necessidade desse povo, não tão inocente assim, de explicar o inexplicável, de ler o ilegível, de dar voz ao indizível. Seja qual for a posição crítica que se assuma nessa velha questão, é bom lembrar da discussão de Michel de Certeau em A invenção do cotidiano. O historiador acredita que o importante é o “uso que os meios ‘populares’ fazem das culturas difundidas e impostas pelas ‘elites’ produtoras da linguagem”. Seus estudos apontam que a recepção desses produtos culturais se reapropria de alguns sentidos difundidos, ressemantizando-os conforme necessidades próprias, não controladas pelo sistema ao qual está submetida. 147 • juLho_2012 7 Leitão magricela Caderno de ruminações traz personagens artificiais, prosa fria e trama que não chega a lugar nenhum Reprodução : : Julián Ana Só o mercado porcino move minhas paixões, ainda mais que estamos a fazer greve em combate ao aumento de impostos desta porquería de governo (aqui sugiro ao Rogério Pereira, meu gentil tradutor, que mantenha a expressão “porquería”, pois talvez já tenha se perdido no termo “porcaria” o sentido contundente da lama, da bagunça, da sujeira). Posso dizer que sou um velho, mas não deixo de ser moderninho. Jogo fora com a facilidade de um turista visitando um campo de concentração a precária categoria de análise que é o gosto. Gostar e não gostar não são mais que o reto juízo que esconde a falta de repertório dos críticos. Eu gosto dos meus porcos e paro por aí. Por outro lado, 404 páginas não é coisa fácil para velhos como eu, que não contam com a fantasia de uma vida inteira pela frente. Minha secretária, dona Eneida, quase uma beata a quem Noe ainda não desistiu de seduzir, trouxe-me chá de macela, fez-me uma sopa de aspargos — verdade que tinha gosto de cérebro de vaca, mas comi feliz que não fosse com carne dos meus leitões. Além de todos estes mimos, ela anotou o que eu dizia e, por fim, graças a seus cuidados de madre, elaborei uma teoria sobre este último livro do Dr. Dantas. Las Heras – Argentina A tradição aristotélico-tomista dizia da natureza que, ao não ter forças para fabricar um homem, produzia uma mulher. A triste opinião patriarcal ainda vale para pensar a escrita: na falta de forças para a literatura surge a crítica, flatus vocis indigesto da inteligência que se gasta em gostos e desgostos de resenhas. A crítica literária é o ato miserável da literatura. Também o meu. Para além da diferença entre homens e mulheres, antes a literatura é coisa de hermafroditas. Os críticos se referem à sua completude por meio do onanismo invejoso. Escritores são titãs cujos calcanhares o crítico, como um cão, vive para mordiscar. Cães, como os cínicos da antiguidade, hoje no entanto perdem a dentadura que usam na mordida. Já os leitores, destes direi que, não sendo críticos, não devem estar a ler estas poucas notas, pois que quando se interessam pela crítica é que já não amam a literatura. A eles devo dizer que, senil como me encontro, deixei de ser cão desde que, dedicando-me à porcinocultura, percebo que estou mais próximo da natureza real da minha atividade de crítico. Depois de todos estes anos resenhando para jornais e esnobes revistas internacionais, alcanço a triste conclusão de que não fiz mais do que o que agora faço. Há poucos meses tornei-me produtor porcino, sério participante das reuniões da associação nacional de criadores de cerdos. Isso tem me ensinado mais do que aprendi em toda a vida nas universidades deste país e dos países da língua portuguesa que tanto amo. Português era a língua de minha mãezinha que morreu aos 96 anos, deixando-me sozinho neste mundo. Enterrei-a com simplicidade em São Borja, onde conheceu meu pai e onde devo ter sido gestado, o que me faz meio brasileiro — ou seja, meio argentino, meio brasileiro, talvez que eu também seja, de algum modo, hermafrodita. Dizem desde Confúcio que nos tornamos aquilo que contemplamos. Assim com a pocilga. Reino em que o sublime ato de fuçar nos leva à metafísica apesar do problema empírico que me vem à mente todos os dias: “vendo ou não os meus leitões para o abate?” é a tradução do “ser ou não ser” neste ponto da vida em que me encontro. O procedimento da leitura de um livro é, desde então para mim, como a criação de um leitão. Imagino que seja assim também para o escritor. Esta aproximação poderá um dia mudar a relação entre a sujidade da crítica e a sublimidade da literatura. Sabemos desde as mais famosas teorias literárias do século 20, aquelas que lidam com o tema da recepção, que o leitor ajuda o escritor mesmo quando o escritor não ajuda o leitor. De qualquer modo, escritor e leitor são parceiros na vida dos livros, assim como eu e Noe, meu servo fiel, meu Sancho Pança, que me apóia na alimentação dos bichos. Foi Noe quem me trouxe o melhorador hepático, deixando meus animais mais animados, bem como o antibiótico para evitar a contaminação com o parvo que afeta a vizinhança. É preciso, além de todos os cuidados objetivos, observá-los em seu crescimento com um olhar de carinho, deixando surgir a verdadeira contemplação filosófica. Aos poucos, percebi que há criadores — como escritores — que não gostam de ver o animalzinho crescer e vendem o leitãozinho para a ceia do Natal, outros que esperam até que uma única pata de jamón seja suficiente O AUTOR Francisco J. C. Dantas Nasceu em 1941, em Aracaju (SE). É doutor em Letras e foi professor universitário. Escreveu Coivara da memória (1991), Os desvalidos (1993), Cartilha do silêncio (1997), Sob o peso das sombras (2004) e Cabo Josino Viloso (2005). Recebeu em 2000 o Prêmio Internacional da União Latina de Literaturas Românicas. Caderno de ruminações Francisco J. C. Dantas Alfaguara 404 págs. TRECHO Caderno de ruminações “ Se não houvesse perdido a própria clínica e, dois meses adiante, não se deixasse arrebatar por Analice, a história de doutor Otávio Benildo Rocha Venturoso seria outra. Sendo cidadão de vida limpa, de linha de conduta impecável, presumiase que, de tanto andar dentro das regras, fosse, como é de praxe, coroado por um destino exitoso. Mesmo porque, já tendo muita estrada, chegou à faixa dos cinquenta com um saldo bastante invejável. para alimentar uma família inteira. Eu continuo fora disso, vendo a minha criação não caber em si. Sobre a crítica, no entanto, as coisas ainda não mudaram o suficiente. Sabemos que o procedimento analítico é como a anatomia de um corpo, e para que não acabe sendo uma esfolação de um porco, vou tomar os devidos cuidados na separação da pele e dos músculos, das cartilagens e dos ossos. Aprendi carneando um porco quando era adolescente na propriedade rural de meus saudosos pais. Que a crítica seja para mim uma atividade culpada não é problema algum. Problema é ter que decidir sobre meus rosados chanchos. Neste contexto é que li, na variedade de afetos providenciados a esta época madura, a obra de Francisco J. C. Dantas, um escritor brasileiro nascido no mesmo ano que eu e que agora me provoca alguns pensamentos, como ruminações, para lembrar já de sua empreitada. Lembro quando conheci Coivara da memória no ano de 1991. Naquela época eu estava no Brasil a convite de um amigo da universidade de Santa Catarina. Ganhei o livro de uma aluna que depois me ofereceu um vinho em sua casa e, por fim, algumas páginas depois, quase nos casamos, não fosse um problema com a tal coivara que quase me enlouqueceu. Naquela época eu era um etimólogo frustrado e trabalhava no projeto de uma gramática do portunhol. A palavra “coivara” e grande parte dos termos do livro do Dr. Dantas me deixaram muito nervoso. Minha frustração vinha de não conseguir achar a origem desta e de outras palavras, como se elas, apesar de castiças, fossem desclassificadas. Isso me deu vontade de escrever algo como um “Dicionário brasileiro de palavras mortas”, mas como crítico sou muito lento e vi que outro autor, Alberto Villas, acabou há pouco criando sua pequena versão (Pequeno dicionário brasileiro da língua morta. Editora Globo, 2012. 304 p.). Apesar de viver afastado do Brasil, continuo acompanhando a produção literária e paraliterária e cada vez mais impressionado com a profusão criativa dos brasileiros. Vejo, depois de todos os livros do Dr. Dantas, que ele continua falando anacronicamente. Só que o que em Coivara e Os desvalidos era trabalho da linguagem tornouse um colecionismo neste Caderno de ruminações que ora tenho para abrir com minha faca de matar porcos. O livro foi publicado este ano por uma editora estrangeira que chegou ao Brasil há pouco. Parece que as editoras andam muito interessadas no mercado brasileiro, bem mais do que no argentino, que tem sido melhor em produzir vinhos do que livros. Mas que me importa?! Romance inabitável Caderno de ruminações tem quatro partes desregradas — ainda que tudo comece um uma terça e acabe em uma sexta — subdivididas a esmo. Até aí nada demais, pois que não precisamos confundir literatura com matemática, muito menos com contabilidade. A marca do texto em si, da trama, é a frieza causada por um narrador tão oculto quanto onisciente que informa sobre os personagens reduzidos a marionetes. Como em Eça de Queiroz, cuja obra foi objeto de tese de doutoramento do autor, os personagens são sórdidos, precários materialmente, espiritualmente miseráveis. Mas, diferentemente do português, o que o brasileiro de Aracaju nos mostra são bonecos aviltados, verdadeiramente tripudiados por um narrador que não se mostra, ao mesmo tempo em que julga e projeta o patético em cada personagem sem lhes dar a chance de que nos surpreendam. Os personagens de Eça têm vida — são maus, estúpidos, interesseiros, mas vivos; em Dantas, parecem feitos de cera que derrete no mover das páginas pelas quais só avançamos porque não há outro jeito — comprometi-me com o Rascunho e minha tarefa melancólica de analista. A humilhação do narrador contra os personagens se apresenta na representação de cada um. O argumento enfraquece. Nada é mostrado e só podemos nos perguntar com que objetivo o livro teria sido escrito, à medida que vai parecendo uma história que virou outra que virou outra que virou outra, sem poesia, sem sentido. Dr. Dantas teria que explicar seu livro, mas será que se perguntou sobre ele? Também eu tenho que me perguntar por que crio meus porcos e por que até agora não os mandei ao matadouro. E quando digo “representam” é que não “apresentam”, posto que são títeres em um teatro sem o direito de se mostrarem a si mesmos em sua dignidade de personagens. Foram desenhados de fora, como uma cidade inabitável, onde não se pode entrar. Não havia descrição nem reflexão, nem trama, nem densidade de cada figura que nos convencesse de que ali tínhamos um grande romance que não o fosse pelas 400 páginas. Agora, se olhamos por outro lado, diremos que o autor fez um desenho de personagens tão estú- pidos quanto são os seres humanos, personagens sem tragédia que não seja a de afundarem na própria lama sem se darem conta. Assim ocorre com o protagonista, o Dr. Rochinha, um proctologista chamado pelo diminutivo por ser um homem de pequena estatura. De sua vida é apresentada certa genealogia, um pai proprietário rural materialmente decadente e emocionalmente frio, ainda que saudoso da mulher aventureira que o abandona e ao filho pequeno. Num tom sempre explicativo que suplanta a compreensão do leitor, o autor talvez quisesse nos dizer que ele se tornou obsessivo em função de pais precários, que ele foi fruto dessas existências mal resolvidas. Só que nada ali, pela frieza do texto, ultrapassa o habitus da vida rural e de seu pequeno mundo caipira que vai para a cidade formar-se em medicina para ficar rico. Não há tragédia, nem a da inação, da repetição ou da estupidez humana. Se fosse comparar, diria que na pocilga as cores são mais firmes. A importância das estirpes, famílias e lugares sociais, coisa de quem vive em ambiente de fazendas, não nos deixa ver além do lado podre do conservadorismo. Mais explicado do que mostrado, o texto se promete como romance, mas fica apenas no roteiro muito bem feito. Lidar com as sobras A história pareceria engrenar na hora em que o autor se entrega em muitas páginas a tramar a relação amorosa entre o Dr. Rochinha e a prima Analice, de antemão tratada como uma mulher enervante e cansativa, às vezes objeto de aposta com um primo mal desenhado, às vezes vadia dominadora a quem é possível amar. No entanto, também não temos como pensar nada dela, pois nada se apresenta ao leitor fora dos julgamentos do narrador. Com um texto assim, o leitor vai embora, menos eu, que tenho a minha pocilga para amar. A grande cena do texto, um ato sexual anal e maldoso em que tanto Dr. Rochinha quanto Analice, entre “beldade e inimiga”, são rebaixados a animais maliciosos e torpes, é o momento em que parecem sair da posição de marionetes. O livro poderia começar aí, quando a subjetividade dos dois escoasse por esse momento sexual-bélico, mas não. O programa do narrador renasce como aviltamento puro e simples da mulher e do homem, como Adão e Eva julgados de antemão em um inferno do qual desconhecem o sofrimento. Muitos textos são obra do que podemos chamar, usando selvagemente aquele grande escritor austríaco, de fase “anal literária”. Trata-se do momento em que o escritor tem dificuldade de jogar fora algo por ele feito. As sobras podem não ser obras. O “s” anteposto a “obra” remete também a outra categoria epistemologicamente mais interessante do que a do gosto e parece qualificar justamente o seu contrário. Não se deve interpretar de modo maledicente o fascinante produto da vida da infância que continuamos, enquanto animais, produzindo. Este fascinante produto é nosso primeiro capital, e quando meninos com ele brincamos, profanando o seu sentido. Quando crescemos, o caminho civilizatório implica a convivência na comunidade humana que se ergue sobre o nojo. Não por obsessão higienizante, ou aversão copromântica — além de tudo, há quem, mesmo que nos assuste, “goste” de porquería —: é que temos que continuar lendo de tudo. Novas aventuras sempre podem liberar novos prazeres e outros sentidos. TRADUÇÃO: Rogério Pereira 147 • juLho_2012 PRATELEIRA : : NACIONAL 8 QUEM SOMOS EDIÇÕES ANTERIORES Danação Marcus Achiles Baraúna 409 págs. Ambientado no Brasil colônia, no ano de 1734, o romance de realismo fantástico narra a história de Diogo Durão de Meneses, que, para evitar a falência do engenho de sua família, vende sua alma. No entanto, o pacto é malsucedido e Meneses inicia uma jornada de culpa e purgação pelos sertões, onde encontra um universo de violência, intolerância e fanatismo. Como era triste a chinesa de Godard Rodrigo Fonseca Record 128 págs. A Zona Norte do Rio de Janeiro se mistura às histórias em quadrinhos e a Brian de Palma para compor o amplo rol de referências do romance de estréia do autor carioca, além, é claro, do cinema de JeanLuc Godard. Em uma narrativa ágil e pop, as relações amorosas, tão fora de moda nos dias de hoje, mesmo em seus momentos de dor, são exaltadas pelo narrador. Mário de Andrade: Seus contos preferidos COLUNISTAS CONTATO DOM CASMURRO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS CARTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO Quadrilha Riverão sussuarana O man e o brother Fernando Rinaldi Arte Paubrasil 208 págs. Glauber Rocha Editora UFSC 264 págs. Dilan Camargo 8Inverso 96 págs. Organizado pelo escritor e crítico literário Luiz Ruffato, o livro reúne 23 contos de 21 autores diferentes citados por Mário de Andrade como seus favoritos. Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio e Marques Rebelo estão entre os autores do presente volume, a partir do qual é possível conhecer os gostos e as preferências temáticas de Mário de Andrade. Carlos, Clarissa, Cristina e Antônio formam a quadrilha familiar cujos conflitos existenciais são entrelaçados neste romance: além de uma vida presente que os desagrada, todos são marcados por um passado trágico e um futuro sem perspectivas. O mundo psicológico dos personagens é explorado a fundo em uma narrativa que se constrói como um quebra-cabeças. Único romance do cineasta baiano, esgotado há mais de três décadas, Riverão sussuarana ganha nova edição. Relacionado às obras de James Joyce e Guimarães Rosa, o livro, cheio de referências, alia memórias familiares e ficção à experimentação verbal e ortográfica, sendo classificado como peça-chave ao entendimento da relação de Glauber com o Brasil. Personagens jovens em embate com os desafios de uma realidade social pouco favorável passeiam pelos dez contos juvenis do escritor gaúcho, que busca trazer à tona vidas por vezes invisíveis. Os personagens caminham sobre uma linha frágil entre a luta pela sobrevivência e a perda da dignidade, como o garoto que não quer ser brother, quer ser man. Verão dos infiéis Eu cínico Entre Viana e Viena Dinah Silveira de Queirós Móbile 208 págs. Luis Rafael Montero Edith 136 págs. Lourival Serejo Editora UFPB 264 págs. Uma superfície de gelo ancorada no riso Originalmente publicado em 1968, o livro é reeditado no centenário de nascimento da autora, segunda mulher a ingressar na ABL. A narrativa se passa ao longo de três dias de um verão chuvoso na cidade do Rio de Janeiro e expõe dramas individuais que são também os coletivos: uma viúva tem três filhos para criar e o suicídio do marido para superar. Nas 12 histórias fragmentadas que compõem o romance de estréia do autor paranaense, ilustradas por Manu Maltez, os personagens-narradores vestem e trocam suas máscaras para contar e falar o que têm que falar, com amor e cinismo ao mesmo tempo. Cada capítulo é narrado a partir de um ponto de vista diferente, formando monólogos marcados pela oralidade. “Reunir crônicas em um livro é uma tentativa de perpetuá-las”, escreve o autor na introdução do livro. Nas 100 crônicas de Lourival Serejo, escritas desde 1991, publicadas em jornais ou inéditas, são temas um retrato do presidente João Goulart, nomes “impróprios”, o fim da União Soviética, escritores e até mesmo notícias de jornal, entre vários outros. Org.: Luiz Ruffato Tinta Negra 312 págs. Hilda Hilst Globo 152 págs. A prosa, a crônica e a poesia de Hilda Hilst (1930-2004) são reunidas nesta antologia, dividida em 11 seções que representam os principais temas de sua obra, como “Mulheres”, “Morte” e “Corja humana”, além de exemplos das múltiplas linguagens e variadas dimensões empregadas pela autora. A seleção é de Luisa Destri, coautora de Por que ler Hilda Hilst. 147 • juLho_2012 10 especial Carlos Drummond de Andrade Vem, Carlos, ser gauche na vida! Um tema caro à poética de Carlos Drummond de Andrade é a passagem do tempo e sua simbologia de perecimento. Relançamentos confirmam a profundidade e a polivalência da obra de Drummond, iluminadora a cada leitura Ao lado da crítica social específica, o homem atrás dos óculos e do bigode insere em sua crônica o tema dos bichos, para externá-la como advertência à animalização da humanidade. Elegia de Baby trata da morte de uma pequena elefanta de um circo do Leblon, vítima de uma infecção na garganta aos sete anos de vida. : : Marcos Pasche Rio de Janeiro – RJ H á 60 anos, por conta do lançamento de Passeios na ilha, Sérgio Milliet (1898-1966) emitiu uma observação procedente acerca do autor da obra: “Do poeta Carlos Drummond de Andrade pouco se dirá que já não tenha sido dito”. A precisão do juízo deixa ver que Drummond, diferentemente do que a crítica diz a respeito de outros autores nacionais, já era um poeta bem comentado àquela altura, quando ainda teria três décadas de inesgotável produção. Entendase “bem comentado” no sentido da quantidade e da qualidade das interpretações formuladas acerca da escrita do poeta itabirano, uma vez que os estudos literários brasileiros, no embalo da própria literatura, já estavam, na referida época, bastante amadurecidos. Hoje, às vésperas do centésimo décimo aniversário do poeta, o comentário de Milliet é ainda mais válido. Os mais renomados estudiosos da literatura brasileira contemplaram o autor de Brejo das almas em, no mínimo, um capítulo de livro. Ensaístas do quilate de Affonso Romano de Sant’Anna, Antonio Candido, Antonio Carlos Secchin, Alfredo Bosi, Davi Arrigucci Jr., José Guilherme Merquior, Luiz Costa Lima e Silviano Santiago (entre outros, porque a lista é bem maior) trazem à luz um Drummond uno e plural, que com uma voz poética altamente idiossincrática observou e abraçou o mundo em seus livros. Drummond, uno: a expressão sempre contida (mesmo em poemas longos), a afastar a gargalhada do riso, a não permitir que lágrimas borrassem a amargura; a linguagem meditada, abastecida pela perplexidade ou pelo encanto da descoberta, repleta de uma ironia tão mordaz quanto elegante. Drummond, plural: o comunista entusiasmado, o desiludido recluso; grave e cômico; modernista e formal; recatado e obsceno; de uma ponta a outra, a ironia que, noutro matiz, volta-se para o autor e sua própria obra, num afirmar-se e negar-se incessante. A reedição de sua obra reitera a diversidade de Carlos Drummond de Andrade, que atuou em outros gêneros com a mesma lucidez e dignidade com que se notabilizou na poesia. Ao lado dos volumes de poemas A rosa do povo e Claro enigma, são republicados: um livro de crônicas — Fala, amendoeira; dois presididos pela miscelânea de crônica, crítica literária, “quase história” (como o próprio autor classifica) e notas de memória pessoal e de opinião sobre as- que, para cobrança de uma só multa, cria duas agências; também multei o Serviço de Higiene do trabalho, porque deixava a 12ª CF, como tantas outras repartições cariocas, funcionar em sede imprópria, com paredes descascadas e sujas, má iluminação e nenhum conforto; os funcionários, por sua vez, tiveram multas menores, porque se deixavam prejudicar. Tentei atravessar a rua e tomar uma lotação, mas a cortina espessa de fumo, escapando-se dos ônibus, me vedou a vista e a passagem. Tive de multar em três mil cruzeiros cada empresa de transportes, por veículo enfumaçado, o Departamento de Concessões, porque os deixava trafegar nesse estado, e a Secretaria de Saúde, que vê a população intoxicar-se. Reduzido à condição circense, que pode o elefante pretender, como remédio a suas melancolias, agravadas na espessa convivência do homem? Fugir, é claro. Mas a fuga se reduz também a um passeio tonto pela cidade, entre bichos muito mais ferozes, que são os ônibus e os automóveis, num dédalo de ruas que não tem a lei e a simplicidade da floresta. Logo se organizam os homens para prendêlo e restituí-lo ao seu mesquinho picadeiro. Se se recusa a voltar, os homens, considerando-se ameaçados, dispõem-se a fulminá-lo a tiro. Nunca nenhum escapou. drummond por robson vilalba suntos variados — Confissões de Minas e Passeios na ilha; e um de ficção em prosa — Contos de aprendiz. Às reedições soma-se o lançamento de Poesia traduzida (organizado por Augusto Massi e Júlio Castañon Guimarães), volume inédito das traduções de poesia publicadas por Drummond na imprensa, e de Os 25 poemas da triste alegria (livro de 1924 jamais publicado pelo poeta, e que foi recentemente descoberto por Antonio Carlos Secchin). O cronista Dos livros que ora nos chegam, a produção como cronista de Drummond concentra-se especialmente em Fala, amendoeira, de 1957. O volume reúne textos que o autor publicava no Correio da manhã desde 1954. Como bem observa Ivan Marques, “posfaciador” do livro, a crônica de Drummond não se desliga das pulsões de sua poesia, apesar da variação formal. A começar pela dicção da maioria dos textos, notamos que, embora os olhos do cronista estejam virados para o cotidiano, a mão que escreve é inconfundivelmente a do poeta. Compare-se, por exemplo, o teor discursivo de Diante do carnaval ao poema Os ombros suportam o mundo, de Sentimento do mundo: Velhos carnavais afloram a tua memória. Por tê-los brincado, conquistaste o direito de eximir-te aos novos. Foste moço e ainda não és velho. Recusas-te a aderir; recusaste a fugir. Elegeste para estes quatro dias o pijama, o livro, o jardinzinho, o cigarro, a música, a paz. Um tema caro à poética de Carlos Drummond de Andrade é a passagem do tempo e sua simbologia de perecimento. Por toda a sua obra em versos, coloca-se de plantão um auscultador da efemeridade, que, resignado, constata a passagem de tudo. Na crônica drummondiana o tema aparece com semelhante destaque, sendo também plasmado por uma linguagem que recebe a mesma dignidade da dos poemas: “(...) os mortos habitam realmente em nós, sem que o saibamos; e começar a sabê-lo constitui um dos prêmios de envelhecer, que faz da ausência presença, e desnecessário o Dia de Finados. A morte não é triste, é serena”. A crônica é um texto alimentado pelas miudezas cotidianas, e, por isso, sua forma discursiva comporta itens de familiaridade entre emissor e receptor, como se aquele que a escreve repousasse das tensões reflexivas e estruturais da literatura “maior”. Drummond, em parte, não foge à regra. Alguns de seus textos focalizam plantas, um cidadão que perde documentos, o buraco de uma rua e até o anúncio de uma besta perdida num antigo jornal provinciano. Porém, o que de melhor produziu como cronista vai bastante além da fotografia graciosa e afetiva da raia miúda da existência. O autor de Alguma poesia foi um homem conectado a seu tempo, e colheu de maneira substantiva o propósito do intelectual como delator do que se afigura disfunção social. Por isso, valeu-se do espaço jornalístico para rechaçar, de modo ridicularizante, a hipocrisia da ordenação pública baseada no lema do “vigiar e punir”. Num texto atualíssimo (pois na cidade do Rio de Janeiro, onde Drummond viveu por décadas, os que instituem um suposto choque de ordem são os mesmos que se alimentam do caos citadino), o cronista, multado pela supostamente incompleta varredura da calçada de seu lar, dirige-se ao prefeito como quem decide atuar em prol do enriquecimento municipal. A fabulosa renda tem muito do que cada um de nós gostaria de dizer aos que deturpam nossa vida social: Não a paguei logo, pois, ao exibir meu papel, me deram outro, mandando-me à rua Siqueira Campos. Impunha-se multar em cinco mil cruzeiros a Comissão de Planejamento e Racionalização, O intérprete literário Drummond não exerceu a crítica de literatura nem a tradução com a mesma dedicação e regularidade com que atuou em outros gêneros de escrita. Mesmo que tenha recebido encomendas remuneradas por conta deste segundo ofício, como ele mesmo relatou, não construiu uma sólida obra em nenhuma dessas duas vertentes. Não obstante, nas vezes em que se lançou a elas o fez de maneira competente, sem deixar que a esporadicidade da análise e da tradução comprometesse o nome que construiu nas outras modalidades, em especial na poesia. A versão de poesia escrita em idiomas estrangeiros para o português encontra-se em Poesia traduzida, que representa, salvo engano, a primeira edição dos poemas que Drummond traduziu e estampou em jornais em sua quase totalidade, sem nunca abrigálos em livro: “Este volume reúne traduções de poemas que em sua maioria Drummond publicou na imprensa (apenas uma foi publicada numa coletânea do poeta chileno Arturo Torres-Rioseco)”, diz o poeta Júlio Castañon Guimarães no prefácio. No livro, passa de 40 o número de poetas traduzidos, dentre os quais, como sublinha Castañon, predominam os de língua francesa e espanhola. O destaque de exemplos, dada a variedade do acervo, é difícil, mas optamos por um do norte-americano Ogden Nash (1902-1971), intitulado A word to husbands (Uma palavra aos esposos, em tradução literal), que Drummond interpretou como Vida conjugal. Seguem a versão original e a vertida ao português: “To keep your marriage brimming/ With love in te loving cup,/ Whenever you’re wrong, admit it;/ Whenever you’re rit, shut up.”; “Conserva o amor no casamento/ Como em taça de ouro lavrado./ Se acaso errares, confessa o erro:/ Se tens razão, bico calado.”. 147 • juLho_2012 11 A outra face do exercício interpretativo de Drummond se dá no âmbito da crítica literária, que ora se abastece dos recursos subjetivos da crônica (em especial quando o então crítico aborda seus contemporâneos) — “Há 22 anos conheço e pratico Manuel Bandeira, e ainda não me arrependi de o ter procurado”, diz em Recordações avulsas, de Passeios na ilha, de 1952) —, ora se efetiva como análise objetiva, mais típica entre os que se consagram no gênero. O fragmento a seguir, extraído de No jardim público de Casimiro, texto de Confissões de Minas (1944), é, já pelo objeto (a obra de Casimiro de Abreu), uma lição aos jovens estudiosos: a crítica ao passado só é honesta e só pode ser procedente quando se conhece o que se critica. Diz Drummond: O encanto de Casimiro de Abreu está na tocante vulgaridade. Em sua poesia tudo é comum a todos. Nenhum sentimento nele se diferencia dos sentimentos gerais, que visitam qualquer espécie de homem, de qualquer classe, em qualquer país. Casimiro dirige-se igualmente a todos, e por isso mesmo é restrita a matéria de sua poesia: abrange somente aquela região em que não operam as distinções filosóficas, os credos políticos, a tumultuosa torrente da vida social. O contista Contos de aprendiz veio a lume em 1951. Trata-se de um livro inconstante (ou “de qualidade irregular”, como afirma Ana Paula Pacheco, que assina o posfácio), alternando textos de alta densidade com outros mais coerentes com o título. O volume é a efetiva estréia do autor na prosa de ficção, dado que, conforme dissemos, Confissões de Minas, de 1944, é constituído por textos em prosa, mas nem todos ficcionais. As três primeiras narrativas enfocam formas distintas de brutalidade, camufladas por símbolos contrastantes, como a família, a etiqueta de classe superior e a infância. Em A salvação da alma, que abre o conjunto, quatro irmãos brigam entre si excessivamente; em O sorvete, um menino interiorano tem dificuldades em degustar a sobremesa, para ele uma novidade, e sente sobre seus ombros o peso da postura de alguém que precisa demonstrar bons modos no ambiente urbano e civilizado; A doida é narrado por um menino que, em companhia dos colegas, apedreja as janelas da casa de uma senhora solitária, que a cidade rejeita por lhe estigmatizar como louca. Tanto o segundo quanto o terceiro têm forma de elaboração mais consistente, e alguns fatores tornam inevitável a aproximação com Machado de Assis: primeiramente, a poeticidade narrativa — “Eu sabia que ‘lá’ era a confeitaria, pois o sorvete de abacaxi entrara comigo no cinema, sentara-se na minha cadeira e, embora o soubesse frio, queimavame” —, e o metadiscurso avizinhado à interlocução com o leitor, sempre estribado em linguagem poética: Crianças de cinco anos desprezarão minha narrativa; e já ouço um leitor maduro, que me interrompe: “Afinal este sujeito quer transformar o ato de tomar sorvete numa cena histórica?”. Leitor irritado, não é bem isso. Peço apenas que te debruces sobre esta mesa a cuja roda há dois meninos do mais longe sertão. Eles nunca haviam sentido na boca o frio de uma pedra de gelo, e, como todos os meninos de todos os países, se travavam conhecimento com uma coisa de que só conhecessem antes a representação gráfica ou oral, dela se aproximavam não raro atribuindo-lhe um valor mágico, às vezes divino, às vezes cruel, em desproporção com a realidade e mesmo fora dela; drummond por théo szczepanski um valor independente da coisa e diretamente ligado a sugestões de som, cor, forma, calor, densidade, que as palavras despertam em nosso espírito maleável. Cumpre destacar, como também o faz Ana Paula Pacheco, o conto Beira-rio, ácido retrato do mandonismo empresarial presente no Brasil mesmo em fases de modernização. A narrativa aborda a tensão de operários de uma usina submetidos a uma forma branca de exploração, baseada na negligência de pagamento das horas extras. Alojados nas dependências da Companhia, os trabalhadores sentem eventual necessidade de distração, mas tudo por ali é objetividade laboral. Mais uma vez podemos notar a familiaridade entre Drummond e Machado, agora irmanados pela ironia discreta e corrosiva: Em vão procuraríamos um botequim. Não há. É proibido beber. A proibição não está nas leis de um Estado onde se bebe tanto, e mesmo onde se destila cachaça tão fina, sob cinqüenta nomes diferentes, e que é fonte considerável de receita pública. Proibição tácita, estabelecida pela Companhia, no interesse dos seus servidores... bem, e no interesse do serviço. O álcool foi rigorosamente proscrito, como o jogo. Verdade seja que há abundância de baralhos e de uísque no grande armazém quadrado. Mas esta é uma seção reservada aos técnicos e à alta administração, que quanto mais bebem e jogam — é admirável — mais trabalham. Até que um dia o tédio é quebrado quando um ambulante (chamado Vosso Criado) instala, a certa distância da usina, um ponto de venda de cachaça de boa qualidade. Apesar de a bebida produzir bom efeito sobre os que a consomem — pois passam a trabalhar mais animados —, os diretores da empresa pedem que o comandante da polícia local, em troca de suborno, interrompa a ação do comerciante, que possuía licença para atuar. “— Ora negro, tu acredita em licença? Licença é isto — e fez um sinal às praças. (...) — Tua venda acabou, negro... Eu não te disse? — falou o comandante para Vosso Criado, que se mantinha digno”. A exemplo do que ocorre na crônica, o contista Carlos Drummond de Andrade é sempre um poeta ao escrever, e a exemplo do que ocorre na poesia, o homem Carlos Drummond de Andrade é um sensível observador da realidade e um contumaz denunciador de suas aberrações. O poeta É inevitável reafirmar que na poesia se encontra o ápice da produção literária de Carlos Drummond de Andrade. A rosa do povo, de 1945, e Claro enigma, do fecundo ano de 1951, são marcos na carreira do poeta e também no curso histórico da poesia brasileira e (por que não?) ocidental. Ambos são importantíssimos pelo que representam de enriquecimento na obra do autor, de amadurecimento do Modernismo e de desenvolvimento da própria literatura nacional. Além disso, são argumentos precisos contra certas generalizações em torno da obra do poeta, em especial ao estabelecimento de fases. O volume de 1945 é sempre identificado como político, dada a aproximação entre Drummond e o PCB num período extremo da história do Brasil e do mundo (dentro do qual o ano de 1945 é mais que emblemático). Entretanto, de acordo com Antonio Carlos Secchin, autor do posfácio, “Convém não acreditar depressa demais na convocação cívica do poeta, sob pena de pressupor o traço monolítico num espaço em que irão prosperar diferenças e sinuosidades”. Endossaremos a afirmativa se notarmos que além da exortação ideológica — Carta a Stalingrado, Telegrama de Moscou, Com o russo em Berlim, Canto ao homem do povo Charles Chaplin —, o volume é repleto de poemas de temas variados, presentes em diversos livros do autor, como a passagem do tempo — Idade madura —, a própria produção poética — Procura da poesia —, e a crítica social independente da vinculação partidária e/ou ideológica, caso do estupendo A morte do leiteiro, do qual transcrevo duas estrofes: Meu leiteiro tão sutil de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz: passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quizilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico (ladrões infestam o bairro), não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão? se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei, é tarde para saber. E mesmo nos momentos de pujança do furor pró-comunismo, Drummond não cedeu ao panfletarismo vulgar, que abre mão do literário em busca do imediato revolucionário. Em Carta a Stalingrado, por exemplo, as imagens formulam uma plasticidade trágica, e muito do poema remete ao grito de Guernica, de Pablo Picasso: A tamanha distância procuro, indago, cheiro destroços [sangrentos, apalpo as formas desmanteladas de teu corpo, caminho solitariamente em tuas ruas onde há mãos soltas [e relógios partidos, sinto-te como uma criatura humana, e que és tu, Stalingrado, [senão isto? E nos momentos em que se libera das exigências coletivas (em termos práticos, Drummond não foi militante, visto que sua ligação com o PCB foi brevíssima se comparada à militância de outros escritores brasileiros), o poeta cede a todos, e não apenas aos que vestem vermelho e lutam, a palavra solidária e afetiva, que é sempre uma palavra de vida, como se lê na primeira estrofe de Consolo na praia: Vamos, não chores... A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. A tão citada abertura de Claro enigma denota um esmaecimento das convicções ideológicas do poeta: “Escurece, e não me seduz/ tatear sequer uma lâmpada./ Pois que aprouve ao dia findar,/ aceito a noite”. Isso termina por ser usado como justificativa aos que formulam as generalizações aludidas anteriormente. Inegavelmente, estampam-se no livro marcas de recolhimento pessoal e cívico. O que parece discutível é sinalizar, a partir disso, uma fase pessimista. Mas não já tínhamos visto uma nota bastante pessimista em Brejo das almas, de 1934 — “A poesia é incomunicável./ Fique torto no seu canto./ Não ame”? Onde estará, então, a fase pessimista do autor? No posfácio, Samuel Titan Jr. assinala a antítese do livro formado por elementos clássicos e anticlássicos, da mesma maneira que diz ser preciso matizar a classificação de Claro enigma como livro filosófico, pois nele é pujante uma sensibilidade voltada para o histórico: “(...) o livro é profundamente marcado por um sentimento da história, por uma noção expandida de história em que se cruzam o familiar e o público, o amoroso e o político — sempre de maneira cifrada” (grifo do autor). Também liberado das “etiquetações”, o poeta assim inicia a segunda e bela parte do livro: “Que pode uma criatura senão,/ entre criaturas, amar?”. O pré-poeta Esta onda de publicação dos livros de Drummond vem marcada por uma histórica novidade: o lançamento do inédito Os 25 poemas da triste alegria — pequeno volume de textos escritos entre 1922 e 1924, ao lado dos quais se inseriram, em 1937, comentários do autor. O livro foi mantido nos porões do acaso por quase 90 anos, até que Antonio Carlos Secchin o encontrasse por acaso num acervo posto à venda. A obra não tem relevância estética, mas seu valor histórico é altíssimo. Ironicamente, Carlos Drummond de Andrade, ícone do Modernismo brasileiro, ainda conservava traços simbolistas e alguns fiapos românticos (como estampa o título A beleza da vida na alegria da manhã) no período em que os modernistas de 1922 já faziam considerável barulho. Posteriormente, isso foi sinalizado pelo próprio Drummond, e, agora, desenvolvido por Secchin na apresentação, intitulada O quase livro do pré-poeta: A maior restrição que o crítico CDA faz ao poeta CD [Drummond não costumava assinar o nome por inteiro] refere-se ao convencionalismo e à artificialidade dos textos, ao descreverem realidades alheias à sensibilidade ou à experiência do poeta, e, por isso mesmo, tributárias de um conceito do “literário” necessariamente retórico e postiço. Um pré-modernismo bem comportado, cultor de formas moderadas, cantor de subtons e de medianias da vida, alheio à modernidade, a que simula aderir, por exemplo, no emprego do verso livre, mesclado a padrões regulares ou à polimetria (...). Veja-se, por exemplo, Quase-noturno, em voz baixa: Tuas mãos envelhecem, na prata fosca do silêncio. O silêncio, pelo crepúsculo, é um arminho onde as mãos repousam com doçura. Tuas mãos, no silêncio, pelo crepúsculo, são mais finas e mais leves. O silêncio, o doce silêncio, vestiu de cinza transparente as tuas mãos, pelo crepúsculo. Como se vê, a pluralidade de Drummond comporta até mesmo elementos do que ele não chegou a ser... Dissemos no início que Carlos Drummond de Andrade é um poeta bastante e bem estudado. Mas sua obra, tão diversa e tão pujante, sempre apresentará para nós alguma novidade, razão pela qual pede que a leiamos. Como ele agora renasce por meio de reedições e de uma edição, podemos fazer as vezes do anjo que vive nas sombras, e convocá-lo a entortar as tão retas linhas da literatura de hoje: vem, Carlos, ser gauche na vida. 147 • juLho_2012 12 especial Carlos Drummond de Andrade Como ler a poesia de Carlos Drummond de Andrade Ao se aventurar na análise da obra do poeta, enfrenta-se o enigma de Drummond — e de todos os homens :: Affonso Romano de Sant’Anna Rio de Janeiro – RJ T endo que dar um curso na Casa do Saber/Rio em 2012, intitulado Como a ler a poesia de Carlos Drummond de Andrade, me vi obrigado a refazer o caminho da “leitura” que, entre 1965 e 1969, havia feito de sua obra e a rever a questão da “leitura” que outros fizeram de sua poesia. O livro Drummond, o gauche no tempo — hoje em sua quinta edição pela Record — havia sido publicado pela primeira vez há exatamente 40 anos pela Editora Lia, do saudoso Léo Vitor, quando em 1972 celebravam-se os 50 anos do modernismo e os 70 anos do poeta. O livro foi lançado no Teatro Ipanema, num espetáculo de que participaram Rubem Correa, Ivan Albuquerque e outros atores. Consideremos: o título do curso parece ser de uma obviedade irritante. Como é que alguém pode querer ensinar “como” ler a poesia de um dos autores mais “lidos” em nossa língua? Os “leitores” que estão “lendo” Drummond não estão lendo Drummond? A questão parece simples, mas é simplesmente complexa. Ler a leitura que se faz é uma dupla atitude, é, como dizem na universidade, metaleitura: é ler uma radiografia, ver o que não se vê aparentemente. E o que vou fazer aqui é mais que uma releitura, é uma metaleitura de minha própria leitura e da leitura alheia. E digo logo uma coisa entre o surpreendente e o estapafúrdio: às vezes a leitura que fazemos de um texto (ou fenômeno) se torna mais compreensível e transparente muito tempo depois que a produzimos. Isto é o mesmo que dizer que produzir uma leitura nem sempre é sinônimo de compreender integralmente o próprio processo em que nos metemos. No meu caso, alguns anos depois de realizar a leitura da poesia de CDA é que me senti inteirado e capacitado a compreender melhor. Acho que hoje, mais de 40 anos depois, é que estou pronto para defender a tese que defendi em 1969 na UFMG. Quanto mais fazia conferências por todo o país (e no exterior) sobre a obra do poeta itabirano, mais clara se tornava a própria leitura, como se fosse possível redescobrir o que já havia descoberto. Isto significa que no trabalho crítico há algo comum a todo processo de criação. Assim como o poeta não se dá conta de todos os processos que colocou em movimento, também o analista, por mais onisciente que seja, não controla todo o sistema que utiliza. E é possível, como no meu caso, que, revendo o trabalho anos depois, descubra/ perceba nele coisas que não havia percebido (embora lá estivessem). Tipos de leitura Esperando que isto não esteja muito confuso, tento me explicar. Consideremos o que poderia ser uma platitude: há uma enormidade de tipos de leitura que podem, em princípio, ser agrupados em dois tipos: leitura do leitor comum e leitura do leitor profissional. Leitura do leitor comum Decorre de várias motivações. 1902 — Nasce Carlos Drummond de Andrade, em 31 de outubro, na cidade de Itabira do Mato Dentro (MG), nono filho de Carlos de Paula Andrade, fazendeiro, e Julieta Augusta Drummond de Andrade. 1910 — Inicia o curso primário no Grupo Escolar Dr. Carvalho Brito. 1916 — É matriculado como aluno interno no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte. Interrompe os estudos por motivo de saúde. 1917 — De volta a Itabira, toma aulas particulares com o professor Emílio Magalhães. 1918 — Aluno interno no Colégio Anchieta, da Companhia de Jesus, em Nova Friburgo, colabora na Aurora colegial. Seu irmão Altivo publica, no único exemplar do jornalzinho Maio..., seu poema em prosa Onda. Pode o leitor se acercar emocionalmente de um poema que descobriu por acaso. Tal leitor pode ser também um leitor contumaz: lê para curtir, para sentir o mistério e/ou magia de palavras comuns que, usadas por escritores, dizem coisas que o leitor não pode/não sabe dizer por ele mesmo. Este é o que eu chamaria de “leitor em estado puro”, se é que existe tal coisa. Ele lê para ser lido pelo texto que lê. Leitura do leitor profissional Aqui cabe já um novo conceito de leitura, ou seja, leitura como crítica e/ou interpretação. Esse tipo de leitura se descola da leitura ingênua e espontânea e pretende ser mais “profunda”. Busca um entendimento mais racional e técnico. Tenta-se aí explicar o efeito que o texto produziu no leitor. É feita por professores, resenhadores, ensaístas. Pretende ser informativa e explicativa em vários sentidos. Lida com o texto e com o contexto. Na maioria das vezes é uma “paráfrase” do texto, uma maneira de dizer o que está na obra, porém de outra maneira, como se o leitor/crítico fosse uma espécie de intérprete. Evidentemente que esse segundo tipo de leitura tem vários matizes e pode se desdobrar de maneiras múltiplas, que implicam num grau crescente de complexidade. Tentemos caracterizar algumas dessas leituras para assinalarmos as características daquela que realizamos da poesia de Drummond. Correndo o risco de uma categorização sumária, eis os tipos de leitura possíveis de serem encontradas em torno da obra desse poeta: 1. Leitura historiográfica Aqui se localiza a época em que viveu o autor, as revistas e jornais onde colaborou, a geração a que pertencia. Faz-se um levantamento de sua participação no modernismo brasileiro, sua localizacão na literatura, na vida política e social, tanto quanto a seqüenciação de suas publicações. 2. Leitura estilística É um tipo de estratégia que vigorou nas faculdades de Letras e nos jornais até os anos 1970 e que consistia em destacar sobretudo os torneios estilísticos das frases. São leituras pontuais de certos poemas e comportamentos formais. Assim, estudava-se, por exemplo, como Drummond, apesar de modernista, utilizava a rima (A rima na poesia de Carlos Drummond de Andrade, de Hélcio Martins); de que maneira desenvolvia o processo de repetição de palavras (tese de Gilberto Mendonça Telles), como utilizava a técnica “palavra-puxapalavra” nos poemas (Esfinge clara: palavra-puxa-palavra 1919 — É expulso do Colégio Anchieta após incidente com o professor de português. Motivo: “insubordinação mental”. 1920 — Muda-se com a família para Belo Horizonte. 1921 — Publica seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Freqüenta a vida literária da cidade. Conhece Milton Campos, Abgar Renault, Emílio Moura, Alberto Campos, Mário Casassanta, João Alphonsus, Batista Santiago, Aníbal Machado, Pedro Nava, Gabriel Passos, Heitor de Sousa e João Pinheiro Filho, todos freqüentadores do Café Estrela e da Livraria Alves. 1922 — Seu conto Joaquim do telhado vence o concurso Novela Mineira. Publica trabalhos nas revistas Para todos... e Ilustração brasileira. 1923 — Ingressa na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. em Carlos Drummond de Andrade, de Othon Moacyr Garcia). 3. Leitura fenomenológica Em parte ainda no território da estilística, busca perceber extratos da composição do poema. O exemplo melhor é o de Maria Luiza Ramos, que aplicou no poema Elegia de Drummond a teoria e técnica de Roman Ingarden. 4. Leitura filológica e lingüística Mesmo tendo certo parentesco com a abordagem estilística, detem-se em estudar vocabulário, variação lexical e evolução da língua no autor. 5. Leitura comparada Procura paralelos e/ou afinidades entre Drummond, Valéry, Supervielle, Dante, Camões, Molière, etc. É uma maneira de se acercar da obra dos autores através de um jogo de espelhos onde sobressaem afinidades e divergências. 6. Leitura formalista Detem-se no aspecto das formas poéticas utilizadas pelo autor ou no seu caráter “inventivo”, procurando ressaltar sua originalidade ou sua linhagem numa história das formas literárias. 7. Leitura comparativa com outros gêneros Ressalta-se aí a relação entre poesia e artes plásticas, cinema, jornalismo, teatro, música, etc. É um tipo de crítica paralela, um modo de conhecer uma coisa através da outra. 8. Leitura biográfica Privilegiando a biografia do autor, descreve sua formação e os passos de sua obra, suas relacões sociais, políticas e amorosas, contextualizando o texto. 9. Leitura temática Destaca temas que sobressaem em seus textos: família, terra, cidade, erotismo, cromatismo, ironia, pai, solidão, memória, infância, história, etc. 10. Leitura interdisciplinar Realizada a partir de aspectos psicológicos, filosóficos, sociológicos, geográficos, religiosos, políticos e econômicos. Trata-se de espelhar uma disciplina (literatura/ poesia) em outra. É possível que existam outras leituras de Drummond, e alguns estudos mesclam uma estratégia com outra. Todas essas leituras pretendem ser uma contribuição para o entendimento do autor. Minha leitura 1. Sempre disse aos alunos que drummond por ricardo humberto comigo faziam tese de mestrado e doutorado que havia duas possibilidades ao se aproximarem de seu trabalho: ou o desempenhavam formalmente para conseguir o título almejado ou jogavam-se existencialmente no tema/autor/obra, convencidos de que aquele investimento intelectual iria modificar também sua vida, pois ao analisar a obra de alguém tinham a oportunidade de passar em revista não só o próprio conhecimento adquirido, mas a sua própria filosofia de vida. Portanto, abusando do trocadilho: uma tese não é uma hipótese; nos melhores casos, é um rito de iniciação. 2. Ao ler sistematicamente (entre 1965 e 1968) o que havia sido escrito sobre Drummond e estudar sua obra, tive ao mesmo tempo várias sensações: primeiro, a de que as leituras críticas se repetiam. Isto, em princípio, é natural. Seria impossível que os cerca de 600 textos sobre ele (na década de 1960) fossem sempre originais. A maioria era “declaração de amor” sob espécie de resenha ou crítica. Em geral, os autores desses textos não conseguiam “formalizar” seu pensamento. Eram atestados da admiração e louvor ao poeta extraordinário que tinham diante de si. E limitavam-se a estudar — às vezes brilhantemente — poemas isoladamente, e não toda a obra. Quando se referiam à obra em geral, não produziam um conhecimento novo. Em síntese, o texto do poeta me dizia mais coisas do que seus intérpretes. A transposição para a prosa ensaística até enfraquecia o que a condensação mágica da poesia oferecia. Tentanto visualizar o que eu lia, pode-se dizer que os ensaios sobre sua obra se dividiam em dois grupos, assim configurados: Grupo 1: Estudos que privilegiavam imagens substantivo-concretas. Aí sobressaíam tópicos como fazenda, pai, cidade, família, Itabira, ilha, infância, história, poesia (ars poetica), etc. Grupo 2: Estudos que privilegiavam imagens/inquietações 1924 – Conhece, em Belo Horizonte, Blaise Cendrars, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade no Grande Hotel de Belo Horizonte. 1925 — Casa-se com Dolores Dutra de Morais. Funda A revista junto a Martins de Almeida, Emílio Moura e Gregoriano Canedo. Conclui o curso de Farmácia, mas, por falta de interesse, não exerce a profissão. 1926 — Leciona geografia e português em Itabira. Volta a Belo Horizonte e, por iniciativa de Alberto Campos, assume o carga de redator e depois redator-chefe do Diário de Minas. Villa-Lobos compõe uma seresta sobre o poema Cantiga de viúvo. 1927 — Nasce em 22 de março seu filho Carlos Flávio, que morre meia hora depois do parto. 1928 — Nascimento de sua filha, Maria Julieta. Publica na Revista de Antropofagia, de São Paulo, o poema No meio do caminho, que se torna um dos maiores escândalos literários do Brasil. Torna-se auxiliar na redação da Revista do Ensino, da Secretaria de Educação. 1929 — Deixa o Diário de Minas para trabalhar no Minas Gerais, órgão oficial do estado, como auxiliar de redação e, pouco depois, redator. 1930 — Publica seu primeiro livro, Alguma poesia, em edição de 500 exemplares sob o selo imaginário Edições Pindorama, de Eduardo Frieiro. Assume o cargo de auxiliar de Gabinete de Cristiano Machado, secretário de Interior. Passa a oficial de gabinete quando seu amigo Gustavo Capanema assume o cargo. 1931 — Morre seu pai. 147 • juLho_2012 13 adjetivas. Solidão, incomunicabilidade, preocupação social, ironia, erotismo, maturidade, procura, amor, memória, etc. Os estudiosos dissertavam especificamente sobre esses temas/ images/sentimentos tentando ver o todo na parte. Eram, em geral, trabalhos tópicos, temáticos, estilísticos. Quando relacionavam alguns dos elementos substantivos e adjetivos, não formalizavam um modelo interpretativo do conjunto. 3. A parte inicial do meu trabalho, primeiramente, foi intuitiva e em aberto, como quem joga uma rede para colher tudo o que o mar pode oferecer. Em seguida, virou algo mais específico: comecei a fichar toda a obra do poeta, poema por poema, livro por livro. Iniciei, como quem faz um balanço num almoxarifado ou num arquivo disperso, um trabalho de anotação de tudo o que estava na superfície, sobrenadando nas frases dos poemas. Não havia necessariamente uma ordem nisto, era algo como aquela enciclopédia estranha e meio anárquica a que aludia Borges. Nesta parte do trabalho, anotei em centenas de fichas todos aqueles temas que a crítica dizia existir, todos os torneios retóricos, estilísticos — ou seja, mapeei o que diziam mais o que não tinham dito e que eu estava descobrindo. Mas isto, evidentemente, ainda não bastava. Poderia ficar por aí, já seria um levantamento razoável de obra àquela altura (1965/1969), quando só duas teses haviam surgido sobre Drummond. Ocorreram então os seguintes momentos/movimentos que hoje, à distância, vejo mais claramente na estruturação de minha análise. 4. Depois de um amplo levantamento de tudo aquilo que sobrenadava na superfície do texto e do contexto drummoniano, percebi, como numa reação química, que certos elementos se procuravam, se atraíam, se complementavam formando pares. Iniciava-se a primeira descida a uma camada menos visível da obra. Ela começava a se organizar aos olhos do analista, como no microscópio as células de um organismo começam a se aglutinar em busca de um sentido e/ou vida. Alguns desses pares eram: província/ metrópole, campo/cidade, fazendeiro/burocrata, pai/filho, Itabira/ Belo Horizonte, Itabira/Rio, Brasil/Europa, janela/rua, ilha/continente, espiar/contemplar, lagoa/ mar, interior/exterior, pequeno/ grande, escuro/claro, noite/aurora, mar noturno/farol, mariposa/ luz, amor/morte, metrópole/necrópole, destruição/reconstrução, poesia/memória, essência/aparência, tudo/nada, instante/eternidade, poesia/jogo, vida/teatro, etc. (digo “etc.” porque foram centenas de itens/fichas anotados). 5. Ao mesmo tempo em que descobria a tensão entre os pares que se solicitavam, selecionei os que me pareciam mais fortes, mais informativos. Havia uma percepção de que esses pares selecionados tinham a característica daquilo que futuramente eu ia conhecer na lingüística e nas análises de mitos, como elemento marcado e elemento não-marcado. Ou seja, havia algo explícito e implícito, mais ou menos exposto, um dito e não-dito. Os elementos desses pares podiam estar in presentia ou in absentia. 6. A seguir, parti para uma estratégia quase ausente da crítica brasileira, que é a estilística quantitativa. Iniciei a contagem estatística dos principais referentes dessa poesia: província/metrópole, referentes cromáticos (claro/escuro) e as metáforas relativas à água em sua múltipla aparição. Esses referentes condensavam muitas informações, eram a síntese da síntese. Poema por poema, livro por livro esses dados quantitativos indicavam dados qualitativos. A estilística quantitativa fazia o aspecto material dialogar com o imaterial, o objetivo com o subjetivo, o poético com o estatístico. Se a estilística quantitati- 1933 — Redator de A Tribuna. Acompanha Gustavo Capanema quando este foi interventor federal em Minas Gerais. 1934 — Volta a ser redator dos jornais Minas Gerais, Estado de Minas e Diário da Tarde, simultaneamente. Publica Brejo das almas em edição de 200 exemplares pela cooperativa Os Amigos do Livro. Muda-se para o Rio de Janeiro, onde passa a trabalhar como chefe de gabinete de Gustavo Capanema, novo ministro da Educação e Saúde Pública. 1935 — Responde pelo expediente da Diretoria-Geral de Educação e é membro da Comissão de Eficiência do Ministério da Educação. 1937 — Colabora na Revista Acadêmica, de Murilo Miranda. va era praticamente ignorada nas análises de obras no Brasil, também não conhecia àquela época nenhuma experiência entre nós que levasse tal levantamento ao terreno da informática. Em 1970, criando a pós-graduação de Letras na PUC/RJ, iniciei pesquisas no Rio Datacentro com a idéia de montar ali um banco de dados sobre literatura brasileira. Comparado com o que existe nesse campo hoje, era tudo muito primitivo. Os computadores eram enormes. Você só podia perguntar ao computador o que de antemão já sabia. O processo era por meio de cartões perfurados, nos quais eu deveria marcar o que futuramente gostaria de ver confirmado. Neste sentido, forneci aos computadores os dados que tinha e ele me devolveu a ilustração visual do que ocorria no interior da obra estudada. Assim, enriquecendo a tese já defendida, a primeira edição de Drummond: o gauche no tempo trazia diversos gráficos executados pelo computador ilustrando os dados estatísticos, estilísticos e estruturais levantados. Em outros termos, assim como aqueles pares anotados mantinham uma tensão informativa sobre os sentidos da obra em estudo, a análise quantitativa iria me conduzir a conclusões qualitativas, dizendo-me que alguns sentidos latentes nessa poesia poderiam quantitativamente ser mais bem apreendidos. No meu estudo estão diversos gráficos resultantes das estatísticas em cada livro até aquela época (Reunião, de 1969, englobava a obra de CDA). 7. Outra percepção também surgia no tempo em que a tese estava em elaboração: não só os elementos se reuniam aos pares e podiam ser quantificados, mas surgiam como variáveis de um sistema que os reunia, os trespassava dando-lhes coerência. Uma coisa era anotar um ou outro par isolado, outra era correlacioná-los procurando uma identidade entre eles. Além das variáveis, havia uma variante que atravessava todos esses elementos, era a invariante: tempo. A noção, por exemplo, de província/metrópole, lagoa/mar, claro/escuro, amor/morte ia se modificando à medida que o tempo transcorria. Estruturalmente, a invariante (tempo) puxava/ordenava todos os temas antes espalhados ou dispostos apenas aos pares. Tempo/ espaço passaram a ser o ímã, a força gravitacional e crítica de todo o trabalho. A pesquisa, portanto, havia saído de um deslizamento pela superfície do texto (por onde anda a estilística e a crítica interessada em temas, aspectos retóricos e tópicos), mas se concentrava no núcleo invisível/ausente aos olhos do leitor e do analista comum, e que a análise estruturadora presentifica. Releva fazer aqui uma observação (pessoal) que tem correlação com o estudo desenvolvido, sobretudo com a questão do tempo. E surge algo interessante em relação ao método de pesquisa, à obra analisada e à trajetória do analista. Vou me dando conta disto depois de ter feito aquele livro, depois de ter dado aquele curso. Há, portanto, uma análise da análise, um método em progresso. Em geral, os estudos e análises não revelam este aspecto, o que é uma falha metodológica (e até epistemológica). É preciso sempre saber de que lugar, de que ponto de vista o observador está se expressando. Estou querendo dizer que assim como os planetas têm suas conjunções ou épocas mais propícias para serem observados, há fases em que a colocação do observador dentro do sistema é mais favorável e até coincidente para a análise. A metáfora astronômica tem a ver com isso. Os estudos na Física sobre a localização do observador em relação ao fenômeno (conforme Einstein e Eisenberg) explicam parte do que estou tentando dizer. Sendo mais claro: a percepção da problemática do tempo na ocasião em que fazia a tese me ocorreu porque existencialmente eu estava também redescobrindo o tempo e o espaço. Portanto, esta não era uma questão exterior a mim. Vivendo pela segunda vez no exterior, numa cultura diferente da minha, aproximando-me dos 30 anos, estava dando um balanço geral na minha visão de mundo. Enquanto eu estudava o “outro” também estudava a mim mesmo. E tinha consciência disso. Eu não poderia perceber na obra alheia essa invariante se ela não fosse um reflexo, produto também de minhas inquietações. Houve, portanto, uma sincronicidade, uma simbiose, uma superposição de perspectivas. Eu estava em condições ótimas para minha análise. O texto e contexto se imbricavam. Sabem os cientistas que suas descobertas ocorrem em momentos de conjunção/confluência em que a percepção se torna mais aguda. Por que Arquimedes e não outros, por que Newton e não outros, por que Einstein e não outros atinaram com certas percepções, equações e fórmulas? Por que tantos olharam as nuvens e os regatos e a torneira pingando água e só Mitchell Feigenbaum foi capaz de fazer a “teoria do caos”, organizando o acaso e o caos cientificamente? Com efeito, no curso dado na Casa do Saber eu havia fornecido alguns elementos sobre essa conjunção espácio-temporal entre o analista e a obra analisada, a exemplo daquela crônica Fazer 30 anos. Ao escrever este texto agora, ia eu deixando isto de lado e me perguntei por que estaria negando por escrito o que havia oralmente dito aos alunos. Concluo que este texto que es- 1940 — Publica Sentimento do mundo em tiragem de 150 exemplares distribuídos entre escritores e amigos. Capanema e, a convite de Luís Carlos Prestes, figura como editor do diário comunista Tribuna Popular. Afasta-se meses depois por discordar da orientação do jornal. Trabalha na Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN). 1941 — Assina, sob o pseudônimo “O Observador Literário”, a seção “Conversa de livraria” da revista Euclides. Colabora no suplemento literário de A Manhã. 1946 — Recebe o Prêmio de Conjunto de Obra, da sociedade Felipe d’Oliveira. 1942 — Publica Poesias pela José Olympio Editora. 1943 — Traduz e publica Thérèse Desqueyroux, de François Mauriac, sob o título de Uma gota de veneno. 1944 — Publica Confissões de Minas. 1945 — Publica A rosa do povo e O gerente. Colabora no suplemento literário do Correio da Manhã e na Folha Carioca. Deixa a chefia de gabinete de 1947 — É publicada sua tradução de Les liaisons dangereuses, de Choderlos De Laclos, sob o título de As relações perigosas. 1948 — Publica Poesia até agora. Falece sua mãe. Comparece ao enterro em Itabira, ao mesmo tempo em que é executado, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o “Poema de Itabira”, de Villa-Lobos, composto a partir de seu poema Viagem na família. 1949 — Volta a escrever no jornal Minas Gerais. Sua crevo é uma obra em progresso. Assim como a análise que fiz há cerca de 40 anos não é estática no tempo e no espaço, menos estratificada foi se tornando com o curso e com este texto, que me faz pensar, repensar, digerir como boi (“Boitempo”?) que tem quatro estômagos e volta sobre o mastigado várias vezes. Isto, reafirmo, não é uma divagação pessoal como parecia à primeira vista. Isto é enfrentar a questão do método em terrenos em geral ocultados do público. E o elemento pessoal, psicológico tanto pode ser um obstáculo intransponível como pode facilitar a conjunção analítica. 8. Nessas alturas, não eram mais suficientes as análises literárias, retóricas e estilísticas, e me vi lançado no estudo do tempo, seja na literatura, na filosofia, na ciência. A interdisciplinaridade se impunha. Proust, Bergson, Cassirer, Bachelard, Einstein, Eisenberg, Niels Bohr e as mais variadas teses escritas sobre o tempo, fossem em El Cid, Beckett, Virgílio, Borges, Machado, Joyce, Eliot, Faulkner, Pessoa, etc., passaram a me interessar. Se fosse possível ilustrar graficamente o movimento que a poesia analisada refletia, seria algo como uma grade onde estariam todos os temas, motivos e recursos estilísticos, trespassados por três linhas temporais — presente, passado e futuro —, mas com setas indicando as repectivas direções. As direções aparentemente divergentes entre passado e futuro, no entanto, acabariam condensadas numa noção de duração, fluxo contínuo que é o presente lírico-poético. 9. Como conseqüência — primeiro porque estava superando os pares, segundo porque a categoria tempo só pode ser entendida em sua correlação com o espaço como um continuum (tempo/espaço) —, desdobrei o estudo do espaço em vários autores e no próprio Drummond. A sintética afirmativa de Novalis “tempo é espaço interior, espaço é tempo exterior” articulava tudo. Imagens espácio-temporais disseminadas na obra do poeta podiam ser agrupadas até mesmo de uma forma que ia do particular ao geral: corpo, espelho, retrato, passando por casas, edifícios, cidades e aliciando outras como canto, gaveta, arquivo, baús, armário, mala, máquina, etc. Mais que simples palavras, esses termos passavam a ser espaços a serem analisados em sua riqueza de implicações. 10. Essa crescente entrada na camada mais profunda da obra levou a outra observação: certas imagens/assuntos/temas sofriam uma metaformose na seqüenciação da obra. Era como se houvesse filha, Maria Julieta, casa-se com o escritor e advogado argentino Manuel Graña Etcheverry e passa a residir em Buenos Aires. 1951 — Publica Claro enigma, Contos de aprendiz e A mesa. É publicado em Madri o livro Poemas. 1952 — Publica Passeios na ilha e Viola de bolso. 1953 — Exonera-se do cargo de redator do Minas Gerais, ao ser estabilizada sua situação de funcionário da DPHAN. É publicado em Buenos Aires o livro Dos poemas, com tradução de seu genro, Etcheverry. 1954 — Publica Fazendeiro do ar & Poesia até agora. Aparece sua tradução para Les paysans, de Balzac. Inicia no Correio da Manhã a série de crônicas “Imagens”, mantida até 1969. 147 • juLho_2012 14 especial Carlos Drummond de Andrade um vaso comunicante entre certos termos de significados diferentes. A palavra rosa, por exemplo, pertencia, em certos poemas, à significação da luz, do diamante, da orquídea, da poesia e da memória. Surpreendi o não-isolamento das imagens e a conexão estrutural entre elas. Estava diante do que se chamava imagens continuadas. Certos significados trespassavam várias metáforas. Assim, existiam conexões expressivas entre termos aparentemente distantes que a poesia reconfigurava. 11. Nos estudos literários é comum utilizar o termo “eu lírico” para mostrar a universalidade de certos traços do poeta. Assim, isola-se tecnicamente a biografia e aproxima-se mais da objetividade. No entanto, eu estava diante de algo mais denso e informativo dentro do caráter sistêmico da obra analisada: havia um personagem latente que articulava todo esse universo de perplexidades, um personagem/persona, um “Eu” que era um avatar, um simulacro do poeta, desenvolvendo uma peripécia no tempo e espaço. O tempo/ espaço não eram categorias soltas, mas uma experiência humana indissolúvel dentro do indivíduo. E esse indivíduo estava se exibindo na primeira estrofe do primeiro poema do primeiro livro: o personagem gauche estruralmente era crucial para aglutinar toda a obra. Essa coisa que me pareceu gritante, nunca a havia visto tão ostensiva em nenhum autor. E, claro, o poeta não havia premeditado, não havia pensado, naquela década de 1920/1930, quando escreveu esse poema, que se colocasse abertamente esses dados iria facilitar a tarefa de seu analista. Mas quando ele começa a repetir nos poemas aqueles traços anunciados e quando anota (conscientemente) no texto embaixo da foto de sua família “1915. Carlos Drummond de Andrade (primeiro à esquerda)”, já estava trabalhando a própria representação. De repente, toda a teia de temas anotados esparsamente pela crítica e por mim ganhou sentido numa rede. Foi como se num só tecido duas coisas se complementassem: a urdidura e a trama. A urdidura é o conjunto de fios horizontais de um tecido que cruzam e ganham consistência quando os fios da trama cruzam o conjunto transversalmente. Tecnicamente se poderia dizer que sintagma e paradigma se articulavam. Toda a obra era um sistema no qual as peças, antes soltas, se articulavam. E eu não estava delirando, não estava inventando. O que eu descobria estava no texto expresso, explícito. A microanálise do texto apontava as palavras fundamentais do autor que agrupam um sentido implícito em seu discurso poético. Havia, portanto, já saído da leitura inicial dispersa; havia passado pelo segundo estágio da leitura dos pares; havia avançado e descoberto a invariante que ordenava outros temas; tinha agora algo ainda mais consistente: um personagem. 12. Que personagem era este? Como caracterizá-lo? Lembro-me de ter lido num dos ensaístas do “new criticism” americano que o crítico funciona mesmo como um astrônomo. Olhando o céu demoradamente, ele começa a ver a organização do texto. É assim que o céu é um texto para quem o sabe ler: surgem surpreendentes centauros, escorpiões, ursas maiores e menores. Os índios brasileiros também vêem o céu, vêem aí outros animais de acordo com seus valores cosmogônicos. No entanto, é preciso cautela. Não se pode simplesmente decretar que o céu (ou obra) tem tal ou qual figura. Há uma questão de verossimilhança. Empiricamente, a observação tem que ser constatada. Ora, estava tudo expresso na poesia à minha frente. Melhor e mais espantoso: as informações estruturadoras e o estudo estavam na primeira estrofe do primeiro poema do primeiro livro: o personagem era gauche, nasceu sob as ordens de um “anjo torto” e vivia na “sombra”. Não bastava anotar essas características. Tecnicamente, elas exigiam uma formalizacão, sem a qual continuariam no nível de impressões. Sob aquelas palavras gauche/torto/ sombra configuravam-se elementos objetivos operacionais: espaço/ forma/cor. Mas isto ainda podia ser mais bem formalizado. Era necessário sair do impressionismo crítico. Então cheguei a esta tríade que universalizava aqueles atributos do personagem: topologia/ morfologia/ cromatismo. O personagem desenvolvia uma peripécia no espaço, tinha uma forma e as cores ilustravam seu drama. Possuía agora nas mãos os instrumentos objetivos operacionais para trabalhar. Poderia compreender melhor o que estava disperso nas análises: o gauche psicológico e sentimental; a displaced person geográfica e cultural; e o excêntrico literário e social. Texto e contexto se informavam, poesia e vida se completavam. A análise extraía da obra uma estrutura, e não simples impressões. 13. O leque foi se abrindo. Sinônimos de gauche, “torto”, “sombra”, e exemplos de “excêntricos” e displaced se multiplicavam. O campo semântico se expandia. Confirmando a vocação dramática dessa poesia, o personagem gauche, usava várias máscaras, cada uma com uma função conforme os atos 1955 — Publica Viola de bolso novamente encordoada. O livreiro Carlos Ribeiro publica edição fora de comércio de Soneto da buquinagem. 1956 — Publica 50 poemas escolhidos pelo autor. Aparece sua tradução para Albertine disparue, de Marcel Proust. 1957 — Publica Fala, amendoeira e Ciclo. 1958 — É encenada e publicada a sua tradução de Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, pela qual recebe o Prêmio Padre Ventura, do Círculo Independente de Críticos Teatrais. 1962 — Publica Lição de coisas, Antologia poética e A bolsa & a vida. É demolida a casa da Rua Joaquim Nabuco 81, onde viveu 36 anos. Passa a morar em apartamento. São publicadas suas traduções de L’Oiseau bleu, de e quadros do drama: José, Robson Crusoé, bruxa, o elefante, K, etc. Essas máscaras eram variáveis de um sistema de representações; representações que usavam disfarces nominais (como “Carlos” e “Carlitos”) e pronominais (“eu”, “tu”, “você”). Estava me aproximando de um núcleo de significados: se todo poeta tem um dramaturgo dentro de si, se na poesia há monólogos, diálogos e uma representação, restava entender essa dramatis personae no theatrum mundi. 14. A obra do poeta podia ser compreendida, então, como uma peça de teatro em três atos, que haviam sido nomeados (inconscientemente?) por ele em lugares diferentes dos seus livros, e que cabia ao crítico apontar, agrupar. Todas as oposições anteriores condensavam-se na oposicão paradigmática. Eu versus mundo. O que até então outros anotaram de maneira geral podia ser formalizado, condensado numa fórmula, numa tensão dramática. Digo “fórmula” como poderia dizer “modelo”. Certas fórmulas, certos modelos construídos pela ciência têm a virtude de condensar e de representar uma realidade “ausente”. A fórmula final de Einstein sobre a relatividade sintetiza e representa uma realidade que se presentifica e se torna compreensível na equação exposta E=mc². Na época da escrita da tese eu não havia entrado a fundo na obra de Lévi-Strauss para saber como ele visualizava, como ele “dava a ver” a estrutura da organização social dos índios brasileiros, como extraía modelos sintéticos que explicavam a passagem do cru ao cozido e a passagem da natureza à cultura. De minha parte, conseguia visualizar, dar consistência estrutural e estruturante àquilo que antes estava esmaecido e não configurado. A fórmula, a equação, o modelo que a obra do poeta sugeria era este: estava diante de um fluxo contínuo no tempo e espaço e de um ator específico que representava uma peça de teatro em três atos: 1. Eu maior que o mundo (“Mundo mundo vasto mundo/ mais vasto é meu coração”, Poema de sete faces); 2. Eu menor que o mundo (“Não, meu coração não é maior que o mundo/ É muito menor”, Mundo grande); 3. Eu igual ao mundo (“O mundo é grande e pequeno”, Caso do vestido). As palavras dessa “equação” eram do poeta. Como um analista, eu estava pontuando para o paciente o que ele mesmo dizia. Essas palavras estavam dispersas na obra, mas faziam parte de um sistema rigoroso, tão rigoroso quanto é o sistema que coordena o caos do inconsciente. E as dezenas de temas e tópicos de sua obra passavam por esses três momentos com características muito especiais (as imagens continuadas, por exemplo) que reafirmavam o conjunto. As três divisões ou fases da obra do poeta podiam ser vistas de outra maneira e não se limitavam à cronologia e aos títulos dos seus livros. 15. Nessas alturas eu não estava mais lidando com as díades, mas descobrindo as tríades. Não estava apenas reunindo os pares, mas percebendo outro elemento mediador tempo/espaço que tornava visível o sistema que tinha à minha frente. Havia passado do dois ao três. Da antítese à dialética. Forçoso é introduzir aqui uma obsevação sobre essa leitura regressiva e progressiva que estou realizando. Digo “estou” porque ela continua a ser feita não apenas entre 1965 e 1969, não apenas enquanto dava aquele curso na Casa do Saber, mas, espantosamente, continua a ser realizada. Quero dizer, por exemplo, que este texto já estava pronto quando certa noite, numa insônia significativa, veiome ao espírito claramente que em minha tese eu havia feito (sem me dar conta) a passagem do dois ao três, da díade à tríade como um salto dialético e metodológico. Se isto estava na tese original, era somente agora que, de repente, isto se formalizava ao meu espírito. Foi como se a formalização crescente e latente em meu estudo agora se tornasse mais visível. E essa tríade era verificável não só naqueles três momentos “eu>mundo”, “eu<mundo” e “eu=mundo”; ela se configurava ainda de outra forma, que tento explicar: a crítica, em geral, sempre viu na obra de Drummond a existência de três fases, nomeadas “irônica”, “social” e “metafísica”. De certa maneira, isto corresponde aos fatos textuais. No entanto, essa classificação é muito frouxa, impressionista e óbvia. A rigor, é até imperfeita, pois a obra posterior do poeta de “sete faces” desdobra-se em outras facetas. Poder-se-ia, nessa linha, dizer, por exemplo, que depois da fase metafísica viria a fase da memória, ou da redescoberta da estória pessoal e da história nacional, ou, enfim, da criação singular “diário poético” em que se convertem seus últimos livros. Mas isto é uma observação sem formalização. Já a formalização da tríade ajuda a melhor entender o projeto poético em andamento. Aqueles três momentos do Eu e o Mundo são paradigmas que abrigam algumas metamorfoses de sua poesia e abrangem toda a obra. Tomemos a título de exemplo os elementos (alguns) amplamente estudados no livro: as metáforas aquáticas, os referentes visuais e os elementos topológicos vistos agora nesta diposição triádica: Eu>Mundo Eu<Mundo Eu=Mundo lagoa rio mar espiar ver contemplar janela rua avenida Dou esses três exemplos como poderia indicar a transmutação triádica de ironia/drama/ compreensão ou província/cidade/ memória. O fato é que uma série de elementos que identifiquei no trajeto do gauche configura a tríade como elemento da maturidade do personagem. Se a díade (como impasse) psicologicamente marca a relação primeira (da mãe do bebê) e geometricamente refere-se à bidimencionalidade, a tríade não apenas supera os elementos antitéticos, mas refere-se à harmonia possível na escala humana. 16. Nesse contexto estruturante e estrutural, nessa visão sistêmica da obra, foi ficando claro (com Heidegger) que o verbo entendido como Zeitwort (palavra carregada de temporalidade) era elemento importante para se compreender o movimento do personagem gauche que saía de seu canto provinciano para a metrópole/necrópole de seu tempo, expondo-se tanto à destruição (física) quanto à construção (metafísica) do conhecimento poético. Já não era mais questão de analisar os substantivos e as adjetivações, mas redescobrir o verbo drummoniano em sua potencialidade. Não bastava falar, aludir; imperioso era demonstrar objetivamente. Havia que analisar os verbos. Uma pesquisa mostrava que verbos como procurar, pesquisar, andar, seguir, carregar, pisar, ir, vir, perder, caminhar, nadar, deslizar, viver, viajar, amar tinham importância no deslocamento do personagem. Alguns poemas, nesse sentido, eram exemplares, como A um hotel em demolição, no qual a partir da afirmativa “todo hotel é fluir” anotei dezenas de termos relativos ao fluxo e à destruição. 17. Aos verbos e seu sentido de fluxo contrapunham-se (aparentemente) os substantivos, que deveriam ser o lugar da retenção do tempo e do fluxo: corpo, bolso, quarto, espelho, retrato, gaveta, cofre, baú, mala, urna, casas, edifícios, cidades. E esses substantivos davam notícia da catástrofe humana do indivíduo exposto à destruição no tempo. Por outro lado, a categorização de Bachelard ao perceber na poética do espaço “objetos que se abrem”, “objetos-sujeitos” e “objetos mistos” ajudou a formalizar a pesquisa. Na verdade, o fluxo/destruição do indivíduo no tempo/espaço passou a ser compensado pela memória, Maeterlink, e de Les fouberies de Scapin, de Molière, recebendo esta última novamente o Prêmio Padre Ventura. Aposenta-se como chefe de seção da DPHAN, após 35 anos de serviço público. 1969 — Deixa o Correio da Manhã e começa a escrever para o Jornal do Brasil. Publica Reunião. mas em 2 LPs lançados pela Polygram. É publicada na Bulgária a antologia Sentimento do mundo. 1970 — Publica Caminhos de João Brandão. 1963 — Recebe os Prêmios Fernando Chinaglia, da União Brasileira de Escritores, e Luísa Cláudio de Sousa, do PEN Clube do Brasil, pelo livro Lição de coisas. Inicia o programa Cadeira de Balanço na Rádio Ministério da Educação. 1971 — Publica Seleta em prosa e verso. Poemas é lançado em Cuba. 1978 — Publica 70 historinhas e O marginal Clorindo Gato. Saem na Argentina Amar-amargo e El poder ultrajoven. 1964 — Publica a primeira edição de Obra completa, pela Aguilar. 1965 — Seus livros saem em Portugal, Estados Unidos e Alemanha. 1972 — Publica O poder ultrajovem. Os principais jornais brasileiros publicam suplementos comemorativos do 70º aniversário do poeta. 1973 — Publica As impurezas do branco, Menino Antigo - Boitempo II. Tem livros publicados na França e na Argentina. 1966 — Publica Cadeira de balanço. 1974 — Recebe o Prêmio de Poesia da Associação Paulista de Críticos Literários. 1967 — Publica Versiprosa, José & outros e Brasil, terra e alma. Mundo vasto mundo é publicado na Argentina. 1975 — Publica Amor, Amores. Recebe o Prêmio Nacional Walmap de Literatura. Recusa o Prêmio Brasília de Literatura, da Fundação Cultural do Distrito Federal. 1968 — Publica Boitempo & A falta que ama. 1977 — Publica A visita, Discurso de primavera e algumas sombras e Os dias lindos. Grava 42 poe- 1979 — Publica Esquecer para lembrar — Boitempo III. 1980 — Recebe os Prêmios Estácio de Sá, de jornalismo, e Morgado Mateus (Portugal), de poesia. Publica A paixão medida. Tem obras traduzidas na Suécia, Estados Unidos e Holanda. 1981 — Publica Contos plausíveis e O pipoqueiro da esquina. Sai a Edição inglesa de The minus sign. 1982 — Aniversário de 80 anos do poeta. São realizadas exposições comemorativas na Biblioteca Nacional e na Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Os principais jornais do Brasil publicam suplementos comemorando a data. Recebe o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sai a edição mexicana de Poemas. Publica A lição do amigo. 147 • juLho_2012 15 pela palavra poética capaz de restaurar metafisicamente o que fisicamente vai se desintegrando. 18. O estudo da memória, do além do tempo/espaço, conduziu inevitavelmente à indagação sobre o tudo e o nada. O poeta que na segunda fase havia dito “o tempo é minha matéria”, ao final vai dizer “minha matéria é o nada”. Memória é forma de re-sentir, de repetir, recriar, mas em outro plano. A partir do livro Boitempo isto vai se cristalizar. A província (o passado) é restaurada afetivamente, não mais ironicamente como nos primeiros livros. O poeta não espia; desenvolve o agudo olhar, contempla. Agora sim faz mais sentido a epígrafe de Claro enigma: “os acontecimentos me entediam”. Já se sentindo além do tempo, ultrapassado o conflito do claro/escuro, no plano da memória há uma luminosidade intemporal da rosa, do diamante, da flor. O gauche que antes dizia “fique torto no seu canto”, agora, estrapolando as categorias de tempo, dirá: “Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso/ e talhado em penumbra sou e não sou, mas sou”. 19. Depois de ter enfrentado a delicada e sofisticada questão do “nada”, da “recusa” às soluções fáceis para a solução (relativa) do mistério e do enigma, havia que aprofundar uma questão exposta no tema da destruição: a morte. A morte que estava presente nas casas, no corpo, nos edifícios, na cidade, nos amigos que se vão, no amor e na própria poesia. Evidentemente esse personagem se comportava como “um ser para a morte”. Acordar para a morte, um despertar crescente da consciência no tempo. Conhecer a morte como modo poético de alongar a vida. Neste sentido, o pensamento de Heidegger em O ser e o tempo e em Intro- dução à metafísica instrumentalizava a compreensão dessa poética: o gauche é aquele “estranho” a que se referia Heidegger (das Heimliche) que sai e se retira do “familiar, caseiro, íntimo” e, como o personagem decantado no coro da Antígona de Sófocles, encontra na morte a aporia final. 20. Heidegger, que tanto estudou a linguagem poética de Píndaro, Hölderlin e Sófocles — aproximando o poeta e o filósofo, achava que a poesia era um exercício de conhecimento —, me oferecia ainda alguns conceitos muito operacionais. A poesia de Drummond se refere a inquérito, busca, procura, segredos, símbolos, mistérios e enigmas. Num dos poemas, indaga: “trouxeste a chave?”. E ele mesmo diz: “é mal dos enigmas não se decifrarem a si próprios”. Também assevera: “o enigma tende a paralisar o mundo”. E eu diria: o enigma tende a paralisar a leitura, a compreensão do texto. Portanto, há que decifrá-lo. Há um deslocar-se, um encaminhar-se do canto escuro e provinciano do indivíduo para a pólis de seu tempo. E dois instrumentos heideggerianos me foram úteis: 20.1. Primeiro, o conceito de poesia como logos (“reunião revelante”). Diz Heidegger: “quem é o homem, não chegaremos a saber por meio de uma definição erudita senão poetando originariamente, fundando poeticamente”. E como não bastasse o caráter sistêmico de sua obra, e junto com a pesquisa verbal e existencial, constatei que Drummond nomeou significativamente sua poesia completa de Reunião. Uma reveladora coincidência entre o poeta e o filosófo. 20.2. Por outro lado, o conceito de obra como projectum (um constante lançar-se à frente de si mesmo) estava em consonância com o périplo desenhado pelo gauche nos três atos de sua relação com o mundo. 20.3. Igualmente, a noção de “destruição” em Drummond dialogava com a mesma noção no pensamento heideggeriano. E mais ainda com os conceitos de “ruína” e até de “fama”. drummond por ramon muniz 20.4. Também o conceito de aporia (presente em Sófocles e Heidegger), ao mesmo tempo em que dava um sentido superior ao poema Áporo, coadunava com o conceito de estranho (gauche/displaced), aquele que é expulso do que lhe é familiar (gauche) e encontrava ressonância na questão do homem como ser para a morte. Releva observar que tecnicamente eu não estava mais fazendo simplesmente um estudo comparado entre filosofia e literatura. Estava trazendo para dentro do estudo literário instrumentos da filosofia, e não levando a literatura para fora de si mesma. 21. Finalmente, um conceito existente na psicologia, na religião e, sobretudo, na literatura vinha completar esse quebra-cabeça e esclarecer os enigmas enfrentados: epifania. Cito, então, autores modernos como Joyce e Eliot que tinham consciência deste fenômeno. Filósofos racionalistas como Descartes experimentaram essa dimensão do conhecimento até naquele sonho de 1619 que gerou O discurso do método. Em nossa literatura, Clarice Lispector (como mostrei posteriormente em diversas análises) era uma autora epifânica. A epifania, enfim, reunia os conceitos tomistas de integritas, proportion e claritas que iriam explicar o classicismo de Drummond. Se epifania tem três acepções confluentes — a revelação súbita de uma verdade (psicologia), revelação de Cristo aos gentios (religião) e a obra de arte como revelação —, em Drummond havia uma epifania em progresso. Se a obra, como na epifania, tinha vários pontos luminosos, alguns poemas, aqui e ali, irradiavam mais luminosidade. Assim, poemas que haviam sido analisados apenas estilisticamente, apenas retoricamente, passavam para outra dimensão até que se chegasse ao clássico. A máquina do mundo extrapola a temática de Camões ou o diálogo com Dante e deve ser analisado junto com Relógio do rosário: em ambos a “recusa” da solução absoluta do enigma é fundamental para esclarecer dialeticamente o próprio sentido do enigma. Curso/percurso Se é dificil refazer o curso dado na Casa do Saber, impossível é sintetizar o livro ou a metodologia utilizada na análise da obra de Carlos Drummond de Andrade. Se no tempo em que fiz tal análise havia uns seiscentos artigos e estudos sobre o poeta, hoje talvez sejam seis mil. E minha análise, pelo número de edições desse livro, pela permanência na bibliografia crítica do poeta, parece resistir. E há um dado intrigante que não posso deixar de lembrar: depois de 1969, quando meu livro ficou pronto, o poeta publicou várias obras novas. Lembro-me que quando eu lecionava na Universidade da Califórnia (1965-1967) um professor me perguntou se não temia fazer uma tese sobre um autor vivo cuja obra estava em construção. A pergunta não era de todo estúrdia. No entanto, eu estava localizando um tipo de estrutura intemporal da obra que não era invenção minha. Se Hölderlin dizia que “odeia o Deus sensato o crescimento intempestivo”, eu sabia que estava lidando com um autor que não dava “saltos intempestivos”. Pois os livros posteriores vieram confirmar e aprofundar os modelos propostos. No entanto, mais de 40 anos depois, em 2012, 110 anos do nascimento do poeta, ao terminar o curso na Casa do Saber, uma aluna que por coincidência foi minha colega de turma na saudosa Faculdade de Letras da UFMG, Heloisa Carvalho, contou-me espontaneamente que certa feita, aqui no Rio, encontrou o poeta no elevador. E não tendo o que lhe dizer, mas querendo se comunicar, falou: — Eu queria lhe dizer que fui colega de faculdade do Affonso Romano de Sant’Anna, que escreveu uma tese sobre o senhor. Drummond prontamente respondeu: — Pois é, minha filha, ele me desparafusou todo… Eu já tinha ouvido do poeta essa declaração, já tinha lido isto na imprensa, e para mim soou mais como a confirmação de afinidades, da eficiência do método utilizado. Sabia que o poeta indicava minha tese como modelo a ser seguido para aqueles que queriam também fazer tese sobre ele. Ou seja, meu método de trabalho não era um método exterior à obra, mas um método surgido das entranhas da obra num diálogo com o olho do observador. Um método que somava contribuições interdisciplinares várias, mas as trazia para dentro do campo literário, fazendo o texto falar suas potencialidades. Diria que essa preocupação estruturante sempre esteve presente em meu espírito, antes e depois do estruturalismo. Exemplo posterior é Barroco: do quadrado à elipse (2000), no qual proponho um novo modelo de interpretação do Barroco (ontem e hoje, nos vários campos do conhecimento) a partir da derivação do quadrado e do círculo para a elipse. Já em Análise estrutural de romances brasileiros (1972), construí dois modelos interpretativos não como ponto de chegada, mas como ponto de partida para a análise. Sobretudo, minha peripécia ao analisar a obra de Drummond excedia à comum declaração de amor a um autor, extrapolava o dever de uma tese universitária e, como eu dizia na introdução do livro, “decifrar o enigma do poeta identificou-se com o decifrar o enigma de todo homem, e o meu próprio”. Daí aquela experiência epifânica que narrei numa crônica e que transcrevo aqui como forma de exprimir o inexprimível da experiência poética. Reedições 1983 — Declina do troféu Juca Pato. Sai Nova reunião (19 livros de poesia), último livro do poeta publicado, em vida, pela José Olympio. Publica o infantil O elefante. 1984 — Assina contrato com a editora Record, que publica sua obra até 2011. Após 64 anos dedicados ao jornalismo, encerra sua carreira de cronista regu- 1987 — É homenageado pela escola de samba Estação Primeira de Mangueira com o samba-enredo “No reino das palavras”, que vence o Carnaval de 1987. No dia 5 de agosto, morre sua filha, Maria Julieta, vítima de câncer. Drummond morre em 17 de agosto. Antologia poética A rosa do povo Companhia das Letras 344 págs. Companhia das Letras 200 págs. Claro enigma Sentimento do mundo Companhia das Letras 144 págs. Companhia das Letras 88 págs. Contos de aprendiz Confissões de Minas Companhia das Letras 160 págs. Cosac Naify 336 págs. Fala, amendoeira Os 25 poemas da triste alegria Companhia das Letras 216 págs. As impurezas do branco lar. Publica Boca de luar e Corpo. Companhia das Letras 168 págs. 1985 — Publica Amar se aprende amando, O observador no escritório, História de dois amores e Amor, sinal estranho. José 1986 — Publica Tempo, vida, poesia. Sai a edição inglesa de Travelling in the family. Sofrendo de insuficiência cardíaca, passa mais de dez dias hospitalizado. Companhia das Letras 88 págs. Menino Drummond 2012 — Sua obra completa começa a ser reeditada pela Companhia das Letras. Companhia das Letras 56 págs. Cosac Naify 144 págs. Passeios na ilha Cosac Naify 343 págs. Poesia traduzida Cosac Naify 448 págs. 147 • juLho_2012 RUÍDO BRANCO : : Luiz Bras 16 Abraço de assombração (1) QUEM SOMOS U m fantasma me assombra há décadas e eu demorei pra descobrir. Como isso é possível: não perceber uma força invisível cercando nossos movimentos, mexendo com as emoções, bulindo nas idéias? Um fantasma da pior espécie: subreptício. Sem gritos nem sustos. Capaz de desestabilizar o cotidiano, quase sem ser percebido. Assustando e acordando no homem maduro a juventude adormecida. Os mais velhos falam muito nisto: é preciso acordar a juventude adormecida, a criança interior. Mas quando a criança interior finalmente se manifesta não há quem não fique envergonhado. Descobri o fantasma há pouquíssimo tempo, quase sem querer. Seu nome é Ray Bradbury e ele insiste em me constranger em público. Percebi sua existência no intervalo indolente entre dois compromissos. Eu estava num shopping, fazendo hora depois do almoço. O corpo pesado queria um divã ou uma chaise longue. Uma poltrona já servia. Mas todos os assentos espalhados nos corredores estavam ocupados. Entrei numa livraria, pois o tempo sempre passa mais rápido quando estou numa livraria. Zanzei entre as gôndolas e as estantes sem tocar em nada, apenas registrando mentalmente os lançamentos. Na seção de crítica literária e biografia flagrei uma poltrona desocupada. Acelerei o passo, precisava chegar lá antes de outro indolente melhor posicionado ou mais rápido do que eu (um preguiçoso rápido, que tipo de mutante será esse?). No meio do caminho uma imagem retangular interceptou meu olhar, freando minha investida. Uma capa de livro, não de super-herói. Vários alunos haviam falado com entusiasmo do livro que agora se interpunha entre mim e o conforto físico: O zen e a arte da escrita. Finalmente nos encontramos. Mas foi um namoro rápido. Folheei, passei os olhos pelo sumário e por três ou quatro parágrafos, coloquei de volta na estante. A poltrona ainda estava milagrosamente vazia. Soltei o corpo sobre o assento macio, encostei gostoso, afrou- xei as articulações, larguei meus braços nos braços estofados. O fantasma sentou comigo. Tentei não pensar em nada, simplesmente relaxar por 15 minutos, mas o fantasma não deixou. Dessa vez ele foi tão indiscreto e inconveniente que finalmente aconteceu o que não havia acontecido nas inúmeras vezes passadas. Dessa vez eu notei sua existência. Ray Bradbury é o escritor mais suave e descomplicado que já li, sua doçura é à prova de balas. Em seus contos, romances e poemas, e também em suas peças teatrais, não há nada, trama ou personagem, exageradamente matizado ou ambíguo. Fato veraz: num mundo complexo e malicioso, em que a inocência é sempre condenada à humilhação e à morte, a literatura de Ray Bradbury jamais encontrará guarida. Ao menos não nas mentes mais nobres e pretensiosas. A complexidade e a malícia do nosso tempo pedem autores e livros igualmente complexos e maliciosos. É preciso ser autêntico, genuíno, verdadeiro, dizem os especialistas. E a autenticidade, ainda segundo os especialistas, está na representação fiel e detalhada do drama humano, nada suave, nada descomplicado. Ray Bradbury não é um investigador das profundezas da linguagem e da sociedade. Ele não pertence à ilustre família dos mestres da suspeita, que denunciam nosso condicionamento histórico. Ele vive sozinho, isolado, mesmo na específica família da ficção científica. Um abismo o separa, por exemplo, dos primos mais chegados: Ursula K. Le Guin, Robert Heinlein, Philip K. Dick e Robert Silverberg, cuja obra, mais próxima da autenticidade pedida pelos especialistas, versa especialmente sobre a crueldade e o cinismo. Seu isolamento se deve, tenho certeza, ao binômio mencionado acima: suavidade e descomplicação. Até mesmo quando passeia por outros lugares — trocando a ficção científica pela fantasia, pela aventura, pelo fantástico, pelo suspense, pelo horror, pela ficção psicológica — suas características continuam inalteradas. Muita gente considera Ray Brad- CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO bury “o poeta da ficção científica”, elogiocrítica que aproxima e afasta com igual intensidade e freqüência. Aproxima os leitores que, num conto ou romance, valorizam mais a subjetividade literária do que o rigor científico, e afasta os que valorizam mais o rigor científico do que a subjetividade literária. Mas mesmo os que pensam que estão elogiando o escritor chamando-o de poeta, estão na verdade prestando um desserviço à sua obra. Se estivessem minimamente familiarizados com esse gênero tão antigo, a poesia, não falariam isso. Nem sequer os poemas escritos por ele têm muito a ver com o que os especialistas chamam de poesia. Existe uma complexidade e uma malícia teóricas muito específicas na lírica dos últimos 100 anos que os poemas de Ray Bradbury não alcançam, muito menos suas ficções. Não alcançam porque não querem alcançar. Não precisam. Seu projeto é outro. Umberto Eco não foi o único especialista a desqualificar a obra de Ray Bradbury, mas certamente foi o mais categórico. O celebrado crítico italiano, no final do artigo A estrutura do mau gosto, incluído na não menos celebrada coletânea Apocalípticos e integrados (1964), xingou de kitsch — esse, o pior palavrão no universo da arte — o estilo suave e descomplicado do escritor norte-americano. O que responder, como rechaçar tão infame acusação? Não respondendo nada, não rechaçando nada. Afinal, é verdade, boa parte das páginas de Ray Bradbury é francamente kitsch, vale dizer, nostálgica, sentimental e superficial. Porém, tudo indica que essa categoria estética — o kitsch — já não é tão odiada hoje quanto na turbulenta década de 1960. Com o arrefecimento das últimas vanguardas, quem diria, os especialistas pararam de recorrer a ela com tanta freqüência, porque o mundo todo se tornou um imenso playground kitsch. O que no modernismo era o pior dos insultos, no pós-modernismo é o supremo elogio: ser kitsch hoje é ser autêntico, genuíno, verdadeiro. Olhe em volta, observe a literatuEDIÇÕES ANTERIORES COLUNISTAS DOM CASMURRO CARTAS ra, as artes plásticas, o teatro, a música e o cinema contemporâneos. Não há mais escritores e artistas que não exercitem, em maior ou menor grau, a nostalgia, o sentimentalismo e a superficialidade. Tempos mais tarde, ao dividir-se em dois — crítico e ficcionista —, o próprio Umberto Eco entregou-se às delícias do mau gosto, escrevendo saborosos best-sellers kitsch. (Em outra oportunidade planejo defender a seguinte analogia: Umberto Eco está para a crítica cultural assim como Ray Bradbury está para a literatura. O que isso quer dizer? Que os artigos e ensaios de Eco sobre a indústria cultural, os meios de comunicação, a filosofia da linguagem e outros temas afins, são suaves e descomplicados, agradáveis e deleitosos, se comparados com as reflexões muito mais densas e complexas de gente como Roland Barthes e Gilles Deleuze. Certamente esse é o principal motivo de eu ainda gostar de reler seus antigos livros de teoria, principalmente Apocalípticos e integrados e Viagem na irrealidade cotidiana, de 1983. Eco e Bradbury estão lado a lado, distantes de Deleuze e Joyce, que estão lado a lado em outro ponto do contínuo espaço-temporal.) Conheci Ray Bradbury em minha adolescência interiorana, muito distante da civilização. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Ele e seus primos logo ocuparam todo o pouco espaço disponível para os livros em minha casa e em minha cabeça. Espaço que foi aumentando com o passar dos anos, subtraindo da televisão boa parte de seu vasto território. Ray Bradbury e seus comparsas — principalmente Asimov e Heinlein —chegaram e simplesmente eclipsaram todo o universo de livros chamado literatura juvenil. Eu só fui saber que existia isso — a literatura juvenil, os livros escritos especificamente para os jovens — séculos mais tarde. Devo ser o único cidadão de minha idade que nunca leu um só título da festejada coleção Vaga-Lume. ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO “Garota corta o cabelo e se veste de homem para alistar-se no Exército Brasileiro e lutar contra as tropas portuguesas...” Esta e outras histórias podem ser contadas por você! Concorra a 10 mil reais, além da publicação da sua obra! XXXGQDCBHPWCS ES 147 • juLho_2012 INQUÉRITO : : Cíntia Moscovich 17 Uma certa paz QUEM SOMOS CONTATO N COLUNISTAS DOM CASMURRO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS • Qual o maior inimigo de um escritor? Perigos demais. O maior inimigo, sem sombra de dúvida, é o mundo e esse chamado perpétuo ao hedonismo. Um escritor é um profissional que cumpre regulamentos internos e singulares e que gosta, muito, dos prazeres mundanos, como o não fazer nada, por exemplo. O ócio, e cito Domenico de Masi sem ter lido, é o céu e o inferno: a criação só se dá naquele estado de leveza interior e descompromissada. Mas esse mesmo estado de “desobrigação” pode levar a dispersões, que nada têm a ver com a literatura. Outro perigo que ronda o escritor é a presunção e o excesso de autoconfiança. Melhor ser inseguro e neurótico do que ser um prepotente plácido e idiota. Sempre que eu tive convicções daquelas de pedra me dei mal. Aprendi a baixar a cabeça, a regular o facho e a ser humilde, no sentido de valorizar a opinião alheia e aumentar a autocrítica. CARTAS PAIOL LITERÁRIO ascida em 15 de março de 1958 em Porto Alegre (RS), Cíntia Moscovich é escritora, jornalista e mestre em Teoria Literária, tendo exercido atividades de professora, tradutora, consultora literária, revisora, jornalista e assessora de imprensa. O reino das cebolas, sua primeira obra individual, foi publicado em 1996. Em seguida, vieram o romance Por que sou gorda, mamãe? e dois trabalhos vencedores do Prêmio Açorianos de Literatura: a novela Duas iguais — Manual de amores e equívocos assemelhados e o livro de contos Anotações durante o incêndio, que reúne onze textos de temáticas diversas, com destaque ao judaísmo e à condição feminina. Nesta breve conversa, Cíntia relata suas manias e obsessões — e não são poucas — em busca da paz necessária à escrita para, quem sabe, achar a transcendência em algum lugar. • Quando se deu conta de que queria ser escritora? Desde pequena, menina ainda, tinha essa atração. Não sabia que queria ser escritora, mesmo. Aliás, eu nem imaginava que alguém podia decidir ser escritor. De certeza, eu só tinha que queria escrever. • Quais são suas manias e obsessões literárias? Manias? Poxa, um zilhão delas. Para ler ou escrever, tem de estar tudo em silêncio, não tolero nem o caminhar dos gatos. A página do Word deve estar formatada como eu gosto, com texto justificado, fonte Arial, 12, com todos os caracteres não imprimíveis aparentes. Não posso ter horário para acabar a sessão de escrita. Não consigo escrever com gente por perto (é como ir ao banheiro, a gente sempre fecha a porta). Desde que parei de fumar, tenho que ter à mão café, chá ou chimarrão. Ou tudo junto. E jamais escrevo se tiver bebido uma gota de álcool. Nas horas mais difíceis, quando a coisa não vai, confesso que meu expediente é pegar um par de óculos do pai para me dar segurança e imaginação. Ajuda muito. • Que leitura é imprescindível no seu dia-a-dia? Jornal. E revistas de decoração. PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO Reprodução • Quais são as circunstâncias ideais para escrever? Acho que falei um pouco acima, na questão sobre as obsessões. Mas a melhor coisa do mundo para escrever é mesmo a paz e o silêncio. De preferência com pouca roupa, temperatura agradável. No inverno, tenho que ter um tapete. E todos os meus bichos em volta de mim. A paz da qual eu falo é a paz interior mesmo, aquela coisa zen, que nada tem a ver com metafísicas. Tem a ver com concentração e dedicação ao que se está fazendo. Só consigo escrever muito concentrada no próprio texto. E meu estado anímico tem de ser de envolvimento total. Escrever é muito sério para ser feito com leviandade, no joelho. • Quais são as circunstâncias ideais de leitura? São semelhantes às de escritura. Mas posso ler em qualquer lugar. Avião é excelente. Praia é maravilhoso. • O que considera um dia de trabalho produtivo? Faz tempo, muito tempo que não tenho um dia assim, de sentir que o dia rendeu. Muito por causa de uma creche que se mudou para o lado de minha casa e, enquanto as crianças e professores berram nove horas por dia e se discute na Justiça a solução para um problema que um pouco de bom senso resolveria, escrevo quando dá, na madrugada, depois do horário em que a creche funciona. Mas um dia de trabalho produtivo era, em suma, aquele que, à hora da janta, eu tinha pelo menos encaminhado o texto, sintonizado linguagem com idéia. E tinha, antes de tudo, conseguido ler e ter dado uma volta entre minhas plantas, que era quando eu podia pensar. • O que lhe dá mais prazer no processo de escrita? Três momentos de ouro: quando sinto que vou chegar perto do que eu queria escrever, que vai dar, que o caminho é assim ou assado, que é por ali. Isso não significa que vai dar certo, que o texto vai ser bom. Apenas significa que há uma espécie de coerência interna do texto, à qual a gente chegou sabe Deus como, fugindo de clichês e soluções óbvias. Dali por diante escrever é prazer, sim. O segundo momento é depois do ponto final, quando começa o trabalho de reescritura, a parte braçal, que eu adoro. E quando o texto finalmente é publicado. Vezes houve em que me pareceu um milagre conseguir ter escrito. • O que mais lhe incomoda no meio literário? Os excessos. Excesso de gente pedindo opiniãozinha e colocando na mão da gente originais de mil páginas. Excesso de citação de célebres e famosos. Excesso de convites para falar para gente desinteressada no que a gente tem a dizer. Entre meus pares, odeio o cara que, sem ser perguntado, começa a falar o que está escrevendo: é uma intimidade que não quero com alguns autores e é uma resposta que precisa de uma pergunta. Não gosto de falar de minha literatura e nem de dizer o que estou escrevendo. Sobre isso, só consigo falar com quatro pessoas no mundo. Com escritores amigos, gosto de falar de jardinagem, tomar cerveja, dar risada e falar de literatura e de outros autores. O que mais gosto é poder ficar em silêncio. • Um autor em quem se deveria prestar mais atenção. Monique Revillion. Uma jóia. Publicou uma pérola chamada Teresa, que esperava as uvas. É gaúcha. • Um livro imprescindível e um descartável. Laços de família, da Clarice, é imprescindível. Descartáveis? Já perdi a conta. • Que defeito é capaz de destruir ou comprometer um livro? A pretensão. • Que assunto nunca entraria em sua literatura? Não consigo encontrar um assunto sobre o qual não escreveria. Talvez sobre violência sexual. Mas por que não sobre violência sexual? • Qual foi o canto mais inusitado de onde tirou inspiração? De uma gôndola de supermercado, na parte das verduras. Uma empregada doméstica que escolhia alface. Tive a idéia na hora. • Quando a inspiração não vem... Leio. Mexo na terra. Ando de bicicleta. Leio de novo. Leio, leio, leio. • O que é um bom leitor? É o sujeito que consegue ler inclusive a entrelinha e o subentendido. E que é capaz de me dizer por que, dentro do texto, gostou ou não do que leu. • O que te dá medo? Morrer sem ter escrito tudo o que eu quero escrever e sem ter paz na minha casa. • O que te faz feliz? Sério? Um dia de trabalho e, de noite, ver tevê com o marido e os bichos em volta. A vida vira um troço transcendente nessas horas. Churrasco em casa me faz feliz. E silêncio e passarinho cantando. Tenho algumas manias naturebas. • Qual dúvida ou certeza guia seu trabalho? Certeza? Nenhuma, a não ser a de que bom resultado só se consegue mediante aquilo que o Sergio Faraco chama de “horas-bunda”. Tem uma dúvida eterna: a quem vai interessar isso que estou escrevendo? E a quem quero interessar? • Qual a sua maior preocupação ao escrever? Precisão e sentimento. Meu texto tem de ser preciso mas não pode ser insosso e protocolar. • A literatura tem alguma obrigação? Nenhuma. Credo. A obrigação da literatura é ser boa. • Qual o limite da ficção? Não há limites. E isso é uma espécie de terror. • O que lhe dá forças para escrever? Não sei. Mas acho que escrevo porque é a coisa que sei fazer melhor no mundo. Me dá forças saber que faço alguma coisa razoavelmente bem e que isso toca as pessoas de alguma forma. Também me dá forças o fato de achar que vivemos num final de mundo e que tenho de buscar a transcendência em algum lugar. Preciso. Só mesmo escrevendo. • Se um ET aparecesse na sua frente e pedisse “leve-me ao seu líder”, a quem você o levaria? Não sei, não levaria o ET para ninguém. Coisa mais chata. Por que todo alienígena quer falar com o líder? • O que você espera da eternidade? A eternidade é muito grande para eu pensar nela. Mas eu queria que meus livros permanecessem. E que houvesse vida depois da morte, para eu encontrar com meu pai, meus avós e tios que se foram. E que no lugar em que todo mundo se encontrasse eu tivesse minha casa, meu marido e meus bichos e pudesse, finalmente, ler e escrever em paz. E tomar cerveja sem engordar. CHEGA DE SAUDADE! O Vida Breve está de volta. Uma crônica. Um ilustrador. De segunda a sábado. SEGUNDA-FEIRA Cronista: Rogério Pereira Ilustrador: Theo Szczepanski SEXTA-FEIRA Cronista: Humberto Werneck Ilustrador: Felipe Rodrigues TERÇA-FEIRA Cronista: Eliane Brum Ilustradora: Carolina Vigna-Marú SÁBADO Cronista: Marcia Tiburi Ilustrador: Rafa Camargo QUARTA-FEIRA Cronista: Fabrício Carpinejar Ilustradora: Cínthya Verri E DOMINGO É DIA DE VISITA. Aguardem nossos convidados. QUINTA-FEIRA Cronista: Luís Henrique Pellanda Ilustrador: Simon Ducroquet www.vidabreve.com.br 147 • juLho_2012 18 FORA DE SEQUÊNCIA : : Fernando Monteiro Mínimas falésias F QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS alésias mínimas, ilusões da praia cega: os pequenos pés fugindo da areia quente, entre o mar e o rio da tua alegre curiosidade ali, longe da indiferença dos indiferentes. [Pergunta-se: só há indiferentes, agora? Indiferentes hoje diferentes daqueles indiferentes de Moravia, os ainda não indiferentes à própria indiferença.] COLUNISTAS DOM CASMURRO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO “chorei (nem sei mais por quê), desci para o escuro onde havia lampejos de dentes das ondas em espuma, mas eu não ia me ‘jogar no mar’ como a moça daquela ciranda: vim do Recife/ um rapaz me perguntou/ se na ciranda que eu vou/ tem muita moça morena/ eu disse tem/ muita morena mulata/ dessas que a morte mata/ e depois chora com pena”... Ficava tão claro que você se sentia melhor na ausência de si mesma. Talvez desde antes de droga/sexo nas longas tardes matando aulas mortas por dentro, daquele modo peculiar de gerações — três, quatro? — que escolhiam Letras, Filosofia, Sociologia, somente porque alguma coisa havia que ser escolhida entre os prédios grafitados com tolices de “bluseiros e entendiados”... “...porque pensei que atordoamento podia me curar de mim. perdi sandálias, bolsas e uma parte de secreta inocência em noites suburbanas, você sabe tão bem que eu estremeço, nunca me vi vista assim por dentro, não lembro, não esqueceria, posso mergulhar na lama de um rio e sair limpa do outro lado, embora não acreditasse nisso quando mergulhava neles e deixava que mergulhassem em mim com os peixes podres do hálito.” Ainda mergulha. Mas olha errado para o céu, diretamente no branco acima das falésias, e o céu que não nos protege (“veja o filme e apareça”, lembra-se?) só responde aos olhares indiretos. E há que dar voltas e voltas pela Volterra das vagas estrelas acima de muralhas de pedras e não dos muros baixos que você transpôs com suburbana desenvoltura quase de desenho animado de tristeza no fundo da procura sem foco, a lama dos rios das febres noturnas escorregando pela pele interior que, eu suponho, você não ofereceria à voracidade brutal nos baixios. “não, eu não deixaria que vissem o meu espírito deitado como as divindades descalças deitavam num daqueles mitos que você me contou, entre um Santa Helena e um Monte Velho (eu não conhecia nenhum deles) em taças de cristal cuja delicadeza me maravilhou. eu tinha meus mistérios, eram tímidos e meus, e ninguém sabia. só viam o que queriam ver. e ter. eu não me importava e ia com eles. você foi o único que chegou pela estrada das músicas e dos filmes e livros que eu gostaria de ouvir, ver e ler sem precisar de bebida e droga para tentar entender que um solo de Chet Baker poderia estar falando de mim sob a escuridão do quarto fechado onde também ouvíamos os latidos dos cães perto do depósito do lixo e longe da cama molhada numa madrugada.” A “boa companhia” conhecedora de livros e filmes e ainda algumas histórias, de viagens para fora da fronteira do subúrbio de vícios do mar de gente que você gostaria de apagar da memória e da sala de areias e estantes de Filosofia a Erotismo. Percebi isso, e mais: o cálculo estranho que poderia se operar na tua cabeça capaz da matemática (?) relativizada do sentimento (??), como se fosse normal armazenar o espaço do sentimento: “estou gastando meu amor com você. será que vai restar para outros?”... De tanta coisa você nunca havia ouvido falar! Porém Zenóbia foi só uma soberana, mais uma, na história lateral dos desertos também secos, rainha derrotada pela brutalidade de Aureliano e seus soldados... “Aureliano?” Um imperador romano. E também para esquecer, eu escrevi um poema inspirado nos versos de um desconhecido poeta de Bizâncio chamado de Paulo, o Secretário: “eu escrevi isso?!” Escreveu. “sim, agora me lembro. pensei seriamente em apagar, mas não estava apagando nada, na realidade nem estava olhando para a tela, me sentia como um balão prestes a explodir, mas um balão bonitinho, um punhado de palavras saindo como o ar que sai de um balão que não quer explodir. esse lance dos atores. eu até tento ensaiar, mas dá um branco na hora do ensaio. e dá um branco também na hora de atuar. merda. eu nunca...” Nunca o quê? As frases incompletas, as coisas suspensas, as leituras confundidas, os filmes embaralhados entre bons e maus, na cabeça confundida por mais que vinho sob o olhar de Cleópatra na caixa da “quebra-de-braço” que eu não sei se ainda restará na estante mudada de areias das noites de vidros partidos e manhãs de domingos começando chuvosos no conjunto onde o carteiro havia passado a entregar cartas, livros, CDs e desenhos que pretendiam lhe falar de outros mundos, outras salas, outros quartos e outras gentes; enfim, tudo o que passou a chegar, e você pensou que pudesse ser alguma “espécie de truque”, quando era somente a gentileza que sempre te desconcerta... “gentilezas me desconcertam, realmente, porque eu não vivi entre gentis, não aprendi com delicadezas, mas com as asperezas das trocas e dos rasos impulsos em noites mais que imperfeitas” Falo do fundo das pequenas grosserias na profunda garganta seca, isso que até me comovia — mesmo quando a grosseria era um pouco mais do que grosseira. “Meu coração é mais antigo do que o teu.” Esquece a sabedoria confusa da medusa e lembra só do movimento de braços e pernas em melodia na dança que improvisou (em noite ainda mais perdida do que a lua dissolvendo-se na manhã pagã). Foi ao dissolvido som, sim, de Chet Baker desfeito entre as garagens de ferrugem acessíveis pela passagem para pedestres obscura como a madrugada de águas da deidade deitada se aliviando no escuro debaixo do ventilador de teto de areias úmidas do rio que não pode voltar, corre para o mar e se perde na chuva desta outra lua dos versos de Paulo (não o Apóstolo, mas o outro, “o Secretário”, autor de A Vida, conforme se lê): Cada manhã nascemos novamente, dia após dia, sem conservar a memória da vivida experiência. Tornamo-nos por completo estranhos, então, ao nosso ontem longínquo; de novo começamos a viver, pois tudo que já foi está perdido sob a lua e nada resgata a vida que ninguém pode dizer “é minha”. “tente esquecer” Oh, estou tentando pensar em coisas tão antigas quanto o reino perdido de Palmyra, o remoto oásis da Síria de Zenóbia, uma mulher sozinha que ousou desafiar um Império. Quem ainda pensa na solidão da... “nunca ouvi falar” NOTA: A respeito do autor de A Vida, só sabemos que “Paulo, o Secretário” foi um poeta de língua grega do século VI da Era Cristã que nos deixou alguns poemas plenos de uma sensibilidade de timbre quase moderno. A profissão do poeta, sempre colada ao seu nome nas poucas referências que restam, decerto se refere a algum cargo que terá exercido na corte bizantina. A voz em meio aos escombros : : Patricia Peterle Florianópolis – SC P latão em sua República, como todos devem lembrar, vê na figura do poeta uma ameaça à “ordem” da cidade e, justamente por isso, o expulsa. Esse texto e o gesto de Platão já foram também muito discutidos, mas o que está em jogo é o modo de se relacionar com o outro, consigo mesmo e com os mundos interior e exterior. A poesia seria uma ameaça para a república? A relação entre poesia e crise não é algo recente, já vem de longa data. Se pensarmos na autonomia da poesia — e portanto da literatura —, como se tentou por muito tempo, qual seria a ameaça desse discurso poético/literário? A poesia, com todas as suas possibilidades de verdades, não é mais vista por uma única perspectiva ou em busca da Verdade; ela é uma das forças motrizes do pensamento a partir do momento em que tem a capacidade de perceber os pontos escuros, os enigmas, e de se reinventar como linguagem ou linguagens, mesmo no silêncio. A sua inscrição na realidade é um corte muito mais profundo do que o de um gozo por um verso perfeito ou por uma bela rima. Pensar a poesia na “modernidade”, assumindo ser esta última “heterogênea e com sentidos contraditórios”, é a proposta do livro Poesia e crise, do pesquisador e poeta Marcos Siscar, que vê no último termo do título — crise — o traço fundador da modernidade. O livro reúne uma série de ensaios divididos em quatro seções: O discur- Poesia e crise Marcos Siscar Unicamp 306 págs. so da crise, Heranças da crise, Versões da História e A poesia e seus fins. Como coloca Siscar logo no final da primeira página: “[...] a poesia tem papel ativo na constituição de nossa relação com a linguagem e, sem dúvida alguma, de nossa relação com a realidade”. Realidade que não pode ser mais abraçada na sua totalidade, herança perdida no mundo das hiper-realidades, no qual não é mais possível sustentar uma única totalidade. Há, sim, a possibilidade de “tocar o real”, para lembrar as palavras de Alain Badiou, por meio dos inúmeros semblantes e avatares que a todo instantes são criados e “legitimados”. Poesia e crise, relação colocada por Siscar, também pode ser vista por outro ângulo, o da arte e estética. Isto a partir do momento em que a arte passou a ser vista e tratada como uma estética, um “gosto desinteressado”, e passou também a ser uma mercadoria — as relações entre arte e artista, espectador e técnica sofreram profundas transformações. E esta técnica muda os modos de produção, de habitar a cidade e de se relacionar com o outro. Nesse sentido, “a técnica deveria ser entendida não só como um conjunto de procedimentos desenvolvidos ou instrumentalizados pelo homem, mas como maneira pela qual ele se situa, se demarca como coisa do mundo, estabelecendo modos de fazer parte deste mundo”. Crise é o vocábulo que não demorou muito para se impor no campo artístico e literário. Segundo Siscar, ela é o aspecto essencial, fundacional da experiência da modernidade, na qual as ruínas e os escombros são elementos constantes do cenário e da atmosfera. De fato, em vários momentos, o poeta é para o estudioso (ele mesmo também poeta) “profeta dos escombros”; contudo, a poesia não se reduz a um mal-estar; ela tem a força, muitas vezes incomparável, de caracterizar, formalizar e explicitar, mesmo que de forma enigmática, os sentimentos de crise — que também podem ser identificados em textos de jornal, cartas e outros materiais partícipes da vida literária. Ao lado da crise, o crime é outro elemento da modernidade, como se evidencia em alguns trechos dedicados ao autor de O pintor da vida moderna. Analisando Uma mártir, de As flores do mal, temos as seguintes considerações: “O crime extrapola, aqui, a lógica da justiça dos magistrados, o interesse do senso comum ou a O AUTOR Marcos Siscar Doutor em Literatura Francesa pela Université de Paris VIII (1995), é professor de Teoria Literária da Unicamp e pesquisador do CNPq, trabalhando com temas relacionados à poesia (teoria, crítica e história da poesia brasileira e francesa). Traduziu obras de Tristan Corbière, Michel Deguy e Jacques Roubaud, entre outros. É autor do livro de poesia Interior via satélite (Ateliê). simples satisfação dos instintos [...]”. A sintaxe dos versos que seguem parece identificar poeta e carrasco, como se fossem cúmplices exaltados diante da consumação do ritual, levantando a cabeça sem vida pelos cabelos, num gesto perturbado. E um pouco mais adiante, retomando um dos poemas que Baudelaire mais apreciava, A fonte de sangue (La fontaine de sang), o pesquisador e crítico sentencia: “A poesia se apresenta, assim, como uma fonte de sangue”. Questões vitais Os 23 textos agora reunidos que compõem o livro dão conta de um longo período que vai da segunda metade do século 19 ao final do século 20, partindo de Baudelaire e Mallarmé, passando por Valéry, Deguy, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, João Cabral, Arnal- do Antunes e outros. Uma constelação complexa armada pelo crítico e colocada num jogo que chega até os desdobramentos da nossa contemporaneidade. Mallarmé é, contudo, o espectro de boa parte dessas mais de 300 páginas, além de ser a figura central de alguns textos. A arte — e, em particular, a poesia — não tem a obrigação de esclarecer, de encontrar respostas ou de tranquilizar, seja o leitor, seja seu observador. A inquietação e o enigma — e seus múltiplos significados e interpretações — são também a sua fascinação e encantamento. E aqui Siscar coloca a idéia de cisma, problemas que não necessariamente precisam ser resolvidos, e é essa não-solução, uma não-potência da Solução, a abertura de possibilidade, a potência de soluções e interpretações, que constituem o campo de tensão. A performatividade da poesia se distancia claramente da(s) técnica(s). Seriam oportunas, a essa altura, as palavras deleuzianas: “escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma matéria vivida”. A literatura, a poesia, está do lado da não-forma, do informe, do inacabado e do indiscernível. Nesse livro, o crítico, tradutor, poeta e professor, além de trazer reflexões sobre poesia, tocando ainda o campo da tradução, coloca para o próprio campo da crítica questões vitais. Marcos Siscar é, sem dúvida, uma das vozes hoje no campo da poesia, e isso é balizado pelo seu percurso intelectual, marcado pelo rigor e pela seriedade. O que ele nos deixa são os impasses da poesia, de acontecimento e a sua relação com o contemporâneo. 147 • juLho_2012 19 A LITERATURA NA POLTRONA : : JOSÉ CASTELLO A poesia como prova J QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS anto em Teresina com o poeta português Ivo Machado. Ele me mostra um de seus incríveis cadernos de anotações. Escreve seus poemas no interior de quadrados imaginários que tomam só a metade de cada página. E com uma letra minúscula, “para que ninguém os consiga ler”. Escreve para si e para ninguém mais. Escreve em segredo, transformando seus poemas em bordados. Assombro-me com o caderno. É nesses pequenos vícios que se vislumbra a alma de um escritor. O afetuoso Ivo defende sua estratégia minimalista. A poesia é um bem muito precioso, cada vez mais precioso. Devemos protegê-la da fúria do presente. Lembra Ivo, então, de uma frase do Luis Cardoza y Aragón, o poeta guatemalteco falecido em 1992: “A poesia é a única prova concreta da existência do homem”. Envolta na voz de radialista de Ivo Cardoso, a frase fica a me martelar. Toca em um ponto, para mim, crucial: o que liga a literatura à vida. Nas horas mais difíceis, a literatura sempre me salva. Hoje mesmo, em um longo vôo entre Teresina e Recife, com uma estranha conexão em Brasília, reli — quase todo — Diário da queda, o lindo romance de Michel Laub. Uma gripe me rondava. Ando com problemas de família. Tenho viajado sem parar e isso, se me entusiasma, me cansa também. Em meio à exaustão, o livro de Michel — como alguém que me amparasse depois de COLUNISTAS DOM CASMURRO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS PAIOL LITERÁRIO um tombo em plena rua — me deu a mão e me ergueu. Obrigado por isso, Michel. Nas horas mais absurdas, a literatura — e já não sei mais separar literatura e poesia — se torna a única prova de que existir ainda é possível. De que devemos persistir nos caminhos que escolhemos. Devemos apostar no inegociável. Repito a frase de Aragón como se ela me pertencesse — e de fato já pertence. A poesia é a única prova concreta da existência do homem. Sim, a poesia, que nada deve a ninguém. A ciência tem suas teses e suas demonstrações. A religião, seus dogmas. A filosofia se ampara na armadura dos conceitos. Só a poesia não precisa de artefato algum para afirmar nossa existência. Ela basta, de fato, como prova de que estamos vivos. Encontro em meu caderno de notas o endereço de Ivo Machado, que ele mesmo anotou com sua letra de calígrafo. O endereço, seguido de e-mail e telefone, ocupa o centro de uma página, como se fosse um poema. Talvez seja um poema. O que é um poema? Em nossa mesa de jantar piauiense, cercados de amigos, havia algo de poético a nos rondar. Algo que afirmava nossa presença. Algo que, sem precisar de provas, provava que estávamos ali. E intensamente vivos. PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO Literatura e clínica Recordo a idéia de Gilles Deleuze, segundo a qual o escritor, mais do que um doente, é um médico. A literatura não é só um trabalho de linguagem, mas também um instrumento de trato e de “cura”, pensava Deleuze. A literatura é — ou deve ser — uma clínica. Essas idéias, tão férteis, e que me parecem tão verdadeiras, me voltam enquanto, preparando-me para uma palestra, releio, ao acaso, alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade. Surgem-me, mais exatamente, no momento em que releio A mão suja, poema incluído em José, distante livro publicado no ano de 1942 que talvez me atraia porque duplica meu próprio nome. Ali, em José (em mim mesmo? Mas quanta vaidade!) está quase tudo. A idéia de que o poeta, ao contrário do que pensam os letrados de gabinete, é um homem que tem as mãos sujas. O mundo o incomoda — e, justamente por isso, sobre ele se debruça, nele mete as mãos. Justamente por isso, o poeta o revolve e cava. “Minha mão está suja./ Preciso cortá-la./ Não adianta lavar./ A água está podre”, escreve Drummond. Escreve e, assim, anuncia toda uma ética que guiará sua poesia até os últimos versos. Posição que vem desde muito longe, vem desde o nascimento. Escreve: “A mão está suja,/ suja há muitos anos”. A sujeira se mistura à poesia. A sujeira é a poesia? Invertendo as coisas: a poesia é o enfrentamento daquilo que adoece e que dói. Um médico não se limita a observar (como a uma tela) uma ferida à distância: deve aproximar-se e tocá-la. Deve pedir exames clínicos que o levem a vê-la por dentro. Em resumo, e como o poeta: deve penetrar na ferida, tomar posse dela, para só então pretender curá-la. Não é simples. Não é fácil. Nem sempre é suportável. “Ai, quantas noites/ no fundo da casa/ lavei essa mão,/ poli-a, escovei-a”, prossegue Drummond. Polir, escovar, lustrar: instrumentos da técnica que vêm, quase sempre, de encontro aos sentimentos. Para domá-los. Para domesticá-los. Sim: esse enfrentamento também é a poesia. Trabalho de depuração, exercícios de linguagem que, no entanto, só fazem ampliar o ferimento. Isso (fazer poesia) dói. O poeta tem a nostalgia da vida comum: dos tempos em que não precisava se debruçar sobre o outro. “Quisera torná-la,/ ou mesmo, por fim,/ uma simples mão branca,/ mão limpa de homem,/ que se pode pegar”. Mas quando você aperta as mãos ásperas de um poeta, toda a sujeira do mundo agarra. A técnica é um instrumento; a sujeira é o objeto. E o que é a sujeira, senão a própria vida que, inconstante, frágil, se expõe como uma ferida aberta? Colocada no centro da poesia, a sujeira é a própria poesia. Sem ela, sem o mundo e suas dores, poesia não há. “Inútil reter/ a ignóbil mão suja/ posta sobre a mesa”, diz Drummond. Inútil “cortá-la,/ fazêla em pedaços/ e jogá-la ao mar”. A sujeira do mundo — o próprio mundo — sempre retorna. O mais asséptico dos poetas traz os pés fincados na terra imunda. A mais alta torre de marfim se ergue sobre a pedra dura. Disso não nos livramos, tampouco os poetas se livram também. Mas não querem se livrar: querem escrever. Sonha Drummond: “Com o tempo, a esperança/ e seus maquinismos/ outra mão virá/ pura — transparente — / colar-se a meu braço”. Essa mão, contudo, se sujará também. Não como um castigo, mas como um destino. Não por um acaso, ou um deslize, mas apenas por estar viva. Leio Drummond, penso em Deleuze e relembro o quanto de sujeira — de vida — falta, às vezes, à poesia. Temos, felizmente, grandes poetas que não se esquivam desse destino. Paulo Henriques Britto, Alberto Martins, Lucinda Persona, Nuno Ramos, Ana Martins Marques. Temos Manoel de Barros, temos Adélia Prado. Todos com as mãos sujas, debruçados sobre as feridas do mundo, concentrados em tratá-las. Se haverá cura? Não, cura não haverá. Doer é próprio do humano. Os poetas se limitam a acolher e acariciar essa dor. NOTA Os textos A poesia como prova e Literatura e clínica foram publicados no blog A literatura na poltrona, mantido por José Castello, colunista do caderno Prosa & Verso, no site do jornal O Globo. A republicação no Rascunho faz parte de um acordo entre os dois veículos. A beleza serena de um deserto reprodução :: Paula Cajaty e, pior, eternizado em cadernos sem fim. Quando se ama, entra-se numa floresta de palavras que insistem em nascer profusa e ininterruptamente, sem qualquer motivo: basta uma rachadura no cimento e já estão lá capins, matos, marias-sem-vergonha a exibirem sua mesmice. Sem que ninguém tenha pedido, oferecem-se. Sobre a superfície confortável e festiva da paixão, o senso de julgamento fica abalado, mãos e olhos permitem o trânsito de tudo que seja ordinário e quem escreve pode já não ser o poeta, mas alguém que possivelmente perdeu a noção do ridículo. Maria Cecilia Brandi, de mochila nas costas e um Instagram poético entre os dedos, focaliza e filtra exatamente o oposto: extrai o encanto exatamente da penúria, da secura, da ausência, dos desenhos na areia, do chão pedregoso por onde caminha, do canto inaudível que embala noites de vento onde nenhuma folha irá escutá-lo. É exatamente a poesia o que acontece enquanto a vida caminha sob as sombras, distante dos flashes e holofotes dos acontecimentos memoráveis. Rio de Janeiro – RJ A tacama é o deserto mais árido e alto do mundo, único lugar em que a água raramente banha a terra, composta de areias milenares e sítios arqueológicos pré-colombianos. Ali, apenas morte, silêncio e passado. Além de sua intensa aridez, Atacama também consegue a proeza de interromper o fluxo da umidade nas nuvens que chegam do Pacífico. O poder de filtrar e ressecar o que vem de fora, a impermeabilidade, o limite natural intransponível: a extensão da terra não permite a passagem da brisa marítima. Encontramos, assim, a natureza em sua face mais cruel, inóspita, revolta: a essência do planeta. É justamente essa extrema aridez que faz dele um dos lugares mais belos e únicos do mundo. O que poderia ser considerado demérito se torna magicamente qualidade invulgar. Não. Não é sobre esse lugar montanhoso e vulcânico que Maria Cecilia Brandi escreve; o deserto de Maria Cecilia reside em suas mãos e nos olhos ágeis que filtram de sépia o tempo e o espaço por onde transita. Não à toa, Passagem é o primeiro poema do livro, indicando exatamente a matéria de que a poeta se serve para escrever: a necessidade de “cingir-se ao realismo como vento/ que dobra na curva sem dor”, a chegada da idade em que “aprendemos a voar quietos” suspeitando da existência de “fios invisíveis” que talvez manobrem e determinem o caminho dos homens. Nesse deserto de que fala Maria Cecilia, algo grande, majestoso, atroz, faz a vida parecer suspensa, inaudível. Ressalte-se a importância, contudo, do verbo “parecer”: porque a vida não se suspende, ela flui, a despeito de nossas impressões parciais e limitadas. Seja no sul da Espanha, nos carrosséis franceses (“Um eixo fixo, mas tudo gira”), na área de serviço, na aula de natação, “no incêndio de palavras que precede a conversa”, no bocejo que ante- A AUTORA Maria Cecilia Brandi Nasceu em 1976 no Rio de Janeiro (RJ). Possui dupla cidadania, brasileira e espanhola. Graduada em Jornalismo, ingressou no mercado editorial no segmento de marketing da editora Record. Atacama é seu livro de estréia. Atacama Maria Cecilia Brandi 7Letras 62 págs. cede o sono profundo — “o que importa é o afeto”. A poeta estréia trazendo a beleza silenciosa e serena do deserto para os momentos mais áridos e doloridos da vida, aqueles onde o amor não é capaz de regar palavras fáceis e excessivas. Faz uso de formas livres de poemas, versos curtos, poemas em prosa, transitando livremente para surpreender sempre. Aqui não há suavidades, sentimentos úmidos e melosos das praias nordestinas. Aqui, nada que remeta à profusão de adjetivos, feito a mata espessa da Serra do Mar. E ainda assim há uma ternura intensa, ainda assim se exibe uma espécie de imagem exótica, distante, impalpável, onde a vida continua, apesar de parecer que o tempo e o espaço esqueceram sua própria função. Claro, quando se ama jorram vendavais de idéias, dilúvios de versos e rimas e tudo parece fácil, estupidamente belo e doce, encantador — tudo digno de ser anotado Sob as sombras Lembro que foi Rainer Maria Rilke quem advertiu, logo na primeira das suas Cartas a um jovem poeta: “Não escreva poesias de amor”. É senso comum que a maioria vira as costas para essa lição e arrisca as primeiras palavras exatamente nas poesias de amor (ops, mea culpa, eu já cometi esse crime). Maria Cecilia, porém, obedece a Rilke e a outros bons mandamentos do mestre sobre como fazer a grande poesia: “Aproxime-se então da natureza. Depois procure, como se fosse o primeiro homem, dizer o que vê, vive, ama e perde”. A poeta aproveita essa e outras oportunidades para mostrar sua ousadia e força. Observa com firmeza “a estrada: única palavra/ ao alcance do horizonte”, fala do “enxoval de palavras burocráticas ditas” se contrapondo ao “enxoval de palavras poéticas engolidas”, das vezes em que “ficava com os adultos na lareira TRECHO Atacama “ a vida está tentando ser mais rápida que o tempo às vezes consegue mas, hoje, aos 30 anos, da casa de casada digito o telefone da casa da minha infância esperando que eu atenda e não parecia que/ tinham segredos tristes”, das noites soturnas quando, após conhecer Elizabeth Bishop, “faltam motivos para/ não escrever”. A ternura da passagem, o realismo da briga, a falta de tesão no sono, o amor retalhado feito um coração suturado sobre a maca do hospital: Maria Cecilia sabe falar com precisão rara sobre a aridez da dor, sobre a destruição que o próprio amor é capaz de causar, sobre a “velocidade das coisas”. E, ao falar do amor, permite-se apenas lembrar daquela espécie de afeto eterno que pode ser dedicado a um jabuti, a um cão, ou a um simples e fugidio momento, quando encontramos rastros, pistas, vestígios do que já fomos. O livro se fecha e o leitor permanece à espera: de uma nova viagem, de um novo enquadramento, de outros inúmeros motivos que tiram o sono e fazem a poeta ouvir ventanias de areia, travessias improváveis, e sombras que não ousamos encontrar — pero que las hay, las hay. 147• juLho_2012 20 A lição do mestre William Gaddis enfrentou como poucos a incômoda pergunta: “qual é o papel do artista na sociedade moderna?” :: Martim Vasques da Cunha São Paulo – SP Q uando Jonathan Franzen der uma topada em algum paralelepípedo numa calçada de Paraty, durante sua visita na Flip, a festa literária internacional que colocou a pequena cidade carioca no mapa do mundo, poucos saberão que um espectro ronda a sua carreira de escritor — o espectro de William Gaddis, autor de The recognitions (1955), JR (1975), Carpenter’s gothic (1985), A frolic of his own (1994) e Agapē agape (2002), cinco livros que poucos leram, mas que jogaram uma sombra indiscutível em quem veio depois. Franzen não está sozinho em seu comportamento. Todos os seus colegas devem alguma coisa a Gaddis — de Thomas Pynchon, passando por Don DeLillo e John Barth, até o compadre David Foster Wallace. A única diferença é que o autor de As correções (2001, um título que já mostra o quanto deve a The recognitions) e Liberdade (2011) escreveu a respeito da influência deste espectro e, como as histórias de Henry James nas quais um pupilo tenta superar o mestre, quer provar para si mesmo que o antecessor não é tão grande assim: segundo ele, Gaddis tinha seus defeitos e o próprio Franzen veio para resolver esses problemas, mesmo que isso implique esquecer completamente (ou em parte) a lição de quem desbravou a trilha. Tal afirmação está no ensaio Sr. difícil (Mr. difficult), um título tão provocador quanto a coletânea que o reúne, Como ficar sozinho (lançado no mês passado pela Companhia das Letras). Para justificar a renúncia a uma herança que poucos têm coragem de negar, Franzen elabora uma tese que agrada a gregos e troianos, em especial àqueles que querem fazer sucesso com seus livros — em outras palavras, o pessoal que ganha a vida indo a festivais, participando de concursos literários e dando entrevistas com tamanho tempo que nos faz perguntar se eles encontram alguns minutos para fazer o que dá o seu sustento, i.e., escrever. O argumento é o seguinte: existem os livros de prestígio, os “romances de status” (Status novels), que abarcam a realidade como um todo, estão recheados de enigmas e pedem um comprometimento do leitor que ninguém exigiria, nem mesmo a esposa mais impaciente e intolerante; e existem os livros de sucesso, os “romances de contrato” (Contract novels), que querem dialogar de igual para igual com o leitor, dando prazer e sofisticação em doses paliativas, buscando um compromisso, um contrato de direitos e deveres, uma espécie de “toma-lá-dá-cá”, que teria como resultado a satisfação garantida do cliente e dos amigos que o rodeiam. Franzen coloca como paradigmas deste último grupo autores como Edith Wharton e Charles Dickens, entre outros; e o grupo que representa o primeiro tipo de romance é composto por James Joyce, Robert Musil, Hermann Broch e — last but not least — William Gaddis. Fracasso de vendas De fato, Gaddis era um sujeito que prezava a dificuldade acima de tudo, até mesmo na vida pessoal. Nascido em 1922, publicou The recognitions em 1955, com apenas 32 anos. Era seu romance de estréia e tinha cerca de 956 páginas, um número que assusta o leitor até hoje. Antes disso, escreveu sátiras para o jornal The Harvard Lampoon, e foi factchecker da revista The New Yorker. Viajou pela America Central e voltou do Panamá para os EUA em um barco repleto de bananas e fuzis para organizações de guerrilha. Ao desembarcar, tinha um manuscrito volumoso que ninguém queria editar. Teve de pagar do seu próprio bolso uma edição para a editora Harcourt Brace & Company. Quando o romance chegou às prateleiras, Gaddis estava pronto para ganhar o Prêmio Nobel. Recebeu 54 resenhas, apenas duas delas positivas, foi um fracasso de vendas e ninguém mais se lembrou dele pelos próximos 20 anos. Isso não significa que tenha desistido. Durante esses anos, Gaddis se sustentou como podia: trabalhou para grandes corporações, como a IBM; escreveu memorandos e tratamentos para vídeos institucionais; redigiu discursos para candidatos a governador; tentou escrever uma peça de teatro sobre a batalha de Antietam, fato importante para a história da Guerra Civil americana; chegou ao ponto de elaborar artigos para um dentista em troca de um tratamento de canal. Pesquisou também um assunto insólito, sobre o qual ele parecia ser o único que mostrava interesse na época: a convergência entre tecnologia e arte, simbolizada pelo advento da pianola, instrumento que substituía o pianista em espetáculos públicos e que anunciava ao mundo o fato de que agora os artistas e os intérpretes não eram mais necessários. Somente com a publicação de JR, em 1975, que o mundo se viu mais ou menos preparado para a sua literatura. Afinal, nesse meio tempo, já haviam sido publicados V. e O arco-íris da gravidade, de Thomas Pynchon; Don DeLillo começava a dar os primeiros passos literários; e John Barth provava que os jogos metalingüísticos podiam ser sucesso de vendas — enfim, tudo aquilo que Gaddis tinha feito em um único livro que poucos leram contagiava a indústria editorial como se fosse a nova tendência da moda. Afinal, qual era a dificuldade que envolvia The recognitions e que faria Jonathan Franzen dedicar dois meses da sua vida a lê-lo como se fosse a subida do Everest — conforme ele explica em Sr. difícil? Não era apenas o número de páginas, muito menos a erudição que o romance exibia como um trunfo e que, no fim, revelou-se um dos motivos de seu fracasso com o público — uma vez que Gaddis não se intimida com referências a São Clemente (de onde vem o título do livro, já que o santo foi o suposto autor de um romance medieval chamado justamente Os reconhecimentos); gnosticismo; a lenda de Fausto; pintores da Baixa Europa como Bosch, Brueghel e Van Eyck; música clássica e contemporânea; além dos seus amados Dostoiévski e Eliot (e não, ele não tinha lido Joyce antes de escrever o romance como supunham; na verdade, segundo uma carta sua endereçada a um estudioso, datada dos anos 1970, “li apenas o monólogo de Molly Bloom em Ulysses, não por motivos literários e sim apenas lúbricos”). Tratava-se sobretudo de uma questão de atitude. A trama principal deste livro impossível de ser resumido é uma busca fracassada. Seu herói é Wyatt Gwyon — a mania pelos nomes bizarros na literatura contemporânea não é uma invenção de Thomas Pynchon, muito menos de Martin Amis —, que, ansioso por ser um grande pintor, decide se aventurar pelo mundo das artes internacionais e sofre a sua primeira grande decepção quando um crítico simplesmente destrói os seus quadros, chamando-os de medíocres. Inseguro e atormentado, Wyatt é convencido por um sujeito chamado Recktall Brown (o talento de Gaddis para trocadilhos infames fica aqui evidente) a falsificar qua- William Gaddis por Robson Vilalba dros de Bosch e Brueghel, e, graças ao seu talento ainda não reconhecido, faz imitações tão perfeitas que elas acabam sendo vendidas ao público como se fossem os originais. Todavia, esta é apenas uma das tramas. A partir da história de Wyatt, Gaddis começa a montar um mosaico do vazio existencial que consome o mundo artístico do início do século 20. Além do pintor fracassado, temos Stanley, o músico que quer tocar a sua cantata no órgão de uma igreja prestes a ser demolida (mas ele não sabe disso); Otto, o dramaturgo que, como Gaddis, fugiu para América Central, escreve uma peça sensacional que ninguém lê porque todos acreditam que ela é um plágio do início ao fim; Esther, a esposa de Wyatt, que tira sarro de sua ambição e se vê envolvida com poetas medíocres que nada fazem exceto conversar sem parar em festas regadas a drogas e álcool; e Esmé, a moça que Wyatt acredita ser a representação da pureza em um cosmos decadente, mas que, na verdade, tem o suicídio como passatempo favorito. Como se não bastasse, Gaddis vai de encontro às raízes do desespero espiritual desta situação ao retratar a crise de fé do pai de Wyatt, o Reverendo Gwyon. Ao perder precocemente a esposa Camila, Gwyon renega o presbiterianismo e decide ser um sacerdote do deus Mitra, uma das inúmeras divindades gnósticas que rivalizavam com a religião cristã na época dos primeiros padres da Igreja. O leitor imagina que o recurso de histórias entrecruzadas pode deixá-lo maluco (e isso acontece de facto e de jure), mas não é apenas esta a razão da fama de The recognitions ser um livro difícil de ser lido. É também a forma como Gaddis decidiu narrá-lo: ao combinar uma narração enciclopédia em terceira pessoa com uma orquestra desafinada de vozes e outros cacoetes urbanos, o romance não faz apenas um painel da futilidade de seu próprio meio — afinal, seu autor é um escritor que sempre quis ser reconhecido entre seus pares, como todos nós —, como também prova que seus integrantes não passam de ruídos repletos de som e fúria. A metáfora musical não é aleatória, pois revela a estratégia que Gaddis aplica em sua literatura e, por sua vez, as suas verdadeiras influências. Se ele despreza Joyce como modelo de “modernismo radical”, nem por isso deixa de ser menos ousado quando, por exemplo, inclui versos de Quatro quartetos em cada parte de The recognitions sem que o leitor perceba, ou então ao intitular a primeira parte de seu épico sobre falsificação “A primeira volta do parafuso”. Ao imitar T. S. Eliot e Henry James, Gaddis quer ouvir as vozes que estão escondidas nos ruídos e nas ruínas das grandes cidades — e mais: quer descobrir a falsidade moral que adormece debaixo e dentro delas. Leitor a esmo Ele levaria esta busca ao extremo em JR, outra fábula moral sobre a corrupção da inocência, desta vez não no mundo das artes, mas no das finanças. Partindo de um enredo implausível que só teria sentido graças ao engenho do estilo, seu segundo romance — desta vez só com 200 páginas a menos que o anterior, chegando ao número ainda exorbitante (para nossos padrões) de 756 folhas em letra miúda, espaçamento um, repleto de travessões, sem nenhuma narração em terceira pessoa, deixando o leitor a esmo em diálogos que só ficam claros quando lidos para si mesmo, no silêncio do quarto, em plena madrugada, de preferência gripado, sob efeito de remédios — conta a delirante odisséia de um rapaz de 11 anos (o personagem-título) que, sabe-se lá como, conseguiu um esquema milionário e se tornou um típico especulador de Wall Street da noite para o dia. E, de novo, tal eixo é apenas mais um motivo para contar a sua verdadeira história, a que realmente o interessa: a de dois artistas falidos, o músico Edward Bast e o escritor Thomas Eigen, alter-egos evidentes de Gaddis que sintetizam a sua vivência entre os meios corporativos durante os 20 anos em que teve de superar o fracasso de The recognitions. Bast trabalha em uma escola dedicada somente a tirar de seus alunos o sucesso empenhado na mensalidade paga por seus pais milionários ou de classe média; quer escrever uma ópera ambiciosa, igual a O anel dos nibelungos de Wagner, mas da ópera vai para o concerto, do concerto vai para o quarteto de cordas, do quarteto vai para uma cantata e, no final do livro, quando sua vida parece estar completamente destruída porque os esquemas de JR ruíram o patrimônio da escola e, de quebra, da sua família de tradição quatrocentona, decide ficar com uma peça para uma voz só, talvez com algumas notas de uma flauta, para que não fique repetitiva. Já Eigen é um escritor que lançou há algum tempo um romance ambicioso que ninguém leu, trabalha como redator para o presidente de uma empresa gigantesca e não consegue terminar uma peça teatral sobre a Guerra Civil Americana — tormento que compartilha com outro amigo de mesma vocação, Jack Gibbs, que também se vê incapaz de dar continuidade ao projeto de sua vida, a redação de um tratado sobre a morte simbólica do pianista em comemorações públicas e sua substituição sobre a pianola como um meio mais “progressivo” e “democrático” de popularizar a música para as massas. Mais autobiográfico, impossível. Contudo, isto não significa que Gaddis escreveu dois livros monstruosos para fazer reclamações ad infinitum — observação maliciosa que, aliás, Franzen faz em seu ensaio, inclusive acusando JR de sofrer desnecessariamente de uma espécie de “logorréia” provocada por constipação anal. Há um método na aparente loucura de seus romances. Ao criar uma muralha de vozes que, pouco a pouco, descobrimos que formam de fato um diálogo entre os personagens e também com o próprio leitor (que deve encontrar a melodia oculta que ninguém ainda sabe qual será), Gaddis pretende ir até as últimas conseqüências em relação à pergunta que seus queridos T. S. Eliot e Henry James conseguiram apenas esboçar: qual é o papel do artista na sociedade moderna? Porque estamos saturados de vozes, saturados de melodias desconexas, de ruídos que não permitem mais ouvir o silêncio que deveria nos preservar de toda a correria do progresso tecnológico, não conseguimos mais escutar, se é que alguma vez nós já fizemos isso, a voz daquele que capta o que ninguém consegue expressar com os meios limitados que a linguagem humana apreende e rapta entre os nossos semelhantes. Esta voz é a do artista, do escritor, do poeta, do músico que passa por um treinamento, uma ascese, um árduo exercício, para controlar suas paixões, seus demônios interiores e assim transformá-los em um objeto singular, único, dotado de razão, ordem e proporção, sempre com a finalidade de que, uma vez em contato com alguém que possa compreendê-lo adequadamente, pressinta a concórdia que já havia no coração do seu criador e possa transmiti-la a quem quiser ouvir. O problema é que, segundo Gaddis, ninguém mais quer escutar qualquer espécie de voz, principalmente a voz que vem de nós mesmos, o “fundo insubornável do ser” sobre o qual Ortega y Gasset tanto meditou, não porque o mundo faça de tudo para que isso não aconteça, mas sim porque — eis aqui a reviravolta que talvez Jonathan Franzen não tenha 147• juLho_2012 21 compreendido em seu ensaio — o próprio artista não deixa isso ocorrer em sua própria vida, sufocando a melodia interior que deveria sair naturalmente por meio de pactos fáusticos com a mentira existencial, representados por plágios feitos por dinheiro ou por qualquer espécie de corporação — estatal, privada, religiosa e artística. Para escritores Por ironias que nem a vida explica, Gaddis enfim teve algum reconhecimento ao ganhar o National Book Award em 1976 por JR. Isso não significa que alguma vez tenha facilitado para os leitores. Ao contrário: a cada livro que publicava — e foram apenas dois enquanto estava vivo, Carpenter’s gothic e A frolic of his own, separados por um período de dez anos — ele se deliciava em suas alusões cada vez mais crípticas e em suas elipses mais sinuosas. Seriam esses “truques” que o transformavam no famoso “escritor para escritores”, esquecendo-se que havia um público a ser conquistado. Mas ele não se importava: Gaddis evitava dar entrevistas e se negava a ler o seu trabalho em festividades literárias, alegando que era “um dos poucos que ainda acreditava que o trabalho de um escritor deveria valer por si só e não pela reputação da sua pessoa”. O engraçado disso tudo — e é um dos pontos que Franzen rebate sem perdão no seu texto — é que Gaddis não lia o próprio tipo de literatura que praticava. Desprezava solenemente a obra de Pynchon; alegava que lia Evelyn Waugh antes de dormir, um notório praticante do estilo agradável de fruição literária; e admirava irrestritamente os livros de Saul Bellow, talvez o único que tentou a harmonia entre a forma experimental do modernismo joyceano e a legibilidade do storytelling clássico; aliás, Gaddis escreveu em 1987 uma resenha no New York Times sobre More die of heartbreak, o mais recente lançamento de Bellow na época, provando que poderia conceber livros geniais e gigantescos sobre a decadência do Ocidente, mas era incapaz de redigir um simples texto informativo. Estas contradições não tiram o mérito de sua obra tardia. Carpenter’s gothic e A frolic of his own são continuações mais ousadas dos romances anteriores e desenvolvem à exaustão algo que, por incrível que pareça, ainda não estava explícito em The recognitions e JR: o tema da entropia, uma analogia perigosíssima entre as teorias do físico Willard Gibbs, que calculou a “medição de um caos sistêmico”, e a degeneração evidente do mundo que estava ao seu redor — e do qual Gaddis acreditava ser direta ou indiretamente uma vítima. Ele conseguiu escapar da armadilha porque fez mais do que qualquer escritor contemporâneo: criou uma forma específica para dar verossimilhança a assuntos tão implausíveis. Em Carpenter’s, a hábil concentração de tempo e espaço que Aristóteles tanto prezava nas tragédias gregas é o que dá força para uma trama insólita que, no fim, explicita como o secularismo liberal e o fundamentalismo religioso andam de mãos dadas para que a cerimônia da inocência jamais apareça novamente; e em A frolic, talvez seu livro mais swifitiano, Gaddis brinca com a linguagem jurídica, por meio de relatórios e protocolos burocráticos, para demonstrar com a precisão de um teorema que as leis que deveriam criar a ordem criam a nossa própria destruição. É claro que tamanha ambição conquistada só poderia resultar em uma fileira de incompreensões. Mas cada uma delas é também a prova de algo que contamina o meio literário — o filistinismo intelectual, representado pelo seguinte raciocínio: “Se eu não entendi o que o livro diz, por que vou me preocupar em entendê-lo? Logo, vou fingir que ele não existe, sufocá-lo em um cone do silêncio. E se se tornar tão evidente que não possa ser mais ignorado, vou desprezá-lo de todas as formas, usando de todos os meios, do insulto ao completo esquecimento”. Qual é a ação correta contra tamanha pusilanimidade? Quem exerce a crítica literária precisa tratá- la como uma educação de sensibilidades. Assim, deve-se observar que um corpus como o de Gaddis não é um sistema fechado e inviolável; é um organismo que evolui conforme o artista incorpora as experiências caóticas da vida na sua escrita e cresce interiormente com a forma que cria para expressar os tormentos que o assombram no seu cotidiano. Apesar da intenção de abarcar a realidade como um todo — como Franzen compara o romance de sistema à popularidade do romance de contrato —, cada livro seu deve ser visto como um ato de um drama, o drama de uma alma que tinha muito o que dizer simplesmente porque ninguém ainda a havia avisado de que o fim estava próximo. Foi assim até o momento em que informaram a Gaddis, por volta de 1997, que perderia a batalha contra um câncer de próstata que já tinha atingido os pulmões e as costelas. Sem perder tempo, começou a trabalhar nos inúmeros papéis que havia abandonado sobre a sua mais longa obsessão: a do impacto do surgimento da pianola sobre as relações entre tecnologia e arte. Mas como encontrar uma forma adequada para abordar tal tópico? E como lidar com isso quando se sabe que seu corpo enfim o traiu? Compacto testamamento O resultado foi Agapē Agape, lançado postumamente em 2002. Depois de quatro romances que somam mais de duas mil páginas escritas em 40 anos de carreira, Gaddis decide se despedir do mundo com um compacto testamento literário de menos de 100 folhas em tipografia Bold e espaço um. Contudo, que o leitor não se engane: o assombro continua — e talvez em uma intensidade emocional muito maior. Monólogo de um único parágrafo construído em um fluxo de consciência implacável e rigoroso, Agapē Agape não tem nenhuma história fabulosa para contar, exceto a de um escritor agonizante, em meio a espasmos de lucidez e a delírios provocados pelo remédio prednisona, tentando organizar a pesquisa de uma vida inteira, a mesma pesquisa que Gaddis dedicou sobre a pianola, o que prova que o livro não é apenas a recriação ficcional de um determinado alter-ego, mas também uma amostra da sua vida interior, que confirmaria em breve se o que havia após a morte seria “uma ficção criada para confortar a alma na escuridão da noite”. Ainda assim, ele não desistiu de usar os seus artifícios de literato. Gaddis se inspira em ninguém menos que Thomas Bernhard, o estilista do ódio, para ir justamente contra a fúria que estaria contida em sua escrita devido a anos de rejeição. Partindo de trechos do romance Correção, em que um estudioso de música, recuperando-se de uma longa doença, pretende escrever o maior tratado erudito já feito sobre Mendelssohn, Gaddis brinca com trechos do escritor austríaco, afirmando jocosamente que este teria “plagiado” todo o seu projeto de vida sem que o americano soubesse, numa ligação irônica e subterrânea com The recognitions, confirmando que a entropia da decadência cultural também está marcada na entropia do seu próprio corpo. Referências intertextuais à parte — e que fariam a alegria dos pós-modernos —, há algo mais dolorido nessas citações, algo que, por exemplo, Jonathan Franzen também não percebeu ao comentar Agapē Agape, reduzindo-o sob o parâmetro de que se trata de um livro repleto de “bílis” e “rancor”, como se literatura fosse um concurso de bommocismo. Gaddis escolhe Bernhard como modelo literário porque, além da óbvia competição, ele quer superá-lo na forma e no próprio ódio que devia consumi-lo por dentro, refletindo sobre como o impacto tecnológico de uma simples pianola contribuiu para a falência de comunicação na sociedade moderna e permitiu que existissem apenas náufragos perdidos no oceano dos insensatos, não uma comunidade de iguais (o tal Agapē do título, uma referência à substância transcendente que permeia a comunhão cristã, em oposição ao a gape, outro trocadilho delicioso que Gaddis nos dá ao falar da lacuna que guia nossa precária condição). Eis aqui a figura do tapete, para usar uma imagem tão cara a Henry James, que costura toda esta obra idiossincrática; e temos de ter a decência de entender que é óbvio que as últimas palavras de um homem que se prepara para ir embora não serão mais ouvidas como uma voz — elas serão ouvidas como um longo grito, às vezes agonizante, às vezes amargo, às vezes furioso e sobretudo incompleto. Esta é a surpresa final da qual Franzen não ousou enfrentar no seu ensaio aparentemente tão simples na intenção, mas tão complexo na ignorância: apesar de toda a intenção enciclopédica, apesar de todo o desejo de explicar as causas e as conseqüências de um mundo que sufocou e foi sufocado pela voz do artista, os livros de William Gaddis são uma longa meditação sobre o colapso da sua própria existência como homem e como escritor — e Agapē Agape é o encerramento de uma trajetória que chega à triste conclusão de que tanto o seu criador como nós mesmos somos nada mais nada menos que aqueles que poderiam ter feito muito mais, sempre muito mais (“the self who could do more”, como ele grita nas sentenças finais da sua despedida). Ao falecer em 1998 com 75 anos, após uma lenta agonia, William Gaddis sabia que enfim aprendera algo que o mesmo Henry James que tanto admirava havia escrito em uma história simbolicamente intitulada The middle years (A meia idade). Neste conto, o escritor Dencombe, também no leito de morte, após ter refletido sobre o fato de que sua obra ainda tinha muito o que dizer sobre o mundo e que ele próprio poderia ter feito muito mais para a literatura, chega à conclusão de que só teve uma única chance — e que foi quase desperdiçada se não houvesse chegado à seguinte conclusão: “Trabalhamos na escuridão, fazemos o que podemos, damos o que temos. Nossa dúvida é a nossa paixão e a nossa paixão é a nossa tarefa. O resto é a loucura da arte”. Este talvez seja o reconhecimento que Gaddis tanto buscou para si mesmo — e a verdadeira lição de mestre que ele nos deixou: a vocação de artista é uma travessia destinada ao fracasso, uma travessia em que poucos escutam a voz daquele “fundo insubornável do ser” que tanto nos atormenta quando nos deparamos com as trevas da vida, simplesmente porque poucos admitem que somos fragmentos de uma ruína que navega a esmo, até nos afogarmos sem emitir um sinal de socorro, sem a possibilidade de um despertar. Notas 1 Neste sentido, o Brasil sequer sabe que tal trilha existiu. Apesar de termos três traduções do Ulysses, de Joyce, boa parte da obra de Thomas Pynchon vertida para o português e vários escritores influenciados por Gaddis Riqueza incomum :: Luiz Horácio Porto Alegre – RS A literatura japonesa reflete seu país, nada de homogeneidade. Variada a sociedade, variada a literatura. Resultado: uma produção extremamente criativa e surpreendente. Uma literatura que durante muito tempo parecia fechada, restrita às questões japonesas ou, caso prefira, orientais. Nos anos 1980/90, o Japão se aproximou de outros países da Europa, e dos Estados Unidos. Atualmente, os escritores japoneses parecem mais próximos dos ocidentais do que dos autores asiáticos. Mas muito mais próximos dos americanos. Alguns escritores japoneses relutam a essa aproximação, mais por razões políticas do que estéticas ou exclusivamente literárias. Diante disso, convém colocarmos a literatura japonesa na estante da literatura mundial, não exclusivamente japonesa. Bastante peculiar, profissionalizada, impulsionada por um número nada modesto de prêmios literários. Resultado: autores de grande produção, sem prejuízo da qualidade, e um número grande, maior do que em muitos países europeus, de escritores que vivem da literatura. Disse que a literatura japonesa deve ser vista como mundial, e um dos aspectos a comprovar isso diz respeito à conquista de dois prêmios Nobel: Yasunari Kawabata, em 1968, e Kenzaburo Oê, em 1994. Outro aspecto curioso, principalmente em se tratando de Japão, diz respeito ao grande número de escritoras a vencer os mais prestigiosos prêmios literários: Miri Yu, Kaori Ekuni, Yoko Ogawa, Eimi Yamada, Mariko Ozaki, Hiromi Kawakami. A maioria dos títulos das autoras acima permanece inédita em língua portuguesa e, por apreciar significativamente a literatura japonesa a partir dos anos 1980, os li em edições francesas. Confronto com o vazio Aqui tratarei de A valise do professor, de Hiromi Kawakami, autora também do excelente Quinquilharias Nakano (2010). Falei em prêmios anteriormente e A valise do professor conquistou um dos mais significativos em seu país, o Tanizaki. Hiromi apresenta uma prosa fragmentada, mas, por mais estranho que isso possa parecer, objetiva. Nada é supérfluo, embora delicado e simples, em A valise do professor. Simples por se ocupar do dia-a-dia, da rotina, de um casal de solitários; delicado por valorizar os detalhes. Não me alinho à trupe que enxerga “literaturas” — a masculina, a feminina, a negra, a gay. No entanto, a delicadeza que exala do texto de Hiromi, devo admitir, é uma delicadeza feminina. As autoras citadas anteriormente podem ser “rotuladas” pós-feministas sem que isso implique qualquer movimento, apenas se diferenciam do feminismo histórico e do feminismo político. Elas conservam o individualismo e retratam, contestam o mundo cada uma a seu modo. A valise Em A valise do professor, o leitor estabedo professor lecerá um suave confronto com o vazio, o vazio Hiromi Kawakami fruto da solidão. Trad.: Jefferson Mas se for para dizer que se trata de uma liteJosé Teixeira ratura feminista, favor acrescentar “diferente”. Estação Liberdade Tsukiko, quase 38 anos, mistura o real e o 232 págs. imaginado, lembranças e reflexões. De repente encontra Harutsuma, seu professor de ensino médio, e passam a beber no bar de Satoru. O relacionamento é burocrático, frio. Assim, com sutilezas, Hiromi começa a mostrar costumes de seu Japão. Tsukiko e Harutsuma são dois seres solitários e temerosos de abandonar tal status. O professor, vale ressaltar, é bem mais velho que sua ex-aluna. Aqui a diferença de idade não chega a ser um problema, visto que solidão não costuma fazer distinção. com espaço garantido nas prateleiras nacionais — em especial o próprio Jonathan Franzen —, não temos um único livro do mestre publicado no nosso mercado editorial. As corajosas exceções são uma versão Continuei atrás dele contando as estrelas. Na décima quinta chegamos à rua onde nos separaríamos. Tchau, acenei e, virando-se, ele repetiu tchau. Eu o segui com os olhos e depois continuei andando até em casa. No caminho contei vinte e duas estrelas, incluindo as pequenas. de Carpenter’s gothic, publicada pela finada editora Best Seller nos idos da década de 1990 como Alguém parado lá fora, a tese de doutorado de Valeria Brisolara Salomon sobre The recognitions e as referências do jovem escritor Vinicius Castro, autor do romance Os sinais impossíveis, em seu blog Altamente derivativo (derivativo.blogspot.com). 2 A propósito, The recognitions e JR foram reeditados recentemente nos EUA pela Dalkey Press, com direito a grupo de leitura dedicado ao segundo livro, uma cortesia da Los Angeles Review of Books. 3 Quando alguém lê este título, O começo da relação é tenso, ao mesmo tempo, frio; logo descobrem pontos comuns, como a culinária. Várias vezes coincidem seus pedidos no bar de Satoru. Entre eles não há compromisso algum e às vezes desaparecem, mas voltam a se encontrar, sempre por obra do acaso. Um tipo de relação aparentemente segura, livre de riscos de dependência, paixões e possíveis amores. Certo? Errado. Tsukiko — não vou atestar a paixão — passa a sentir algo mais forte pelo maduro professor. Sempre em companhia de sua valise. A relação entre o professor, metódico, ríspido e seco, e Tsukiko, doce, delicada, um tanto intempestiva, é de uma riqueza incomum. Incomum porque simples, incomum porque não é fácil contar uma história simples e ao mesmo tempo profunda e repleta de significados — além do panorama do Japão, hábitos e costumes que Hiromi oferece ao leitor. pergunta-se: será que o único espectro que assombra a carreira literária de Jonathan Franzen é o de William Gaddis? 4 Uma curiosidade: este mesmo trecho de Henry James serviu de consolo para as atribulações existenciais de David Foster Wallace Afinal, minha vida é apenas isso. Andar sozinha por um caminho misterioso de uma ilha desconhecida, perdida de seu acompanhante, o professor, que eu acreditava conhecer, mas que de fato é para mim uma incógnita. Em uma situação assim, o jeito é ir beber. Dizem que as especialidades da ilha são os polvos, os haliotes e os grandes camarões. Vou comer montanhas de haliotes. em uma carta escrita por Don DeLillo; agradeço ao escritor Vinicius Castro pela lembrança desta correspondência entre esses dois discípulos da linhagem literária de Gaddis. Volte ao começo deste texto, indispensável leitor. Repare que este aprendiz citou dois Prêmios Nobel, e agora me atrevo a anunciar para breve, muito breve, o terceiro: Haruki Murakami. Pode cobrar. 147 • juLho_2012 22 PALAVRA POR PALAVRA : : Raimundo Carrero Iluminar um personagem N QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS a ficção tradicional, as ações iluminam os personagens, sobretudo o protagonista. Há criadores, porém, que interferem no mundo do narrador, causando equívocos enormes no texto. O autor deve conduzir o texto sempre junto ao narrador, e não interferir a todo momento, comentando, alterando a rota do texto, confundindo o leitor. Até que se torna muito chato. Não imagina sequer que o leitor percebe. Jorge Amado comete a asneira de responder à crítica literária no princípio de A morte e a morte de Quincas Berro D’Água. Algo ingênuo e desnecessário, sobretudo para um escritor do nível de Jorge Amado, autor de alguns dos mais importantes romances da literatura brasileira. Mas isso não significa perda de qualidade na obra de Amado, embora ele nunca tenha dado importância a questões técnicas. Quem, no entanto, procu- COLUNISTAS DOM CASMURRO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS PAIOL LITERÁRIO ra qualidades inéditas para seu trabalho deve observar a iluminação como algo essencial na construção de um romance, novela ou conto. Tomaremos como exemplo duas grandes obras: Essa terra, de Antônio Torres, e A história de Mayta, de Mario Vargas Llosa. Em Essa terra, Antônio Torres coloca o personagem Totoin no centro dos acontecimentos. Mas não há um narrador fixo, cada capítulo é entregue a um personagem — o pai, a mãe, o irmão mais novo — e cada um lança luzes sobre o protagonista, de forma que a narrativa vai se iluminando pouco a pouco. E aí se realiza a grandeza do romance. Zonas esquecidas ou escondidas do personagem vão sendo iluminadas, mostrando que um narrador não sabe de tudo e que precisa de outros personagens para esclarecer a trama. Um ótimo livro para mostrar e estudar a história apresentada por vários narradores, PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO sem que um, muitas vezes, conheça os detalhes do outro. Isso faz com que a narrativa se enriqueça e aumente a curiosidade do leitor. As modificações no caráter de Mayta são radicais e mostram um personagem profundamente contraditório ou mesmo confuso aos olhos do leitor. Tudo faz parte, porém, da técnica sofisticada do Prêmio Nobel peruano, um dos romancistas mais notáveis do nosso tempo. Creio que a leitura atenta destes dois livros nos levará a entender com absoluta clareza o que vem a ser a “iluminação do personagem” ou a técnica dos múltiplos narradores, e, sobretudo, a aprender como usá-la. Mesmo assim, podemos observar que na narrativa tradicional o conflito do protagonista é, na maioria das vezes, questionado, apresentado ou refletido nos diálogos associados à ação. Outro exemplo de múltiplos narradores — dois, pelo menos —, mas com funções diferentes, é Dom Casmurro, de Machado de Assis. O escritor mineiro Fernando Sabino foi quem descobriu, refletiu e analisou a existência desses dois narradores em livro em que reescreve o clássico fluminense, cujo título é Amor de Capitu. Bentinho conta a história e Dom Casmurro faz as digressões e crônicas do Rio de Janeiro. Podemos lembrar, ainda, do romance Agá, do pernambucano Hermilo Borba Filho, em que o protagonista assume personalidades diferentes, sempre na primeira pessoa. Começa com “Eu, ditador” e prossegue com outros “eus”, a exemplo de: Eu, escritor; Eu, religioso; Eu, guerrilheiro. E oferece todo um campo imenso de personagens que vão se desdobrando num grande ritmo narrativo, sem necessidade do enredo convencional, mas com muitos movimentos internos. Algo que impressiona muito o leitor. Cada capítulo corresponde a um personagem diferente, como se fosse um “eu” multiplicado. Pelo que se percebe, não são poucos os exemplos de narradores múltiplos. Poderíamos até citar o caso de Vidas secas que, embora não seja caso de narradores múltiplos em primeira ou em terceira pessoa, ganha em vigor narrativo porque expõe o universo do texto através de diversos focos narrativos: Fabiano, o menino mais novo, o menino mais velho, e daí por diante. É uma questão de leitura e de análise. Não é por acaso que o livro de Graciliano Ramos é chamado de romance desmontável. NOTA O texto Iluminar o personagem foi publicado originalmente no jornal Pernambuco, editado em Recife (PE). A republicação no Rascunho faz parte de um acordo entre os dois veículos. Razões do neutro : : Luiz Guilherme Barbosa Rio de Janeiro – RJ A fim de anunciar a singularidade da obra de Roland Barthes, Leda Tenório da Motta abre o recém-publicado Roland Barthes: uma biografia intelectual referindo-se ao desenho de “um certo Maurice Henry” no qual se observam, vestidos apenas com uma tanga e portando pulseiras e braceletes, Foucault, Lacan, LéviStrauss e Barthes. Eles estão sentados em roda no chão de uma floresta, debatendo e estudando. Foucault discursa alegremente, observado pelo olhar desconfiado e irônico de Lacan e por um Barthes distraidamente atento, enquanto Lévi-Strauss ocupa-se em ler para si o que tem em mãos. O humor provocado pelo desenho explica-se principalmente pelo deslocamento do espaço próprio ao debate intelectual. Tudo aí aponta para um paradigma antropológico como marca de grupo. Grosseiramente falando — como grosseiramente fala qualquer caricatura —, são índios esses intelectuais que debatem na mata quase despidos e que propuseram modernizar o pensamento francês trazendo a questão da linguagem para o centro do debate, considerando-a ao mesmo tempo lugar e limite do pensamento. O desenho intitula-se “A moda estruturalista”, e ironiza de uma só vez a vestimenta indígena e a repercussão supostamente exagerada dos conceitos desses quatro intelectuais. Some-se a isso a analogia entre esse desenho e uma importante pintura de Édouard Manet, de 1863, na qual vemos também quatro pessoas, igualmente sentadas sobre a relva de um bosque,conversando. Mas na tela do pintor observa-se um contraste na “moda” dos personagens que foi amenizado no desenho dos intelectuais: dois homens engravatados, paletó preto, sentam-se e conversam com naturalidade ao lado de uma mulher nua, com olhar fixo para o espectador; ao fundo, uma segunda mulher banha-se na lagoa, erguendo acima dos joelhos o leve vestido a fim de refrescar as pernas. O tema do contraste naturalizado entre nu e vestido em cenário campestre é antigo na história da pintura. Por isso, de acordo com a leitura do crítico italiano Giulio Carlo Argan, ao pintar “O piquenique no bosque”, Manet despreocupa-se com o aspecto narrativo da cena, não sugere verossimilhança na atitude das figuras, pois está mais interessado em elaborar “um Roland Barthes: uma biografia intelectual Leda Tenório da Motta Iluminuras 288 págs. A AUTORA Leda Tenório da Motta É professora de Comunicação e Semiótica na PUC, em São Paulo, e dedica-se a pesquisar sobretudo autores da literatura francesa. Seu último livro, Proust: a violência sutil do riso, recebeu o Prêmio Jabuti de crítica literária em 2008. material compositivo e temático que pertence à história da pintura”. É possível que, por via torta, tenhamos chegado a uma questão parecida com a qual se debruçava Roland Barthes no começo de sua carreira. Não à toa, são escritores franceses contemporâneos a Manet que instituirão, de acordo com o primeiro livro de Barthes, O grau zero da escritura (1953), o problema da literatura contemporânea, mais especificamente da literatura que se produz na França em período pós-Guerra. Enquanto em Flaubert o estilo é produto de um trabalho — de modo que, segundo Barthes, “a forma torna-se assim o termo de uma ‘fabricação’, como uma cerâmica ou uma jóia” —, na obra do poeta Mallarmé a linguagem seria destruída na composição do poema, de modo que “a literatura seria, de algum modo, o cadáver”. Assim, o pertencimento à história da literatura, para adotar os termos de Argan, é conquistado ao preço da própria linguagem. Aqui ainda não há novidade, pois encontramo-nos diante de um problema geral a partir do qual se inicia a obra barthesiana. A estratégia de Leda Tenório é, nesse sentido, extremamente interessante: busca lidar com a especificidade da obra do francês e, ao mesmo tempo, ao defendê-la, Leda em alguns momentos parece advogar por uma causa, o que dá a certas passagens do livro um tom de veemência que, apesar dele mesmo, não convence. É que, apesar do subtítulo “uma biografia intelectual”, a autora não acompanha cronologicamente a carreira do crítico estudado. Na abertura do livro intitulado Roland Barthes por Roland Barthes (1975), ao tratar da dificuldade em narrar a própria vida, Barthes propõe que “não há biografia a não ser a da vida improdutiva”. Afinal, para ele, a experiência de escrita “despoja” o autor do tempo cronológico. Ora, o livro de Leda propõe antes de tudo biografar um conceito: o Neutro. Para isso, dedica-se a apresentar sobretudo, mas não apenas, dois livros iniciais da carreira de Barthes (o já citado O grau zero da escritura e Mitologias, de 1957), verificando como eles estabelecem paradigmas de abordagem da literatura e das linguagens sociais que vão se irradiar por toda a obra do autor no sentido da explicitação do Neutro. Trata-se de um conceito que amarra do início ao fim a obra barthesiana e que inscreve uma diferença entre essa obra e o grupo estruturalista, do qual Barthes seria o membro “mais errático, hesitante, contraditório”, nas pa- lavras de Leda. Em lugar de significar por oposições, no paradigma próprio da lingüística de Saussure que informa a escola estruturalista, “o Neutro quer subtrair-se a essa produtividade, é explosão, sobressalto, recuo da ‘estrutura’”. É por isso, por recusar-se a produzir significados — operação própria ao Mito —, que a escritura neutra é, em alguma medida, uma escritura biográfica, ambas marcadas pela improdutividade. Será preciso considerar, portanto, a questão colocada por Leda Tenório no momento em que se debruça sobre a elaboração do conceito de Neutro. A autora recorre ao período de anos que Barthes passou internado num sanatório na Suíça, período esse que coincide com a Segunda Guerra Mundial. Que pode ter significado para o jovem Barthes, tão cioso do peso da História, passar toda a guerra, todo o período da Ocupação, todo o período da Resistência no isolamento, naquela espécie de vida entre parênteses que foi a sua vida sanatorial, por tanto tempo, nos jovens anos? Ouvem-se aqui, atravessados, dois signos curiosos: a tradicional neutralidade da Suíça durante a Guerra e a leitura — que tanto praticou no período de sanatório — como afecção do sujeito. Por esse enquadramento, o Neutro é a escrita da leitura sanatorial, período em que a doença convive com certa saúde, e uma determinada guerra deflagra-se durante certa paz. Não há cura alguma, nem pacificação produzida pela literatura. Seu efeito é antes o de proporcionar um lugar de fala — ao leitor, ao escritor —, o que é um pouco diferente de legar um discurso. Parece ser isto o que tem em vista Barthes quando defende que cada leitor, ao ler um romance, reescreve o livro, ou quando se propõe, ao final da carreira, a fazer da leitura uma pesquisa fantasmática, perseguindo as imagens de sua obsessão em textos díspares, como o realiza em Fragmentos de um discurso amoroso (1977). O mesmo faz Leda Tenório, de maneira clara e direta, na “Nota prévia” do seu livro, em que assume a voz de testemunha que foi das aulas de Roland Barthes. A primeira frase que se lê é: “Eu estava entre as pessoas que se aglomeravam na porta do Collège de France, certa manhã de março de 1980, diante do aviso de que a aula de Roland Barthes havia sido suspensa”. Poucas linhas abaixo, lê-se: “Três anos antes disso, eu também estava naquela última aula de Barthes na École des Hautes Études...” Esse tom de meninos-eu-vi localiza a obra de Leda — que é uma crítica literária extremamente produtiva, publicando recorrentemente livros sobretudo dedicados às letras francesas — no âmbito dos professores que, no Brasil, se dedicam a elaborar um modo de ler a literatura fundado em um paradigma menos sociológico e mais, digamos assim, antropológico. À sua maneira, essa diferença de paradigmas pode ser observada, por exemplo, nas trajetórias de Silviano Santiago e de Leyla Perrone-Moisés — aquele inoculado pelo vírus Derrida (conforme afirmou em recente palestra), esta tendo estudado com Barthes, traduzido e organizado sua obra no Brasil, e produzido interpretações importantes de autores brasileiros, como Osman Lins, sob efeito da obra barthesiana. Com isso, resta a expectativa de ver a obra de Leda Tenório produzir mais efeitos sobre a literatura brasileira, pois, trabalhando estrategicamente num cânone restrito de autores, todo ele francês, abre exceção apenas, “por motivos óbvios” mas não explicitados, a Haroldo de Campos, que aparece neste livro como a única ressonância brasileira da obra de Barthes, pois em ambos se verificariam: “mesmas bases semióticas, mesma visão do tempo longo, mesma inclinação a confundir crítica e literatura, mesma tomada de distância em relação aos ‘escritores, intelectuais, professores’ bem instalados em sua autoridade”. De maneira insuspeita, a defesa da alta exigência na constituição de um cânone pessoal pode acabar por levar o crítico a repetir, com insistência, o “mesmo”. 147 • juLho_2012 23 Desvendando enigmas Temática da arte guia a busca de Fernando Echevarría por novas possibilidades líricas e sentidos do real :: Henrique Marques Samyn Rio de Janeiro – RJ F ernando Echevarría é um autor cuja trajetória denota um percurso singular. Nascido em Cabezón de la Sal, na comunidade autônoma da Cantábria, estudou, em seu período formativo, em Portugal e Espanha; em 1961, exilou-se em Paris, partindo posteriormente para Argel. Nos horizontes percorridos e nas terras habitadas, Echevarría colheu os elementos que, integrados a partir de sua experiência do mundo, reelaborou no âmbito de uma estética de raízes ibéricas, em que a tarefa de (re) construção literária do concreto se realiza de modo primoroso. A matriz filosófica transparece nos títulos de seus livros, como Introdução à filosofia (1981) e Fenomenologia (1984); há nisso o índice de uma obra composta sem concessão a contingências, derivação necessária de um persistente esforço reflexivo elaborador de uma poética que busca, insistentemente, o desvelamento dos sentidos do real. Echevarría cultiva a lucidez como uma mediação necessária, concebendo-a como o recurso possível para a compreensão dos enigmas da existência. Uso de penumbra, publicado pela Escrituras na coleção Ponte velha, veio originalmente à luz em 1995, mesmo ano em que foi contemplado com o Prêmio Complementar Eça de Queirós da Câmara Municipal de Lisboa. Na edição brasileira, inclui um instigante ensaio de Maria João Reynaud — versão modificada de um estudo incluído em seu livro Fernando Echevarría — Enigma e transparência (Porto: Caixotim, 2001) —, pinturas do artista plástico baiano Zé da Rocha e o registro de um diálogo com Floriano Martins que ilumina aspectos essenciais da poética de Echevarría. Poeta “é aquele que faz”, afirma o escritor, oferecendo uma definição de cariz etimológico mais densa do que pode parecer a princípio: o que faz, afinal, o poeta? Talvez seja possível dizer: o poeta faz a si mesmo, num ato em que constitui um mundo que já não é apenas o seu. Por outro lado, se é esse um processo inevitavelmente solitário, pressupõe uma relação dialógica com outros que se dedicaram à mesma tarefa: o poeta consciente de seu ofício é partícipe de uma História que desde sempre acompanha a humanidade, na medida em que esta se dedica a explorar o espanto perante o real que habita. Esse diálogo, que subjaz a toda a obra de Echevarría, emerge de modo patente em Uso de penumbra, no qual a voz poética se constrói em densa relação com outras modalidades artísticas; e essa construção deve ser compreendida como um aspecto fundamental do livro, uma vez que implica uma reelaboração da dimensão estética da própria linguagem. Isso significa, em outras palavras, que Echevarría não se limita a referir-se à arte — seja a pintura, a escultura ou a dança. Em vez disso, forja novas formas de dizer que, enquanto derivações da linguagem poética, encontram na arte motivos que ensejam atos reflexivos acerca do mundo. Ressalta Maria João Reynaud: “cada poema é o resultado de uma comunicação profunda e misteriosa com os referentes estéticos que constituem o seu suporte visual, um conjunto de objectos culturais cercados de uma aura que os torna a priori atraentes, independentemente da relação de fruição que o sujeito poético possa com eles estabelecer e que é, aqui, absolutizada”. A arte é tomada, portanto, não como objeto de uma contemplação particular, mas como produto do trabalho humano que, por essa condição, tem já estabelecido seu inestimável valor; e é nesse nível que se estabelece a relação dialética entre o poeta e a(s) obra(s) que tematiza em seus escritos. Variações Na “penumbra” constante do título da obra há uma evidente alusão ao chiaroscuro pictórico; contudo, já aqui se pode perceber como Echevarría opera uma reelaboração do elemento extra-literário a partir de sua proposta poética. Afirma a primeira estrofe do poema intitulado, precisamente, Uso de penumbra: “O espírito começa onde a penumbra/ se desentranha do fundo/ do objecto. E acentua/ seu pressentimento em curso./ Dir-se-ia desprendida da vetusta/ escuridão. De que tudo/ toma substância. E se individua/ na original saudade do seu lustro”. Por conseguinte, o que na pintura pode servir à sugestão do volume ou à dramaticidade dos contrastes, na obra poética tem um sentido fundamentalmente cognitivo: trata-se do processo de emergência do objeto perceptivo inerente à constituição do espírito, que simultaneamente institui a si mesmo; por outro lado, disso deriva a poesia, como testemunha de cada etapa deste movimento. Se a penumbra “sustenta/ o momento em que a obra pára o mundo”, como afirma a estância final, é porque representa o jogo de contrastes que condiciona a formação da consciência. Não menos interessante é perceber o diferente tratamento concedido às diversas modalidades artísticas, algo patente no índice do volume: obras plásticas comparecem de modo particularizado — vejam-se títulos como Última visão, de Rodin; Auto-retrato de Rembrandt, ou Retrato de La Marquesa de la Solana, de Goya —, ao passo que outros poemas tratam de modo totalizante a Dança ou a Música (isso embora tenhamos um conjunto de poemas denominados Repentirs, nome técnico conservado pelo próprio poeta que, em nota, afirma não haver encontrado palavra portuguesa que traduzisse o termo francês para “obra O AUTOR Fernando Echeverría Nasceu em 1929. Cursou humanidades em Portugal, Filosofia e Teologia em Espanha. Exilado em Paris desde 1961, partiu para Argel em 1963, regressando àquela cidade em meados de 1966. Contemplado com diversos prêmios, presente em mais de uma dezena de antologias, tem publicadas várias obras poéticas, entre elas: Entre dois anjos (1956), Tréguas para o amor (1958), Sobre as horas (1963), Fenomenologia (1984), Sobre os mortos (1991) e Introdução à poesia (2001). Uso de penumbra Fernando Echevarría Escrituras 176 págs. plástica que o artista resolveu não terminar”). Nada disso é acidental: temos, de fato, tratamentos diversos sobre as artes que podem ser apreendidas de uma só vez pelo olhar e sobre aquelas que se efetivam na duração. No caso das primeiras, opta o poeta por tematizar a obra acabada, de uma só vez oferecida à percepção, debruçando-se sobre as diferentes etapas de sua fruição; no caso das últimas, o que vem à tona é a tentativa de compreender o processo de desenvolvimento da obra. “E, então, a Madalena perpetua/ a dolorosa contenção do pranto/ reclinado somente sobre a curva/ do sacramento. Enquanto/ João destrinça na coroa dupla/ o místico sentido. E o arcano/ do peso da cabeça que deslumbra/ a discrição da sua mão por baixo”, lemos em toda uma estrofe de La Pietà d’Avignon, registro de um olhar que percorre a obra, rastreando leituras; já em Três movimentos, obra da seção Música, o foco é a reflexão subjetiva ensejada por uma melodia não nomeada: “Essa pátria que, ao fundo de nós mesmos,/ o de onde vimos abre a irmos indo,/ inunda-nos de paz. E o pensamento/ diáfano se encontra de sentido”. Cabe enfatizar, no entanto, que não há nessa estruturação nada de rígido, como podem fazer supor minhas considerações; a bem da verdade, Fernando Echevarría repensa a cada verso a sua escrita, reajustando o olhar e o discurso em busca de novas possibilidades líricas. Talvez haja nisso alguma herança biográfica, resquícios do homem que habitou muitas terras; talvez isso derive de seus múltiplos percursos intelectuais. De todo modo, o mais importante é perceber o papel crucial que essa variação desempenha na construção de uma poesia essencialmente comprometida com a compreensão da beleza, essa perene luz que guia o homem em meio às trevas que o rodeiam. Autoria e espelho biográfico :: Mirhiane Mendes de Abreu Campinas – SP J orge Luis Borges é hoje escritor de grande reputação, embora a fama só lhe tenha chegado após os 60 anos. De imenso prestígio internacional, suas preocupações intelectuais se assentavam em rejeitar a pretensão realista do texto, refletindo, assim, sobre a dinâmica imaginativa da escrita e da leitura. Estimulado por escritores como Berkeley, Hume, Schopenhauer e Nietzsche, sustentava como premissa filosófica a natureza subjetiva de todo conhecimento e experiência, o que o levava a insistir na artificialidade do trabalho criativo, bem como na magia ficcional de qualquer texto, até mesmo um obituário. Labiríntico e enciclopédico, termos resultantes do fascinante mundo borgiano, a força dos seus escritos se constitui em absoluto relativismo, transportando o leitor para uma viva espiral, conforme conceitua a literatura. Se, por um lado, a imagem de um homem trancado numa espécie de “biblioteca total” delineou sua personalidade e erigiu suas preocupações, por outro, estas mesmas personalidade e preocupações foram igualmente construídas pelas histórias infantis, fossem as aventuras de Robert Louis Stevenson, fossem as narrativas familiares, narradas em tom épico por sua mãe e avó. Dividido em cinco partes, Borges, uma vida, de Edwin Williamson, procura construir a biografia deste homem cuja vida eram os livros. Fruto de sólida e obstinada pesquisa, e no melhor estilo “o homem e a obra”, o trabalho procura indicar as afinidades entre a existência borgiana e sua produção escrita. Imerso em arquivos, fontes e entrevistas, além de copiosa bibliografia, o biógrafo tenta preencher as lacunas do biografado, organizando-as em conformidade com um minucioso ordenamento cronológico. Entretanto, lembro aqui o quanto o trabalho de escrever metodicamente uma vida é uma tarefa exigente: o exame de múltiplas fontes gera sentido, renunciando ao absolutismo da verdade; inscreve-se no sistema das representações do simbólico e introduz, com rigor científico e argumentativo, critérios de veracidade e plausibilidade, especialmente em se tratando de Borges. O que caracteriza essa biografia em particular é um estabelecimento híbrido de um discurso histórico, de crítica literária e de psicanálise. Assim, a primeira parte do livro, “A espada e o punhal”, narra o lado épico das mitologias individuais de Borges, seus antepassados e a história da Argentina em sua marcha para a modernidade. O contexto histórico da formação do país se impõe como obrigatório para o biógrafo, bem como todas as transformações socioculturais da primeira metade do século 20. Ao ordenar com harmonia a trajetória borgiana (os modelos da infância, os amores vividos, a educação formal e a informal, a biblioteca paterna, enfim, todos os elementos que produziram seu resultado no homem e no escritor Jorge Luis Borges até sua morte, narrada no Epílogo), o livro oferece mecanismos para se pensar como se molda um comportamento, uma personalidade e um projeto de vida. Todavia, pretender a totalidade, como se vê aqui, é sempre um risco, porque a escrita de uma vida é forçosamente lacunar. Expressa em ambição totalizadora, essa narrativa acaba por se tornar, a certa altura, maçante, especialmente se em comparação com o trabalho de fôlego empreendido por Emir Rodriguez Monegal em Jorge Luis Borges — A literary biography, de 1978, e o próprio ensaio autobiográfico de Borges, ambos consultados por Edwin Williamson. Guardadas as diferenças entre os textos de Borges e Monegal, pode-se dizer que ambos se assemelham porque, neles, a rede complexa e escarpada em que se trama uma vida lança luzes para a construção da imagem desse hiper-intelectual, tendo por foco a escolha do processo constitutivo do escritor. Assemelham-se, ainda, por divergirem nesse aspecto do propósito de Edwin Williamson, cujo texto reaplica ao biografado as O AUTOR Edwin Williamson Nasceu em 1949. Interessado na cultura hispânica, é professor de literatura espanhola da Universidade Oxford e concentra suas pesquisas na literatura latinoamericana e espanhola. Borges, uma vida Edwin Williamson Trad.: Pedro Maia Soares Companhia das Letras 672 págs. formas de tradição romântica da escrita biográfica, de constituição teleológica, avivada por curiosidades pessoais que indicassem, desde o bisavô, a gênese de um escritor genial, ao que se acrescentaria a descrição dos acontecimentos históricos. Trata-se, assim, de buscar um princípio explicativo, capaz de particularizar Borges no âmbito dos acontecimentos socioculturais do seu tempo e de como sua personalidade teria absorvido esses eventos. A par dessas fontes, as informações a respeito da vida amorosa e das paixões vividas como substrato das composições criativas não escaparam ao biógrafo: mais do que elemento noticioso, os amores narrados constituem a justificativa para a sensibilidade excepcional, interpretada como móvel do seu trabalho literário ou intelectual. Ao evocar os momentos da vida de Borges, suas inclinações políticas e emocionais, Edwin Williamson atribui um norte para a sua experiência, conserva a ilusão da fidelidade aos fatos e busca produzir um sentido de crítica literária que entende a obra pela existência do biografado. Seja como for, o tratamento biográfico ali produzido, além de bastante informativo, fornece explicações sobre a técnica de construções de retratos e conserva o interesse pela gama de informações reunidas sobre a vida de um dos mais renomados escritores argentinos de todos os tempos. 147 • juLho_2012 prateleira : : internacional 24 QUEM SOMOS EDIÇÕES ANTERIORES A terra e o céu de Jacques Dorme COLUNISTAS CONTATO DOM CASMURRO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS CARTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO O leão e a jóia Sombras marcadas A história não contada Amsterdam Wole Soyinka Trad.: William Lagos Geração Editorial 152 págs. Kamila Shamsie Trad.: Débora Landsberg Alfaguara 400 págs. Monica Ali Trad.: Ana Deiró Rocco 272 págs. Ian McEwan Trad.: Jorio Dauster Companhia das Letras 192 págs. O oitavo romance do escritor russo exilado na França aborda o amor e o exílio em três narrativas que se passam ao longo do século 20. Ligando-as está um narrador único, o menino que vivia em um orfanato russo e que se transformou no escritor exilado na França. A pátria e a língua materna, questões presentes em outras obras do escritor, reaparecem aqui. A fábula contemporânea do vencedor do Nobel de Literatura explora com humor as relações de conflito dentro da cultura iorubá, tratando dos desafios da África contemporânea. A jovem Sidi é assediada por um jovem professor disposto a erradicar a tradição em nome de uma europeização dos costumes, e por Baroka, chefe da aldeia que deseja manter seu prestígio e poder. A escritora paquistanesa entrelaça a história de duas famílias, passando por eventos marcantes como o uso de bombas atômicas e a queda das Torres Gêmeas. Hiroko, ao perder a família em Nagasaki, em 1945, inicia uma jornada através do Japão, Índia e EUA em busca de uma nova vida. É a sua história que o leitor acompanha, chegando ao século 21, quando novos desafios se impõem. Como estaria Lady Di nos dias de hoje, se não tivesse morrido? A autora busca responder essa questão ao mostrar Diana levando uma vida comum nos Estados Unidos, sob outra identidade, após ter forjado sua morte. Distante do assédio e de uma agenda atribulada, “Lydia” vê seu segredo comprometido após o encontro com um ambicioso fotógrafo. Publicado no Brasil em 1998, mesmo ano em que recebeu o Booker Prize, o romance ganha agora nova tradução. Nesta obra o leitor encontra uma das marcas que caracterizam a obra do celebrado escritor inglês: um thriller em que as escolhas dos personagens revelam seu verdadeiro caráter e constroem uma crítica social, tendo como pano de fundo temas do mundo contemporâneo. Anatomia de um desaparecimento Tahrir: Os dias da revolução no Egito Sombras na relva Assim mataram Adônis A décima nona esposa Hisham Matar Trad.: Julián Fuks Record 224 págs. Alexandra Lucas Coelho Língua Geral 112 págs. Karen Blixen Trad.: Maria Luiza Newlands Editora 34 104 págs. Sarah Caudwell Trad.: Renato Rezende Tordesilhas 288 págs. A jornalista portuguesa constrói aqui um diário, mais do que uma reportagem, de seus dias na praça Tahrir, centro da revolução no Egito, antes, durante e depois da queda de Hosni Mubarak. “As revoluções são momentos extraordinários. A praça Tahrir foi um desses momentos: um triunfo do homem sobre si mesmo”, escreve a autora em nota à edição. David Ebershoff Trad.: Alexandre Morales e Patricia Cavalcanti Benvirá 672 págs. Neste registro, escrito em 1960, poucos anos antes de sua morte, Karen Blixen trata de sua experiência no Quênia, onde viveu de 1914 a 1931 administrando uma fazenda de café. A relação com a savana africana, sua gente e seus animais, em contraste com a velha Europa, protagonizam o relato autobiográfico da autora que se definia como uma “contadora de histórias”. De férias em Veneza, uma advogada londrina busca passeios culturais e pôr em prática seu método pouco ortodoxo de sedução, inspirado pelo poema “Vênus e Adônis”, de Shakespeare. No entanto, a personagem é presa, acusada de matar o homem que havia seduzido. O desenrolar dos fatos é então apresentado pelas cartas ingênuas da advogada a sua amiga. Andrei Makine Trad. Celso Mauro Paciornki Cosac Naify 160 págs. A partir de elementos de sua própria história, marcada pelo desaparecimento do pai, um militante político perseguido durante a ditadura de Muamar Kadafi, o escritor de origem libanesa constrói um romance sobre a relação entre pai e filho, questionando o impacto da ausência de uma pessoa amada na vida dos que são deixados. “Moby Dick avançava sempre, dissimulando sob a água o que nela era feio e monstruoso: as barbatanas ameaçadoras, a cauda gigantesca, a enormidade da mandíbula retorcida. De súbito, a parte oculta do seu corpo emergiu do oceano.” Moby Dick – Herman Melville VOCÊ LÊ. SUA IMAGINAÇÃO FAZ O RESTO. A décima nona esposa de um dos líderes da doutrina Primeiros Santos dos Últimos Dias recebe uma ordem do marido: abandonar seu filho na estrada. Seis anos depois, Jordan vê na internet a foto de sua mãe, presa pelo assassinato do próprio marido. A partir desta trama, o autor retrata o começo e o fim da poligamia nos EUA e levanta discute o poder da fé. 147 • juLho_2012 26 Escondido e desprezado Publicado em 1902, A todo transe!... apresenta um retrato até hoje inconveniente da vida política e social do Brasil : : Rodrigo Gurgel São Paulo – SP A todo transe!... é um tipo peculiar de roman à clef: à parte o fato de pertencer a certo elogiável grupo — no qual encontramos, por exemplo, Os Buddenbrooks ou O sol também se levanta —, a obra de Emanuel Guimarães, publicada em 1902, permanece atual não apenas graças às qualidades literárias, mas porque sua “chave”, passados mais de cem anos, pode ser encontrada em Brasília ou nas assembléias estaduais, como se os políticos encobertos pelas personagens ainda estivessem vivos, cadáveres embalsamados por meio de alguma técnica miraculosa, capaz de mantê-los respirando e, principalmente, cometendo os mesmos delitos. De fato, a semelhança entre o romance e as piores páginas do noticiário político chega a ser assustadora, mas não devemos nos prender a tal característica, pois ela apequena as virtudes desse livro injustamente esquecido, que nos ensina como a ficção pode descrever não só uma época, mas, partindo de fatos mesquinhos, retratar a índole duradoura da classe dirigente e a feliz alienação do povo. Não por outro motivo, aliás, A todo transe!... foi expulso das nossas histórias literárias, escorraçado das antologias e banido das livrarias: o brasileiro é condicionado, sempre e cada vez mais, a enganarse quanto a seus defeitos e qualidades, travestindo-os por meio do sentimentalismo, da farra, da autocomiseração ou do comportamento ufanista. O que é o Carnaval, senão a exasperação da tristeza e da derrota? E a crescente hegemonia do marxismo — inclusive, é claro, na crítica literária — só agravou o problema: para a esquerda, o brasileiro, olhando-se ao espelho, deve ver não a realidade, mas a utopia — a idéia benévola que faz de si mesmo. O romance de Emanuel Guimarães vai na contramão dessa cultura. Se há idealismo, está somente nas falas de Andrade e Melo, o deputado monarquista — o último deles; ou o último que tem coragem de se afirmar como tal. Desviando-se do óbvio e da ilusão, A todo transe!... é um panorama dos bastidores da política e das regiões mais escuras do coração humano. Um romance sem ideais, mas que recusa o sarcasmo machadiano, pois seu narrador sabe diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Teoria do engrossamento A perfeita definição da política, o narrador a coloca na boca do velho deputado Soares, experiente mas de poucas luzes, que assim explica ao novato Júlio César Betarry, protagonista do romance: Isto de política é um ofício como outro qualquer: um homem, como o visconde de Mauá, que tem idéias grandes de progresso, é um perfeito imbecil ao lado de um lorpa como o Jotajota, que ganha dinheiro em jogo de câmbio e de bichos; aos olhos do mundo este vale muito mais que aquele. Na política é a mesma cousa: quem tem idéias, quem quer ser estadista cai no ridículo e na miséria; político é o Juca Lima [líder do governo na Câmara Federal]: é o rei do Brasil, nem sabe ler, não sabe nem quer saber senão de bobagens. Ao que Betarry, rindo, pergunta o motivo de manterem Juca Lima na liderança, se realmente todos pensam assim. Impassível, Soares responde: “[...] Ora, porque ele é o ideal do político, nulo de inteligência, fácil de moral, e prático de eleições”. A visão crua de Soares voltará logo a seguir, quando Betarry, inebriado pela vida no Rio de Janeiro (até então, era um obscuro representante na assembléia estadual mineira), percebe que os deputados, diferentemente do que sempre imaginara, “apenas saíam do parlamento procuravam afugentar todas as idéias que dissessem respeito à sua profissão”. Surpreso com os temas dos diálogos — “mulheres, o escândalo do dia, o pagode de amanhã” —, com as rápidas sessões da Câmara, em que nunca se discutia realmente, e com a visita diária a teatros, clubes e prostíbulos, Betarry questiona o velho deputado, que lhe responde na voz do narrador: [...] O governo era o governo, a ele é que incumbia de trabalhar; quando surgia uma questão qualquer, o partido, o leader os convocava para uma reunião onde se dava a cada qual o papel a representar; quanto a ele, era apenas um número, um voto; não tinha outro mister: sim ou não, conforme lhe diziam. Muita vez discordava do que se fazia: mas para que buscar embaraços e maçadas quando as tinha já tantas involuntariamente? Aquilo tudo era uma pachouchada: eles entendem lá de governo? Mas estão de cima, são quem manda: querem assim? Sua alma, sua palma! Se essa bambochata desse em droga, ao menos ele não teria remorsos de haver sido o causador, nenhuma responsabilidade lhe poderia caber nos acontecimentos, eram todas dos que mandavam. Loureiro, outro deputado, da mesma roda, apresenta justificativas mais elaboradas — e não menos cínicas —, para assim concluir: [...] Ajunta que a vida é curta, o voto popular incerto quanto o bel-prazer do governo. Ora, hei de eu perder meu tempo de deputado eleito, com alfarrábios e estatísticas, trocar pela eloqüência dos algarismos, muito cacete, muito trabalhosa, muito falsa e muito pouco eficaz nos ânimos, a minha bela e fácil eloqüência, do verbo agradável, oco, de inevitável efeito, e de absoluta inanidade, em vez de aproveitar enquanto o Brás é o tesoureiro? E sacrificar-me estupidamente, à toa, porque o meu embrutecimento não redundaria em benefício nem meu nem de ninguém? Então pensas que nós é que fazemos a política? A política é que nos faz a nós, quem a faz é a arca onipotente da rua do Sacramento [à época, endereço do Tesouro Nacional], quem faz a esta é o café e a borracha, que são as duas tetas do Estado [...]. A essas explicações, destituídas de eufemismo, o próprio Betarry, depois de eleito à Câmara, somará outras, adquiridas em rápido aprendizado. Na carta que escreve ao cunhado — Fabiano de Alencar, fazendeiro e chefe político em Juiz de Fora —, responsável por seu ingresso na vida política, o novo deputado federal comemora o resultado das urnas e desculpa-se por não ter visitado a cidade nem mesmo durante a campanha: “[...] Para que iria eu lá? Tinha-te a ti como patrono, e sobretudo, não me queiras mal, tinha a promessa do ministro: ainda quando eu fora nascituro, com tal garantia sairia eleito; para que deixar isto aqui, este Rio de Janeiro onde me prendi douda, doudamente?...”. A essa lição — sucinta e esclarecedora — a respeito do sistema eleitoral da República Velha, Betarry adicionará outra, na qual elucida a técnica para se criar notabilidades, aperfeiçoamento do puxasaquismo: [...] A palavra engrossamento, hoje em moda, é característica da época. Hoje não se adula, não se lisonjeia, nem mesmo se bajula: hoje engrossa-se: aqueles vocábulos eram mais finos, aplicavam-se a um certo ato, no fundo ignóbil, mas que se praticava como que envolvido em panos quentes, às ocultas: hoje o ato é o mesmo mas sem cobertas, às escâncaras, tão ignóbil no fundo como na aparência, e por isso a gíria popular criou o engrossa, palavra indecente, obscena, como a cousa que representa. [grifos do autor] Didático, Betarry esmiúça o tema, usando como exemplo o ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, o médico Jerônimo Moreira, seu protetor, a quem chama de “nulidade” por ter produzido um “plano geral de viação para o Brasil” capaz de estupidificar seus leitores: CAROLINA VIGNA-MARÚ [...] Ele quer ser engrossado, exige o engrossamento constante, perene, criou o engrossamento para uso próprio, hoje vive dele. [...] O tal plano de viação geral do Brasil foi levado aos cornos da lua: o Clube Politécnico não hesitou em declarar que a salvação do país está na realização daquela monstruosidade. Não te assustes: ninguém acredita nisso; os membros do Clube são os primeiros a se admirar de como um homem pôde imaginar tanta asneira; mas houve engrossamento — Ite, missa est. Tenho refletido muito neste fenômeno: um homem galga por acaso uma posição social: os competentes, que precisam dele, começam a engrossá-lo, aos poucos o povo se capacita que o engrossamento é a verdade, e o cujo passa a notabilidade; depois os acontecimentos entram a demonstrar-lhe a ignorância palpável, os engrossadores lhe a revelam, o povo lhe ri às barbas; o engrossado tornou-se sabedor. Ninguém mais persuadirá ao país que o Dr. Jerônimo Moreira, ministro da Viação, é o que ele é, uma ignorância forrada de presunção catedrática: está consagrado. [...] São os fatos que prevalecem até hoje, caso acreditemos nas informações da mídia, em certas pessoas escolhidas para cargos de confiança e no perfil desolador dos eleitos, com os agravantes típicos das democracias representativas, cujos vícios não enumeraremos aqui. Linguagem e primitivismo Mas se desconsiderarmos o contagiante pessimismo que brota dessas linhas, veremos, a sustentar o enredo, a linguagem fluida, espontânea, em grande parte coloquial — que se submete, infelizmente, à retórica em alguns trechos —, capaz de recriar, além das falcatruas, dos bastidores do jogo político, a vida social carioca do início do século 20, o crescente desenvolvimento da cidade. Linguagem hábil em descrever o comportamento da massa ou a vida íntima das classes sociais que tinham acesso ao poder, com o autor Adolfo Emanuel Guimarães de Azevedo Nasceu em Valença (Província do Rio de Janeiro), a 12 de fevereiro de 1871, e faleceu no Rio de Janeiro, a 6 de fevereiro de 1907, com apenas 36 anos, vítima de tuberculose. Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, partiu para Paris, onde conviveu com escritores simbolistas e diplomou-se em Ciências Filosóficas e Econômicas. Além de A todo transe!..., publicou Jorge do Barral (romance, 1900), A engrenagem (teatro, 1903) e trabalhos póstumos: O irreparável (novela), Os brasileiros em Paris (contos), Os vãos lamentos (poesia) e Em pleno azul (romance). seus dramas, traições, imoralidades. Aos 31 anos, quando publicou A todo transe!..., Emanuel Guimarães tinha absoluto controle da sintaxe, dos meios de expressão oferecidos pela língua, construindo um estilo muito distante dos períodos quase telegráficos que encontramos na literatura contemporânea, reflexos não de uma opção estética consciente, mas, em grande parte, da nítida insegurança dos escritores. Um breve parágrafo, simples descrição do hall da residência de Joca, a amante do ministro Moreira, mostra como a estrutura frasal pode refletir a emoção intensa, a confusão que o reencontro de Betarry — por quem permanece apaixonada, passados vários anos — provoca nessa mulher; e também a perfeita idéia de movimento, dos personagens que se deslocam para o interior da casa: Um vestíbulo pequeno, com um cabide esguio, do espelho es- treito e comprido de cristal grosso, onde ela dependurava o chapéu de Júlio César e depunha-lhe a bengala, flanqueado de três portas, das quais uma fronteira à da entrada, abria-se, por trás de um reposteiro espesso de seda desmaiada, dum tom brando de folhagem seca, para a sala de visitas, onde Joca ia fazendo-o entrar, quase arrastando-o. Emanuel Guimarães mostra-se igualmente feliz na descrição das personalidades, às vezes estendendo-se em demasia, mas sempre conseguindo uma frase que sintetiza o personagem. De Jerônimo Moreira, ressaltará sua “nulidade empertigada”. Sobre Juca Lima: “Sua própria nulidade fora seu melhor título: sem passado, sem opiniões divulgadas, era o tipo por excelência do constituinte desejado”. Pimenta, um intendente municipal, promotor de festas quase diárias em sua casa — em relação às quais Soares dirá estarem “num ponto em que ninguém sabe onde começa a prostituição e acaba a honestidade” —, surge como um tipo hediondo: “Crivado de cicatrizes de bexigas, o bigode falhado, as faces rechonchudas, ele tinha o aspecto dos sórdidos gozadores, desses rebotalhos sociais que em épocas críticas sobrenadam, mancos de senso moral, legião torpe que devora a cousa pública sem rebuço e clamam com um muxoxo cínico: depois de mim o dilúvio”. E o narrador se manterá inflexível ao apresentar o falso luxo da residência que Pimenta divide com as filhas: [...] Tudo aquilo pequenino, guarnecido de uns móveis efeminados, bonitinhos, móveis de fancaria, casquilhos, de uma graça luxenta de quem quer e não pode. [...] Em tudo transluzia a dificuldade que atribulava constantemente a existência daquela gente, curta de recursos, larga de usanças. 147 • juLho_2012 27 Os diálogos merecem especial atenção em A todo transe!..., pois estão repletos de indiretas e ironias, ferinas ou não, trocadas entre companheiros de partido e suborno ou inimigos que se suportam em nome da convivência quiçá democrática. Uma seqüência de falas entre personagens pode ser construída utilizando-se o coloquialismo típico dos rápidos encontros entre conhecidos, plenos de comentários airosos ou divertidos, entremeados por rápidas cenas urbanas, que dão vida e autenticidade à história. Veja-se, por exemplo, no Capítulo V, o longo trecho em que os personagens se deslocam pelas ruas centrais do Rio de Janeiro, encontrando-se e despedindo-se, interrompidos pelos bondes, pela massa que se desloca, por figuras que se aproximam, agregando-se temporariamente ao grupo, enquanto o narrador capta os gestos, as expressões, o burburinho. Então, quando percebemos, estamos no centro dessas conversas ligeiras, ouvindo vozes dessemelhantes, tomando consciência de suas peculiaridades; entramos com eles numa joalheria e assistimos ao fútil quinteto operístico expor sentimentos diversos, mas formando um todo harmônico, coerente. Mais que o perfeito controle dos elementos da frase, construir cenas desse tipo requer sensibilidade, vivência, argúcia. Observem como Emanuel Guimarães, indo além do diálogo, acrescenta verossimilhança à descrição da rua do Ouvidor — encaixa um incidente curioso, que reforça o descompasso entre a paisagem urbana rústica e o aparente progresso, salientando a conhecida negligência brasileira: trada da vila, para assistir à festa! O sol caindo sob a Cidade Nova, deitava os raios oblíquos, e as casas altas sobre a estreiteza da rua banhavam-na em sombra amena, bruscamente cortada, nas esquinas das ruas transversais, com uma mancha dura de claridade. As bandeiras, permanentes nas sacadas dos prédios, ondulavam com a viração agradável que soprava do mar, e no movimento daquelas fraldas largas dos pavilhões desbotados, de cores mortas pela exposição constante à atmosfera, roçando penosamente nos arcos de bicos de gás de lado a lado na rua, desprendia-se um característico ar de rudez primitiva, como que prolongando e acentuando o contraste estranho entre as edificações da rua e as vitrinas, do povo imenso grulhando e o exíguo espaço da calçada, estrambótica com os esgotos em meio, a mescla indizível de civilização e barbaria que ressumbra da rua do Ouvidor. De súbito, a gente toda que acercava a esquina da rua da Quitanda, alvoroçou-se, e uma nuvem densa de poeira levantou-se. — Que diabo! Exclamou Garcia tapando o nariz com o lenço e atirando-se para o lado oposto. Isto é um desaforo! Em plena rua do Ouvidor, a estas horas. Era uma carrocinha cheia de terra, puxada à mão, que dous trabalhadores tinham naquele instante virado à entrada do andaime de uma reedificação ali, na esquina. A terra fina produzira um pó alvacento que toldava o ar, sufocando. [...] Andrade e Melo puxou do lenço e espanou a poeira que lhe enxovalhara a roupa. Escolhido orador da turma, os temas do discurso formam a síntese do pensamento que norteará sua carreira: Darwin, Nietzsche e um visceral anticristianismo. Para nossa surpresa, contudo, os sonhos morrem ao primeiro golpe da realidade — e ele se transforma num funcionário público medíocre. Apaixonado pela trapezista do circo que se instala na cidade — a mesma Joca que o reencontrará no Rio de Janeiro —, seu pai o impede de fugir com a jovem. O cunhado leva-o, então, para sua fazenda, onde Betarry rapidamente esquece a aventura. Sob circunstâncias favoráveis, acaba escolhido pelo parente para derrotar, no interior do partido, um representante da oposição. É o primeiro passo para ser eleito deputado estadual. A partir desse ponto, o que vemos é sua crescente e insaciável ambição. Famoso e respeitado na província, sonha com mulheres fantasiosas: “[...] Ele aspirava acorrentar após si, como uma teoria de lânguidas vitórias, inúmeras amadas umas após outras, suplicantes em torno dele, impávido, coroado de glória e amor”. Este é Betarry, pronto a ser objeto de adoração, mas jamais disposto a amar verdadeiramente. E na política, suas posições se definem não segundo princípios ou certezas, mas por obediência à cupidez: Essa crítica de Guimarães ao progresso destituído de civilização retorna em diferentes momentos. O narrador faz Júlio César Betarry ver a rua do Ouvidor como um símbolo da “aversão hedionda e indomável” que o país tem “pela beleza, pelo conforto, pelo polimento”, observando, com repulsa, a rua abjeta com as vitrines repletas dos mais requintados lavores da indústria moderna, no contrassenso dos luxuosos vestuários, roçando podridões amontoadas pelas sarjetas, na imoralidade das fachadas ornamentadas com os fundos internos pestilentos, na tristeza da aparência civilizada com a realidade selvagem e primitiva, símbolo mordaz do povo todo pompeando com a fama de suas grandezas e esbofado de miséria íntima, encurralado nos costumes grosseiros, lembrando o caipira de pé descalço e enfiados no varapau os sapatos que calça à en- Se essa visão das contradições do Brasil urbano não fosse assumida pelo narrador, não poderíamos confiar nas impressões de Betarry, pois ele é o protótipo do político desleal e fingido — e não é minha culpa que esta última expressão tenha se tornado um pleonasmo. Fantasmas A construção psicológica do protagonista — e dos demais personagens — é outro mérito de Emanuel Guimarães. Fazendo perfeito corte na narrativa, ele abandona o Betarry que acabara de chegar à capital e volta no tempo, a fim de mostrar a formação, no Capítulo II, desse jovem interiorano que olha todos com arrogância e compara os políticos a prostitutas. Filho de um descendente de ciganos que se torna criador de porcos, Júlio César forma-se, com brilhantismo, na antiga Escola de Minas, em Ouro Preto. O prenúncio de sua ambição já se encontra no universitário que “não estudava por amor ao estudo, mas pela satisfação de orgulho que o estudo lhe proporcionava”. Isolado, sem amigos, mantendo “apenas as relações de camaradagem forçada pela pequenez do meio social”, logo percebe que apenas a política lhe permitiria erguer a cabeça acima da pobreza: Viu que ela dá tudo: por ela, salientando o indivíduo, galgam-se as posições iminentes e dominadoras, e a importância que se adquire ou os proventos que se pode auferir dela, abrem de par em par todas as portas de todas as satisfações. A única possibilidade que ele entrevia eram as futuras eleições federais. Mas três longos anos ainda o separavam daquele prazo fatal e o ardor que lhe fervia no peito não se padecia com tal demora. Do estado d’alma que lhe formou aquele desequilíbrio entre o que possuía e o que almejava, resultou-lhe uma aspereza no trato que inflamou a campanha de oposição que combatia contra o governo. Um azedume o enfebreceu contra tudo e contra todos. Inseguro, imaturo, Betarry avança às apalpadelas. Na capital da República, seduzido pelas festas e pelo meretrício, continua, no fundo, o envergonhado mineiro. Ganha importância, sim, não pelas qualidades de articulador, mas por servir às pessoas certas, estar à mão, com sua vibrante oratória, pronto a agir enquanto marionete. Durante a madrugada em que caminha ao lado de Andrade e Melo, ouve a fala repleta de indignação do ético deputado monarquista — mas recebe-a como estímulo para sua própria desonestidade. E ao reencontrar Joca, aceita possuí-la não em nome dos sentimentos passados, mas, obedecendo ao desejo de gran- deza, por ela ser amante do ministro — de quem, aliás, corromperá a esposa. Assim, finalmente alcança fama e conquista mulheres. Mas ainda lhe falta riqueza. Na manhã seguinte à de sua primeira noite com a esposa do ministro, só consegue ver o quanto outros são mais ricos que ele: E enquanto ele ia-se vestindo às pressas, seus olhos erravam da cama de ferro, com lençóis de cretone, à colcha grosseira de algodão branco, para o lavatório de vinhático com o espelho já todo sarapintado, o aço desfeito pelo ar salitrado do mar, as duas cadeiras de palha velhas, o sofá de reps safado, e suas roupas dependuradas em pregos pelas paredes, e o baú de couro peludo com as tachas de metal, tudo pobre, pobre, pobre, pobre! Em vez disso, o ministro, lá nas Laranjeiras ou na praia de Botafogo, nadava em luxo; o Jotajota, boçal e torpe, fruía palacete pomposo; o Barão da Concórdia rolava em vitória macia com bestas ajaezadas de prata; o Pimenta indecente tinha dinheiro a rodo para pagar-se cocottes de preço [...]. Em seu delírio, Betarry obedece à frase síntese do livro: “O que se procura é o dinheiro, venha como vier, donde vier, o dinheiro a todo transe...”. Fiel à desmesurada ambição, aceita casar-se com a filha natural do Barão da Concórdia, feia, quase disforme, mas dona de incrível dote. A segunda carta que escreve ao cunhado, no Capítulo XII, é o resumo do que há de mais sórdido na política. Por um momento, Betarry ensaia questionar-se acerca de sua própria identidade: “O que me atormenta ligeiramente é apenas isto: para quê? Sim, para que sou eu o que sou, que fim demando, de que serve toda esta força que me está nas mãos? A inanidade do poder está-me agora antes os olhos, clara como um período do Padre Vieira”. Mas não tem fibra moral para ir adiante; e as linhas seguintes, gasta-as em generalizações, pretendendo defender sua perversidade, até chegar ao lugar-comum citado por todos os corruptos: “O mal, o mal político, a nulidade prática do governo, dos homens públicos, faz parte da organização brasileira: se o governo deixasse de ser inútil e pernicioso, o Brasil deixaria de ser Brasil”. À fácil desculpa do atavismo político, Betarry acrescenta galhofas a respeito do seu próprio comportamento, cada vez mais laxo: E sobretudo te peço que não tires do fundo do teu arsenal de mineiro, reprovações à minha conduta como costumas fazer. Não penses em casamento interesseiro nem glorifiques o amor ao lar, dignidade da família, como não penses em honra, em pátria, bem da nação e todas as suas usuais mineiradas. São cousas passadas, só em Minas, lá no fundo dos sertões e das fazendas, é que se sonha ainda com esses fantasmas. O livro termina com terrível metáfora: a massa espremendo-se contra os portões da igreja, ensandecida para assistir ao casamento de Betarry — o povo reduzido a insignificante, mas satisfeito espectador da festança alheia. Resposta ao enigma O leitor que chegou até aqui certamente se pergunta por qual motivo nossos peritos em literatura fazem questão de esconder e desprezar A todo transe!.... Parte da resposta está no próprio livro; parte, nas linhas acima. Mas aos que desejarem se aprofundar no enigma, proponho um salutar exercício: leiam a educadíssima carta que Elio Vittorini — cujo projeto era o da “renovação moderna da literatura” — enviou, em julho de 1957, a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, explicando por qual motivo se recusava a publicar O leopardo. Ali, nas entrelinhas, nas razões ideológicas que Vittorini dissimula, encontrarão o fragmento fundamental da resposta. NOTA Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. Na próxima edição, Euclides da Cunha e Os sertões. Na superfície :: Maurício Melo Júnior Brasília – DF M ário de Andrade, quando leu os primeiros contos escritos por Murilo Rubião, detectou um problema que traduziu numa queixa. O mineiro era um escritor de fato, mas sua opção pelo fantástico estava marcada por um excesso de timidez. Tinha seres e situações mirabolantes nos contos, no entanto o realismo imprimia a eles uma força tão avassaladora que, em parte, encobria os devaneios, os vôos da imaginação. O novo romance de Antonio Carlos Olivieri, Farsantes & fantasmas, sofre um tanto deste mal da timidez. Em princípio, abre várias frentes de gênero — é um policial, uma crônica de costumes, uma reflexão sobre a inviabilidade ética —, mas, ao fim e ao cabo, não se realiza em nenhuma delas. Ou seja, permanece como uma leitura de entretenimento onde falta um humor mais vivo, inteligente e imprescindível. Padronização vazia Moreira é um ex-jornalista que usa um escritório herdado do pai no Centro de São Paulo para trabalhar como ghost-writer. Seu principal cliente é José Augusto Lobo Pavão, um editor oportunista e inescrupuloso que vive caçando livros de ocasião que possam vender aos milhões. Para criar o disfarce necessário de produto cultural, arrisca publicar herméticas teses universitárias, embora, para tanto, não se constranja em raspar a conta bancária do autor, sócio involuntário da empreitada. Neste ponto entra em cena um terceiro personagem, a bela e sensualíssima intelectual Lucila Napolitano, autora de um livro sobre o conto Desenredo, de Guimarães Rosa, que Moreira ajuda a tornar legível. Contratado por Lobo Pavão, Moreira se encarrega de dar algum sentido e escrever as obviedades ditas pelo Dr. Paul Mahda, um psicanalista que cuida de estrelas e celebridades, mas também um inescrupuloso que pousa de gênio e trepa com as clientes. Às vésperas de sua publicação, o livro aí gestado, “A supremacia psicobiológica — Um guia para a paz na guerra dos sexos”, ganha o reforço necessário para se tornar best-seller: seu suposto autor é encontrado morto dentro de um carro estacionado numa rua deserta da cidade. O crime abre espaço para a entrada triunfal de outro personagem, Lopes Cliff, um delegado malvestido e desleixado, mas infalível. Farsantes & fantasmas Este enredo chapado e bem preAntonio Carlos visível, onde Antonio Carlos Olivieri Olivieri manipula personagens e ações paRecord drões, serve de base para falar de um 160 págs. mundo de farsas e trapaças. Neste caso, toda degradação envolve o universo editorial, talvez por ser aquele de maior intimidade do escritor que, em suma, parece querer falar do preço da vaidade. Seu romance, afinal, está plenamente construído sobre personagens interesseiros e capazes de tudo na busca de seus objetivos, quase sempre antiéticos. Aqui não há heróis, e esta regra nivela todos ao rés do chão, resultando numa padronização se não chata, pelo menos medíocre e vazia. Fato mesmo é que todos os personagens são estereotipados e, parece, tirados de antigos seriados de TV. Existem apenas para mostrar a já imensamente batida crueldade humana que somente é combatida por homens probos e incorruptíveis, como Lopes Cliff. O problema é que tudo isso cansa o leitor mais atento, que certamente não está muito disponível para ler caminhos já tantas vezes lidos e relidos. A impressão que fica é de que Olivieri não conseguiu se libertar de todo das exigências cobradas pelas editoras aos autores infantojuvenis. Estes ditames pedem que, ao trabalhar na formação de novos leitores, os escritores manipulem enredos menos complexos e personagens de pouca densidade. Assim, jogou fora a oportunidade de retratar com mais acuidade um universo pouco explorado na ficção brasileira, mas que, ao lidar com futilidades e densidades, com opostos claros e vivos, pode muito bem traduzir todas as fronteiras da realidade universal. Aliás, neste sentido já caminharam outros autores nacionais, como Rodrigo Lacerda e Edgar Ribeiro Telles. A verdade é que tudo ficou na superfície. Em Farsantes & fantasmas, publica-se por vaidade, lê-se o vazio e todos os golpes são brindados com o sucesso. Naturalmente que o realismo mesmo da vida não é tão raso assim. E o autor nos oferece um olhar desbotado da vida, talvez por não querer colori-la com as tintas do humor, do fantástico ou mesmo do aprofundamento psicológico dos personagens. Antonio Carlos Olivieri, em suma, já mostrou em outras ocasiões que não lhe falta talento, mas neste novo romance houve um erro de opção. O resultado é uma indefinição meio sem sentido. E isso fez desandar todas as outras intenções. 147 • juLho_2012 28 A ficcionista Godofredo de Oliveira Neto Gravação 6 nteontem você falou um pouco da família, dos teus pais, da mudança de Joinville, do gosto paterno pela marcenaria, pode falar mais sobre essa época? Não tenho muita coisa a dizer. Família super normal, um irmão enfermeiro que vive nos Estados Unidos desde adolescente, fez lá inclusive o Ensino Médio, trabalhando como cozinheiro para pagar os estudos. Pai torneiro-mecânico, mas marceneiro de paixão, como já disse outro dia, mãe motorista de táxi em São Paulo. Ela compunha o contingente de 180 mulheres exercendo essa profissão em Sampa. Doença dos dois. A dele bem grave, a dela foi primeiro nas pernas, reumatismo logo transformado em osteoporose, aposentadoria pequeninha, a dele menor ainda, câncer de intestino, pensão do INSS uma coisiquinha, os dois em casa impotentes, só eu, ainda estudante do Ensino Médio, para segurar a barra, vestibular para o CEFET, aprovada. E um segredinho: aprovada em primeiro lugar, mas não bota isso no livro, hoje não tem sentido para mim qualquer tipo de vaidade. E mais um: eleita pelos calouros a mais bonita do CEFET (mas também não bota não... rsrsrsrsrsrs). Algum problema de ordem familiar que te levou para caminhos assim diferentes da média e para o messianismo? Messianismo voltado para o social? O messianismo não é sempre assim, Nikki? E por que você volta sempre ao mesmo social, como se estivesse se defendendo de alguma coisa? Você é que está vidrado nesse tema. Os fiéis podem até imaginar leite nos rios e as montanhas virando chocolate! No fundo nem eu mesma acredito. Está bem, Nikki, falávamos dos eventuais problemas familiares. Nada que me lembre. Meu pai morreu quando eu cursava o primeiro ano do CEFET, minha mãe também se foi logo depois. Estava dormindo na cama com ela, uma noite chuvosa, com trovões. De manhã a mãe não acordou. Ficou ali estirada, ainda chovia e trovoava, tal fogos de artifício engasgados e roucos, trombetas de cemitério. Essa cena me marcou muito. Não que isso possa ter influenciado a minha vida recente. É bem verdade que a mãe tinha aspirações como qualquer um, gostava de dividir comigo esses sonhos. Coisas triviais. Morar numa casa grande com jardim, outras mais bizarras, como ser motorista de táxi em Nova York e por aí afora. Morreu frustrada. Vocês viviam em condições precárias? O nosso apartamento de Moema, em São Paulo, era minúsculo e escuro, não batia sol nunca, a gente deixava a luz acesa em permanência. Minha mãe andou flertando com algumas religiões, se interessou pelo culto de Isis, do Egito, falava de um mundo de deusas. Mas sempre afirmou que o humanismo transmitido pelo cristianismo e pelo islamismo devia ser mostrado pelas esquinas da cidade. Você saía com ela pregando pelas ruas de São Paulo? Às vezes aos domingos ia com ela ao Parque da Consolação pregar, sim. Mamãe levava a Bíblia e o Alcorão. Lia fragmentos dos dois textos em voz alta, aquilo me constrangia um pouco. As pessoas riam, só uns perdidões ouviam as frases rebuscadas, os excertos me pareciam difíceis de entender. Mamãe insistia em A ILUSTRAÇÃO: Bruno Schier dizer minha filha, parágrafos atrasados dos dois livros foram acrescentados artificialmente por loucos através dos séculos e acabaram por fazer um estrago danado na história da humanidade! Ela só recitava os trechos com evidente mensagem humanista e apagava com pilot preto as passagens consideradas eticamente abomináveis. Mas não pode significar que ela preferia as partes fundamentais do texto? Minha mãe fundamentalista! Rsrsrsrsrsrs... nem pensar! Ao contrário, tirava as partes bobas da narrativa e deixava as que difundiam maior fraternidade e maior humanismo entre homens e mulheres. E o teu pai? Meu pai trabalhava das cinco da manhã às dez da noite, inclusive sábados e domingos. Esculpia santos e figuras do folclore gaúcho. Era de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Tinha muitos fregueses. Uma vez esculpiu um São Jorge matando o dragão num pedaço enorme de madeira trazido por nós três de uma praça de São Paulo. A estátua ficou exposta na entrada do pequeno apartamento, sobre a cômoda onde também reinava a televisão. Quando a gente via o noticiário ou filmes de madrugada, o São Jorge nos acompanhava. Mamãe sempre reclamava por papai não haver esculpido personagens negros. Um dia ele trouxe um Preto Veio com um enorme cachimbo na boca. Essa peça esteve dois anos com uma parenta da mamãe em Bertioga, mamãe vinha de uma família daquela região. Consegui reaver e hoje os dois estão aqui comigo, ali em cima da pedra, como você já viu no primeiro dia. Como você sabe que eu vi? Você nem se deu conta que permaneceu quase uma hora hipnotizado pelos olhos do São Jorge e do Preto Veio? É, se você viu deve ser... rsrsrs. Essa foi a minha vida em casa, nada de particularmente marcante. Um dia-a-dia medíocre. O CEFET me retirou do apartamento feio e escuro e me jogou no mundo. Ali também descobri pela primeira vez a paixão. Tive um caso com um rapaz polaco de Curitiba, desses caras desejados por todas as mulheres. Levei a sério, fiz planos de casar, ter filhos, morar numa casa com jardim como sonhava minha mãe. Saíamos juntos da Faculdade, freqüentávamos cinema e teatro, ele era fã de música clássica, íamos a concertos. Foi com ele que aprendi a gostar de ópera e música clássica. A cada saco de pipoca dividido correspondia um longo beijo salgado e molhado, podia ser em qualquer lugar, a gente pouco se importava com as pessoas. Paixão pra valer dos dois lados. Mas o André, fui saber depois, era bipolar. Acabei por descobrir que batia nas namoradas, às vezes era possuído por um ódio inexplicável. Você chegou a testemunhar cenas de violência da parte dele? Eu tinha presenciado realmente uma cena estranha que me encucou. Foi a partir dela que tentei descobrir alguma coisa sobre o meu rapaz loiro de rosto angelical. Aquela cena foi dantesca, mas nunca podia imaginar que a personalidade dele contivesse tal agressividade. Foi em lugar público? Foi num encontro no Ibirapuera, em São Paulo. Um menino de uns quinze anos ou dezesseis ficou olhando insistentemente para mim, uma insistência fora do normal. Notei mas não disse nada. O André numa hora pulou no cara, agarrou o seu pescoço e enfiou a porrada na cara do pobre guri. Bateu ainda com força no estômago, na cabeça, nas costas, não parava mais, parecia outra pessoa, como possuído pelo demônio. Umas dez pessoas vieram tentar apartar a briga. Nem briga era, o menino não reagiu uma vez sequer. Foi horrível, o rapaz ficou caído, todo ensangüentado. Deu polícia? Deu. Os guardas levaram o André para a delegacia, uma ambulância veio logo e acudiu o menino. Fui atrás do carro da polícia de táxi. Na delegacia André continuava um desconhecido para mim, vinha de outro mundo, respondia as perguntas sem olhar para ninguém, as respostas não tinham nexo. Acho que o delegado pensou esse cara não bate bem, é pirado. Ali não era o lugar para ele. Não havia nada a fazer. Além do mais o rádio da polícia alertava com insistência sobre um tumulto de grandes proporções na Avenida Paulista. Acabaram mandando o André embora com empurrões nas costas. O caso ficou por isso mesmo. O menino, soubemos depois, era um conhecido batedor de carteiras da região dos Jardins e 147 • juLho_2012 29 motoboy de um conhecido traficante de uma favela perto do aeroporto de Guarulhos. Por que não teria reagido então? Sabia que se reagisse morria. O André tinha virado um bicho, o menino deve ter percebido. Aquela tarde no Ibirapuera foi o meu último dia com o anjo louro. Ele nunca mais voltou ao CEFET. A Filó soube por um conhecido da sua internação numa instituição psiquiátrica. Sou perseguida por esse tipo de gente. Tive ainda uma amiga de colégio, encontrava com ela de vez em quando, a Sandrinha. Um dia a gente passou horas fumando maconha e tomando vodka na represa Billings, em São Paulo. Quantos anos você tinha? Uns quinze anos, ela um pouco mais. Sabia que ela tomava drogas mais pesadas. E naquela tarde ela já tinha vindo chapada. De tardezinha, quando quase todas as pessoas tinham ido embora, Sandrinha teve um ataque e morreu do coração na minha frente. Comecei a gritar, chegaram uns policiais, ela foi levada para o hospital de São Bernardo do Campo. Fui junto. Os médicos diagnosticaram overdose de heroína. Uma coisa dramática. Foi a primeira vez que você a viu nesse estado? Já tinha acontecido coisa parecida na casa dela uma vez. De madrugada Sandrinha foi com um amigo comum, o Jorge, para o banheiro. Ela se dizia virgem, tinha problemas com parte do seu corpo, doía quando começava a penetração, etc. Só sei que o Jorge saiu do banheiro correndo, aos gritos. Sandrinha apareceu na porta do banheiro com os traços crispados, não andava direito, sentou no sofá da sala olhando fixamente para a parede, falei, oi, Sandrinha, o que você tem? Nada, ela respondeu, só estou vendo coisas maravilhosas na minha frente, ali, ó, tá vendo a borboleta voando e me sorrindo? Ela apresentava outros sintomas? Sandrinha também babava pelos cantos dos lábios, é melhor chamar uma ambulância, eu disse. Ela retorcia a boca toda para um lado, botava a língua para fora, emitia uns roncos estranhos, as mãos transformadas por um reumatismo súbito, os dedos pareciam garras de gavião. Pusme a rezar, a pedir por Deus, já tinha visto pessoas possuídas pelo diabo, achava que Sandrinha estava com o demônio no corpo. Era um processo neurológico provocado pelas drogas? Um pronunciamento do cão-tinhoso? Exu tomava conta do corpo da minha amiga? Ainda hoje relembro dos traços da Sandrinha quando uma força súbita toma conta de mim. Mas você se droga? Não, claro que não, já te disse, isso são tempos idos para sempre, que fique bem claro. São outras visões que me dominam e me ajudam a guiar as pessoas. Você nunca mais viu essa gente? A Sandrinha morreu, como te falei. Me comunico com alguns amigos daquela época por internet quando vou a uma lanhouse em Herval d’Oeste ou em Joaçaba. A irmã da Sandrinha seguiu o mesmo caminho. Conheci ela também, Janaína. O seu psiquiatra fala em histeria. Ela acrescenta sempre rsrrsrs depois da palavra histeria quando me escreve. Mas anda internada. Foram experiências traumáticas, não, Nikki? Foram um pouco, mas, junto com cólicas menstruais, depressões, as briguinhas de colégio e no CEFET, acho que aconteceram coisas típicas a qualquer menina da minha idade. No fundo a gente acha que acontecem só com a gente e acaba ficando com inveja de pessoas fortes e bem-sucedidas, bonitas por fora e por dentro. Mal sabe que essas pessoas sofrem do mesmo jeito, só manifestam de outra maneira. É tudo fake. Também têm as veinhas que pulsam na cabeça e no coração, sofrem enfarto e AVCs como todo mundo, talvez tenham até vida mais curta do que os outros, tudo isso deve ser levado em consideração. Você já teve algum animal de estimação? Tive um gato durante dois anos, logo depois do episódio do André. Era preto malhado de marrom, olhos verdes imensos e pêlo macio como seda. Gostava do Mimi. Costumava passear pelas ruas de São Paulo com ele no ombro. A gente se completava em todos os sentidos. Como tenho um ombro mais baixo que o outro, botava o gato no ombro mais baixo e encontrava uma espécie de equilíbrio para o esqueleto. Até os meus sapatos, que se desgastavam mais no pé esquerdo, deixaram de me machucar. Comprava para o Mimi a ração mais cara, caminhas de pelúcia, brinquedinhos, etc. Parte da bolsa de estudos do CEFET sumia no pet shop. Era o meu único gasto supérfluo. Que fim levou ele? Mimi acabou estraçalhado numa das suas incursões na vizinhança. Um pastor alemão topou a briga. De costume o Mimi afugentava os cães com uma demonstração belicosa com as garras, além de um rosnar atemorizante. O manta preta daquela vez levou a melhor, foi logo na primeira bocada, segundo algumas testemunhas. Chorei muito, mas nada a ver com o choro quando aconteceu o caso com o André. Mimi era um pêlo macio que só me queria bem. A vizinha de porta quis me dar um periquito australiano como consolo, mas não quis. Outros vizinhos vinham apresentar condolências, alguns até aproveitavam a situação para outras intenções. Então você era uma pessoa querida pelos condôminos, não tinha problemas de relacionamento com as pessoas. Era bastante. Foi assim que acabei transando com o marido da vizinha do andar de baixo! O cara se apaixonou, mas depois do terceiro encontro eu não quis mais. Pensei na Filó e nos seus conselhos: melhor dar umazinha de vez em quando para garantir e para não esquecer como a coisa funciona, sem falar que na hora, ao ver aquela coisa dura, tu te sente desejada, é bom pra auto-estima... rsrsrsrs! Ela ainda assegurava que homem casado é até melhor, porque pega menos no pé da gente. Você pauta bastante as tuas histórias falando de sexo. Eu não! Você é que ressalta e sublinha esse ponto, o recalcado é você, e que tenta exorcizar as suas pulsões mais primárias na fabulação. Não é isso, foi só com o intuito de tentar entender a tua personagem, e uma coisa é o narrador, outra o autor. Não sou personagem de ficção! Sou de carne e osso, pô!!! Mas, de fato, homens na minha vida apareceram muitos, se é que te interessa. Não particularmente, é só para ir construindo cenas e personagens, já te disse. Mas não esquece que construir um personagem é também destruir um conceito, trabalha isso com os teus babacas de leitores. De qualquer maneira, Nikki, escrever é um ato de resistência à linguagem comum, não vou repetir bobamente o que você narra. Então vai te foder!!! Sinceramente, Nikki, vou ver se relevo no texto essa grosseria que você acaba de dizer. Grosseria? É. Indelicadeza e descortesia. Então interpreta como você e os seus leitores acharem melhor. Vai plantar batatas, talvez seja menos inconveniente... rsrsrsrs. Vamos voltar à entrevista. Tudo bem. Você já teve algum problema pessoal com a polícia? Problema como? Algum relacionamento, alguma briga, algo que tenha te aborrecido. Tive um, que me lembre agora. w. b. ou os dez caminhos da cruz 1 na universidade ninguém na universidade dar-lhe-ia abrigo o curriculum não lhe abriria o portão nenhuma chave se moveria ao que busca escancarar a cela do futuro ali penetrará quem dominar ofícios graduar pontuações estilhaços do cristal da vida aludiriam ao haxixe às 7 da noite num pequeno quarto no centro de Marselha pensamentos suspensos em brinquedos os choques das multidões lidos como formas preponderantes das sensações e a denúncia de bienais exposições louvores à mercadoria fetiche perguntariam com que passaporte preencheria o questionário de algum departamento o código para desmontar a astronomia dos livros lançados pelos bulevares de Paris que reitor se sublevaria contra os anátemas de frankfurt sem guerra ou o trovejar de trombetas messiânicas nenhum narrador desfolharia sua história mesmo se encontrasse no caminho um monte de pedras de um cemitério na fronteira de espanha ou o anjo de paul klee a anunciar a ventania do progresso 2 na política nenhum partido defloraria sua ficha de inscrição nunca seria o anão enfurnado na jaula dos espelhos a manipular no jogo de xadrez a alquimia da trapaça a imagem autêntica do passado é um raio diz e a verdade imóvel não traduz a matéria da história daí o quarto de uma só janela os dias corroídos pelo sal de ibiza a fuga pelas escarpas dos pirineus a tempestade a afugentar os anjos e a lançar seus escombros sobre a caligrafia do último justo 3 no supermercado somente ele enxergaria as formas do humano detrás das prateleiras dos supermercados ou descobriria no diálogo das mercadorias a mímica das massas entre passantes somente ele seria capaz de ouvir sinfonias de goethe aprisionadas nos códigos de barras ou as estrofes de mahler nos pregões do vendedor de pipocas 4 no apartamento ninguém lhe daria guarida no estojo onde se desfiam as ilusões técnicas dos múltiplos perfis do homem nenhum engenheiro perceberia a equação do desmoronamento no núcleo abissal dos edifícios apenas ele ouviria de noite o rio a soluçar baixinho sob o travesseiro e na mais alta copa da cidade haveria de sonhar enormes formigas a mastigarem as folhas do desterro 5 no cinema Godofredo de Oliveira Neto É professor da UFRJ. É autor dos romances Amores exilados e Menino oculto, entre outros. A novela A ficcionista será lançada em agosto pela Imã Editorial. Vive no Rio de Janeiro (RJ). ninguém lhe convidaria ao cinema através das escuras lentes avistaria os artefatos técnicos concebidos para destruir os desígnios da aura então deixaria o escuro da sala de projeção pequenas mãos a ajeitarem Everardo Norões o óculos de míope embaçado pelo ar-condicionado a sensação de nunca ter sido capaz de recompor a cabeça da vitória de samotrácia 6 na varanda somente ele enxergaria a cidade despontar como um campo minado numa apoteose de foguetes a ameaçarem o céu oh ele diz aqui neste chão discursou um pássaro havia uma muralha a proteger a comunhão dos santos e eis que do outro lado das vitrines ninguém conseguirá resgatar o objeto da salvação 7 no parque ninguém sentaria ao seu lado num banco de jardim para observar o bem-te-vi atacar o gavião e descobrir no esvoaçar dos pássaros o segredo da luta de classes 8 na escola ninguém o chamaria de mestre com seu paletó puído e o caminhar do errante sentaria no último banco um logotipo de fogo luziria na sala crianças manipulariam teclados de tabuletas onde letras se desmontam no abismo das apóstrofes e peixes destilam anúncios do último aplicativo eletrônico aqui ninguém estaria a salvo pensa nenhuma cartilha desarticularia a vértebra dos dias nenhum link desdobraria o auriflama das idéias onde se refugia o soluçar do nome 9 na livraria EVERARDO NORÕES ninguém entraria numa livraria para interpretar desenhos de capas o evoluir das mãos no ventre dos livros veria cadeiras no teto de onde pende o fio a comandar a vida dos bonecos indagaria sobre a saúde mental das estantes a fluidez dos signos sobre o minúsculo lago eletrônico perguntaria em que colina se perdera o narrador sentaria numa poltrona e passearia os dedos entre histórias em quadrinhos a aguardar o toque de finados da igreja da Madre de Deus 10 sob a marquise ninguém se deitaria à noite sob a marquise para ouvi-lo contemplar o outro lado das constelações apenas três crianças a cheirar cola se aproximariam para perguntar que deserto existe além do mais alto céu a resposta seria sufocada por gritos urros latidos de cachorros posto contra o muro arrancar-lhe-iam lápis e os coloridos cadernos de anotações nos anúncios das avenidas vislumbraria uma cruz a atravessar um horizonte de bêbados e em meio ao cheiro de vômito e urina descobriria que restara no bolso do casaco vinte gramas de cianureto de potássio Nasceu no Crato, Ceará, em 1944. É autor de Poemas argelinos (Pirata, 1981); Poemas (Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 2000), vencedor do Prêmio Literário Cidade do Recife; A rua do Padre Inglês (7Letras, 2006); e Poeiras na réstia (7Letras, 2010), entre outos. Organizou a obra completa do poeta recifense Joaquim Cardozo (Nova Aguilar, 2010) e antologias (das quais também é tradutor) de poesia peruana, do mexicano Carlos Pellicer, do italiano Emilio Coco e de poetas franceses contemporâneos. Em 2011, seus poemas figuraram na Antología de poetas brasilenõs actuales, da editora espanhola Paralelosur. Seu livro de contos Entre moscas (no prelo) venceu o Prêmio Literário Cidade de Manaus 2011. 147 • juLho_2012 30 Castigo A caminho da ponte N ão sei a que horas acordei. Estava encolhida no canto da cama. Minha cabeça doía; meu estômago revirava. Fechei os olhos e tentei voltar a dormir. Os olhos abriram minutos depois. Fiquei ali, deitada, imóvel. As manchas estranhas no teto não me deixavam relaxar. Faça um esforço, Marianne, levante-se. Pousei os pés no chão frio. Havia também uma mancha vermelha na minha camisola. Fiquei confusa por um momento, até lembrar. Estava menstruada e esquecera de trocar o absorvente. Caminhei lenta até o banheiro. Ao fim do corredor, o relógio. Quase meio-dia e tudo era ressaca. Na porta da geladeira um bilhete do João me informava de um plantão do qual não ouvira falar. Ou talvez fosse uma desculpa para fazer outra coisa — outra. Bebi um copo de leite, não mais. O estômago revirava. Enfiei uma maçã numa bolsa perdida no balcão da cozinha. Prendi um bilhete na geladeira para o caso de o João chegar, bati a porta do apartamento, entrei no carro e dirigi para o Aterro do Flamengo. O sol era forte e era domingo. Eu não queria lembrar mais do atropelado. No parque as crianças corriam feito zonzas pelo gramado e os adultos corriam disciplinados pela pista. O sol batia em todo mundo e bati eu também no meu vestido para espantar os insetos zumbindo ao meu redor. Eu deveria estar feliz. João só retornaria por volta das oito da noite e trocaríamos palavras e beijos então. Talvez estivesse com a outra enquanto isso, porque era tão verossímil. Mas procurei não pensar. Fui para o lado do Centro; o Pão de Açúcar se afastava. Sentia minha pele quente e o estômago se acalmava. Em breve a maçã não seria má ideia. Passei o MAM e o aeroporto. Às vezes me parecia faltar uma ponte que ligasse João a mim. Não podia ser como em um filme de amor — o amor nos filmes de amor é alimentado pelo amor e talvez pelo ciúme, e por isso nossa história não poderia nunca ser um bom filme. Levara tempo e esforço erguer a ponte. Às vezes as pessoas morrem em construções de pontes. Porque pessoas morreram por mim e pelo João mas de fato morreram por pontes também. Assim como morriam atropeladas, às vezes nas mesmas pontes que custam a vida a outras pessoas para serem construídas. Ainda assim você não deveria, Marianne, dirigir agora com tanta confiança, você não deveria correr como corre, nem cortar os carros nem deixar o pneu cantar. Mas o vento na minha cara é que me obrigava à liberdade que eu jamais voltaria a ter, e talvez precisamente por isso eu me abandonasse tanto ao ultrapassar os carros, porque isso você pode, Marianne, então faça. — Se nós fizéssemos. João me disse um dia: — Vamos ser livres. Eu estava no volante, o carro na estrada de terra e a estrada deserta. Fora pouco depois do início de tudo e eu voava livremente. — Não seja idiota. — Vamos, Marianne, vamos ser livres. Quer saber como? Não respondi. Ele disparou: — Assumindo. Engoli seco, pisei no freio. Assumindo? — Que idiotice é essa? — Lembra os filmes? Bonnie & Clyde. Mallory & Mickey. Assassinos por natureza. Trouble in paradise. A vida seria melhor, Marianne. Nós assumimos que matamos de uma vez, largamos tudo e saímos pela estrada. Dessa vez freei o carro por completo. O acostamento servia afinal para as emergências. Agarrei seus ombros. João sorria convencido do plano. João era louco de pedra. — Você tem idéia do que isso significa, João? Ele começava a lutar para sustentar o sorriso. — Como isso poderia durar? Imagina a gente tentando ser assassinos por natureza. — Mas não somos? Tomei tempo para responder. — Não saímos de um roteiro de Hollywood, João. Nosso trajeto nunca vai ser esse. Pisei mais forte no acelerador. — Podíamos repetir aquela noite para sempre, Marianne. Ser livres, entende? Afundei o pé e a pista à nossa frente quase me dava a impressão de que o plano do João poderia funcionar. — Imagina. A gente pega a estrada, não rouba nada, só mata. As pessoas se incomodam quando lhes tiram o dinheiro, não quando lhes tiram desconhecidos. Esse foi o erro dos que vieram antes de nós. Mas já temos dinheiro. Fui acelerando mais e mais. O vento na cara me revivia e em breve eu precisaria pegar a saída à esquerda na estrada de terra. A Victoria Saramago maçã não seria má idéia. A brisa da baía trazia algo de mar e João continuava: — Também não mataríamos à luz do dia. É tão sem graça e tão suicida. — Concordo. Mataríamos à noite, longe da vista dos outros. A bifurcação chegava e eu deveria pegar a esquerda para a fazenda e a direita para Niterói. — Você concorda então, Marianne? Hesitei. Obviamente eu não era lunática como ele. — João, nós não viemos de um filme. A realidade está aí, você não vê? Já foi demais termos livrado a pele naquele dia. — Por isso — ele me interrompeu — o que acontece nos filmes poderia acontecer na realidade. Já aconteceu, e a prova está na nossa frente. — Mas nós não somos como eles. Nós não viemos de uma história de ação. Nós não mataríamos como eles e estaria tudo bem por semanas, meses, anos talvez. Não duraríamos uma semana nessa vida, João. E depois não iríamos para uma cadeia decente. — Peguei então a bifurcação à esquerda. — Íamos passar fome, íamos ser estuprados, íamos dormir na merda. Para sempre, João. Você quer isso? Peguei então a bifurcação à esquerda. Para Niterói era à direita. Eu estava agora na Avenida Brasil. Estava quente e empoeirado e eu estava na rua errada. Segui duzentos, quinhentos, mil metros. Não conhecia a Avenida Brasil e duvidava de que não ficaria para sempre lá. Um desvio. Onde me levaria? Era muito quente e os carros muito rápidos me davam o desejo de dirigir à noite. Evitei o desvio, mas saí da pista central. Eu poderia entrar em uma favela e morrer. Eu poderia ser sequestrada, porque é tão fácil, uma mulher com roupa de grife e sozinha em um carro relativamente novo, sozinha na favela no sábado e quem terá piedade. Eles poderiam me sequestrar e eles me olhavam. Que olhassem. Eu precisava de um retorno com uma saída para a ponte. Que olhassem. E por olharem todos peguei a ruela velha, a via pequena e destruída, os cachorros e as crianças brincando nas poças de lama e nada garantia que não poderiam voar para o meu carro, quebrar o meu vidro e me atacar ali mesmo, a matilha inteira e as unhas e os dentes pequenos das crianças e dos cães, quem poderia detê-los? João estava longe agora e os barracos cinzentos me davam o sentimento do suicídio, porque era exatamente isso, como foi também quando a pista me levou a um elevado que, cruzando para o outro lado da Avenida Brasil, me fez dar a volta em outra rua menos macilenta, é verdade, mas nem por isso mais tranquilizadora, porque é nesses lapsos que as pessoas se perdem, Marianne, é pegando as bifurcações erradas e as ruelas sujas que você se afunda e, quando menos espera, eles vêm para cima de você cheios de garras e olhos, a matilha inteira e o que você poderá fazer?, mas agora eu podia, agora porque a rua terrível mas não tão ruim me conduzia novamente à Avenida Brasil, a passagem ilesa por entre o mar de vielas apodrecidas, e agora recomposta como quando pegara a bifurcação à esquerda naquele dia, decidida como quando disse a João que não havia chance de sairmos como dois bandoleiros matando na calada da noite, como quando fiz a curva acentuada à esquerda com a decisão dos que não se distraem ao escolher os caminhos, agora eu novamente afundava o pé no acelerador feliz como se pudesse atropelar alguém que corresse pela avenida, e enxergava a placa indicando-me finalmente o retorno para casa porque Niterói não era mais casa como o Catete, sim, eu voltaria ao Catete, e a rua tinha muitas bifurcações à volta mas eu já não via nenhuma. Não via nada até chegar novamente ao Catete e discar o número do João sabendo que não atenderia. Nunca atendia no hospital, e me parecia certo. Parei o carro e mordi a maçã. O telefone tocou uma, duas vezes, e como quem não acredita ouvi sua voz do outro lado da linha: Marianne, acordou? Victoria Saramago Nasceu no Rio de Janeiro, em 1985. Publicou seu primeiro romance, Renée esfacelada (Multifoco), em 2007. Em 2010, organizou e integrou a antologia Escritores escritos (Flâneur), e em 2011 experimentou os recursos da web ao pôr no ar a novela em blog O quarteto do quarto andar (http://oquarteto.com). Paralelamente à atividade como ficcionista, a autora é doutoranda em Iberian and Latin American Cultures pela Stanford University, com foco em literatura latinoamericana. Vivendo atualmente em São Francisco, Califórnia, finaliza seu segundo romance, Castigo, e aguarda a publicação de seu primeiro volume teórico, O duplo do pai: o filho e a ficção de Cristovão Tezza, prevista para o segundo semestre de 2012 pela É Realizações. LUÍS AUGUSTO CASSAS ILUSTRAÇÕES: Rafa Camargo a grande arma é renegociar o dharma e investir na firma Os mestres do jardim O Tao do pedicure celestial quem segue o caminho dos opostos tem os pés tortos enviesados pra dentro cruzados pro centro quem segue o caminho do lado tem os pés de pato estilo dez pras duas no meio-fio das ruas quem segue o caminho do meio usa sapatos sem meias pisa macio a folha pra não espocar a bolha quem segue o caminho de baixo os pés ficam um escracho o chão parece um tacho mesmo caminhando no capacho quem segue o caminho de cima os pés logo afinam o vento sopra onde quer esquece logo mulher em todos os caminhos da estrada há sempre uma unha encravada mas sigamos ouvindo os galos ainda que nos cantem os calos um cristo em lótus um buda em chagas balançam incandescentes no terceiro olho (nascente/poente) deixando-me caolho dizem as línguas de fogo quando buda ora no mar vermelho e cristo medita no rio amarelo é segredo da flor de ouro a mim cabe segurar a haste do pensamento em brasa e acender o incenso no altar da casa: que mensagem de interdependência trazem as flores da existência? definitivamente místico esse convite alquímico de dois mestres do espírito: à prece e meditação abrindo-me os pesados trincos dos jardins da compaixão A revolução girar girar como um pião girar girar no centro do furacão rumi girando anti-rotação dissolvendo os hemisférios no sol do coração hegel redemoinhando ascendendo ao reino das aparências em união davi — velocidade da pomba — dançando ao redor da arca enlouquecendo a tradição girar girar como um pião girar girar até a compaixão O silêncio Necessito dos dias cinzentos em que os mistérios mais puros tornam-se nojentos (podres sentimentos) Mar psíquico arrebentando o cimento Escolhi não subir à tona pra não ser executado pelo próprio pensamento Favor apaguem as lanternas quebrem a ampulheta do tempo vistam de luto as hienas golpeie-me o martelo do silêncio Necessito de escuridão pra lavar o caos da alma ou uma água-pesada explodirá o salão Banco do Kharma S/A darling ponha o feeling no leasing os seios aponte novo horizonte eterna fonte os dividendos diva de mais vida de menos as ações confira o desejo transfira o passado pomba-gira — mr. kharma aceitará a promissória em carne e cama? à lei ninguém escapa nem/nem o peão de gravata ou o capelão da casa branca A cura quando os olhos daquele que é absolutamente nada chorarem pelos olhos daquele que é absolutamente tudo e as lágrimas claras do absolutamente todo lavarem os ciscos dos olhos do absolutamente nada então veremos às claras tudo absolutamente novo LUÍS AUGUSTO CASSAS É autor de O filho pródigo: Um poema de luz e sombra e A mulher que matou Ana Paula Usher, entre vários outros. Os poemas inéditos aqui publicados pertencem ao livro A poesia sou eu, a ser lançado em breve pela Imago. Vive em São Luís (MA). hq : : ramon muniz QUEM SOMOS COLUNISTAS CONTATO DOM CASMURRO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ENSAIOS E RESENHAS ENTREVISTAS CARTAS PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO 147 • juLho_2012 31 147 • juLho_2012 32 INTERCÂMBIOS FICCIONAIS : : Carola Saavedra O artista enquanto Künstler O QUEM SOMOS EDIÇÕES ANTERIORES CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS que faz de um escritor um artista?, ou nesse mesmo âmbito, o que tira um texto de sua função mais básica (comunicar alguma coisa) e o transforma em literatura? Trata-se de um conhecimento transmissível? Ou seja, é possível ensinar alguém a ser um artista? Comecemos com o significado da palavra. Segundo o dicionário, o vocábulo “artista” tem uma longa série de significados, entre eles: 1) aquele que estuda ou se dedica às belas artes, 2) aquele que é dotado de habilidades ou particularidades físicas especiais e as exibe em circos, feiras, etc., 3) aquele que interpreta papéis em teatro, cinema, televisão ou rádio, 4) operário ou artesão que trabalha em determinados ofícios. Em outras palavras, artista é um termo genérico que inclui as mais diversas atividades e profissões, o que não deixa de estar correto. Porém, na realidade, não é essa a concepção de artista que faz de alguém um escritor. Em alemão, que é um idioma sempre exato e minucioso, utiliza-se a palavra Künstler. Mas o que é um Künstler? O dicionário alemão é excepcionalmente pouco claro ao dar o significado, Künstler é alguém que produz/cria obras de arte. Claro, poderíamos nos perguntar, afinal, o que é uma obra de arte, o dicionário alemão continua saindo pela tangente: obra de arte é o produto de um fazer artístico. Ou seja, Künslter seria mais ou menos o que nosso dicionário (em português) define como aquele que é “exímio no desempenho de seu ofício”, o que não resolve muita coisa, COLUNISTAS DOM CASMURRO SESC_06_12_290x260mm.pdf ENSAIOS E RESENHAS 1 ENTREVISTAS 19/06/12 PAIOL LITERÁRIO 17:41 já que ser exímio não significa criar uma obra de arte. Enfim, todas essas definições de dicionário (que pouco definem) servem apenas para demonstrar justamente isso, que quando se trata de arte, todo julgamento é subjetivo, varia de acordo com a pessoa, a cultura, a época, etc. Sendo assim, poderíamos pensar, ótimo, então arte é tudo aquilo que eu disser que é arte (o que fizeram de certa forma artistas como Marcel Duchamp e Joseph Beuys). Em termos mais radicais, talvez sim, o que não significa que o assunto esteja esgotado, pois mesmo sem solução, os séculos passam e continuamos investigando a mesma coisa, esse algo enigmático que faz com que um livro ou uma obra qualquer se abra em efeitos e discursos e significados que escapam ao próprio texto, à própria obra, e, por conseguinte, ao próprio autor. Mas voltando à palavra Künstler, que pouco teria a ver com nossa definição de artista, já que não bastaria com ser ator para ser um Künstler, mas sim um ator que transforma a sua interpretação em arte. Não bastaria apenas desenhar, pintar, criar instalações. O mesmo valendo para qualquer outra profissão. Ou seja, voltando para a literatura, o Künstler transforma um livro, que poderia ser sobre qualquer assunto, em literatura. Um texto que não se esgota em sua primeira (nem terceira, nem quarta) interpretação. E que processo seria esse, poderíamos nos perguntar, que mistério seria esse que ultrapassando o domínio da técnica, trans- PRATELEIRA NOTÍCIAS OTRO OJO formaria um texto em outra coisa? Tentar compreender esse mistério seria voltar à velha questão do que é arte, questão insolúvel, claro, mas talvez seja possível fazer algumas aproximações. Talvez o mistério não esteja no saber, no domínio da técnica (certamente não está), mas numa espécie de “olhar do escritor” para o mundo e para si mesmo. O artista é de certa forma alguém que dá um passo para o lado, e vê alguma coisa, ou vê as mesmas coisas de uma forma inesperada, é alguém que diante dessa experiência de alteridade, aponta e diz, olhe, e compartilha com os outros a surpresa. E não se trata apenas do escritorfilósofo em sua torre de marfim, ou de uma espécie de sábio, iluminado por musas ou criaturas do gênero. Pensemos em escritores que viveram bem próximos do “mundo exterior”, ou talvez até arrebatados por ele, como é o caso de Cervantes, por exemplo, que viveu uma vida digna de um filme de Hollywood. Entre as mais diversas aventuras estão a batalha de Lepanto, na qual lutou e, ao ser atingido, perdeu os movimentos da mão esquerda (o que lhe deu o apelido de “el manco de Lepanto”), e a captura por corsários em Argel, onde permaneceu prisioneiro durante cinco anos, período no qual planejou e executou quatro tentativas de fuga, todas frustradas. Cervantes, como tantos outros aventureiros, poderia ter voltado para seu país de origem e escrito sobre o que viu sem que o texto adquirisse por isso um valor literário, ou o que é mais comum, simplesmente não ter escrito nada. O que faz com que o Quixote seja o Quixote é a forma como Cervantes aborda a experiência de vida, ou seja, é o seu olhar para o mundo (um olhar muitas vezes irônico, e inesperado e pessimista). É esse olhar do escritor que, aliado claro ao domínio da técnica, faz com que séculos mais tarde continuemos lendo e comentando o Quixote. Podemos então retomar uma das perguntas do início, é possível ensinar alguém a escrever literatura? Uma questão muito em voga, já que cada vez mais proliferam oficinas e cursos de formação de escritores. No fundo seria como se nos perguntássemos, é possível ensinar alguém a olhar para o mundo, para o outro, para si mesmo?, e mais especificamente, é possível ensinar alguém a deslocar esse olhar, a trazer para o texto algo que nos surpreenda, e principalmente, que não se esgote na própria leitura? É possível ensinar alguém a ler? Certamente não, não há fórmulas. O que não significa que não seja possível apontar caminhos. Porque, se por um lado, o artista (Künstler) não surge através da técnica apenas, por outro, sem ela, o olhar perde-se no mundo isolado de cada indivíduo. É essa junção técnica/arte que, ao nos depararmos hoje com as páginas do Quixote, nos permite ter acesso a algo que, mais do que a história de alguém que enlouquece e se imagina cavalheiro andante, é o olhar do autor para um mundo que se extinguia, e continua se extinguindo (outros mundos, outros homens) a cada leitura.
Baixar