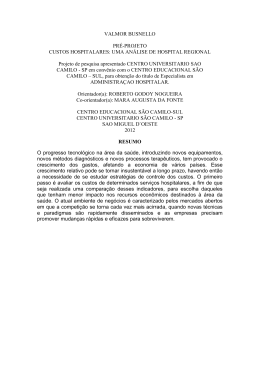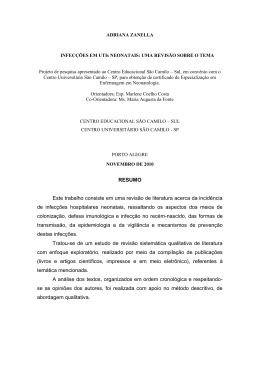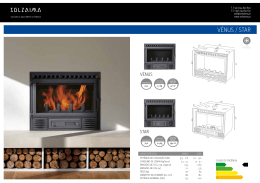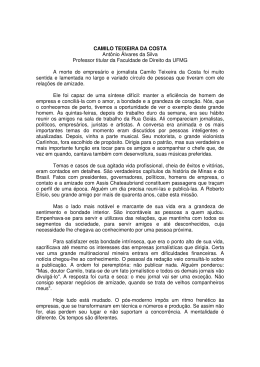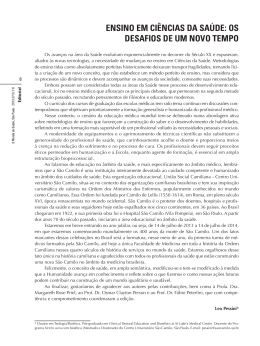} A Deusa Decadente f e r n a n d o c a b r a l m a rt i n s camilo pessanha – no inclinar da clepsydra c a m i l o p e s s a n h a . c o m . s a p o. p t título: A Deusa Decadente copyright © Fernando Cabral Martins Reservados todos os direitos design: Ilídio J.B. Vasco Composto em caracteres Fournier MT Publicado anteriormente em Verdade, Amor, Razão, Merecimento. Uma Homenagem a Haquira Osakabe, Curitiba, Editora da Universidade Federal do Paraná, 2005. Gentilmente cedido a Camilo Pessanha – no inclinar da clepsydra camilopessanha.com.sapo.pt [email protected] A Deusa Decadente I Si donc, contradiction volontaire dans les termes, on relit tout de suite le texte, c’est pour obtenir, comme sous l’effet d’une drogue (celle du recommencement, de la différence), non le «vrai» texte, mais le texte pluriel: même et nouveau. Roland Barthes A poesia é como a música. O verso de Verlaine que é epítome do Simbolismo, «De la musique avant toute chose», embora dado como uma regra poética, é uma notação de um modo de ser essencial. Como em todo o Simbolismo, este é um ponto em que a dimensão programática coincide com a dimensão crítica e teórica. E referir a essência musical da poesia não se resume a manifestar o teor rítmico ou retórico que a constitui enquanto forma de arte, essa essência tem também a ver com o processo da sua leitura: ler poesia é como ouvir música. Assim como a música só existe pela repetição, e a cada nova audição o prazer despertado se firma e se desdobra, também a leitura de um poema é uma actividade que precisa da repetição, da ressonância. A releitura é a única forma de ler num poema a produtividade do símbolo, pois a cada leitura se refaz, se transforma o senti3 fernando cabral martins do. A leitura de um poema é um processo hermenêutico que se constitui pela repetição, e, do mesmo modo, o prazer estético que de um poema se retira é pela sua releitura afinado e multiplicado. Em Camilo Pessanha, muitos dos poemas trabalham a repetição como forma específica, utilizando modelos antigos como o rondel ou inventando outros, a partir do princípio paralelístico da poesia trovadoresca ou através de uma especial complexificação sintáctica. O primeiro soneto de Vénus de que me vou ocupar é outro caso ainda: exemplo de composição em que a forma da repetição não é evidente no corpo rítmico do poema, mas se reinscreve como motivo, como modo de representação, reaparecendo como forma repetitiva pela música das imagens. 4 II Things are because we see them, and what we see, and how we see it, depends on the Arts that have influenced us. Oscar Wilde 1. Camilo Pessanha é o simbolista português por excelência. E a sua vida é uma aventura exótica e infeliz. Nasce em 1867, ano grado em que também nascem António Nobre e Raul Brandão. Depois de se formar em Direito na Universidade de Coimbra parte para Macau, onde vive e trabalha desde 1894 até à sua morte em 1926, com raros períodos apenas de estadia na metrópole, o mais longo dos quais de três anos e meio, por doença, entre 1905 e 1909. A sua fortuna é completamente diferente da dos escritores maiores seus contemporâneos. Publica alguns poemas em periódicos do continente e de Macau, entre 1887 e 1901, depois mais nada. Só em 1916 volta de novo a aparecer poesia sua, num conjunto de dezasseis poemas que Luís de Montalvor dá a lume, em Lisboa, no número único da revista modernista Centauro. E em 1920 sai finalmente a Clepsidra, livro que inclui trinta poemas ao todo. Publicado por Ana de Castro Osório, que é irmã do seu amigo de toda a vida Alberto Osório de Castro, e mãe do organizador do livro, João de Castro Osório. Duas primeiras conclusões. Uma de ordem histórico-literária: Camilo Pessanha escreve e publica durante o período do Simbolismo5 fernando cabral martins Decadentismo strictu sensu, no qual participa de forma muito marginal embora não despercebida, pois o seu nome é citado, ainda que de passagem, no importante manifesto decadentista Os Nefelibatas, editado em 1891 no Porto. No entanto, ele, génio musical inexcedido da lírica portuguesa, só pelos modernistas vê reconhecida a sua verdadeira importância, apenas eles tornam possível a edição dos seus poemas em livro. Assim, Camilo Pessanha pode ser considerado um modernista, ou quase, e a sua leitura associada de forma indelével à escrita de Mário de Sá-Carneiro ou à de Pessoa ortónimo. E é Fernando Pessoa quem lhe envia, em 1915, uma carta que começa assim1: Há anos que os poemas de V. Ex.ª são muito conhecidos, e [...] é porque muito admiro esses poemas, e porque muito lamento o seu actual carácter de inéditos (quando, aliás, correm, estropiados, de boca em boca nos cafés), que ouso endereçar a V. Ex.ª esta carta, com o pedido que contém. Este pedido é o da publicação desses poemas por Orpheu, o que afinal se vem a realizar em Centauro. Pode, pois, dizer-se que Camilo Pessanha só existe como poeta depois da sua leitura modernista. Outra conclusão prende-se com a atracção que o Oriente exerce sobre Camilo Pessanha, que acaba por convertê-lo num grande amador da cultura chinesa. Esse gosto combina-se com a leitura profunda que faz dos mestres simbolistas, sobretudo Verlaine. Sobre a questão do modo de representação simbolista (e a natureza musical da poesia não anula a referência ao mundo, inevitável pelo uso de palavras), há um surrealista português, Mário Cesariny, que escreve sobre Camilo Pessanha de forma que é inesperada e vai contra o consenso de uma óptica de teor histórico, que o define como um poète maudit ou um 1. FERNANDO PESSOA, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literárias, edição de Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, 2.ª ed., Lisboa, Ática, 1973: 337-338 6 a deusa decadente instrumentalista verbal. Em 1967, num artigo do Jornal de Letras e Artes 2, Mário Cesariny fala da magnificência poética com que Pessanha inscreve um verbo realmente novo na literatura portuguesa, espécie até então não vista de poesia objectiva de onde o complexo sentimental se ausenta para poder atingir-se o inimaginado. E, num texto de 1973, publicado na revista francesa Phases, ele precisa melhor: «Camilo Pessanha, créateur systématique d’une poésie fantastiquement objective» 3. Esta objectividade reivindicada vai, assim, na direcção contrária àquela em que mais se tem lido Camilo Pessanha, subjectividade pura, verso vago e elíptico. O comentário que a seguir farei de Vénus I parte, no entanto, desta possibilidade de ler Camilo Pessanha como «fantasticamente objectivo». Tal possibilidade, aliás, é compatível com a manifestação do funcionamento semiótico do símbolo, o de uma palavra que desencadeia uma variação constante de sentido, uma irradiação alusiva, em espiral, que produz a cada instante de leitura nuances novas. A palavra na poesia, ou enquanto poesia, não é uma imitação do mundo, nem dos modelos, nem do Eu, mas implica um modo de referência, que procede através da mediação do símbolo como mecanismo poderoso de sugestão. E da construção de um sujeito que seja o lugar da sugestão. Sublinhe-se, a este respeito, que é possível encontrar num artigo publicado (em Macau, 1910) pelo próprio Camilo Pessanha, sobre o livro Flores de Coral do amigo Alberto Osório de Castro, a afirmação de que «o esteta se duplica» de um «consciencioso observador científico». E, nes2. MÁRIO CESARINY, As Mãos na Água a Cabeça no Mar, Lisboa, Assírio & Alvim, 1985: 133. 3. António Maria Lisboa. Pedro Oom. Mário Henrique Leiria, catálogo de exposição, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981: 179. 7 fernando cabral martins se mesmo artigo, lê-se uma proclamação poética essencial, com validade imediata para a sua escrita, que deverá servir de contraponto às flutuações neo-românticas da leitura banal ou à fixação num dogma formalista de alguma pouco dialéctica crítica do Simbolismo4: no fenómeno de cada uma das aparências que interpreta não se esquece de discriminar a participação da sua própria alma, o espelho em que se revelam. Interpretação, discriminação, isto é, mais uma vez, objectividade. 2. Eis a transcrição de um exemplo maior da sua obra, o primeiro soneto do díptico Vénus (feita a partir da sua publicação original no diário O Portugal de 29 de Abril de 1900, actualizando a ortografia): Vénus I 1 À flor da vaga, o seu cabelo verde, Que o torvelinho enreda e desenreda... O cheiro a carne que nos embebeda! Em que desvios a razão se perde! 4. Clepsidra e Outros Poemas de Camilo Pessanha, edição de João de Castro Osório, 6.ª ed., 1973: 136. 8 a deusa decadente 5 10 Pútrido o ventre, azul e aglutinoso, Que a onda, crassa, num balanço alaga, E reflui (um olfacto que se embriaga) Como em um sorvo, múrmura de gozo. O seu esboço, na marinha turva... De pé, flutua, levemente curva, Ficam-lhe os pés atrás, como voando... E as ondas lutam como feras mugem, A lia em que a desfazem disputando, E arrastando-a na areia, coa salsugem. Há vários dípticos e trípticos na poesia de Camilo Pessanha. O princípio musical da sua organização geral dá-se muito bem com esses agrupamentos rítmicos e temáticos de poemas. O díptico Vénus, por exemplo, tem a unir os dois sonetos o motivo marinho, e a distingui-los o modo do seu tratamento, que obedece a regimes muito diferentes do imaginário. Sobretudo, à calma e transparência do movimento das águas do segundo soneto opõem-se a fúria e a turbulência deste primeiro. Há, também, aquilo a que se pode chamar a autonomia de cada um dos sonetos. Quer em Centauro quer depois na Clepsidra de 1920, o único a ser publicado é o segundo. Este primeiro soneto só vem a aparecer na reedição da Clepsidra de 1945, sendo o díptico então reconstituído tal como fora publicado no diário O Portugal de 29 de Abril de 1900. E só o primeiro soneto tem, por outro lado, a ver com o motivo mitológico do título: o segundo só se liga a ele por longínqua associação metonímica. É possível, portanto, separar o comentário do primeiro soneto do comentário do segundo. O primeiro soneto do díptico Vénus é, por outro lado, um dos poemas mais enigmáticos da Clepsidra, e, sem dúvida por isso, também um dos 9 fernando cabral martins seus mais comentados. Enquanto poema singular, é talvez mesmo o mais comentado de todo o Simbolismo-Decadentismo português. Por exemplo, Urbano Tavares Rodrigues considera que o soneto «tem como referente uma afogada»5, dando a seguir conta dos seus dois pólos semânticos, e identificando um como o da «morte e do vazio» e o outro como o da «plétora sexual»6. De facto, o contraponto de duas linhas tonais e semânticas é típico da poesia de Camilo Pessanha, e, desde logo, a oposição entre os dois sonetos do díptico Vénus exemplifica isso mesmo, numa construção em abismo que mantém, a todos os níveis de organização textual da Clepsidra, essa oposição central de tonalidades, a disfórica e a eufórica. Encontramos João Camilo, ainda, a abundar, na defesa de uma leitura de Camilo Pessanha como frustrado e desiludido, nessa versão de uma «Vénus pútrida» contraposta a uma «imagem mental de beleza»7, ou seja, essa descrição «mórbida» da «destruição da beleza de um corpo»8. Mais uma vez, Anna Klobucka elabora a sua interpretação, num artigo sobre este díptico, em torno do mesmo tipo de duplo semantismo erótico e cruel: trata-se de uma reescrita da figuração da deusa, em Vénus I, «através do aniquilamento sádico e da dissolução dos restos mortais em que se consuma o acto sexual»9. Ainda uma interpretação semelhante é produzida na mesma altura por Alfredo Margarido no seu artigo «Necrophilia in portuguese poetry: from the eighteenth century to the present»10, cujo título é por si só suficiente como programa de leitura, e por Yara Frateschi Vieira, 5. Ensaios de Após-Abril, Lisboa, Moraes, 1977, p. 21. 6. Ibid., p. 24. 7. «A Clepsidra de Camilo Pessanha», Persona 10, Porto, Julho de 1984, p. 25. 8. «Realismo e Simbolismo em Clepsidra», Boletim de Filologia, tomo XXIX, Lisboa, 1984, p. 315. 9. «A (de)composição de Vénus: reflexões sobre dois sonetos de Camilo Pessanha», Colóquio/Letras 104-105, Julho-Outubro de 1988, p. 44. 10. Portuguese Studies, vol. 4, 1988, pp. 100-116. 10 a deusa decadente no seu livro Sob o Ramo da Bétula11, que desenvolve o mesmo tema: «[o primeiro soneto de Vénus] conserva a ambiguidade da simultânea associação com a atracção erótica e com a repulsa da morte». E lê-se num artigo de Maria Alzira Seixo do mesmo ano 12: Em «Vénus» I, é o corpo da mulher que o mar destrói, em casuais arremessos sobre a praia, numa figura textual em que mulher, amor e água se indissociam, e mutuamente se amparam ou se excluem, sob o olhar – ainda aquoso, especular – do homem cujo impulso amoroso leva a participar na destruição comum [...]. Num outro artigo partindo deste soneto em particular, Barbara Spaggiari vai numa direcção interpretativa que não deixa de ser semelhante: «Alla violenza sorda del mare si offre, senza opporre resistenza, un corpo in cui è difficile riconoscere una parvenza umana»13. Finalmente, nos comentários a este soneto que Paulo Franchetti acrescenta na sua edição crítica do livro de Camilo Pessanha14, está ainda implícita esta leitura consuetudinária, embora apenas construída pelo método da colação de um excerto do artigo de Camilo Pessanha, «Crónica dos bons mortos», que tem um objecto inequivocamente macabro, e cuja aproximação em termos semânticos está de facto próxima do soneto, mas que se revela menos conclusiva do que ilustrativa de uma opinião crítica prévia e geral: Senão é ir ao teatro anatómico. Eu fui lá uma vez. [...] Um grande cadáver de mulher, deitado de bruços, tinha como que um 11. Campinas, Editora da Unicamp, 1989, p. 77. 12. «O pensamento da morte na poesia de Camilo Pessanha», Análise 13, 1989, p. 196. 13. «I capelli di Venere: alle origini del simbolismo di Camilo Pessanha», Nova Renascença 35-38, 1990, p. 239. 14. Clepsydra. Poemas de Camilo Pessanha, Campinas, Editora da Unicamp, 1994: 204205. 11 fernando cabral martins ondular [...]. Paralelamente dissolviam-se as feições dum homem, pouco a pouco absorvidas em uma irreconhecível massa viscosa: já o ventre se lhe azulara todo [...]. Em resumo, estas leituras do soneto possuem a comum característica de tomarem a representação do nascimento de Vénus como um tópico que o poema com violência subverte, ou mesmo inverte: à exposição do corpo na sua nudez e opulência viva se opondo um fantasmar biológico, necrófilo, destrutivo. Não tomam a sério, portanto, a «objectividade» da representação tal como o poema a formula: um nascimento de Vénus. Podemos crer, no entanto, que qualquer interpretação deste poema enquanto representação «objectiva» só o poderá ser «fantasticamente» (para retomar os termos não menos enigmáticos de Mário Cesariny). Por outras palavras, no caso de uma escrita simbolista com esta radicalidade há que estar aberto a que a sua leitura literal seja modulada, ou mesmo alterada, pela sua interpretação, isto é, que o plano hermenêutico interfira no plano semântico, ou ainda, que o modo da «objectividade» precise de ser inventado, tornado novo. 3. Mas comecemos pelo termo genológico: este poema é uma marinha. A designação mais precisa talvez devesse ser, não fora o seu anacronismo, uma barcarola, pois se trata de uma marinha que se situa, não no alto mar como o segundo soneto do mesmo díptico Vénus, mas na praia. Quanto às questões de ritmo, aqui de particular relevo, é indispensável lembrar desde já um texto de Fernando Pessoa15 que estabelece a cor15. Pessoa Inédito, org. Teresa Rita Lopes, Lisboa, Livros Horizonte, 1993: 387. 12 a deusa decadente respondência entre o ritmo literário e o movimento da onda (actualizo a ortografia): O movimento de qualquer composição literária é o da onda. [...] O movimento da ode consiste essencialmente em três tempos, e, como o da ode, o de toda a poesia lírica. O movimento está tradicionalmente gravado na estrofe, antístrofe e epodo da ode grega. O primeiro tempo corresponde à lenta subida da onda, ao chegar à praia; o segundo movimento corresponde àquele tempo em que a onda reflui sobre si própria, curvando-se; o terceiro tempo corresponde àquele gesto da vaga quando, findo o movimento anterior, se espraia e alonga pela areia. Em conexão com esta alegoria crítica de Fernando Pessoa, a conclusão de Esther de Lemos, numa sua análise a que a seguir voltaremos, é de grande clareza intuitiva: «Todo o soneto se passa não a ver a água, mas dentro de água»16. A associação é directa, e ilustra uma outra zona de significação na qual o poema é a representação do seu próprio tempo musical. É, portanto, evidente que o processo de construção deste poema é, simultaneamente, a definição de um referente num espaço-tempo preciso – a onda desde que se forma no mar até se desfazer na praia – e também uma clara auto-referência da linguagem poética enquanto forma rítmica e melódica. Esta onda é uma silepse, está tomada em dois sentidos distintos e verdadeiros. O soneto não pode ser lido enquanto composição surrealista avant la lettre (como, num certo sentido, o é um poema de 1891 do simbolista canónico Eugénio de Castro, Um Cacto no Pólo, do livro Horas) nem tão-pouco enquanto jogo barroco de meras cifras fonéticas (exemplo, aliás oportuno: os Quatro Sonetos a Afrodite Anadiómena, de Jorge de Sena, em 1963). Em suma, este poema oferece-se à leitura, simultaneamente, como mimesis e semiosis. 16. ESTHER DE LEMOS, A «Clepsidra» de Camilo Pessanha, 2.ª ed., Lisboa, Verbo, 1981: 71. 13 fernando cabral martins Quanto à sua natureza composicional, o soneto oferece todas as regularidades que o Simbolismo-Decadentismo apesar de tudo mantém da tradição, mas também introduz todas as variações e infracções que são típicas do trabalho simbolista. Assim, trata-se de um decassílabo livre de esquemas rítmicos rígidos, que parece vogar ao sabor de uma vontade de expressão. Assim, por exemplo, o verso 7 repete semanticamente o verso 3, têm ambos a mesma posição nas duas quadras e, no entanto, distinguemse bem pelo choque do ritmo, que no verso 7 (acentos na 3.ª, 6.ª e 10.ª sílabas) é singular e muito marcado pelo parêntesis. O sentido nos versos reitera-se segundo um modelo musical de variação. Um dos seus segredos está no teor propriamente fonológico das palavras utilizadas. Poderemos voltar a Esther de Lemos e à análise (1981: 69-71) daquilo a que chama, em termos também musicais, a harmonia deste poema, e concluir que: na primeira quadra «predomina o som aberto de é», na segunda quadra há uma profusão de sons, marcada pelas rimas em a e em ô, mas em que estão presentes o e nasal e o u, e nos tercetos «predominam os sons u com uma insistência notável». Então, aquilo que acontece é que a rede fonológica do poema evolui de uma dominante em e para uma dominante em u – com passagem por uma turbulência na segunda quadra em que há várias (u, ô, a) e não uma única tónica dominante. Podemos então tentar uma explicitação última, e óbvia: as duas dominantes fonológicas do soneto são as duas vogais sucessivas da palavra do seu título, Vénus, que, assim, se torna, de motivo mitológico que é, numa matriz fonológica geradora, ou num tema musical que se coloca para depois se desenvolver em variação. A regra poética «De la musique avant toute chose» é tomada no mais literal dos sentidos. Ainda do ponto de vista da análise composicional do soneto, podemos analisar a extrema complexidade das relações que se estabelecem na concatenação rítmica, semântica, sintáctica e lógica das estrofes. Em primeiro lugar, quer as quadras quer os tercetos formam dois blocos separados. As duas quadras são reunidas por um mesmo tipo estrófico e de rima 14 a deusa decadente – ao passo que os dois tercetos são unificados pela mesma dominante sonora em u, e pelo próprio caos rimático, paralelo à dinâmica muito rápida e muito intensa das imagens («voando», «arrastando»). As duas quadras também estão interligadas pelo facto de possuirem uma rima semântica, que é a já citada semelhança entre os vv. 3 e 7 – ao passo que os dois tercetos são como que o espelho um do outro, o segundo parecendo o negativo do primeiro em termos de tonalidade afectiva. Depois, percebemse as tensões no interior de cada um dos blocos estróficos. Cada uma das quadras se opõe à outra, pois são dois momentos percebidos como sucessivos; cada uma delas possui um cromatismo distinto, «verde» / «azul», e dois regimes dinâmicos opostos, pois a primeira configura movimentos desencontrados e confusos («o torvelinho enreda e desenreda», v. 2, «Em que desvios a razão se perde!», v. 4) e a segunda une num só movimento o fluxo e o refluxo («num balanço alaga», v. 6, «E reflui [...] / Como em um sorvo», vv. 7-8). Por sua vez, cada um dos tercetos se opõe ao outro por duas tendências dinâmicas contrárias, a primeira referida ao cimo, ao aéreo da espuma, a segunda ao baixo, ao magma sólido e líquido da areia e da água; esta relação de oposição é marcada de modo especial pelo contrasenso sintáctico do «E» copulativo entre os tercetos (v. 12), que, de facto, tem um valor adversativo. Mas entre a primeira estrofe e a última há uma rima de regime dinâmico, pois as imagens de confusão e enredo da quadra são retomadas pelas imagens do lodo e da «salsugem», na luta entre «as ondas» do terceto. Por outro lado, o primeiro e o último versos do poema contêm as duas menções extremas em termos de espaço, «À flor da vaga» versus «na areia», pelo que se desenha do princípio para o final do poema um movimento de queda com um percurso regular, geometricamente descrito. Ou seja, a arquitectura tonal e dinâmica é um intrincado jogo de contrastes e simetrias que se organiza, finalmente, segundo uma forma unida e nítida. Questão importante, é na segunda e na quarta estrofes, repetindo desta vez a mesma tonalidade disfórica, que se encontram elementos para 15 fernando cabral martins a leitura habitual deste poema como tendo por motivo o cadáver de uma afogada: o adjectivo «Pútrido» e «aglutinoso» no v. 5, o verbo «desfazem» e «arrastam», com o pronome feminino de terceira pessoa associado, «a», nos vv. 13-14. Mas deve notar-se que a correcta atribuição de sentido a esse pronome feminino não é imediata, nem é sequer figurável. Se pode implicar o antecedente sintáctico «esboço» (v. 9), que é a representação da deusa «como voando» (v. 11), ela não concorda em género com ele. Aliás, até esse ponto, a deusa, ou o corpo orgânico que parece ser referido sob a forma de fragmentos, usa apenas termos no masculino: «cabelo» (v. 1), «cheiro a carne» (v. 3), «ventre» (v. 5), «esboço» (v. 9). Isto é, o pronome «a» só pode referir directamente a única menção feminina do texto além da onda, ou seja, Vénus. Pelo que nessa referência mínima, no «a» surpreendente e eloquente do v. 13, se contém a turbulência última da catástrofe dos géneros gramaticais, a intersecção do masculino e do feminino, a junção semântica inaceitável entre uma deusa e um cadáver, a concepção de uma Vénus nascida desfeita na glória putrefacta de uma alegoria violenta e grotesca. Toda a desfiguração da figura feminina se contém no uso errado desse pronome, e não é senão um efeito desse erro. Mas aquilo a que se poderia chamar aqui uma silepse de género serve apenas para desenhar a superfície turbulenta das águas, não a forma simples da onda. 4. Do ponto de vista de uma lógica do ritmo, e para retomar a citação de Fernando Pessoa atrás referida, o momento da formação da «onda» ocupa os primeiros seis versos – a estrofe –, o momento do refluir da «onda» ocupa os cinco versos seguintes – a antístrofe –, e o último terceto, claramente destacado dos demais versos do ponto de vista proxémico, é o momento do espraiar na areia – o epodo. E este ponto de vista da materialidade da 16 a deusa decadente composição significante coincide, enfim, com o ponto de vista da projecção mimética que refere de modo directo uma onda. A leitura literal deste poema lê nele o movimento de uma onda, desde o momento em que se forma até àquele em que se espraia na areia. Esse motivo é parte do espaço, pois é no mar e depois na praia que existe, mas contém um tempo, um ritmo, uma respiração, isto é, ganha uma vida própria. Essa animização da onda aparece nas múltiplas expressões que a formulam: «o cheiro a carne» (v. 3), «múrmura de gozo» (v. 8), «como feras mugem» (v. 12). E, sobretudo, essa animização comparece no facto de a onda (no singular e no plural, mais a sua sinédoque «o torvelinho») ser o sujeito explícito dos dois primeiros versos, tal como, depois, das segunda e quarta estrofes. O símbolo Vénus em título oferece, para além de matriz musical do poema, um programa para a sua interpretação. Segundo a leitura antes citada de Maria Alzira Seixo, uma «figura textual em que mulher, amor e água se indissociam». Como vimos, esta leitura está baseada nas referências de pessoa: há uma terceira pessoa feminina – Vénus – que é sibilinamente indicada pelo pronome possessivo «seu» (vv. 1 e 9) e pelo pronome pessoal «a» (vv. 13-14). É ainda ela – Vénus – quem parece ser o sujeito de todo o primeiro terceto. Resta o problema hermenêutico: esta mulher é simbólica, é uma deusa, e como pode uma deusa ter a ver com uma expressão de necrofilia? Ou, de outro ângulo: como ler na sintaxe dos versos a relação que estabelecem os dois sujeitos «onda» (v. 6) e «esboço» (v. 9), até que ponto formulam eles a presença de duas entidades ou tão-somente constituem a declinação da mesma? Quanto ao «eu» lírico, não parece estar lá. Funde-se num impreciso «nos» (v. 3) ou esconde-se em metonímias impessoais, de pendor abstracto: «a razão» (v. 4) e «um olfacto» (v. 7). No entanto, não pode deixar de ser notável tanta discrição. Ela torna-se mesmo a exposição mais aguda possível da presença do sujeito, que compreende o objecto figurado e pela sua transparência mesma manifesta a pregnância da sensação. O «eu» au17 fernando cabral martins sente abarca tudo o que sente como se não houvesse diferença entre o interior subjectivo e o exterior objectivo. Quer dizer, não se trata aqui de uma contemplação no estado puro, mas de uma transformação dessa contemplação num símbolo. Perante este «eu» oculto e omnipresente, o movimento animizado da onda e o nascimento de Vénus como topos mítico revelam-se um só, ao mesmo tempo metáfora e metonímia um do outro. A composição representa uma onda, que apenas morre para logo renascer, a mesma e sempre outra, outra e sempre a mesma. Iteratividade e continuidade da energia. O símbolo neste soneto desempenha as mesmas funções que T. S. Eliot cometerá ao «objectivo correlativo», e destina-se a sugerir um estado emocional. O símbolo é aquele «nascimento de Vénus» renascentista muito citado e glosado em toda a poesia parnasiana, decadente e simbolista, mas desta vez colocando a figura da deusa em sobreimpressão com a onda que se forma, cresce, corre no ar feita espuma e se desfaz na praia. Símbolo destinado, enfim, a conter em concentração brilhante essa onda que é a imagem da vida igual a morte e a imagem da morte igual a nascimento. Tudo isso, e a «infinita delícia» de que fala William Blake, na voz «múrmura de gozo» cantando a fonte da vida. 18
Baixar