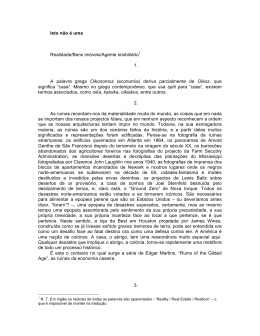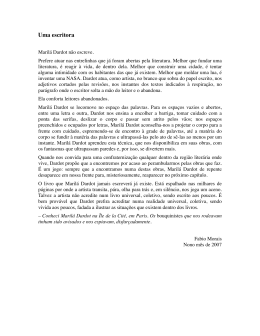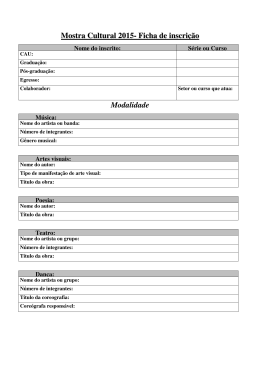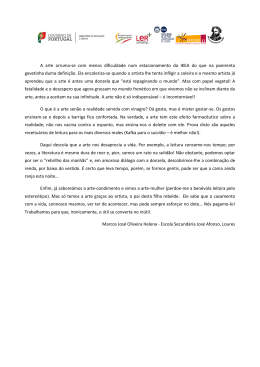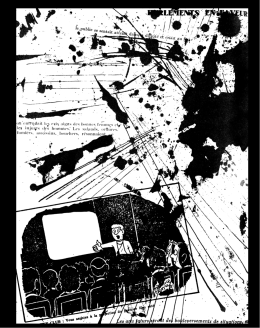Para que arte e para que crítica? Encontros e desencontros Luiz Camillo Osorio Diante da pergunta “para que arte?” ficamos sempre em posição desconfortável. Se respondermos positivamente afirmando uma série de qualidades que garantam sua necessidade, corremos o risco não só de repetirmos chavões que descambam normalmente para a pieguice, como também de dar à arte uma direção prática e utilitária desinteressante para se pensar sua singularidade. Por outro lado, se lhe negamos qualquer função ficamos no limiar de uma atitude niilista, em que nada e qualquer coisa são o mesmo, ou de uma atitude formalista, que retira da arte toda possibilidade de inserção na vida, esterilizando-a. Esta dicotomia entre interesse e desinteresse está na base da estética kantiana; fundadora, como sabemos, da autonomia que rege o estatuto moderno da arte. A grande originalidade de Kant foi de perceber o “interesse do desinteresse” próprio à experiência estética e, assim, qualificar um tipo de engajamento com o mundo livre de determinações. O interesse no desinteresse é o que libera a arte de responder a designações específicas, de ter que cumprir determinações de ordem conceitual, moral, política etc. Entretanto, há o cuidado, por parte de Kant, de destacar que não obstante essa autonomia em relação à verdade, ao justo ou ao bem, a arte presentifica idéias, trazendo a gravidade do pensamento para dentro da experiência sensível. As idéias se apresentam sem se objetivarem. Tudo se passa nesta troca entre quem percebe e o que se dá a perceber, na capacidade do fenômeno percebido produzir “idéias estéticas”. O estético aí aponta para algo que se intui, sendo, portanto, da ordem dos afetos, sem se constituir conceitualmente. É um sentir cuja potência nos faz pensar para além da sensação. É como se a arte nos pusesse dentro de um espaço e de um tempo no qual nós e o mundo estivéssemos abertos a ser de outra forma. O como se aí é da maior importância, pois sinaliza para um campo de possibilidades que pode vir a ser real, mas que não necessariamente é ou tem de ser atual. Não há uma forma específica que nos sirva de modelo em relação ao que pensamos e fazemos na experiência da obra, mas um 1 sentido que advém e que seria inventado nas resistências que nos cerceiam de fora e de dentro. O desinteresse subtrai o controle do sujeito sobre o que poderá ser feito e abre o horizonte para um devir sem medida prévia, sem modelos a priori, que não significa, todavia, um devir arbitrário e descontrolado. A intencionalidade sem fim é o correspondente criativo, do lado do artista, ao desinteresse que qualifica o disponibilizar-se da obra para o espectador. Há intenção e há trabalho, mas o que virá a ser da obra não se define apenas aí. Ambos são necessários, mas não são suficientes para determinar a obra. Como sintetizará Marcel Duchamp, em fórmula brilhante, “o coeficiente artístico é como que uma relação aritmética entre o que permanece inexpresso embora intencionado e o que é expresso não-intencionalmente”.1 Mais adiante, ele complementa: “o ato criador toma outro aspecto quando o espectador experimenta o fenômeno da transmutação (...) e o papel do público é o de determinar o peso da obra de arte na balança estética. Resumindo: o ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador”.2 A liberdade fundamental do artista se define pela capacidade de fazer o que tem que ser feito diante dos desafios impostos à sua obra pelo seu tempo. Essa liberdade funda o território experimental que disponibiliza o surgimento do novo, do que não se mede pelo que já foi, mas que cria, ao surgir, seus próprios parâmetros de sentido. Esses parâmetros vão sendo produzidos pelas múltiplas respostas, pelas várias interpretações que entram em jogo, se confrontam e se potencializam, trazendo a obra para um território de compartilhamento dissensual. É o que o crítico brasileiro Mario Pedrosa chamaria de “exercício experimental de liberdade”. De início não há nada além de uma surpresa e um convite ao pensamento e à imaginação tonificados por uma vontade de arte, de criação. Disponibilidade de sentidos que se põem em jogo sem um quadro de referência prévio, mas que, todavia, não surgem do nada. Os acontecimentos reverberam quando de alguma forma a história criou para eles um território de fertilização. Mas isso só se mostra pela instauração de gestos poéticos que abrem horizontes não previsíveis de antemão. Esta imprevisibilidade é o dado positivo do desamparo ontológico da arte 1 Marcel Duchamp. “O ato criador”. In: Gregory Battcock (org.). A nova arte. São Paulo: Perspectiva, 1975. p. 73-74. 2 Id. ib. 2 contemporânea, constituinte da indecidibilidade conceitual entre ser e não-ser arte que nos ameaça a cada vez que nos deparamos com o novo. Aqui entra em cena a crítica, procurando articular o específico e o comum, abrindo passagens entre a arte e o mundo. Essas questões foram postuladas inicialmente pelos artistas românticos, herdeiros da filosofia kantiana. Em uma realidade não mais unificada por uma experiência totalizada, assumida a dessacralização e a fragmentação, cabia à arte inventar-se a si mesma, inventando assim novos sentidos para o ser no mundo. A noção kantiana do artista como gênio, capaz de criar uma obra ao mesmo tempo original e exemplar, ganhará uma atualidade vertiginosa a partir do romantismo. Este passou a ser todo o problema: como fazer algo novo e ser compreendido? É importante tratarmos dessa noção de gênio para vermos o que ainda nos pode ser útil e o que virou excesso idealista. Discutir esta compreensibilidade desejável nos leva para a crítica, pois é justamente quando o sentido não está dado, quando os critérios do que seja arte não existem de antemão, que o ajuizamento se faz necessário. Não para criar critérios, mas para participar do processo de constituição de sentido, sempre cheio de negociações e desdobramentos imprevisíveis. A figura do gênio introduzida por Kant para qualificar o artista tem como motivação garantir ao fazer artístico a mesma gratuidade revelada pelo belo na natureza. O gênio é um dom natural pelo qual a natureza dá suas regras à arte e, ao fazê-lo, tira da intencionalidade poética qualquer tipo de determinação. A arte deve parecer natureza, ser uma segunda natureza. Conseqüentemente a produção e a fruição devem ser livres de determinação conceitual. É bom deixar claro que esta indeterminação não significa que não haja necessidade de conceitos, seja para a criação, seja para a recepção da arte. Em uma comparação definitiva, Kant nos diz: “a natureza era bela se ela ao mesmo tempo parecia ser arte; e a arte somente pode ser denominada bela se temos consciência de que ela é arte e de que apesar disso nos parece ser natureza”.3 O fato de Kant realçar o “parecer” natureza, mas ser arte, não pretende sobrepor algo enganoso a uma essência, mas diz enfaticamente que a verdade da arte é, paradoxalmente, uma verdade atrelada às contingências da aparência. O vir-a-ser da obra, que é o lugar da manifestação da verdade da arte, não se explica pelas intenções do artista, mas pela maneira como estas se transformam em obra, incluindo aí, como vimos, o processo conflituoso de sua recepção. O importante na descrição do gênio é a tensão entre a vontade do artista e a vontade da obra, entre a intenção e a gratuidade, entre o ser arte e o parecer natureza. Essa noção de gênio, 3 I. Kant. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993. p. 152. 3 todavia, está cercada de mal-entendido. Ao longo dos últimos dois séculos foi uma categoria usada e abusada, a ponto de se ter esvaziado semanticamente e passado a ser álibi para todo tipo de arbitrariedade criativa. O problema começa quando Kant fala que o gênio é um dom natural. Parece que ele está defendendo algo da ordem de uma criação intuitiva, uma inspiração divina. Independentemente de a idéia de dom natural dar margem a esse tipo de interpretação, não é isso o que interessa, mas sim poder pensar o ato criativo como uma intencionalidade sem intenção. Fugir da determinabilidade de uma consciência, que seria pautada por um saber fazer, é o que irá permitir, do lado do espectador, julgar e se deixar afetar com o mesmo despojamento apresentado diante do fenômeno natural, ou seja, sem se perguntar pela causa ou pelas razões que determinam o efeito. Em outras palavras, retirada a intenção que determinaria o sentido que a obra teria, libera-se a recepção para participar do processo de tradução e invenção de sentidos. Por um lado, se não houver desinteresse não há autonomia do fato estético; por outro, se a criação for puramente intencional, ela se reduzirá a um fazer técnico. Esta capacidade do gênio de dar à obra o que lhe é de direito, sem que isso lhe determinasse uma única maneira de ser, fez Schlegel afirmar que na arte tudo é propósito e tudo é instinto. “O que faz da arte um enigma é o fato de que, apesar de ser uma atividade intencional, ela o é de forma a que nenhuma descrição das intenções do seu vir-a-ser possa esgotá-la”.4 O fenômeno artístico, como a experiência estética, deve ser pensado nesse registro do como se, que nos mantém sempre nesse território de passagens, de articulação do sensível e do suprasensível, entre o que é e o que pode ser. A pergunta que me parece crucial aí foi formulada por Duchamp: como fazer uma obra de arte que não seja uma obra de arte? Foi com este intuito, ao mesmo tempo irônico e revolucionário, de ir além do instituído e abrir novas jurisprudências sobre o que seja arte, que foi se disponibilizando uma atitude receptiva aberta ao ajuizamento do novo e à possibilidade de lidar com a diferença. A condição experimental da arte moderna e contemporânea – experimental aqui no sentido dado por John Cage de um fazer não-convencional cujo resultado é imprevisível e aberto – ganha agora uma exemplaridade política evidente, nos forçando a imaginar e a criar novas formas de engajamento com o mundo. Esse pôr-se em questão da arte, sua inexorável condição experimental, deve ser tomado como um aspecto intrinsecamente político, na medida em que está redefinindo formas de ver, de falar, de sentir e pondo em questão sua 4 “What makes art puzzling, enigmatic, is just that art works are intentional items, albeit ones that cannot be saturated by any intentional description of their coming to be”. J. M. Bernstein. The fate of art. Cambridge: Polity Press, 1997, p. 128 [tradução minha]. 4 absorção e possíveis atritos institucionais. Entretanto, parece-me interessante pensar um devir político para a arte junto com um devir artístico para a política – ao mesmo tempo em que a arte está se questionando, combinando temporalidades e sentidos heterogêneos, a política está se disponibilizando em relação ao novo, tensionando suas práticas e convenções institucionais. Sabendo-se que não há um fora da instituição cabível para a arte, fica sempre a pergunta sobre como ela poderá manter algum tipo de inadequação uma vez capturada pelo museu e pelo mercado. Como não deixar o museu anestesiar a potência de transformação que qualifica o novo? Como lidar, por exemplo, com as “experiências” de Flávio de Carvalho ou as “inserções em circuitos ideológicos” de Cildo Meireles sem deixá-las apenas congeladas no conforto de uma ação canonizada da arte do século XX? O que importa é menos o elemento de choque, de provocação, próprio a muitas atitudes de vanguarda, mas a capacidade da obra instaurar um não-saber, uma hesitação, uma inquietação típica das coisas que surpreendem e que põem em xeque os parâmetros de avaliação, as concepções adquiridas do que seja arte. Toda a questão diz respeito ao modo de instituir o acontecimento poético em uma lógica museológica que tende a subtrair da obra as tensões que a geraram e sem as quais ela não teria força para desestabilizar as formas convencionais de arte e os hábitos naturalizados de nossa percepção. Essas tensões são o elemento propriamente político da arte, o modo pelo qual ela pode produzir dissensos que ultrapassem seu campo instituído e reverberem na vida. Obviamente, não há como repetir as tensões e deixá-las “expostas” no museu, mas há que se criar as condições para deixá-las sugeridas de modo a serem traduzidas e reinventadas, em outra situação e contexto, por qualquer espectador. Segundo Jacques Rancière, “para que a experiência estética do belo seja idêntica à experiência da arte, é preciso que a arte seja marcada por uma dupla diferença: tem de ser a manifestação de um pensamento que se ignora num sensível extirpado das condições ordinárias da experiência sensível”.5 O “pensamento que se ignora” é um pensamento estético cuja consciência (ou intenção) não determina o modo de ser do objeto; já um “sensível extirpado” se dá através de um acontecimento que obriga a imaginação que apreende a forma a se libertar dos esquemas convencionais e pôr-se em movimento de produção, de invenção. 5 J. Rancière. “Será que a arte resiste a alguma coisa?”. Disponível em www.rizoma.net, 2005 [seção Art & Fato]. p. 6. 5 Assim sendo, há que se qualificar a inserção histórica e institucional das obras para que o dissenso se mantenha não obstante (e junto a) o consenso instituído, ao cânone. Quem melhor formulou os desafios de uma escrita da história que não se abstenha da potência política sugerida pelos acontecimentos inovadores foi o filósofo Paul Ricoeur. Segundo ele, é uma grande tentação acreditar que o passado seja determinado e o futuro, indeterminado. Trata-se, no entanto, de evitar que o que não foi concluído no passado possa ser apagado e esquecido. O desafio, portanto, é manter nessas obras algo da latência de transformação que lhes era originária e que deve ser capaz de suscitar novas formas de subjetivação, outros princípios de individuação, outras possibilidades de sociabilidade. Neste início de século, a latência política da arte se faz ainda mais aguda, uma vez que a institucionalidade da política e a legitimidade das formas de representação democrática vêm sendo contestadas e repensadas radicalmente. A disseminação da política e sua presença nas poéticas contemporâneas podem ser analisadas sob várias abordagens, indo do ativismo deliberado aos novos coletivos de artistas, passando pelas várias estratégias de inserção pública das obras. De certo modo, o que reúne essas duas instâncias, da arte e da política, é uma crise relacionada ao espaço comum onde se dá o enfrentamento de formas de vida heterogêneas e plurais. No momento em que se aponta para a crise do espaço público, onde se produzem e se enfrentam posições heterogêneas, creio que a discussão da crítica se faz mais do que nunca necessária. Ela traz consigo uma redefinição do devir político da arte. A crítica é o lugar e o veículo através do qual as obras produzem reverberações que apontam na direção de um mundo comum, impessoal e plural. Uma negociação constante e aberta em relação às possibilidades de sentido ou de silêncio na recepção das obras de arte. O fazer-se da recepção, que é um elemento determinante da crítica, seja especializada ou não, remete ao devir histórico sempre atual das obras. Para a crítica, ou seja, para o ajuizamento da arte, o passado que vive nos museus é uma herança sem testamento que deve ser constantemente atualizada. A crise da crítica implica na crise da recepção e na tensão interna à própria recepção entre um olhar especializado e uma fala comum. Julgar implica participar, estar disponível e familiarizado com um tipo de experiência. Essa experiência não é necessariamente de todos, mas potencialmente de qualquer um; as disparidades e injustiças que excluem camadas da população deste espaço de trocas simbólicas são um problema à parte. 6 Quando a indefinição sobre o que seja arte é radical, a disseminação do exercício judicativo se faz necessária. Para isso, deve-se diferenciar um juízo que é procura de sentido, uma intervenção a partir do que não está instituído, do juízo que é condenação e enquadramento. Julgar é produzir diferenças, é um exercício de negociação constante de cada um consigo mesmo, no sentido de querer qualificar uma experiência e pô-la em relação com vivências anteriores. Além dessa relação de cada um consigo mesmo, julgar é também uma negociação de cada um com os outros, com os quais ele afere a validade do que sente e pensa. A necessidade de compartilhamento é o que diferencia a experiência estética, é algo que nos faz sempre querer falar e dividir o acontecimento singular da arte. A tradução de um sentimento inicialmente indefinido e a criação de um vocabulário que dê uma voz e uma articulação ao sentir mudo e inarticulado precisam ser exercitadas continuamente por aqueles que convivem com a arte. Para sublinhar esta relação originária entre crítica e política gostaria de citar outra passagem de Jacques Rancière: “A política se ocupa do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo”.6 Uma vez que a experiência da arte suscita no receptor uma busca por palavras que traduzam seu sentimento e/ou sua inquietação, ela está sempre ativando um juízo crítico que compara o que vê com o que já foi visto, o que não sabe com o que de algum modo já é sabido. O surgimento da crítica coincide com o momento em que a arte e a política se assumiram como um exercício experimental, quando elas romperam com os modelos do passado. A possibilidade de experimentar sentidos novos, indispensável à atividade crítica, é o fundamento de uma liberdade política (e poética) que se assume como abertura para o novo. A Revolução Francesa e o Romantismo marcam essa ruptura. Superava-se uma noção técnica da arte, recusando toda e qualquer pretensão normativa para o fazer artístico. Rompia-se com o modelo poético que articulava conteúdos narrativos e formas de representação, o “o quê” e o “como” constitutivos da possibilidade de arte. Fundavase, a partir daí, uma noção de experiência estética, sempre problemática e diferenciadora, na qual o sujeito se vê confrontado pelo desconhecido e convocado a ampliar seus horizontes de sentido. 6 Jacques Rancière. A partilha do sensível. São Paulo: Editora 34, 2005. p. 17. 7 Cabe afirmar que a insegurança em relação ao fato de que algo seja ou não arte pode vir a ser positivo para se disseminar uma potência crítica produtora de dissensos e de formas de arte (e de vida) heterogêneas. Não se trata de fazer dessa instabilidade ontológica a única condição possível para o fenômeno artístico contemporâneo, negando assim qualquer atualidade aos suportes e formas de arte tradicionais. O que se defende é a abertura ao novo e a necessidade de ajuizamento. Ver uma pintura é sempre poder dispor-se a ver pela primeira vez. Dito isso, e tentando qualificar melhor a indecidibilidade entre arte e não-arte, retomemos outra passagem de Rancière: “dizer que a arte resiste quer dizer que ela é um perpétuo jogo de esconde-esconde entre o poder de manifestação sensível das obras e seu poder de significação. Ora, esse jogo de esconde-esconde entre o pensamento e a arte tem uma conseqüência paradoxal: a arte é arte, resiste na sua natureza de arte, apenas enquanto não é arte, enquanto não é produto da vontade de fazer arte, enquanto outra coisa que a arte”.7 A natureza da arte é essa contínua capacidade de poder se tornar outra coisa, de diferir; por conseguinte, resistir na sua natureza é resistir nesse território de instabilidades e correspondências que exige a constante diferenciação do que aparentemente é indiferenciado. É natural que neste processo de negociação de sentido vá se criando um vocabulário especializado, um jogo de linguagem específico que articula e qualifica territórios artísticos. O importante é estar sempre deslocando essa especificidade, pondo-a em tensão com uma possibilidade de compartilhamento. A crítica é fundamental para se produzir estes deslocamentos, para criar estas passagens, sempre políticas, entre o sem sentido e a criação de sentido, entre tudo poder ser arte e qualquer coisa não ser necessariamente arte. O juízo é uma defesa diante da indiferença do niilismo, que diz que tudo é igual e nada faz sentido. Ajuizar é o compromisso com a produção de diferenças junto com o indiferente. A crítica, assim como a política, procura um consenso, mas vive e habita o dissenso. Em um mundo onde a multiplicidade é a regra, a crítica é um exercício inacabado que impede que as diferenças se anestesiem ou que as identidades se fixem. Tentando responder à pergunta sobre o para que da arte, nos vimos desconstruindo a própria certeza sobre o que seja arte, inviabilizando qualquer compreensão que assuma uma substância ou essência que a defina universalmente. Se não sabemos o que é arte, não faz muito sentido tentar responder para que ela serve. Por 7 Jacques Rancière. “Será que a arte resiste a alguma coisa?” Op. cit., p. 6. 8 outro lado, há que se postular que este não-saber não impede o juízo e, portanto, o aparecer do poético. Como foi constantemente sublinhado, é da natureza do novo não aderir aos sentidos dados e convencionais; assim, de dentro da precariedade do não saber-se arte surge uma força que funda uma nova maneira de ser arte. Não será recusando-se essa precariedade e reivindicando certezas críticas e critérios objetivos, que a desorientação, tão recorrente ao embate com a arte contemporânea, iria ser superada. Pelo contrário, a nostalgia de um saber instituído, que definiria a priori a fronteira entre arte e não-arte – por convenções, habilidades técnicas, meios de expressão específicos – acabaria domesticando o ajuizamento e pondo em risco a própria potência poética e sua indecidibilidade. Na verdade, só se julga quando não se sabe; além disso, não se julga para normatizar, mas para produzir dissonâncias sempre salutares para as múltiplas possibilidades de sentido e formas de ser da arte e do mundo. Retomemos a tensão entre arte e política, tendo em vista a necessidade de enfrentar um sistema, o mercado, capaz de absorver toda e qualquer dissidência. O desafio é sobre as formas de resistir à cooptação e dar à arte alguma eficácia política. Essa resistência não implica uma recusa à inserção institucional, mas a capacidade de mobilizar forças contrárias à acomodação. O que pode a arte? No filme Dial history, de Johan Grimmonperz, realizado para a Documenta X, em 1997, vemos uma compilação de imagens espetaculares (e premonitórias) de atentados terroristas relacionados a seqüestros de aviões. Uma voz em off lê passagens de dois livros de Don DeLillo. A oposição entre literatura e terrorismo é apresentada inúmeras vezes nos trechos escolhidos. Sem apologia de qualquer ordem, um ponto é enfatizado nessa oposição: só o ato terrorista não se deixa apropriar pelo sistema, só ele permanece fora da ordem, só ele se mantém não assimilado pelo mercado. A ambição do escritor de transformar o sistema foi completamente dominada. Nessa lógica, tipicamente de vanguarda, disseminar a arte na vida significava dar-lhe uma potência de interferência no real. De que maneira pode a arte mudar alguma coisa? Só se postula a transformação quando sabemos o que fazer. Entretanto, onde havia a certeza ideológica de modelos alternativos, restou-nos agora a hesitação e a perplexidade. A montagem de Dial history combinando imagens de arquivo com cenas de ficção, misturando vozes, atores, discursos, acelerando e desacelerando seqüências, confundindo tonalidades trágicas e cômicas, acaba por nos tirar de uma posição fixa a partir da qual sabemos como sentir. Em uma entrevista inserida no filme, o presidente da Pepsi-Cola, recém liberado de um seqüestro, resume nossa própria confusão: “passei 9 por uma gama variada de emoções – da surpresa ao choque, passando pelo medo, pelo alívio, pelo riso e por fim, voltando ao medo”. Na cena final, como um último suspiro trágico de nonsense, passados os créditos, ainda embalados pela música disco dos anos 70 e chocados com a mistura explosiva de terrorismo e incompreensão, vemos, para nossa maior estupefação, os presidentes Yeltsin e Clinton às gargalhadas. Por um lado, parece que está tudo dominado e que nada escapa às engrenagens do sistema; por outro, é deste vazio ideológico que pode irromper, inesperadamente, a potência imprevisível do novo. Ou não. Não cabe à arte conscientizar seu público, não havendo possibilidade nem interesse em transmitir uma mensagem específica. Se se pode falar em função da arte, esta seria, quando muito, desestabilizar os modos de ver e de pensar que estruturam os sentidos convencionais. Diante das obras de arte há que se construírem campos de sentido plurais, que não reduzam as formas de recepção a uma única potência de mobilização e ação. Em outra passagem de DeLillo utilizada no filme, ouvimos: “o que os terroristas ganham, os romancistas perdem”. O importante diante dessa oposição é afirmar a perda, valorizá-la, mantendo para a literatura – e para a arte – uma ineficácia grávida de virtualidade. Perder, no caso, seria manter-se aberta a poder ser de outro modo, coisa que não existe na vitória do terrorismo, cuja razão é implacável. Não se trata de negar ou apenas condenar moralmente a “razão do terrorismo”, mas sim de acreditar que existam outras “razões”, por mais precárias e indefiníveis que sejam. Como foi dito em outra ocasião por Rancière, interpretar o mundo é uma forma de transformá-lo,8 desde que saibamos e queiramos perceber na posição do espectador e na faculdade de julgar uma potência criativa própria, fundada na certeza de que os caminhos que ligam minhas formas de sentir e pensar à minha vontade de interferir na realidade passa pelo enfrentamento sempre conflituoso do outro (e suas vontades) e pelos desdobramentos imprevisíveis dos acontecimentos. Quatro anos depois do filme Dial history, logo após o atentado às duas torres, o músico Karlheinz Stockhausen declarou ter sido aquela colisão dos aviões “a maior obra de arte que se poderia imaginar”. Para além de qualquer defesa em relação ao ocorrido, o que se percebe nessa afirmação é que algo havia mudado na história do Ocidente e que produzir essas reviravoltas está na base de sua compreensão da arte. Essa frasemanifesto quer dar à arte um tipo de potência sobre o real que se desdobra na vontade 8 Jacques Rancière. “The emancipated spectator”. Artforum, March, 2007. 10 vanguardista de dissolvê-la na vida. Não que não haja esse desejo latente e virtualizado nas obras, mas elas recusam essa dissolução de modo a se manterem abertas a serem outra coisa, a produzirem outros sentidos e novas formas de perceber e viver no mundo. O atentado não é arte, pois ele não quer e não pode ser outra coisa senão a destruição real (e não simbólica) das torres e a lamentável morte de milhares de pessoas. Tomemos outro exemplo, seguindo no episódio nova-yorkino, que pode nos ajudar a pensar uma relação entre arte e política que não reduza seu compromisso poético a uma resposta ideológica; não temendo a ambigüidade e afirmando, acima de tudo, a potência imprevisível que advém dos acontecimentos. Refiro-me ao curtametragem dirigido por Sean Penn incluído em uma série de 11 filmes sobre a queda das torres. O cenário era uma casa escura e desarrumada. Os personagens são um homem dormindo, solitário e visivelmente em luto, uma TV ligada transmitindo os acontecimentos de 11 de setembro e uma planta murcha na janela. De repente, em sintonia com o desabar monumental dos prédios, transmitido ao vivo pela televisão, o apartamento sombrio começa a receber a luz do sol e a planta se aviva imediatamente. No exato momento em que a mudança ocorre, acaba o filme. A arte não é mera representação do real, nem tampouco está destituída de vida própria; mas os modos pelos quais ela se faz produtiva, real e vital está constantemente resistindo a uma única leitura e querendo poder ser sempre de outra forma. “Há dois séculos que a arte vive da tensão que a faz existir, ao mesmo tempo, em si mesma e além de si mesma e prometer um futuro fadado a permanecer inacabado. O problema não é mandar cada qual (arte e política) para o seu canto, mas de manter a tensão que faz tender uma para a outra, uma política da arte e uma poética da política que não podem se unir sem se autosuprimirem”.9 Esta tensão irresolvida entre arte e política desdobra-se em outras igualmente não resolvidas entre interesse e desinteresse, entre a perspectiva dos atores e a dos espectadores, entre criar e julgar, entre consenso e dissenso, entre funcionalidade e desfuncionalidade. Voltando a Kant, “ser arte e parecer natureza”, portanto, ser uma coisa e poder ser outra, é a liberdade experimental que suscita no público a capacidade de traduzir formas e textos em novos modos de sentir e de ser, deixando-os sempre disponíveis e inacabados. 9 Jacques Rancière. “Será que a arte resiste a alguma coisa?” Disponível em www.rizoma.net, 2005 [seção Art & Fato], p. 14. 11 Luiz Camillo Osorio Crítico de arte, doutor em Filosofia pela PUC-Rio, professor da Escola de Teatro da Unirio e do curso de Especialização em Arte e Filosofia da PUC-Rio; membro do conselho de curadoria do MAM-SP, autor dos livros Flávio de Carvalho (São Paulo: Cosac&Naify, 2000), Abraham Palatnik (São Paulo: Cosac&Naify, 2004), Razões da crítica (Rio de Janeiro: Zahar, 2005) e Angelo Venosa (São Paulo: Cosac&Naify, 2008 – no prelo). 12
Baixar