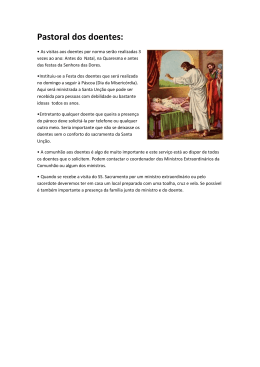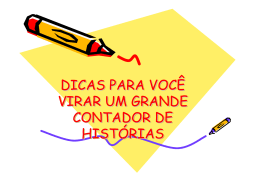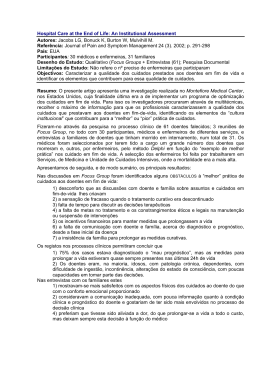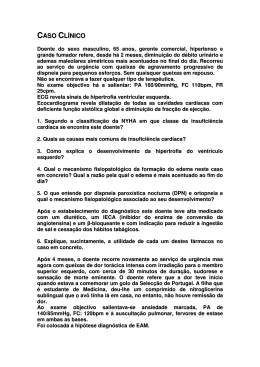Entrevista (Público, 18-09-2010) Quanto mais grave a doença maior a necessidade de o doente ser ouvido, o que raramente acontece Por Ana Gerschenfeld Misturando Medicina com técnicas literárias de escrita, Rita Charon ensina os médicos a "lerem" os seus doentes não apenas como sintomas, como patologias, mas como histórias. Só assim, diz, é que poderão ser médicos a sério. Voz suave, rosto doce. Rita Charon fala pausadamente, quase como se estivesse a pensar em voz alta, da importância de integrar, na prática médica, as técnicas literárias, a arte de escrever histórias. Para ela, ser bom médico passa por saber construir narrativas coerentes a partir da história que cada doente leva consigo para as consultas. Se se recusar a abandonar os sentimentos (os próprios e os do seu doente) à porta do gabinete, o médico torna a sua prática clínica melhor, porque mais compassiva e mais humana, diz. Pode parecer uma evidência, mas a realidade é que a maior parte dos médicos não o faz - aliás, a Medicina moderna incita os clínicos a distanciarem-se dos seus doentes, a privilegiarem os aspectos técnicos. Por isso, para lhes fornecer as ferramentas necessárias a uma inversão de tendência que considera essencial, Rita Charon criou há dois anos, na Universidade de Columbia, um mestrado de Medicina Narrativa. De passagem por Lisboa para o colóquio internacional Narrativa e Medicina: Doença e Diálogo, que decorreu no início da semana na Faculdade de Letras, falou ao P2 desta abordagem emergente. O que é exactamente a Medicina Narrativa? A Medicina Narrativa é a prática clínica - dos médicos, enfermeiras, terapeutas, assistentes sociais, capelães - reforçada por competências narrativas. Quando tratamos dos nossos doentes, reforçamos a nossa prática através de técnicas que nos permitem saber o que fazer com as histórias que eles nos contam. O que a fez interessar-se por esta maneira de fazer Medicina? Quando arranjei o meu primeiro emprego como médica interna - numa clínica para doentes pobres de Manhattan -, percebi que me estavam a pagar o ordenado para ouvir narrativas muito complexas e tentar dar-lhes sentido. Esse era o meu trabalho. Só que não sabia bem como fazer. Não sabia como é que as histórias funcionavam, nem o que acontecia quando contamos ou ouvimos uma história. Então fui timidamente bater à porta do Departamento de Inglês da Universidade de Columbia, pensando que talvez me pudessem ajudar [ri-se]. Perguntei se achavam possível ensinar a uma médica algumas coisas sobre histórias e eles ficaram encantados com a ideia. Disseram-me para fazer um mestrado. Quando acabei, fiz um doutoramento. Nunca foi a minha intenção tornar-me crítica literária: eu era médica, tinha os meus doentes e podia ter de sair a correr para o hospital a meio de um seminário sobre Virginia Woolf. Mas nunca mais parei, porque percebi que a teoria literária, as técnicas narrativas dos especialistas de literatura, era exactamente aquilo que me faltava na minha prática médica. E isso manifestava-se como? A cada mês que passava, conseguia fazer melhor o meu trabalho no consultório e as minhas rotinas clínicas iam mudando. Qualquer médico sabe que, quando vemos um doente pela primeira vez, temos de lhe fazer milhentas perguntas. Que idade tem, quais são os seus problemas médicos, que medicamentos toma, se é alérgico(a) a alguma coisa, se já foi operado, se tem asma, diabetes, doença cardíaca, se os seus pais são vivos - e, se não, de que morreram. Se for uma mulher, temos de saber a data da última mamografia, do último teste de Papanicolaou. Temos de perguntar ao doente se fuma, se bebe álcool, o que come. Fartei-me dessas perguntas; era muito chato [ri-se]. Hoje em dia, na primeira consulta, começo com duas frases: "Vou ser a sua médica e portanto preciso de saber muitas coisas sobre o seu corpo, a sua saúde e a sua vida. Diga-me por favor o que preciso de saber sobre a sua situação." Só preciso de dizer isso. Não tomo notas, não escrevo nada no computador. Graças aos meus estudos literários, aprendi a ouvir com muita atenção. Sou uma leitora atenta das histórias que os doentes me contam. E consegue lembrar-se de tudo? Sim - e escrevo depois. A história do doente nunca demora mais de 15 minutos a ser contada. Durante esses 15 minutos, absorvo o que ele me diz. Depois, peçolhe para passar para a parte da sala onde o vou examinar, despir-se e vestir uma bata. E é enquanto o doente se prepara que vou ao computador e escrevo, escrevo, escrevo o que acabei de ouvir. Assim, no fim da consulta, posso dar ao doente uma cópia do que me contou e pedir-lhe para verificar se percebi tudo bem. A primeira vez que utilizei essas minhas duas frases, foi com um homem com dores no peito e nas articulações. Começou por falar da morte do pai, 20 anos antes, de insuficiência renal, e da morte do irmão, 10 anos atrás; das dificuldades que tinha com o filho, que era muito rebelde, e de como não se achava muito bom pai. E depois desatou a chorar. Eu, que tinha ficado calada, perguntei-lhe por que chorava. E ele respondeu-me que nunca ninguém o tinha deixado falar assim. Na segunda consulta, as alterações que o doente faz nas minhas notas costumam ser ao nível do pormenor. Mas, muitas vezes, acrescenta que há uma coisa que se esqueceu de me dizer. E é aí que ouço falar da violência doméstica, do aborto espontâneo, da violação. Perdas, traumas que não conseguiu verbalizar na primeira consulta. Também tenho vindo a introduzir uma outra rotina, que consiste, com a autorização dos doentes, em termos uma testemunha a assistir à consulta. Já treinei uma série de pessoas no âmbito deste Witness Project. Não são clínicos, não sabem nada sobre insuficiência cardíaca nem asma, portanto não se distraem com esses aspectos. Mas têm jeito para a escrita e uma percepção fina das situações. Apresento a testemunha ao doente, explicando-lhe que ela vai escrever o que vê. Isso não tem só a vantagem de me dispensar de tomar notas à pressa: o facto é que a testemunha consegue registar o meu encontro com o doente quase como um antropólogo a fazer trabalho de campo. E, quando me entrega as suas notas, descubro coisas que não tinha reparado. Por exemplo que, enquanto eu estava a pensar na dose do medicamento ou a escrever a receita, o doente estava a chorar. No início, foi um pouco difícil, mas agora tenho testemunhas que fazem muito bem o seu trabalho. A tal ponto que, por vezes, também mando o texto da testemunha ao doente - porque pode ser realmente revelador. Mas nem todos os médicos são capazes de fazer isso... E eu não os posso obrigar a fazê-lo. Mas posso transmitir aos estudantes de Medicina, de Enfermagem, de Fisioterapia, as competências necessárias para serem capazes de o fazer. Posso ensiná-los a ler de forma séria e rigorosa a linguagem dos doentes - seja ela oral, escrita ou gestual. Não é isso que faz um psicólogo? Pode parecer a mesma coisa e, de facto, existe uma sobreposição com certas formas de aconselhamento social ou psicológico. Mas nem todos os especialistas da área de Psicologia são adeptos da narrativa. Os psiquiatras, em particular, estão um bocado presos à questão de nomear a patologia ou à medicação. Eu não escuto a partir de um enquadramento teórico como o da Psicanálise. Também não estou lá enquanto psicóloga. Mas, por outro lado, também não penso só em termos de Medicina Interna. O melhor que consigo dizer é que ouço os relatos com base num enquadramento narrativo, que estou à escuta da trama, de um desenrolar no tempo, de vozes inaudíveis. Essa é a diferença. E de que maneira é que isso melhora o tratamento dos seus doentes? Quanto mais grave a doença, maior a necessidade de o doente ser ouvido, o que muito raramente lhe acontece. Costuma-se dizer que o médico está lá para tratar e que o assistente social está lá para ouvir. Eu acho que isso não resulta. Na unidade de Cuidados Intensivos de Columbia, estamos a tentar lançar um programa para ensinar os anestesiologistas e os médicos mais experientes a falar com os familiares quando os cuidados dispensados a um doente se tornam fúteis. Normalmente, são as enfermeiras e as assistentes sociais a fazer isso. Sem menorizar o papel desses profissionais, a verdade é que os médicos estão assim a "subcontratar" uma parte muito difícil do seu trabalho. Por isso, estamos a tentar treinar esses médicos nas técnicas narrativas. Para os ensinar a sentar-se ao pé de um familiar e conseguir perguntar, simplesmente: "Diga-me aquilo por que está a passar". Têm de ser os próprios médicos a fazêlo, porque senão a mensagem subjacente é que esse é um aspecto secundário. Também dirige hoje um mestrado de Medicina Narrativa. Sim. A dada altura, juntei um grupo de professores de Columbia - do Departamento de Inglês, do Instituto de Psicoanálise, da Pediatria, um filósofo, um especialista de história oral, um activista da defesa dos doentes. Consegui arranjar um pequeno subsídio público para pagar uma parte dos seus ordenados, de forma a terem tempo para participar em seminários de duas horas, duas a três vezes por mês. Todos nós já tínhamos feito algum trabalho naquilo que acabámos por chamar Medicina Narrativa. Tínhamos algumas pistas que sugeriam que o trabalho narrativo ajuda nos cuidados clínicos, mas queríamos perceber os mecanismos por detrás do fenómeno. O grupo começou a organizar workshops destinados a médicos, enfermeiras, escritores, jornalistas. Reuníamos 30 a 40 pessoas durante três dias e apresentávamos algumas das nossas ideias e ferramentas narrativas básicas. Só que muitos dos participantes voltavam para casa - para os EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Ásia, Israel, Europa - e lançavam pequenos programas para pôr em prática essas ideias. E então ficámos muito nervosos. Porquê? Porque estas técnicas implicam certos riscos e é preciso uma formação aprofundada para treinar pessoas e modular a força do que pode acontecer quando as enfermeiras e os médicos (e, por vezes, os doentes) relatam por escrito episódios de profundo sofrimento. Ora, ao darmos a impressão de que era possível fazer uma coisa destas com apenas uns dias de formação, sentíamos que não estávamos a fazer bem o nosso trabalho. Então fomos ter com os responsáveis de Columbia para organizar um mestrado. Já foi há três anos. Demorámos um ano a apurar o currículo do nosso Mestrado de Ciência em Medicina Narrativa e, há dois anos, acolhemos a nossa primeira turma, com 28 pessoas - médicos, enfermeiros, assistentes sociais, jornalistas, escritores e advogados. Um terço da turma era composta por alunos que queriam ir para Medicina ou Enfermagem. A Medicina Narrativa não deveria fazer parte dos programas de todas as faculdades de Medicina? Claro! Estamos precisamente a formar as pessoas que vão poder organizar este tipo de programas noutros sítios. A maior parte do meu trabalho é feita com professores de Medicina ao mais alto nível. E, dentro das faculdades, existe cada vez mais a consciência de que este tipo de treino é essencial. Por exemplo, nos EUA, os critérios de selecção das pessoas que entram nas escolas de Medicina estão a mudar: estamos a alterar os critérios que permitem decidir se alguém tem ou não aptidão para ser médico. Já fizeram estudos sobre o impacto da abordagem narrativa nos doentes? Fizemos alguns estudos do impacto da formação nos formandos. Mas vamos chegar ao ponto em que vai ser possível lançar ensaios clínicos para acompanhar durante um ano, por exemplo, 20 médicos com formação narrativa, numa clínica, e outros 20, sem formação, noutra clínica. E comparar os resultados clínicos. Para ver se o tratamento dos diabéticos na primeira clínica melhorou, se o número de fumadores baixou, se os que têm peso a mais conseguiram perder mais quilos, se um maior número de mulheres passou a fazer mamografias, etc. E talvez para constatarmos que os doentes sentem, finalmente, que têm um médico.
Baixar