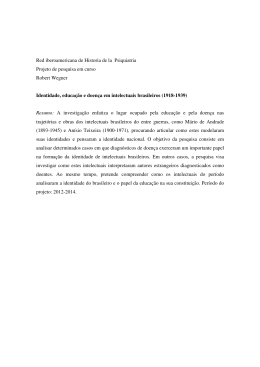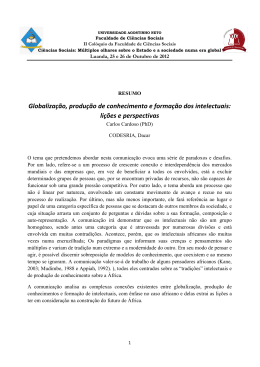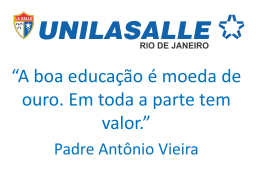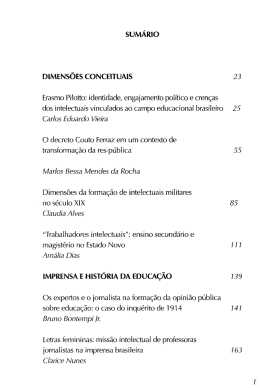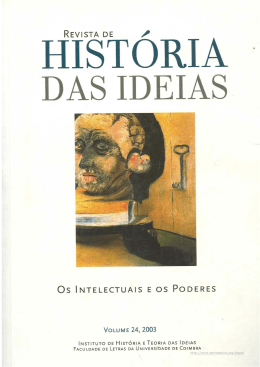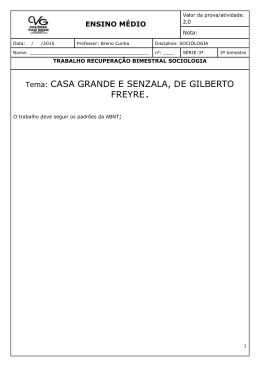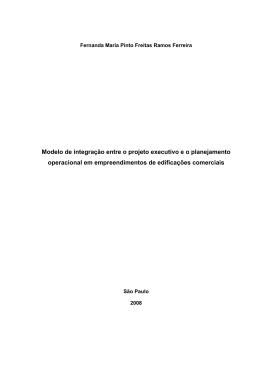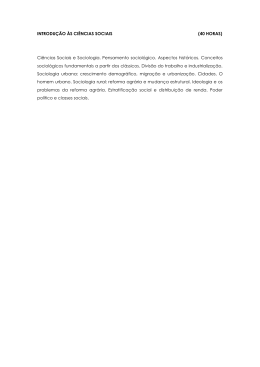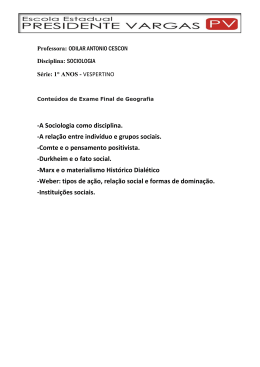Memorial Submetido à Banca Examinadora do Concurso Público de provas e títulos para provimento de uma vaga como Professor Adjunto da Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro IFCS / Departamento de História — Teoria e Metodologia da História (código n. 0286249). Rio de Janeiro, março de 2004. Norma Côrtes § Formação acadêmica Sou historiadora. Formei-me pela PUC-Rio, onde ingressei ainda adolescente, às vésperas de casar e completar 19 anos. E de lá só sai aos 34 anos de idade — já adulta, divorciada, e com o título de Mestre em História Social da Cultura. Da PUC fui estudante e professora. E em ambos os casos, entrei por concurso permanecendo tempo o bastante para acreditar que sou boa aprendiz das artes do meu ofício. Ter sido formada em História entre 1980 e 1995 foi quase um privilégio. Se foi uma década economicamente perdida, os anos oitenta também foram um período de grandes abalos e rupturas cognitivas. Entre a euforia e a perplexidade, assistimos então ao colapso dos esquemas teóricos e explicativos do estruturalismo e/ou do marxismo de inspiração althusseriana. E a isso se seguiu um espírito de franca liberalidade intelectual, parecendo que todos os paradigmas e formas de abordagem do passado estavam disponíveis e eram possíveis ou legítimos. Mágica, a palavra interdisciplinaridade soava como a solução de todos os dilemas teóricos. Era, porém, só o canto de uma sereia cujo encanto nos levava a acreditar que a verdadeira História (!?) residia num campo intelectual permissivo, difuso e frouxamente compartilhado entre a Antropologia, a Literatura, a Psicanálise, a Sociologia, a Ciência Política, a Filosofia etc. Ainda bem que tive a sorte de estar próxima de professores — uns entusiasmados, outros céticos e alguns deliciosamente indecisos — que rapidamente me ensinaram que a identidade do historiador não se construiria pela diluição das fronteiras intelectuais dessa disciplina. Ao contrario: o diálogo interdisciplinar era tão urgente quanto era necessário afirmar a singularidade da abordagem histórica e historiográfica. Lembro bem. Quem me ensinou isso foi Maria Alice Rezende de Carvalho (e sinceramente acho que ela falava por experiência própria, uma vez que sua trajetória intelectual descreve um caminho de ida, mas também de volta, entre a História e a 2 Sociologia). Duas vezes minha orientadora, na PUC e no Iuperj, Maria Alice ensinoume a calibrar esse encontro entre a História e as Ciências Sociais. Substantivamente, ela me apresentou à História da razão sociológica e também ao repertório conceitual da Sociologia dos intelectuais e do conhecimento. Mas ao invés de fazê-lo como se manejasse um elenco fixo e atemporal de instrumentos teóricos cuja aplicação é universal e a validade, absoluta, fez-me ver a historicidade do processo de composição da reflexão sociológica. Em suma, enraizando a Sociologia na história e fazendo uso de um raciocínio historicamente orientado — em estreito acordo com o historicismo que germina em Mannheim —, transmitiu-me uma perspectiva crítica e auto-reflexiva acerca dos limites e das condições de possibilidade (históricas e epistêmicas) daquela mesma razão sociológica que então me apresentava. Quando ingressei no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, na turma de 1994, para fazer o doutorado em Ciência Política recebi uma acolhida intelectual bastante generosa. E isso foi muito importante, pois embora parecesse que o Instituto era uma versão laica da História da PUC, o fato é que nunca me senti fortemente integrada ao mainstrean da casa. Digo, não aprendi a ser uma cientista política dura. Na rua da Matriz, em Botafogo, aprendi outras coisas: lá fui aluna de Cesar Guimarães, Ricardo Benzaquen, José Murilo de Carvalho, Marcelo Jasmin, Renato Lesa, Luiz Werneck Vianna — além de Maria Alice, é claro1. Todos epocais (para usar o linguajar sibilino do professor Candido Mendes), pois eram sociólogos, antropólogos, cientistas políticos e/ou historiadores que mesmo pertencendo a duas gerações diferentes se irmanavam tanto pela seriedade dos seus trabalhos quanto porque compreendiam o pensamento brasileiro, a inteligência política e sociológica clássica ou a vida intelectual e filosófica em geral como expressões singulares de uma época histórica qualquer. Com eles também aprendi a pensar a vida inteligente como manifestação do “espírito” de uma época e a conceber os fatos da razão (política ou sociológica) como fenômenos empíricos historicamente conformados. Ali, finalmente, refinei o meu estilo de escrita e de abordagem histórica e acho que posso me apresentar como uma historiadora das idéias políticas sem que isso cause vergonha ou provoque constrangimento naqueles que contribuíram para minha formação intelectual e 1 Além desses, também fui aluna do professor Manuel Luiz Salgado Guimarães na disciplina História e Narrativa, oferecida durante o segundo semestre de 1994 no Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. 3 acadêmica. A essa curta trajetória também se soma uma idiossincrática inclinação para os estudos teóricos e filosóficos. Por alguma razão que eu mesma não compreendo, desde muito jovem sou “amadora” da Filosofia e encontrei na área de Teoria e Metodologia da História a minha vocação profissional. Meu aprendizado dessa área foi marcado pelos ensinamentos do professor Francisco Falcon cujas aulas de Teoria ou de História da historiografia eram copiosas, mas totalmente propícias a fazer pensar. Durante os quinze anos em que estive na PUC fui sua aluna. Quer dizer, eu praticamente o persegui durante toda a minha graduação e também no mestrado. E desde então compreendi que é um tour de force querer separar a teoria da história. Afinal, ainda que possuam estatutos desiguais, a reflexão teórica e os acontecimentos históricos não estão em campos antitéticos. Pois longe de exprimir uma oposição ao real, a atitude teorética revela uma ação, sendo o esforço reflexivo de um agente histórico que quer conhecer a si e a seus próprios passos cognitivos e intelectuais. Em outras palavras, se compreendida como ação, a reflexão teórica não pode ser vista como refratária ao mundo, pois nela se encerra um modo de pertencimento do homem à realidade e à sua História. Volto a esse ponto logo adiante. § Histórico profissional (ensino & pesquisa) Há dezesseis anos sou professora universitária2. Iniciei minha carreira docente em 1988 na antiga Faculdade da Cidade (situada às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, bairro da zona sul do Rio de Janeiro), onde oferecia História do Brasil republicano para turmas de graduação em Comunicação e Turismo. Depois, atuei durante oito anos no Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, lecionando disciplinas obrigatórias da área de Teoria e Metodologia para os alunos da graduação de História além de variadas outras disciplinas eletivas para as Ciências Socais, o Direito, a Comunicação ou a Administração. Afora tais atividades docentes, na PUC participei do grupo de estudos formado pelos professores e alunos do Mestrado em História Social da Cultura que, assim como eu, também lecionavam na graduação. No início dos anos 1990, durante aproximadamente um ano, mantivemos 2 A única experiência profissional que mantive com vínculos institucionais fora dos muros universitários foi no Arquivo Nacional, onde por aproximadamente dois anos (primeiro como estagiária e depois como pesquisadora) atuei junto à Divisão de Pesquisa (cf Declaração anexo). 4 encontros regulares para estudar e analisar os clássicos da historiografia ou do pensamento político. O professor Cesar Guimarães apresentou-nos Lições da Filosofia da História de Hegel; Marcelo Jasmim analisou as obras históricas de Aléxis de Tocqueville; Sonia Lacerda (atualmente na UNB) expôs a Ciência Nova de Vico; Berenice Cavalcante brindou-nos com Caio Prado Junior; e Ricardo Benzaquen esbanjou erudição ao analisar Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre. Produtivos e densos, os debates desse grupo de estudo me ajudaram a definir um modo de leitura e interpretação e também um método de abordagem teórica. Dosando o chamado contexto histórico — informações pré-textuais, biográficas etc — em equilíbrio com os elementos formais e propriamente textuais, as peripécias discursivas ou os recursos conceituais e teóricos mobilizados pelos clássicos, tais exercícios analíticos exibiam um formato de enquadramento em História social das idéias e um modelo de compreensão da historicidade da inteligência política e/ou historiográfica que, mesmo acentuando fortemente seu enraizamento na chamada realidade histórica, não depreciava o estatuto ôntico das idéias à mera “vulgaridade ideológica”. Recentemente, há mais ou menos cinco anos, sou Professora Adjunta da Universidade Candido Mendes (com atuação nos campi Ipanema, Campos de Goytacazes ou Tijuca). Na UCAM, sempre ofereço disciplinas das Ciências Humanas, com caráter propedêutico, que ocupam a franja inicial da grade curricular do curso de Direito. Lá ensino Introdução à História da Filosofia; Introdução à Ciência Política; História do Direito; Introdução à Sociologia; Sociologia Jurídica; ou Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. Acredito que essa variedade de disciplinas e de público alvo acabou temperando minhas habilidades didáticas. Afinal de contas, se aprendi a dar aulas observando os meus professores (e posso dizer, sem medo de errar, que assisti a uma gama de exemplos admiráveis), foi somente com meus alunos que ganhei clareza e simplicidade — e isso foi num crescendo, tornando-se um compromisso inabalável com a transmissão dos conteúdos programáticos. Sob esse ânimo, há anos elaboro apostilas didáticas (cf particularmente: Quase tudo que se deve saber para viver numa Universidade, mas ninguém ensina; Para escrever bem e Como escrever um projeto de pesquisa em História), que agora estão disponíveis em meu site pessoal, o Artes do Tempo© 3. Escrevo-as por prazer — ou talvez por causa de uma esquisitice criativa que 3 Artes do Tempo©, url: www.artesdotempo.hpg.com.br / e-mail: [email protected] 5 volta e meia me assalta —, mas o importante, porém, é que resultam do esforço de sistematização das minhas experiências docentes ou de pesquisa e revelam com boa dose de precisão o tipo de envolvimento que normalmente dedico aos meus alunos. Ultimamente sou bolsista recém doutora pelo CNPq junto ao Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro4. Desde novembro de 2001, quando obtive esta bolsa, além das atividades docentes na graduação e na pós-graduação5, da coordenação da Comissão da Biblioteca do IFCH e da edição da Revista eletrônica Intellectus6, também realizo um estudo historiográfico sobre as obras de Nelson Werneck Sodré e a filosofia de João Cruz Costa. Intitulada Clássicos da Historiografia Brasileira. Visões da História em Nelson Werneck Sodré e João Cruz Costa, essa pesquisa visa investigar e compreender os debates intelectuais que contribuíram para fixar os atuais padrões de inteligibilidade da História do Brasil. Quer dizer, mais que resgatar do esquecimento as obras do “último historiador marxista” ou as idéias do “único” filósofo nacionalista da USP, o que se pretende é encontrar elementos empíricos que permitam compreender e analisar o debate historiográfico que, em meados dos anos 1970, polarizou duas gerações de intelectuais brasileiros e os seus respectivos estilos de pensamento7 — e isso resultou na conformação de um padrão de raciocínio acentuadamente estruturalista cuja força explicativa foi quase hegemônica8, pois se estendeu à maioria das áreas disciplinares 4 Lá encontrei um plantel de historiadores sérios e admiráveis, que me oferecem um convívio fraternal, intelectualmente estimulante e particularmente produtivo. Sinceramente, sou-lhes muito grata por isso. 5 cf anexo, os programas das disciplinas oferecidas. 6 Editada pela Prof Maria Emilia Prado e por mim, a Intellēctus (www2.uerj.br/~intellectus/) é uma revista eletrônica que pretende publicar estudos sobre a vida intelectual latino-americana e brasileira. Sua intenção é reunir artigos, resenhas, links e nomes de pesquisadores ou estudiosos que analisem a história e as obras da nossa inteligência política, econômica, cultural, social, artística, filosófica, jurídica etc. A revista está aberta a todas as especialidades e diferentes formas de reflexão e abordagem do seu tema principal – os fatos e feitos da vida inteligente —, pois quer contribuir para ampliação desse debate. 7 Com auto-imagens distintas e excludentes — uns acreditavam expressar a consciência social de um dizer comum e popular; outros pretendiam edificar uma ciência radicalmente contrária aos saberes vulgares e aos ditos ideológicos —, o que polarizou essas gerações foram duas visões antagônicas de Brasil. Subdesenvolvimento versus desenvolvimento combinado e dependente; cosmopolitismo versus nacionalismo; consciência versus ciência; lógica dual versus lógica dialética; historicismo versus estruturalismo; razão histórica versus razão sociológica: todas essas dicotomias revelam duas weltanschauungen que disputavam o significado da realidade social, travaram um conflito de interpretações acerca da sociedade brasileira e se chocaram pela prerrogativa de definir a melhor chave explicativa do mundo dos homens. 8 Hoje esta hegemonia está em franco declino. No próximo semestre, planejo oferecer um curso no PPGH da UERJ sobre tal História dos debates historiográficos brasileiros, tentando traçar seus combates políticos e dilemas conceituais e teóricos desde a tese do feudalismo até a descoberta da “terceira margem do Atlântico” . Quer dizer, desde Nelson Werneck Sodré até os atuais estudos historiográficos que de um modo geral passaram a investigar a África. 6 das chamadas Ciências Humanas (com exceção, talvez, do Direito) e também a todos os eventos da História do Brasil desde o Tratado de Tordesilhas. Essa pesquisa está em desenvolvimento (atualmente estou organizando um Guia Bibliográfico reunindo toda a literatura secundária relativa à vida e obra de Nelson Werneck Sodré) e, como o previsto, até o fim deste ano os seus resultados substantivos devem vir a público9. Acredito que ela consiste num experimento de abordagem dos debates historiográficos brasileiros e espero que contribua para a compreensão da história da formação dos atuais paradigmas de inteligibilidade da História do Brasil. Enfim, pretendo que seus rendimentos intelectuais me permitam refinar um modo compreensivo que, diluindo as fronteiras entre a história e a teoria/metodologia da História, resgate a historicidade da inteligência historiadora e consiga equilibrar o tratamento analítico comumente dado aos aspectos epistemológicos e teoréticos com o resgate histórico das controvérsias substantivas (de ordem política e social) que estão contidas nas obras deste dois autores clássicos da historiografia brasileira. § Produção científica, publicações e afins. Meus trabalhos mais relevantes, digo os que exigiram maior fôlego e investimento, foram: a dissertação de mestrado, Alceu Amoroso Lima: Idéia, Vontade, Ação da intelectualidade católica no Brasil; e a tese de doutorado, Esperança e Democracia. As idéias de Álvaro Vieira Pinto (ED)10. Ambos tiveram a orientação de 9 A validade da bolsa RD expira em outubro de 2004, quando devo apresentar ao CNPq o Relatório Final. Como produtos parciais deste empreendimento, além dos relatórios já enviados em 2002 e 2003, posso citar as Disciplinas oferecidas na graduação e no PPGH da UERJ; a Comunicação Coordenada Arquivo pessoal e a construção do sentido histórico apresentada no Encontro Regional da ANPUH sediado na UERJ em outubro de 2002; e finalmente a exposição O filósofo e o historiador feita na Jornada de Estudos Nelson Werneck Sodré (VII Jornadas de Ciências Sociais) na UNESP – Marília, entre os dias 19 e 22 de agosto de 2002 (cf anexo). 10 De ambos trabalhos frutificaram os seguintes artigos, ensaios e comunicações (cf anexo): A democracia educa. Revista Contemporaneidade e Educação, n 11 (prelo) Anti-mímesis. Despojamento, diálogo, democracia. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 30, 2002, p. 91-109. Consciência e Realidade Nacional — notas sobre a ontologia da nacionalidade de Álvaro Vieira Pinto (1909– 1987). Acervo. Revista do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, v. 12, jan/dez 1999, p. Católicos e autoritários. Breves considerações sobre a sociologia de Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro, Intellectus – revista eletrônica. Disponível em www2..uerj.br/~intellectus/ Entre o Império e a República, o sentido trágico da Questão Religiosa. Revista ARCKÈ Interdisciplinar, ano III, n. 8, 1994, p. 99-115. Comunicação no XI Congresso Brasileiro de Sociologia. Álvaro Vieira Pinto. A realidade como construção social e dialógica. Campinas, 04 de setembro de 2003. Exposição O filósofo e o historiador na Jornada de Estudos Nelson Werneck Sodré (VII Jornadas de Ciências Sociais) UNESP – Marília. De 19 a 22 de agosto de 2002. Conferência Álvaro Vieira Pinto — a nação como projeto da semana de abertura da exposição Construtivismo e Arte: o Brasil como projeto. Curador Reynaldo Roels. Museu de Arte Moderna — MAM. Rio de Janeiro, 02 7 Maria Alice Rezende de Carvalho e consistem em estudos de interpretação histórica e de exegese das idéias sociais, políticas e filosóficas desses dois intelectuais brasileiros. Jamais havia pensado seriamente a respeito de existir ou não algum tipo de continuidade entre tais trabalhos (na verdade, é a primeira vez que preciso escrever um Memorial e, honestamente, não me sinto nada confortável em construir esta persona que vos escreve), mas apesar disso vou afirmar que, embora tenham alvos distintos e graus de maturidade autoral notavelmente enquadramento intelectual. desiguais, guardam forte semelhança de Inscritas no campo temático dos estudos sobre o pensamento brasileiro — a dissertação dedicada à investigação dos intelectuais católicos desde a Questão Religiosa até fins da década 1930; e a tese voltada para as idéias nacionalistas que entre 1950 e 1960 estavam contidas na filosofia historicista e existencialista de Vieira Pinto, o filósofo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) —, ambas foram tentativas de elaborar uma Historia social das idéias e dos intelectuais no Brasil. De uma forma geral, além de lidar com as fontes e eventualmente descobrir uma nova documentação de pesquisa, meus principais desafios eram: primeiro, não superestimar as determinações do real em qualquer de suas instâncias ou dimensões (e isso significava não tratar os intelectuais ou suas idéias como fenômenos de segunda grandeza, meros reflexos de um mundo que os determina e precede). Depois, conseqüentemente, também não reificar a noção de contexto histórico — na medida em que o contexto não consiste num continente elucidativo dos conteúdos textuais, mas tãosomente numa reunião razoavelmente arbitrária das outras fontes documentais (objetos, textos ou imagens) elaboradas à época pelos demais agentes históricos. E finalmente, evitar hipertrofiar a autonomia da vida intelectual. Porque, ao contrário dos cabelos, as idéias não germinam nas cabeças espontânea ou naturalmente11. Todas essas questões já estavam mais ou menos sugeridas na dissertação de mestrado. Nela, sob clara inspiração hegeliana (idéia, vontade, ação são figuras da consciência extraídas da Fenomenologia do Espírito de Hegel), tentei explorar o de março de 1999. Conferência IISEB e a democracia. Álvaro Vieira Pinto. No Seminário Pensamento Político Brasileiro oferecido pelo Prof Cesar Guimarães no Iuperj, em 17 de abril de 2001. (sem texto) Comunicação Álvaro Vieira Pinto: Esperança e Democracia na III Semana de História realizada pelo Departamento de História da UERJ, 24 a 28 de novembro de 2003. (sem texto) 11 Que eu saiba, tais questões encontram a sua melhor formulação no contextualismo lingüístico. Cf particularmente Dominick LaCapra et alii. Modern european intellectual history. Ithaca: Cornel University Press, 1982.; J.G.A. Pocock. Politics language & time. Chicago: The University of Chicago Press, 1989; James Tully (ed) Meaning & context. Quentin Skinner and his critics. Princeton: Princeton University Press, 1988. 8 paradoxo existente entre as intenções humanas e o sentido da História12. Da ação trágica e involuntária13 até o planejamento e a ação política, a dissertação sobre Alceu Amoroso Lima descreve a história da formação da inteligência católica no Brasil e analisa os seus modos de agir e pensar. Muito embora tenha sido um trabalho claramente escolar, os rendimentos da dissertação me conduziram a discutir teoricamente o caráter inventivo e construtivo das tradições. (Convém observar que tal questão era válida tanto para os meus próprios gestos de recomposição historiográfica quanto para os de Amoroso Lima, pois em meados de 1930, ao mirar o passado, ele fixa a tradição de pensadores católicos em que se reconhece. Outrossim, é importante frisar que o tratamento não teleológico da tradição fez-me evitar as ultrapassadas noções de influência e de precursor14) E em seguida, além disso, também considerei as escolhas cognitivas e os recursos intelectuais, isto é, os conceitos, as teorias, os sistemas explicativos, os modos de enquadramento ou abordagem etc, como topoi discursivos e cognoscentes que conformam visões de mundo e revelam gestos e opções de natureza política. Afinal, quando Amoroso Lima elegeu a Sociologia como o sistema compreensivo da sociedade brasileira — e isso após um longo e penoso processo de laicização da vida pública — ele finalmente encontrou a fórmula da autonomia e da liberdade da Igreja face ao Estado15. Nessa investigação sobre a formação da consciência católica já se encontrava um claro esforço de reflexão teórica. Contudo, foi só na tese de doutorado que enfrentei as questões acerca da historicidade da inteligência — a minha própria e a do meu “objeto” de investigação — e do estatuto ôntico das idéias munida de um repertório filosófico, teórico e conceitual consistente. Não quero insinuar que se trate de obra de maturidade (sou moça demais para isso!), mas o fato é que o estudo sobre o pensamento de Álvaro Vieira Pinto obrigou-me a assumir a circularidade da situação hermenêutica e a refletir sobre os embaraços aí envolvidos de modo a resolvê-los produtivamente. 12 Ver G. W.F. Hegel. Lecciones sobre la filosofia de la historia universal. Madrid: Alianza Editorial, 1975, p 85. 13 Cf anexo: Entre o Império e a República, o sentido trágico da Questão Religiosa. Revista ARCKÈ Interdisciplinar, ano III, n. 8, 1994, p. 99-115. 14 Cf o 4o capítulo, Breves apontamentos de uma quase conclusão, de Alceu Amoroso Lima: idéia, vontade, ação da intelectualidade católica no Brasil. 15 “[...] ele adotou a sociologia como a intérprete da realidade social, levando até as últimas conseqüências o pressuposto epistêmico e ontológico dessa disciplina: a ordem da sociedade obedece a uma legalidade própria e guarda autonomia frente ao Estado. Assim, quando utiliza a sociologia como modo de compreensão da vida coletiva ele também se apropriava de uma sistematização teórica e metódica que lhe confirmava a idéia de a sociedade não estar compreendida no e pelo direito positivo.” Norma Côrtes. Católicos e autoritários. Breves considerações sobre a sociologia de Alceu Amoroso Lima. RJ, Intellectus – revista eletrônica. Disponível em www2..uerj.br/~intellectus/ (cf anexo) 9 Esperança e Democracia. As idéias de Álvaro Vieira Pinto. ganhou o Prêmio de publicação do Iuperj e, em outubro de 2003, foi lançado pela Editora UFMG no Encontro anual da ANPOCS. (A capa é de minha autoria, também16.) Serei breve. Suas principais contribuições são estas que abaixo se seguem: 1. Gerado durante as aulas do professor Cesar Guimarães sobre cultura e política no Brasil dos anos 1950-196017, Esperança e Democracia consiste numa crítica aos paradigmas historiográficos e sociológicos ainda vigentes, que insistem em interpretar esse período da História republicana reduzindo-o à tríade conceitual nacionalismo / desenvolvimentismo / populismo. Se não chega a configurar um movimento, tal revisão historiográfica também não se deu isoladamente. E mesmo não sendo intencional ou tendo qualquer organicidade, é possível identificar em diversos outros autores da atualidade o mesmo ânimo para retirar a História dos anos 1950 do engessamento conceitual a que até recentemente estava condenada18. 2. Esperança e Democracia é um estudo sobre o pensamento brasileiro e também consiste num exercício teórico-metodológico. Com dupla inscrição disciplinar (Brasil e Teoria), ele é a um só tempo uma investigação sobre a filosofia de Vieira Pinto e uma detida e escrupulosa reflexão acerca das atitudes metódicas necessárias a aproximação e ao entendimento do passado. Com efeito, antes de adotar um procedimento crítico formal ou uma estéril descrição conceitual do chamado “marco teórico”, seu caminho metódico responde a uma exigência gerada pela consciência da historicidade da própria investigação. Em outras palavras, os passos de aproximação e composição do objeto (as obras de Vieira 16 A capa segue a disposição gráfica da Coleção Origens e foi elaborada a partir de Bandeirinhas de Alfredo Volpi. Sobre a proximidade entre a arte construtivista no Brasil e a filosofia de Vieira Pinto, cf anexo Anti-mímesis. Despojamento, diálogo, democracia. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 30, 2002, p. 91-109. 17 Além de inúmeras outras teses e dissertações, o Banco de Dados Cultura e Política no Brasil (1950-1968), organizado pelo Professor Cesar Guimarães, com a participação de Santuza Neves, Ricardo Guanabara e a minha, foi um dos produtos de suas aulas e pesquisas (consultas on-line em www.iuperj.br). 18 Sem fazer uma listagem exaustiva, ver os recentes trabalhos de Jorge Ferreira, Daniel Aarão Reis, Paulo Cunha, Fernando Latmann-Weltman, Marcos Silva, Marcelo Ridenti, Santuza Neves e vários outros. 10 Pinto) rejeitaram a ingenuidade cognitiva, refletiram sobre si mesmos, negaram gratuidade às escolhas intelectuais, indagaram sobre a conformação e a História dos seus próprios recursos cognoscentes — eis a História, o processo de conformação e institucionalização, dos paradigmas historiográficos brasileiros — e, finalmente, desconstruindo tal trajetória, assumiram a circularidade da situação hermenêutica tal como postulada em Gadamer, Verdade e método. 3. Instalado nessa situação compreensiva, ED encerra uma suspeita quanto à pretensão inscrita na incursão epistemológica de fundamentar teoricamente o conhecimento histórico19. Na prática, apesar de a questão não ser meramente procedimental, isso implicou em: a) fugir do malfadado primeiro capítulo teórico, que geralmente exibe um arsenal conceitual que congela ou despreza os dados empíricos; b) evitar elaborar uma angelical apresentação do chamado “estado das artes” — pois seria o desfile das mesmíssimas armas conceituais que derrotaram as idéias de Vieira Pinto20 —; e finalmente, c) não lidar com a teoria ou o método como se fossem instrumentos atemporais, neutros e sempre disponíveis ou dados a priori de qualquer investida cognoscente. E por outro lado, sob o aspecto teórico, digo filosófico, tratava-se tanto de superar o fetiche da metodologia — fetiche que confere primazia ao rigor metódico supondo que as premissas teóricometodológicas garantem per si o entendimento dos vestígios do passado —, quanto ultrapassar o criticismo de inspiração kantiana cuja preocupação consiste em fundamentar o conhecimento, estabelecendo a priori as suas condições de possibilidade epistêmicas. Na contramão de ambas atitudes, Esperança e Democracia pretende que a fundamentação (teórica) do saber histórico repouse na história ela mesma21. Muito bem. De Esperança e Democracia restaram pistas e sugestões para futuros outros projetos e estudos (um deles já mencionado e em desenvolvimento 19 Entre outros, cf Charles Taylor. Argumentos filosóficos. São Paulo: Loyola, 2000; e Richard Rorty. A filosofia e o espelho da natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988. 20 21 Ver a nota sete deste Memorial. “É a força de uma tradição que interpela o intérprete da História, não o contrário. O ânimo de conhecer um acontecimento passado não nasce no cérebro curioso de um investigador solitário, isto é, não tem sua origem numa psique plena de traços ímpares e idiossincráticos. A gênese que lança, anima e estabelece o empreendimento compreensivo reside no pulsar de uma tradição transmitida ao longo do tempo. Não convém banalizar tal proposição e imaginar o sujeito do conhecimento, o intérprete do passado, como mero fantoche destituído de personalidade e sempre pronto a assumir papéis ou interesses que lhes são alheios. O ponto não é ignorar a subjetividade, mas sim deslocar a indagação epistemológica do terreno da consciência para o mundo histórico propriamente dito.” (ED: p57) 11 financiado pela bolsa RD/CNPq). Mas de seu saldo também se extrai um núcleo de questões que, a bem da verdade, lançam suspeição sobre o estatuto teorético da Teoria e Metodologia da História. Mais do que indagar sobre sua serventia ou função, a questão consiste em rejeitar a pretensão inaugural da atitude teorética. Explico-me. A rigor, nem o controle dos instrumentos metódicos, nem as opções teóricas são caminhos inexoráveis para a verdade (em qualquer acepção do termo). A distinção entre a boa e a má História não depende do formalismo do método e nem sequer pertence exclusivamente a uma das inúmeras possibilidades de coloração teórica. Grosso modo, para além da hegemonia intelectual de uma dada cultura historiográfica que fixa consensos e sanciona paradigmas interpretativos, os critérios que permitem separar o joio do trigo residem na honestidade, na sinceridade e na maturidade intelectual do historiador. É claro que essa convicção de caráter deontológico não afasta a necessidade da introspecção crítica22. Ao contrário: pois se ela enfatiza um aspecto ético extra epistêmico (uma espécie de vocação para a verdade), por outro lado, continua exigindo reflexão. Afinal, nesse registro, os profissionais dedicados ao conhecimento do passado precisam compreender todos os seus atos cognoscentes, isto é, devem dominar os procedimentos metódicos e principalmente compreender a historicidade e o enraizamento mundano (ordinário) das suas próprias opções intelectuais. Mais ingênuo que o empirismo ou o academicismo positivista que conferem loquacidade à documentação dos arquivos é o historiador que imagina que suas premissas teórico-metodológicas são o fiat inaugural do processo de conhecimento do passado. Ora, as chamadas premissas nem fornecem critérios neutros ou universais para verificação e validação de nossas próprias intuições, suspeitas ou convicções cognoscentes; e nem sequer são premissas exatamente. Porque antes de ocuparem a ante-sala da História, como se fossem o ponto-zero que dá partida e assegura as condições de possibilidade do conhecimento histórico — situação em que tudo se resolveria pela imaculada precisão das elucubrações do sujeito cognitivo —, elas exprimem modos de concepção do conhecimento da história e esforços compreensivos já realizados e vividos no passado. Em outras palavras, revelam tradições intelectuais. E, portanto, não há qualquer anterioridade ou primazia entre tais formulações e os 22 Aqui sigo os passos do argumento de Max Weber sobre os limites da ciência tal como aparecem na célebre conferência A ciência como vocação. 12 vestígios pretéritos contidos na história propriamente dita. Todas as incursões teóricas (ultrapassadas ou atuais) foram historicamente constituídas. Sei que isso é um truísmo, mas é preciso assinalar que tais incursões possuem matrizes intelectuais, cumpriram uma senda histórica, conformaram-se através das vicissitudes dessa trajetória — que, de resto, pode ter sido um processo conflitivo de institucionalização e profissionalização da disciplina23 — e por fim formalizaram um corpus qualquer de idéias que contém uma concepção de conhecimento, uma visão de mundo, uma perspectiva acerca da espessura temporal24, uma eleição de quem são os protagonistas do passado etc, etc. Histórico e socialmente construído, esse elenco de proposições não pode ou deve ser utilizado como se fosse um modelo explicativo absoluto. Na prática, isso significa que não basta oferecer aos futuros historiadores uma parafernália teórico-metodológica atualíssima, eventualmente sistematizada num manual de iniciação aos estudos históricos, e imaginar que as exigências de rigor historiográfico foram atendidas. Antes disso talvez seja necessário levá-los a considerar o caráter histórico dos debates historiográficos. Quer dizer, o ponto é fazê-los perceber que não há inexorabilidade ou naturalidade alguma nos atuais recursos intelectuais. Ademais, longe de serem precisos ou rigorosos, os nossos conceitos, métodos e teorias ocultam uma trajetória de fixação geralmente cheia de imprecisões explicativas, imperfeições lógicas, ilações ideológicas — sem falar nas disputas por poder acadêmico, nas pequenas vilanias ou na fogueira das vaidades intelectuais.... Enfim, toda a questão então se resume em fazê-los reconhecer a historicidade dos nossos próprios regimes mentais. Se assim for, Teoria e Metodologia da História provoca espanto e só serve para fazer pensar, mas isso nos humaniza e pode ser um bom caminho através do qual reconhecemos aquilo que somos nós. Muito obrigada, Norma 23 Como exemplo cf os estudos de Fritz Ringer.O declínio dos mandarins alemães. São Paulo: Edusp, 2000. ou François Dosse. A história em migalhas. São Paulo: Edusc, 2003. Para o caso brasileiro, ver os ensaios de Bernardo Sorj. A construção intelectual do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001 e também Carlo Fico e Ronaldo Polito. A historiografia dos últimos vinte anos — tentativa de avaliação crítica. in J. Malerba (org) A velha história. Campinas, Papirus, 1996. 24 Sobre o tempo, cf anexo Amnésia o tempo domo construção. Revista Espaço Acadêmico, ano II, n. 22, mar 2003 – mensal. Disponível em http://www.espacoacademico.com.br/rea_arquivo.htm
Download