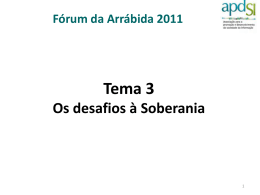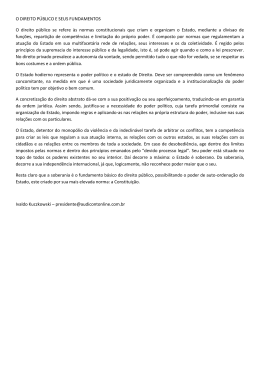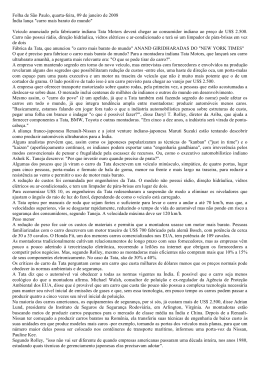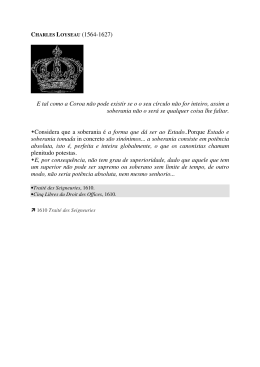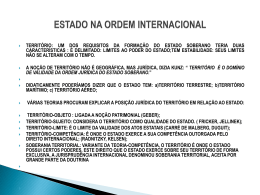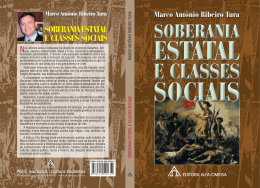52 | PÚBLICO, SEX 28 DEZ 2012 O memorando Debate O acordo com a troika António Monteiro Fernandes E ntre “cumprir o memorando” e “rasgar o memorando”, vaise agitando o magro debate político em Portugal. Quem defende que o “memorando” pertence ao domínio da Palavra sagrada precisa absolutamente dele como precioso álibi para todas as contingências. Quem quer rasgar o dito papel, está à margem: não falou com a troika, não quis saber do assunto — também ninguém os quis ouvir —, não assinou nada, sente-se livre de dizer e fazer o que convier, mesmo que sem sentido. No meio, o Partido Socialista remete-se — relativamente ao memorando — a um silêncio que, tal como as suas enérgicas abstenções, significa que assume a situação de encurralado e ainda não viu como pode escapar-se dela. Quem conhece a história e a matriz ideológica desse partido — por muito escassa que seja a sua densidade e por muito errática que seja a sua afirmação na prática política — sabe que o memorando da troika, especificamente na parte referente aos assuntos sociais, equivale a uma radical negação. É certo que o documento — de que nem sequer existe uma versão oficial em português — não foi o produto de uma verdadeira negociação entre a troika e o Governo da época. Era um triste Governo de gestão que só queria encontrar uma escapatória para a terrível situação do país — situação para a qual terá contribuído sobretudo com alguma incompetência, um crónico negacionismo e o retardamento de verdadeiras resoluções. Assinou aquele documento como, no fundo, poderia assinar outro qualquer que os credores lhe pusessem na frente. Ao fazê-lo, o Partido Socialista vendeu uma boa parte da sua alma, negouse a si próprio, comprometeu o seu crédito político futuro (como se tem visto) — mas, em termos nacionais, não tinha outro remédio. Fez o que restava fazer – e imolou-se. A verdade é que o memorando está muito para além dos limites até aos quais um partido social-democrata atento às compatibilidades económicas pode ir sem alienar o que resta da sua identidade — e isso, mais tarde ou mais cedo, acabará por ter consequências, num sentido ou noutro. Durante as pseudo-negociações, o débil Governo de então foi ouvido com paciência, mas nada do que disse mereceu qualquer consideração. Do lado português, “negociaram” outras pessoas a quem o memorando convinha perfeitamente. Tornou-se, assim, possível alcançar um quadro político de sonho para o Governo seguinte, que estava escrito nos astros muito antes das eleições: dispor de um compromisso internacional coincidente com o programa político próprio, e ao qual o principal partido da oposição ficaria acorrentado. Faltava somente um retoque para a perfeição: o chamado “consenso social”. Para o alcançar, mostrou-se necessário perder ainda algum tempo a ameaçar uma confederação sindical de que tudo seria muito pior sem acordo; foi possível convencê-la, e assim se criou, em sede de concertação social, o desejado “consenso”. Está-se, pois, perante um verdadeiro case study. Um núcleo central de forças políticas — nacionais e internacionais —, onde o poder está concentrado, gerou em torno de si, de modo engenhoso, um sistema gravitacional que “elimina” oposição, forçando outras forças políticas e sociais a manteremse, formalmente, em órbitas próximas e regulares, sem riscos de colisão nem de fuga. A “energia” que mantém o sistema provém desse núcleo central e é feita de grandes “evidências” mil vezes expressas em tom pausado: “bancarrota iminente”, “credibilidade” e “absoluta ausência de alternativas”. O processo desenvolve-se sobretudo no plano das “formas” (reuniões, audiências, avaliações, previsões) e tudo assenta num documento, o memorando, que assume, sabe-se lá como, valor paraconstitucional. (Pensando bem, até mais do que isso: a Constituição revê-se, o memorando é intocável — e o sistema também). A coberto dele, mas não por imposição dele, já se fizeram coisas extraordinárias. O Estado português, em nome da “credibilidade”, empenhou-se em mostrar que sabe honrar os seus compromissos — todos, com excepção dos contratos que tem com os seus empregados e os que assumiu perante os pensionistas oriundos dos sectores público e privado. Bagatelas. Há, em tudo isto, motivos de sobra para “análise” e para “comentário”, nomeadamente dos pontos de vista da ética e da ciência política. A vasta operação em curso está muito longe de ser uma simples acção de “reajustamento”: corresponde manifestamente a um projecto cuja imperatividade explica a obstinação cega e surda, quase demencial, de quem a conduz. Mas falta muita coisa. Falta praticamente tudo o que é necessário para o êxito de uma política de regeneração económica e financeira. E o que falta tem-se visto — na rua. A operação em curso está muito longe de ser uma simples acção de “reajustamento” Professor de Direito do Trabalho no ISCTE Sem rei nem roque: a crise da soberania em Portugal MANUEL ROBERTO Debate Crise e poder Patrícia Vieira e Michael Marder O uvimos dizer com frequência que o país está sem rei nem roque, expressão que denota, em linguagem corrente, uma posição periclitante na sequência do colapso das estruturas do poder político. Vale a pena determo-nos na análise desta locução que sintetiza de forma exemplar a atual situação em Portugal. É que se, efetivamente, perdemos o metafórico “rei”, símbolo tradicional da soberania de um estado, desapareceu também o “roque”, ou seja, as proteções sociais à população que eram, em última instância, garantidas pela autoridade soberana do “rei”. A expressão “sem rei nem roque” remonta ao antigo jogo de xadrez, oriundo do Oriente, no qual a torre era uma carruagem ou carro de guerra (rokh, em persa). Sem torre(s), cuja função é proteger as outras peças, e em especial o rei, um jogador de xadrez terá uma mais reduzida margem de manobra; a perda do rei implica a derrota e o final do jogo. É revelador que no xadrez a expressão “xeque-mate” (shãh mãt, em persa), que indica a conquista do rei de um jogador por uma das peças do adversário, signifique literalmente “o rei está morto”. Se Portugal está “sem rei nem roque” quererá isto dizer que o país está politicamente morto, sem soberania, a viver uma vida póstuma? Um dos efeitos mais preocupantes da atual crise económica é precisamente uma transformação profunda da noção de soberania nacional. Tradicionalmente, a soberania de um país encarnava no rei, simultaneamente entidade física e metafísica que personificava toda a nação, como nos recorda Hobbes com a sua imagem do leviatã. Nas modernas democracias liberais e parlamentares, a soberania é dividida pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, sendo os políticos meros representantes do povo, no qual reside, em última análise, o poder soberano. 0 resgate financeiro da economia portuguesa levou a uma progressiva erosão da soberania nacional, na medida em que um crescente número de decisões centrais para o país são tomadas pelas instituições credoras. Um exemplo desta perda de soberania é o famoso memorando da troika, que tanto o PSD e o CDS/PP como o PS se comprometeram a respeitar antes das últimas eleições em 2011. Ou seja, independentemente dos resultados eleitorais, as linhas de força da política nacional estavam já definidas. Quais as consequências desta crise da soberania nacional? Por um lado, os principais partidos, eviscerados do seu papel de agentes políticos, transformamse em meros órgãos executores de decisões externas. Compreende-se assim a convergência do PS e do PSD para o centro, sendo a verdadeira política, entendida como uma discussão sobre a melhor forma de organizar a sociedade, relegada para as margens do espectro partidário: Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Partido Popular Monárquico, etc. Por outro lado, a soberania perde os vínculos que ainda tinha, mesmo que apenas nominalmente, com a população de um país. Não está aqui em causa um desaparecimento do poder soberano: alguém terá sempre que tomar uma decisão, mesmo que seja a decisão de não decidir. O que verificamos é uma alteração da soberania, já que muitas das diretrizes da política portuguesa são definidas a nível internacional por representantes nãoeleitos da troika. Recorrendo à metáfora do xadrez, depois do xeque-mate, o jogo continua num outro nível, com o rei morto mas com os peões a receberem ainda instruções de uma qualquer peça fora do tabuleiro da política nacional. 0 mais grave nesta conjuntura é a completa separação entre os que decidem e os que são obrigados a acatar as decisões, já que, ao contrário dos partidos políticos, os membros da troika não são responsáveis perante a população pelas suas decisões soberanas. Assumindo-se, se não de jure pelo menos de facto, como a entidade soberana em Portugal, a troika rejeita as obrigações que o exercício da soberania habitualmente acarreta. A situação paradoxal da soberania no país não é, no entanto, um caso isolado. Assistimos a nível mundial ao emergir de um novo paradigma de soberania que Os parâmetros do jogo da soberania não podem ser determinados a priori, sob pena de cairmos numa renovada imposição de medidas de coação à população PÚBLICO, SEX 28 DEZ 2012 | 53 Há algo a aprender com Ratan Tata? passa por um declínio do poder de cada estado e por uma transferência da soberania nacional para instituições supranacionais, sejam elas de cariz político-económico, como a União Europeia, ou meramente económico, como associações de livre comércio (Mercosul, NAFTA, etc.) e, cada vez mais frequentemente, grandes companhias multinacionais. A recente crise económica limitou-se a revelar mais claramente um processo de mutação do poder soberano que decorria já há algum tempo. Este novo paradigma de soberania supranacional fez-se acompanhar por uma ideologia que apresenta a economia como um facto bruto, terminus ad quem de quaisquer explicações utilizadas para justificar decisões políticas. A economia, véu por detrás do qual se ocultam os verdadeiros decisores, é elevada à categoria de poder soberano e transforma-se num novo “rei” (ou imperador), cujas decisões não deixam margem para discussão na medida em que são supostamente ditadas por necessidades materiais. No contexto deste novo xadrez nacional e internacional, é urgente repensar os moldes em que se exerce o poder soberano. Num mundo globalizado, a solução não será um retorno nostálgico à soberania do passado, limitada pelas fronteiras de um estado. Mas se o “rei” da nação está morto e não há outro que lhe suceda, não devemos simplesmente ceder o seu lugar ao primeiro candidato internacional que apareça, seja este uma vaga ideia dos imperativos da economia ou os tecnocratas da troika. Caminhando a soberania estritamente nacional para a obsolescência, cabe-nos refletir sobre a configuração do novo jogo de poder. 0 desafio é, neste caso, reinventar a soberania local, nacional e transnacional, de forma a promover a transparência e a responsabilização do poder soberano. Uma solução possível seria a implementação de formas de participação direta dos cidadãos nas decisões políticas através de referendos e utilizando as novas tecnologias informáticas. Esta soberania popular funcionaria segundo o modelo de círculos concêntricos, de acordo com o qual as decisões, das mais locais às internacionais, seriam tomadas pelas pessoas por elas afetadas. Os parâmetros do jogo da soberania não podem ser determinados a priori, sob pena de cairmos numa renovada imposição de medidas de coação à população. Estas regras emergirão à medida que os cidadãos jogarem este novo xadrez, definidas não por pressões económicas ou pela troika mas pelos diferentes intervenientes no processo da tomada de decisões soberanas. Universidade de Georgetown www.patriciavieira.net Ikerbasque / Universidade do País Basco, www.inichaelmarder.org FABRICE COFFRINI/AFP Tribuna Modelos económicos Eugenio Viassa Monteiro T eve grande impacte o processo de selecção do sucessor de Ratan Tata na presidência do Grupo Tata. Estava em causa o futuro do grupo, que, no ano 2011/12, ultrapassou a facturação de 100.000 milhões de dólares; com este procedimento, terá ficado mais claro que sobre a empresa recai uma “hipoteca social”, e ela não é um brinquedo nas mãos dos proprietários ou dirigentes. Ratan deixou já um objectivo orientativo ambicioso ao próximo presidente: facturar 500.000 milhões de dólares em 2020/21! Num país que, até 1991, estava encalhado num modelo económico socialista e retrógrado, matando a iniciativa com favoritismos e corrupção, Ratan Tata foi capaz de apanhar a nova onda da livre iniciativa, modernizando o seu grupo e dando-lhe uma dimensão global, com uma presença invejável em mais de 80 países dos cinco continentes, e com mais de 50% das receitas a provirem hoje de fora da Índia. Ratan Tata dizia que a globalização do grupo “não era apenas para aumentar a facturação, mas sobretudo para estar em locais onde possamos criar uma presença significativa e participar no desenvolvimento do país”. No ano fiscal 1991/92, quando Ratan foi nomeado CEO, o grupo facturava apenas 5.800 milhões de dólares, todos na Índia. Algumas das empresas do grupo laboram em novas tecnologias, na ponta do saber, discutindo a primazia com empresas americanas avançadas, de existência muito mais antiga. É o caso da TCS-Tata Consultancy Services, com mais de 250.000 trabalhadores muito especializados, que incorporou 66.000 no ano passado e cerca de 60.000 este ano, tendo facturado 10.170 milhões de dólares em 2011/12. A outra empresa do grupo que ganhou notoriedade foi a Tata Motors. Fez duas proezas que demonstram a capacidade de lançar desafios, por parte dos dirigentes, e de lhes corresponder, por parte dos seus trabalhadores. Comprou uma empresa estagnada, a Jaguar Land Rover, à Ford, que não sabia que destino lhe dar, por ela própria estar à beira da falência. O Grupo Tata deu-lhe um formidável impulso, a ponto de ser hoje uma das empresas mais rentáveis do grupo. Ao mesmo tempo, na Tata Motors, o próprio Ratan desafiou-a a algo que nunca tinha ocorrido na indústria do automóvel: a projectar e construir “o carro mais barato”, acessível na Índia a quantos faziam da scooter o meio de locomoção familiar, transportando quatro pessoas em condições muito precárias. Fixou-lhe o preço de 1 lakh de rupias, equivalente a 2.200 dólares; o carro é muito vendido na Índia e, em breve, sê-lo-á também na Europa e nos EUA. O Grupo Tata teve desde a sua criação, há 144 anos, uma vertente marcadamente patriótica e filantrópica. A Tata Sons participa no capital de 182 empresas; 66% do capital da Tata Sons são propriedade de fundações filantrópicas ligadas à família Tata. Realizações de grande alcance nacional desta prática remontam aos primórdios do grupo: por exemplo, em 1909, foi criado o Tata Institute of Sciences, em Bangalore, um centro de investigação em Química, Física, Biologia, etc., oferecendo uma plataforma para mestrados e doutoramentos, que já formou uma plêiade de cientistas de nomeada nos campos nuclear, espacial, em biologia, neurociências, tecnologias, etc. Com a independência da Índia, a famíla Tata achou que já não tinha sentido ostentar o nome Tata, ficando então a designação reduzida a Indian Institute of Sciences. Algo parecido se deu com o Tata Memorial Hospital, fundado em 1941, em Mumbai, dedicado ao cancro, onde qualquer doente era muito bem tratado, sem encargos. Em 1952, logo após a independência, passou a chamar-se Cancer Research Institute (CRI), deixando de parte “Tata”, que era importante antes, para marcar distâncias, mas já não o era depois; a partir de 1957, o hospital é gerido pela Ratan Tata foi capaz de apanhar a nova onda da livre iniciativa, modernizando o seu grupo e dando-lhe uma dimensão global Comissão de Energia Atómica Índiana. Cerca de 70% dos milhares de doentes são hoje tratados gratuitamente. No campo das artes, foi criado o National Centre for the Performing Arts, que impulsionou a investigação e a difusão desses saberes. Todos os centros de trabalho do grupo — fábricas, aciarias, etc. — têm um ambiente de segurança exemplar no trabalho, mormente nas suas implicações com a saúde. Na onda expansionista, alguma aquisição revelou-se desastrosa, pelo elevado custo, na euforia económica, e pela queda da procura com a crise europeia e dos EUA. Exemplo disso é o grupo siderúrgico Corus, com mais de 30.000 trabalhadores, que tem dado elevados prejuízos. Nas telecomunicações fixas e móveis, o grupo entrou na fase da sua liberalização na Índia, mas a competição dura entre os operadores ainda não lhe deixa margem confortável. Na hotelaria, a marca Taj é uma referência na Índia; contudo, os retornos podem ser melhorados. No conjunto da sua obra, Ratan pode sentir-se orgulhoso de deixar um conglomerado dinâmico, inovador, com muito boa imagem, virado para o futuro, empenhado na criação de riqueza e de trabalho. O grupo ocupava mais de 460.000 trabalhadores em Maio de 2011. A sua dimensão e o sentido de responsabilidade levaram Ratan a nomear uma comissão para lhe encontrar um sucessor. Os procedimentos de transição, de grande pedagogia, são próprios de uma instituição séria que quer honrar as suas obrigações perante o país, e são um modelo a seguir por qualquer conglomerado, indiano ou não, socialmente responsável. Foi escolhido Cyrus Mistry, de 44 anos, filho de um dos accionistas e administradores da Tata Sons, ele próprio administrador, mas não da família Tata. Tomará posse como presidente hoje mesmo, 28 de Dezembro. Professor da AESE e autor do livro O Despertar da Índia
Baixar