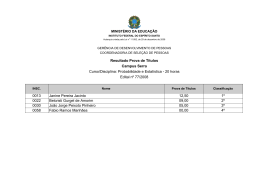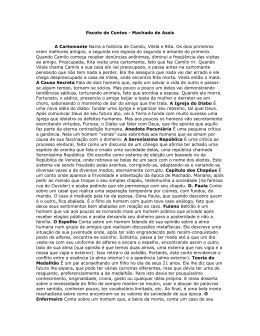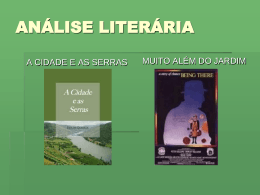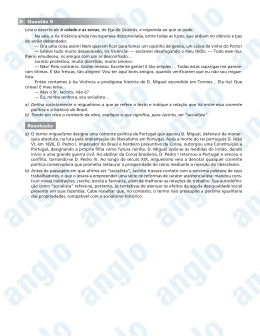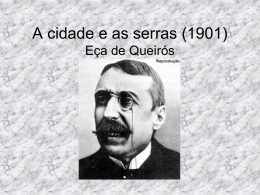CENTRO PAULA SOUZA ETEC MARTIN LUTHER KING APOSTILA DE LITERATURAS PORTUGUESA E BRASILEIRA 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 2011 1 O DIÁLOGO ENTRE OS TEXTOS "Originalidade não é nada senão uma imitação prudente. Os mais originais escritores pegaram emprestado uns dos outros." (Voltaire) Voltaire, em parte, tem razão. Nenhum texto é inteiramente original. Cada texto é uma transformação de outros textos. Nestas alturas, você já deve estar se perguntando: Por quê? Por um motivo muito simples: nenhum texto se produz no vazio ou se origina do nada; ao contrário, alimenta-se, de modo claro ou subentendido de outros textos. Assim, um texto diferente, em todos os sentidos, não seria entendido porque o escritor estaria produzindo algo do nada, fora de sua cultura e de sua sociedade. É do que já leu e viveu que o escritor escreve. E são essas referências que ele toma como ponto de partida para seu texto. Quem, ao falar, nunca usou um provérbio, as palavras de outra pessoa, ou mesmo a frase de um autor famoso? Pois é, isso nos dá o entendimento que podemos retomar textos conhecidos e, a partir deles, conceber outros. Agora você já deve estar com uma dúvida muito séria: ora, então originalidade não vale nada? Tanto faz que um texto seja uma imitação ou criação? Não é bem isso. Repare: nenhum texto é inteiramente original, mas cada um tem a sua dose de originalidade – ligada ao momento em que vivemos; ao que queremos dizer e a nossa maneira particular de dizer -, podendo ser em grau maior ou menor. Se for menor o texto será um tanto convencional, e até mesmo banal. Se ao contrário, for maior, teremos algo renovador, criativo e, com toda certeza, superior. No entanto, não podemos dizer que os textos que se baseiam em outros, ou repetem algumas ideias de outros, sejam inferiores. Algumas vezes a referência a outros textos é necessária, às vezes chega mesmo a ser inevitável. Repare, por exemplo, na linguagem jornalística. As referências a outros textos ocorrem com frequência. A maioria das matérias jornalísticas faz o relato de algum fato ocorrido e, nesse relato, muitas vezes se faz necessário reproduzirem idéias ou frases de determinadas pessoas. Quando os textos se cruzam, por qualquer motivo, ou mais especificamente, reproduzem, integralmente, ou fazem referência, de passagem, a textos escritos por outras pessoas, estão estabelecendo um diálogo com o original, que chamamos de Intertextualidade. Há várias formas de Intertextualidade (referências textuais), ou seja, os textos podem dialogar entre si de diversas maneiras. Citemos, por exemplo, a paródia que é a inversão de um texto de modo a produzir efeitos críticos e/ou humorísticos. Outra maneira é através da paráfrase que se constitui na reprodução de um texto original, através das palavras daquele que reproduz. Você poderia, neste caso, escrever um texto, contando, o que, por exemplo, Drummond diz na estrofe de um de seus poemas. Ao fazê-lo, você estaria parafraseando o texto de Drummond. Há ainda outra forma muito usada de diálogo entre textos que é a epígrafe. São pequenas citações que precedem textos literários, ou mesmos livros inteiros, e que reproduzem pensamentos, ideias e sentimentos de outras pessoas, que se aproximam das ideias a serem desenvolvidas pelo texto. Exatamente como fiz no início deste. Através da epígrafe anunciei o que vai ser tratado no texto, além de servir de reforço e apoio ao meu texto. “A literatura moderna é repleta de diálogos entre os textos. Cada vez mais os autores reforçam e apoiam suas ideias e sentimentos na ideia e sentimentos dos outros. Algumas vezes este diálogo é tão fechado, que só podemos entender uma obra se conhecermos o texto que está por detrás dela e as relações que se estabelecem entre os dois.” (Graça Paulino) Mas tome cuidado no uso de provérbios e ditos populares em seu texto ou discurso; muitos deles de tão conhecidos e ditos, acabam tornando-se chavões, esvaziados de sua força expressiva original. Na literatura brasileira temos um exemplo significativo de intertextualidade. O poeta romântico Gonçalves Dias escreveu, em meados do século XIX, a famosa «Canção do Exílio»; desde essa época, vários outros poetas dialogaram com esse texto, ou melhor, produziram intertextos, ou por simples imitação, ou para repensar o poema de Gonçalves Dias: “Minha terá tem palmeiras, Onde canta o sabiá.” (G. Dias) “Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, Cantar o sabiá!” (Casimiro de Abreu) “Minha terra tem palmares Onde gorjeia o mar.” (O. de Andrade) “Minha terra não tem palmeiras...” (M. Quintana) “Um sabiá Na palmeira, longe.” (Drummond) "Minha terra tem Palmeiras, Corinthians e outros times...” (Eduardo Alves da Costa) Recorrer a texto alheio, como fizemos no parágrafo acima, tem a finalidade de expor com maior precisão um determinado conceito ou de sustentar nossa posição com a voz de uma autoridade no assunto. 2 Finalmente, podemos dizer que esse processo de relação entre os textos é um poderoso recurso de produção e apreensão de significados, pois um texto completa outro, lança luz sobre outro. Esse conhecimento, porém, não se dá por acaso nem por obra da intuição, mas com uma prática bastante específica: o exercício da leitura. Quanto mais se lê e bem, mais possibilidades se tem de compreender os caminhos percorridos por um determinado autor em sua produção e, da mesma forma, terá possibilidades de produzir seus próprios caminhos em suas criações. Mesmo pegando ideias uns dos outros, como diz Voltaire, muitos escritores, não inteiramente originais, fizeram de seus textos verdadeiras obras de arte. ® Ricardo Sérgio (Publicado no Recanto das Letras em 05/10/2006 Código do texto: T256597) O QUE É IMPORTANTE LEMBRAR? 123456- O que significa “intertextualidade”? Quais as formas mais comuns de diálogo entre os textos? O que é “paráfrase” de um texto? O que é “paródia” de um texto? O que é “epígrafe”? Por que é tão comum o diálogo entre textos? A INTERTEXTUALIDADE Observe o percurso de uma ideia: 1- Leia os textos e anote o que você entendeu ao lado de cada um deles. 2- Tente relacionar cada texto ao contexto histórico/ artístico / cultural/ político etc. da época em que foi escrito. 3- Observe que tipo de diálogo os textos estabelecem com o original: paráfrase, paródia, epígrafe etc. Com licença poética (Adélia Prado - 1991) Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado pra mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos — dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. http://www.releituras.com/aprado_bio.asp 3 Até o fim (Chico Buarque de Holanda - 1978) Quando nasci veio um anjo safado O chato dum querubim E decretou que eu tava predestinado A ser errado assim Já de saída a minha estrada entortou Mas vou até o fim Inda garoto deixei de ir à escola Cassaram meu boletim Não sou ladrão, eu não sou bom de bola Nem posso ouvir clarim Um bom futuro é o que jamais me esperou Mas vou até o fim Eu bem que tenho ensaiado um progresso Virei cantor de festim Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso Em Quixeramobim Não sei como o maracatu começou Mas vou até o fim Por conta de umas questões paralelas Quebraram meu bandolim Não querem mais ouvir as minhas mazelas E a minha voz chinfrim Criei barriga, minha mula empacou Mas vou até o fim Não tem cigarro, acabou minha renda Deu praga no meu capim Minha mulher fugiu com o dono da venda O que será de mim? Eu já nem lembro pronde mesmo que vou Mas vou até o fim Como já disse era um anjo safado O chato dum querubim Que decretou que eu tava predestinado A ser todo ruim Já de saída minha estrada entortou Mas vou até o fim http://ntl.matrix.com.br/pfilho/html/mpb/chico_buarque/chico_buarque/summer.htm Let's play that (Torquato Neto – 1968?) Quando eu nasci um anjo louco muito louco veio ler a minha mão não era um anjo barroco era um anjo muito louco, torto com asas de avião. Eis que esse anjo me disse apertando minha mão com um sorriso entre dentes vai bicho desafinar o coro dos contentes 4 vai bicho desafinar o coro dos contentes. Let's play that. http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond35.htm Poema das sete faces (Carlos Drummond de Andrade - 1930) Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas: pernas brancas pretas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer mas essa lua mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond35.htm Texto Bíblico: A Anunciação 26 E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27 a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. 28 E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as mulheres. 29 E, vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. 30. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31 E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. 32 Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; 33 e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34 E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? 35 E, respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 36 E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril; 37 porque para Deus nada é impossível. 38 Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. (“Evangelho de Lucas”, 9, 26-38.) virtualbooks.terra.com.br/biblia/PDFnovo/EvangelhoSaoLucas.pdf – 5 A cultura literária é uma das melhores influências que podemos provocar em nós mesmos, e praticamente a única se quisermos escrever com mais segurança, com mais agudeza. Cultura é cultivo, é cultivar-nos, é receber de bom grado e desenvolver em nós o que outras pessoas já pensaram, já disseram, já escreveram. A formação cultural é a condição para desenvolvermos nossos talentos adormecidos, nossas inclinações ainda mal conhecidas, nossos raciocínios ainda esboçados, nossa criatividade talvez um pouco tímida, nossa originalidade necessitando crescer em intensidade. Cultura é conhecer os cardápios e repertórios disponíveis no horizonte das produções musicais, pictóricas, cinematográficas etc. Um ouvido educado sabe apreciar os sons que instrumentos diferentes produzem, e distingui-los dentro de uma composição musical: o som de um oboé, de um trompete, de um clarinete. E um olfato educado sabe avaliar múltiplos perfumes, e um paladar educado está preparado para saborear os mais bizarros gostos, e uma visão educada sabe discernir diversos estilos da pintura, enfim, são todas essas conquistas sensoriais verdadeiras conquistas culturais de quem se deixa influenciar por bons perfumes, bons pratos, bons quadros, e, indo mais além, procura pessoas que lhe abram novas trilhas intelectuais, ensinando-lhe sobre temas tão díspares como a arquitetura judaica e o golfe, sobre o cinema indiano e a história dos persas. Um leitor treinado, cujos olhos foram educados para ler o que há de melhor, forma seu senso crítico, sua capacidade de pensar o mundo, e, sobretudo, em termos práticos, qualifica-se para escrever melhor, para escrever textos que valham a pena ser lidos do ponto de vista da forma e do conteúdo, e que deem, afinal, a necessária continuidade à tradição cultural de que se beneficiou. De que se beneficiou e que agora constituirá fonte de elementos para o jogo do estilo, em que as citações ocultas, as referências cruzadas e o reaproveitamento inteligente são regras aceitas com toda a naturalidade.” (PERISSÉ, Gabriel. O Conceito de Plágio Criativo) http://www.hottopos.com/videtur18/gabriel.htm 6 Agora é a sua vez... A “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, foi muito utilizada em textos de outros autores, em outras épocas e com diferentes intenções. Pesquise um texto (música, poema, filme, propagada etc...) cuja relação com o texto de Gonçalves Dias seja evidente. Analise-o e apresente para a classe. (Trabalho em grupo.). Canção do exílio (Gonçalves Dias – 1847 - séc XIX) Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá; As aves, que aqui gorjeiam, Não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, Nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, Mais prazer eu encontro lá; Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá. Minha terra tem primores, Que tais não encontro eu cá; Em cismar –sozinho, à noite– Mais prazer eu encontro lá; Minha terra tem palmeiras, Onde canta o Sabiá. Não permita Deus que eu morra, Sem que eu volte para lá; Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá; Sem que inda aviste as palmeiras, Onde canta o Sabiá. Canção do exílio (Casimiro de Abreu – séc. XIX) Se eu tenho de morrer na flor dos anos, Meu Deus ! Não seja já; Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, Cantar o sabiá ! Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro Respirando este ar; Faz que eu viva, Senhor ! dá-me de novo Os gozos do meu lar ! O país estrangeiro mais belezas Do que a pátria não tem; E este mundo não vale um só dos beijos Tão doces duma mãe ! Dá-me os sítios gentis onde eu brincava Lá na quadra infantil; Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, O céu do meu Brasil ! Se eu tenho de morrer na flor dos anos, 7 Meu Deus ! Não seja já; Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, Cantar o sabiá ! Quero ver esse céu da minha terra Tão lindo e tão azul ! E a nuvem cor-de-rosa que passava Correndo lá do sul ! Quero dormir à sombra dos coqueiros, As folhas por dossel; E ver se apanho a borboleta branca, Que voa no vergel ! Quero sentar-me à beira do riacho Das tardes ao cair, E sozinho cismando no crepúsculo Os sonhos do porvir ! Se eu tenho de morrer na flor dos anos, Meu Deus ! Não seja já; Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, Cantar o sabiá ! Quero morrer cercado dos perfumes Dum clima tropical, E sentir, expirando, as harmonias Do meu berço natal ! Minha campa será entre as mangueiras, Banhada do luar, E eu contente dormirei tranqüilo æ sombra do meu lar ! As cachoeiras chorarão sentidas Porque cedo morri, E eu sonho no sepulcro os meus amores Na terra onde nasci ! Se eu tenho de morrer na flor dos anos, Meu Deus ! Não seja já; Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, Cantar o sabiá ! Canção do exílio (Murilo Mendes – 1925-1931 – séc XX) Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas nossas frutas mais gostosas mas custam cem mil réis a dúzia. Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade! 8 Canto de regresso à pátria (Oswald de Andrade – séc. XX) Minha terra tem palmares Onde gorjeia o mar Os passarinhos daqui Não cantam como os de lá Minha terra tem mais rosas E quase tem mais amores Minha terra tem mais ouro Minha terra tem mais terra Ouro terra amor e rosas Eu quero tudo de lá Não permita Deus que eu morra Sem que volte pra São Paulo Sem que eu veja a rua 15 E o progresso de São Paulo Nova canção do exílio (Carlos Drummond de Andrade – séc. XX) Um sabiá na palmeira, longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas. Vozes na mata, e o maior amor. Só, na noite, seria feliz: um sabiá, na palmeira, longe. Onde é tudo belo e fantástico, só, na noite, seria feliz. (Um sabiá, na palmeira, longe.) Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico: a palmeira, o sabiá, o longe. 9 10 A canção (Mario Quintana – séc. XX) Minha terra não tem palmeiras … E em vez de um mero sabiá, Cantam aves invisíveis Nas palmeiras que não há. Minha terra tem refúgios, Cada qual com a sua hora Nos mais diversos instantes … Mas onde o instante de agora? Mas a palavra “onde”? Terra ingrata, ingrato filho, Sob os céus de minha terra Eu canto a Canção do Exílio. Sabiá (Chico Buarque & Tom Jobim – séc . XX) Vou voltar Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá e é ainda lá Que eu hei de ouvir cantar Uma sabiá Vou voltar Sei que ainda vou voltar Vou deitar à sombra De uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites que eu não queria E anunciar o dia Vou voltar Sei que ainda vou voltar Não vai ser em vão Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz enganos De me encontrar Como fiz estradas De me perder Fiz de tudo e nada De te esquecer Vou voltar Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá e é ainda lá Que eu hei de ouvir cantar Uma sabiá 11 Canção do exílio mais recente para Fernando Gabeira (Affonso Romano de Sant’Anna) 1 Não ter um país a essa altura da vida, a essa altura da história, a essa altura de mim, - é o que pode haver de desolado. É o que de mais atordoante pode acontecer ao pássaro e ao barco presos desde sempre à linha do horizonte. Desde menino previvendo perdas e ansiedades admitia as mobília em mudança, galinhas mortas na cozinha, o incêndio em plena casa e a infância com os amigos se afogando. Mas sobre país eu pensava ser como pai e mãe: para sempre. País era o quintal e a horta a alimentar a mim e aos filhos com a sempre zelosa sopa do jantar. País era como a Amazônia: desconhecimento da gente ou como o São Francisco: inteiramente pobre e nosso. Hoje meu pai, cansado, já se foi minha mãe, com fé, já se prepara e a horta se não se deu às pragas - já foi toda cimentada. Meus irmãos estão dispersos. Já não conversamos como adolescentes debruçados sobre o sexo das tardes. No entanto, há muito elaboro as perdas e sigo a metamorfose das nuvens. Vi os corpos mais amados se escoando no lençol depois de ter sentido a fé fanar-se, digamos: - ao mais leve frêmito carnal. E após tensa geografia caseira como pai e mãe, seis filhos ma mesma mesa e igreja, ano após ano, pasmo percebo que meus irmãos iam-se partindo como aqueles que, mais tarde, num gesto guerrilheiro foram domar o dragão do castelo e a cidadela a tropeçar nas celas e fronteiras e a fenecer exílios e quimeras. 2 Ter ou não ter: - eis o sertão a lei do cão, de Lampião - embora Padinho Cícero e seu sermão. Que tudo é deles que me têm, detêm, retêm o meu direito e o passaporte, 12 a identidade e os impostos e o medo com que abro a porta, que tudo é deles: o arado e a bosta do prado, a colheita e o mofo do pão, o berro-boi contido e o ferro em brasa - com que me marcam a canção, que tudo é deles: os rios com seus mangues, os picos da neblina assassina, os pedágios da impotência e a inclemência nordestina. País. Como encontrar-se num, se mesmo o nosso quarto (antigo exílio) a militar família penetra e fuxica a vasculhar diários e delírios? Como encontrar-se num se a natureza do corpo - paisagem antiga e íntima a milícia dos tratores desmonta e violenta na poluição? Será que sou um palestino? alguém que já perdeu de antemão todas as guerras? ou será que sou aqueles alemães que vi nas margens do Reno - cuidando de suas hortas e flores, e sobre as derrotas e canteiros vão refazendo seus filhos por cima da cicatriz a carregar a encapotada alma viva-e-torta? Ter ou não ter, eis meu brasão, ou refrão dessa imponente canção. Se trágico é o poder _ o não poder sempre foi triste. Mas não posso, é proibido não ter um país, dizem-me na alfândega. No entanto, este não me serve, como não me serviram os outros quando os habitei maravilhado entre castelos e vitrinas, entre hambúrgueres e neblinas, entre as coxas claras das donzelas dos contos da carochinha. Este não me serve, assim dessa maneira, a me impingirem idéias mortas, me vestirem camisasde-força, fraques e cartolas tolas - e eu sabendo que o defunto é bem maior. _ Viver é isso? - É descobrir na pele dobras de paisagens novas, e lá fora ir perdendo a vista antiga? - É renunciar ao ontem, refazer o ato? e saber que em nosso corpo e país - o amanha é um fogo-fátuo? E eu aqui, no nenhum-desse-lugar, estrangeiro exilando-me ao revés, vendo o passaporte roto de traças que transferem para o nada a carcomida face. 13 3 Mas, às vezes, em pleno tédio e calmaria - ao largo fico como os parvos navegantes, à mercê dos fados sonhando no astrolábio chegar às índias pelo avesso. æ espera que um vento louco me enfune as pandas velas desoriente-me a nau e o sangue marinheiro e eu chegue à terra santa e profanada onde me esperam as tribos com festões e danças. E eu jogando ao mar a cruz e a espada correndo para a praia peça para ser o menor deles e me aquecer à luz do fogo em meio à taba e transformar meu vil degredo - em eterna festa. Canção do exílio facilitada (José Paulo Paes) … sabiá …papá …maná … sofá … sinhá … cá? bah! Nova canção do exílio (Ferreira Gullar) Minha amada tem palmeiras Onde cantam passarinhos e as aves que ali gorjeiam em seus seios fazem ninhos Ao brincarmos sós à noite nem me dou conta de mim: seu corpo branco na noite luze mais do que o jasmim Minha amada tem palmeiras tem regatos tem cascata e as aves que ali gorjeiam são como flautas de prata Não permita Deus que eu viva perdido noutros caminhos sem gozar das alegrias que se escondem em seus carinhos sem me perder nas palmeiras onde cantam os passarinhos Outra canção do exílio (Eduardo Alves da Costa) Minha terra tem Palmeiras, Corinthians e outros times de copas exuberantes que ocultam muitos crimes. 14 As aves que aqui revoam são corvos do nunca mais, a povoar nossa noite com duros olhos de açoite que os anos esquecem jamais. Em cismar sozinho, ao relento, sob um céu poluído, sem estrelas, nenhum prazer tenho eu cá; porque me lembro do tempo em que livre na campina pulsava meu coração, voava, como livre sabiá; ciscando nas capoeiras, cantando nos matagais, onde hoje a morte tem mais flores, nossa vida mais terrores, noturnos, de mil suores fatais. Minha terra tem primores, requintes de boçalidade, que fazem da mocidade um delírio amordaçado: acrobacia impossível de saltimbanco esquizóide, equilibrado no risível sonho de grandeza que se esgarça e rompe, roído pelo matreiro cupim da safadeza. Minha terra tem encantos de recantos naturais, praias de areias monazíticas, subsolos minerais que se vão e não voltam mais. Canção do exílio às avessas (Jô Soares – década de 1990 – final do séc. XX) Minha Dinda tem cascatas Onde canta o curió Não permita Deus que eu tenha De voltar pra Maceió. Minha Dinda tem coqueiros Da ilha de Marajó As aves, aqui, gorjeiam não fazem cocoricó. O meu céu tem mais estrelas Minha várzea tem mais cores. Este bosque reduzido Deve ter custado horrores. E depois de tanta planta, Orquídea, fruta e cipó Não permita Deus que eu tenha De voltar pra Maceió. Minha Dinda tem piscina, Heliporto e tem jardim Feito pelas Brasil’s Garden Não foram pagos por mim. Em cismar sozinho à noite Sem gravata e paletó 15 Olho aquelas cachoeiras Onde canta o curió. No meio daquelas plantas Eu jamais me sinto só. Não permita Deus que eu tenha de voltar pra Maceió. Pois no meu jardim tem lago Onde canta o curió E as aves que lá gorjeiam São tão pobres que dão dó. Minha Dinda tem primores de floresta tropical Tudo ali foi transplantado Nem parece natural Olho a jabuticabeira Dos tempos da minha avó. não permita Deus que eu tenha de voltar pra Maceió. Até os lagos das carpas São de água mineral. Da janela do meu quarto Redescubro o Pantanal Também adoro as palmeiras Onde canta o curió Não permita Deus que eu tenha De voltar pra Maceió. Finalmente, aqui na Dinda, Sou tratado a pão-de-ló Só faltava envolver tudo Numa nuvem de ouro em pó. E depois de ser cuidado Pelo PC com xodó, não permita Deus que eu tenha de voltar pra Maceió ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1- Compare os textos a seguir, destacando: - a temática; - a construção; - que tipo de diálogo é estabelecido entre os textos; - o objetivo de cada um. Meus oito anos (Casemiro de Abreu) Oh! que saudades que eu tenho Da aurora da minha vida, Da minha infância querida Que os anos não trazem mais! Que amor, que sonho, que flores, Naquelas tardes fagueiras, À sombra das bananeiras, Debaixo dos laranjais! 16 Como são belos os dias Do despontar da existência! - Respira a alma inocência Como perfumes a flor; O mar é – lago sereno, O céu – um manto azulado, O mundo – um sonho dourado, A vida – um hino d´amor! Que auroras, que sol, que vida, Que noites de melodia Naquela doce alegria, Naquele ingênuo folgar! O céu bordado d´estrelas, A terra de aromas cheia, As ondas beijando a areia E a lua beijando o mar! Oh! dias da minha infância! Oh! meu céu de primavera! Que doce a vida não era Nessa risonha manhã! Em vez de mágoas de agora, Eu tinha nessas delícias De minha mãe as carícias E beijos de minha irmã! Livre filho das montanhas, Eu ia bem satisfeito, De camisa aberto o peito, - Pés descalços, braços nus – Correndo pelas campinas À roda das cachoeiras, Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis! Naqueles tempos ditosos Ia colher as pitangas, Trepava a tirar as mangas, Brincava à beira do mar; Rezava às Ave-Marias, Achava o céu sempre lindo, Adormecia sorrindo E despertava a cantar! Oh! que saudades que tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais! - Que amor, que sonho, que flores, Naquelas tardes fagueiras, À sombra das bananeiras, Debaixo dos laranjais! Doze anos (Chico Buarque) Ai, que saudades que eu tenho Dos meus doze anos Que saudade ingrata Dar banda por ai Fazendo grandes planos E chutando lata 17 Trocando figurinha Matando passarinho Colecionando minhoca Jogando muito botão Rodopiando pião Fazendo troca-troca Ai que saudades que eu tenho Duma travessura O futebol de rua Sair pulando muro Olhando a fechadura E vendo mulher nua Comendo fruta no pé Chupando picolé Pé-de-moleque, paçoca E, disputando troféu Guerra de pipa no céu Concurso de piroca. QUESTÕES DE VESTIBULAR As questões de números 04 a 07 tomam por base o poema Soneto, do poeta romântico brasileiro José Bonifácio, o Moço (18271886), e o poema Visita à Casa Paterna, do poeta parnasiano brasileiro Luís Guimarães Júnior (1845-1898). Soneto Deserta a casa está... Entrei chorando, De quarto em quarto, em busca de ilusões! Por toda a parte as pálidas visões! Por toda a parte as lágrimas falando! Vejo meu pai na sala, caminhando, Da luz da tarde aos tépidos clarões, De minha mãe escuto as orações Na alcova, aonde ajoelhei rezando. Brincam minhas irmãs (doce lembrança!...), Na sala de jantar... Ai! mocidade, És tão veloz, e o tempo não descansa! Oh! sonhos, sonhos meus de claridade! Como é tardia a última esperança!... Meu Deus, como é tamanha esta saudade!... (José Bonifácio, o Moço. Poesias. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1962) Visita à Casa Paterna Como a ave que volta ao ninho antigo, Depois de um longo e tenebroso inverno, Eu quis também rever o lar paterno, O meu primeiro e virginal abrigo: Entrei. Um Gênio carinhoso e amigo, O fantasma, talvez, do amor materno, Tomou-me as mãos, — olhou-me, grave e terno, E, passo a passo, caminhou comigo. Era esta a sala... (Oh! se me lembro! e quanto!) 10 Em que da luz noturna à claridade, Minhas irmãs e minha mãe... O pranto 18 Jorrou-me em ondas... Resistir quem há-de? Uma ilusão gemia em cada canto, Chorava em cada canto uma saudade. (Luís Guimarães Junior, Sonetos e Rimas.) 04. Em nota de rodapé ao Soneto de José Bonifácio, o Moço, os organizadores da edição mencionada, Alfredo Bosi e Nilo Scalzo, fazem o seguinte comentário: “Talvez tenha se inspirado neste soneto o parnasiano Luís Guimarães Jr., ao compor o famoso ‘Visita à casa paterna’.” Releia os poemas atentamente e, em seguida, a) enuncie o tema comum aos dois textos; b) indique dois aspectos da forma poemática (versificação, rimas, estrofes) em que haja identidade entre os dois poemas. 05. Uma das semelhanças mais notáveis entre os dois poemas está justamente nas personagens evocadas: pai, mãe, irmãs. Com base nesta informação, a) estabeleça a diferença entre Soneto e Visita à Casa Paterna quanto ao modo de aludirem ao pai de família; b) aponte, no poema de Luís Guimarães Jr., uma personagem que não é referida no de José Bonifácio. 06. Para atender a necessidades de ritmo e de rima, os poetas praticam com naturalidade e freqüência inversões e deslocamentos no padrão de disposição dos termos na oração (sujeito, verbo, complementos). Partindo desta constatação, analise a estrutura sintática das frases “Brincam minhas irmãs na sala de jantar” e “Chorava em cada canto uma saudade” e, logo após, a) reescreva-as na ordem que seus termos apresentariam de acordo com o padrão mencionado; b) demonstre as identidades que há entre as duas orações no que diz respeito às funções sintáticas dos termos que as constituem. 07. José Bonifácio, o Moço, era um poeta romântico, enquanto Luís Guimarães Jr. era um parnasiano com raízes românticas. Os dois poemas apresentam características que servem de exemplo para tais observações. Levando em conta este comentário, a) identifique um traço típico da poética romântica presente nos dois poemas; b) aponte, em Visita à Casa Paterna, um aspecto característico da concepção parnasiana de poesia. (http://www.unesp.br/vestibular/pdf/provap_jul03.pdf - Vestibular UNESP - julho de 2003) 19 TEXTOS DO ROMANTISMO IRACEMA - José de Alencar Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem os pássaros ameigavam o canto Iracema saiu do banho; o aljôfar d'água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela As vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome; outras remexe o uru te palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá , as agulhas da juçara com que tece a renda, e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar; nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais d'alma que da ferida. O sentimento que ele pos nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida: deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: - Quebras comigo a flecha da paz? - Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu ? - Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm os meus. - Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Macunaíma – Mário de Andrade No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro: passou mais de seis anos não falando. Sio incitavam a falar exclamava: If — Ai! que preguiça!. . . e não dizia mais nada."] Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns diz-que habitando a água-doce por lá. No mucambo si alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos guspia na cara. Porém respeitava os velhos, e freqüentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras-feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. 20 Nas conversas das mulheres no pino do dia o assunto eram sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que "espinho que pinica, de pequeno já traz ponta", e numa pajelança Rei Nagô fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. I - Juca Pirama – Gonçalves Dias (Canto IV) Meu canto de morte, Guerreiros, ouvi: Sou filho das selvas, Nas selvas cresci; Guerreiros, descendo Da tribo tupi. Da tribo pujante, Que agora anda errante Por fado inconstante, Guerreiros, nasci; Sou bravo, sou forte, Sou filho do Norte; Meu canto de morte, Guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas, De tribos imigas, E as duras fadigas Da guerra provei; Nas ondas mendaces Senti pelas faces Os silvos fugaces Dos ventos que amei. Andei longes terras Lidei cruas guerras, Vaguei pelas serras Dos vis Aimoréis; Vi lutas de bravos, Vi fortes — escravos! De estranhos ignavos Calcados aos pés. E os campos talados, E os arcos quebrados, E os piagas coitados Já sem maracás; E os meigos cantores, Servindo a senhores, Que vinham traidores, Com mostras de paz. Aos golpes do imigo, Meu último amigo, Sem lar, sem abrigo Caiu junto a mi! Com plácido rosto, Sereno e composto, O acerbo desgosto Comigo sofri. Meu pai a meu lado Já cego e quebrado, De penas ralado, Firmava-se em mi: Nós ambos, mesquinhos, 21 Por ínvios caminhos, Cobertos d’espinhos Chegamos aqui! O velho no entanto Sofrendo já tanto De fome e quebranto, Só qu’ria morrer! Não mais me contenho, Nas matas me embrenho, Das frechas que tenho Me quero valer. Então, forasteiro, Caí prisioneiro De um troço guerreiro Com que me encontrei: O cru dessossêgo Do pai fraco e cego, Enquanto não chego Qual seja, — dizei! Eu era o seu guia Na noite sombria, A só alegria Que Deus lhe deixou: Em mim se apoiava, Em mim se firmava, Em mim descansava, Que filho lhe sou. Ao velho coitado De penas ralado, Já cego e quebrado, Que resta? — Morrer. Enquanto descreve O giro tão breve Da vida que teve, Deixai-me viver! Não vil, não ignavo, Mas forte, mas bravo, Serei vosso escravo: Aqui virei ter. Guerreiros, não coro Do pranto que choro: Se a vida deploro, Também sei morrer. O NAVIO NEGREIRO – Castro Alves IV Era um sonho dantesco... o tombadilho Que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar. Tinir de ferros... estalar de açoite... Legiões de homens negros como a noite, Horrendos a dançar... Negras mulheres, suspendendo às tetas Magras crianças, cujas bocas pretas Rega o sangue das mães: Outras moças, mas nuas e espantadas, 22 No turbilhão de espectros arrastadas, Em ânsia e mágoa vãs! E ri-se a orquestra irônica, estridente... E da ronda fantástica a serpente Faz doudas espirais ... Se o velho arqueja, se no chão resvala, Ouvem-se gritos... o chicote estala. E voam mais e mais... Presa nos elos de uma só cadeia, A multidão faminta cambaleia, E chora e dança ali! Um de raiva delira, outro enlouquece, Outro, que martírios embrutece, Cantando, geme e ri! No entanto o capitão manda a manobra, E após fitando o céu que se desdobra, Tão puro sobre o mar, Diz do fumo entre os densos nevoeiros: "Vibrai rijo o chicote, marinheiros! Fazei-os mais dançar!..." E ri-se a orquestra irônica, estridente. . . E da ronda fantástica a serpente Faz doudas espirais... Qual um sonho dantesco as sombras voam!... Gritos, ais, maldições, preces ressoam! E ri-se Satanás!... V Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucura... se é verdade Tanto horror perante os céus?! Ó mar, por que não apagas Co'a esponja de tuas vagas De teu manto este borrão?... Astros! noites! tempestades! Rolai das imensidades! Varrei os mares, tufão! Quem são estes desgraçados Que não encontram em vós Mais que o rir calmo da turba Que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, Se a vaga à pressa resvala Como um cúmplice fugaz, Perante a noite confusa... Dize-o tu, severa Musa, Musa libérrima, audaz!... São os filhos do deserto, Onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo aberto A tribo dos homens nus... São os guerreiros ousados Que com os tigres mosqueados Combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. 23 Hoje míseros escravos, Sem luz, sem ar, sem razão. . . ROMANCES INDIANISTAS DE JOSÉ DE ALENCAR IRACEMA - José de Alencar Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho; o aljôfar d'água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela As vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome; outras remexe o uru te palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá , as agulhas da juçara com que tece a renda, e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar; nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais d'alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida: deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: - Quebras comigo a flecha da paz? - Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? - Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm os meus. - Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. O GUARANI – José de Alencar Quando a cavalgata chegou à margem da clareira, aí se passava uma cena curiosa. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna, e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele, cor do cobre, brilhava com reflexos dourados; os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com os cantos exteriores erguidos para a fronte; a pupila negra, móbil, cintilante; a boca forte mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Tinha a cabeça cingida por uma fita de couro, à qual se prendiam do lado esquerdo duas plumas matizadas, que descrevendo uma longa espiral, vinham rogar com as pontas negras o pescoço flexível. Era de alta estatura; tinha as mãos delicadas; a perna ágil e nervosa, ornada com uma axorca de frutos amarelos, apoiava-se sobre um pé pequeno, mas firme no andar e veloz na corrida. Segurava o arco e as flechas com a mão direita calda, e com a esquerda mantinha verticalmente diante de si um longo forcado de pau enegrecido pelo fogo. Perto dele estava atirada ao chão uma clavina tauxiada, uma pequena bolsa de couro que devia conter munições, e uma rica faca flamenga, cujo uso foi depois proibido em Portugal e no Brasil. Nesse instante erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe de folhas que se elevava a vinte passos de distancia, e se agitava imperceptivelmente. Ali por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, marchetado de pardo; às vezes viam-se brilhar na sombra dois raios vítreos e pálidos, que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha, ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme; de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore, e pés suspensos no galho superior, encolhia o corpo, preparando o salto gigantesco. Batia os flancos com a larga cauda, e movia a cabeça monstruosa, como procurando uma aberta entre a folhagem para arremessar o pulo; uma espécie de riso sardônico e feroz contraia-lhe as negras mandíbulas, e mostrava a linha de dentes amarelos; as ventas dilatadas aspiravam fortemente e pareciam deleitar-se já com o odor do sangue da vítima. 24 O índio, sorrindo e indolentemente encostado ao tronco seco, não perdia um só desses movimentos, e esperava o inimigo com a calma e serenidade do homem que contempla uma cena agradável: apenas a fixidade do olhar revelava um pensamento de defesa. Assim, durante um curto instante, a fera e o selvagem mediram-se mutuamente, com os olhos nos olhos um do outro; depois o tigre agachou-se, e ia formar o salto, quando a cavalgata apareceu na entrada da clareira. Então o animal, lançando ao redor um olhar injetado de sangue, eriçou o pêlo, e ficou imóvel no mesmo lugar, hesitando se devia arriscar o ataque. UBIRAJARA – José de Alencar Ubirajara tomou o arco que lhe apresentava o pai e disse: - Camacã, tu és o primeiro guerreiro e o maior chefe da nação araguaia. Para a glória de Jaguarê bastava que ele se mostrasse teu filho no valor, como é teu filho no sangue. Mas o grande arco da nação araguaia, Ubirajara não o recebe de ti e de nenhum outro guerreiro, pois o há de conquistar pela sua pujança. Disse, e arremessando no meio da ocara o grande arco, bradou: - O guerreiro que ouse empunhar o grande arco da nação araguaia, venha disputá-lo a Ubirajara. Nenhuma voz se ergueu; nenhum campeão avançou o passo. O trocano reboou de novo, e no meio da pocema do triunfo, a multidão dos guerreiros proclamou: - Ubirajara, senhor da lança, tu és o mais forte dos guerreiros araguaias; empunha o arco chefe. Então Ubirajara levantou o grande arco, e a corda zuniu como o vento na floresta. Era a primeira seta, mensageira do chefe, que levava às nuvens, a fama de Ubirajara. Os cantores exaltaram a glória dos dois chefes: a do velho Camacã, que trocara a arma do guerreiro pelo bordão do conselho; e a do jovem Ubirajara, que na sua mocidade já se mostrava tão grande, como fora o pai na robustez dos anos. ATIVIDADE Após ler os três fragmentos com atenção, responda em seu caderno: 1- Por que o autor insiste na temática indígena nessas obras? 2- Quais as características físicas e psicológicas das personagens: A) Iracema B) Peri (o guarani) C) Ubirajara 3- Como a natureza é apresentada nos dois primeiros fragmentos? 4- Que qualidades de Ubirajara são destacadas? 5- Aponte as características românticas apresentadas nos textos. 6- O que há em comum entre as três personagens indígenas? 7- Por que o autor fez questão de utilizar o vocabulário indígena nas obras? 8- Encontre nos textos, exemplos das dez classes gramaticais: A) Substantivo B) Adjetivo C) Verbo D) Pronome E) Preposição F) Conjunção G) Interjeição H) Advérbio I) Numeral J) Artigo 9- Há predominância de alguma dessas classes nos textos? Explique. Em qual fase da poesia romântica brasileira a temática indígena aparece com mais 25 TEXTOS DO REALISMO TEORIA DO MEDALHÃO (Machado de Assis) Diálogo — Estás com sono? — Não, senhor. — Nem eu; conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? — Onze. — Saiu o último conviva do nosso modesto jantar. Com que, meu peralta, chegaste aos teus vinte e um anos. Há vinte e um anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada, e estás homem, longos bigodes, alguns namoros... — Papai... — Não te ponhas com denguices, e falemos como dois amigos sérios. Fecha aquela porta; vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. Vinte e um anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. Vinte e um anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos vinte e um anos. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. — Sim, senhor. — Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem, ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto o que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. — Creia que lhe agradeço; mas que ofício, não me dirá? — Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade; faltaramme, porém, as instruções de um pai, e acabo como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade; não os rejeites, mas modera-os de modo que aos quarenta e cinco anos possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse: "a gravidade é um mistério do corpo", definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito; essa é do corpo, tão-somente do corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de quarenta e cinco anos... — É verdade, por que quarenta e cinco anos? — Não é, como podes supor, um limite arbitrário, filho do puro capricho; é a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os quarenta e cinco e cinquenta anos, conquanto alguns exemplos se dêem entre os cinquenta e cinco e os sessenta; mas estes são raros. Há os também de quarenta anos, e outros mais precoces, de trinta e cinco e de trinta; não são, todavia, vulgares. Não falo dos de vinte e cinco anos: esse madrugar é privilégio do gênio. — Entendo. — Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente; coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia; mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias; pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até à morte; mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. — Mas quem lhe diz que eu... — Tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina, e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não; refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança, No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas; por mais que as sofreemos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. 26 — Creio que assim seja; mas um tal obstáculo é invencível. — Não é; há um meio; é lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O voltarete, o dominó e o whist são remédios aprovados. O whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo o mesmo da natação, da equitação e da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro; mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. — Como assim, se também é um exercício corporal? — Não digo que não, mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que três quartas partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, mormente nas de recreio e parada, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. — Mas se eu não tiver à mão um amigo apto e disposto a ir comigo? — Não faz mal; tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra, razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim; e, não obstante, há grande conveniência em entrar por elas, de quando em quando, não digo às ocultas, mas às escâncaras. Podes resolver a dificuldade de um modo simples: vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa, quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazade; 75 por cento desses estimáveis cavalheiros repetir-teão as mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime, durante oito, dez, dezoito meses — suponhamos dois anos, — reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das ideias; há de ser naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim... — Isto é o diabo! Não poder adornar o estilo, de quando em quando... — Podes; podes empregar umas quantas figuras expressivas, a hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as asas de Ícaro, e outras, que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação, ou de agradecimento. Caveant consules é um excelente fecho de artigo político; o mesmo direi do Si vis pacem para bellum. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e bela, mas não te aconselho esse artifício: seria desnaturar-lhe as graças vetustas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas fá-lo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedantesco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação; matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos, e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel, tu dizes simplesmente: Antes das leis, reformemos os costumes! — E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema, entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. — Vejo por aí que vosmecê condena toda e qualquer aplicação de processos modernos. — Entendamo-nos. Condeno a aplicação, louvo a denominação. O mesmo direi de toda a recente terminologia científica; deves decorá-la. Conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de deus Término, e as ciências sejam obra do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. E de duas uma: — ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a trinta anos, ou conservar-se-ão novas; no primeiro caso, pertencem-te de foro próprio; no segundo, podes ter a coquetice de as trazer, para mostrar que também és pintor. De outiva, com o tempo, irás sabendo a que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia; porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas, e é radicalmente falso. Acresce que no dia em que viesses a assenhorear-te do espírito daquelas leis e fórmulas, serias provavelmente levado a empregá-las com um tal ou qual comedimento, como a costureira esperta e afreguesada, — que, segundo um poeta clássico, “Quanto mais pano tem, mais poupa o corte, Menos monte alardeia de retalhos”; e este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. — Upa! que a profissão é difícil! — E ainda não chegamos ao cabo. — Vamos a ele. — Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que D. Quixote solicite os favores dela mediante, ações heroicas ou custosas, é um sestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um 27 Tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-o aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz outra; cinco, dez, vinte vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, têm singulares merecimentos, e assim as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me. Se caíres de um carro, sem outro dano, além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? — Percebi. — Essa é publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias; mas há outra. Qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam à reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Nada obsta a que sejas objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, como seria desazado impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Dessa maneira o nome fica ligado à pessoa; os que houverem lido o teu recente discurso (suponhamos) na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave, em que a "alavanca do progresso" e o "suor do trabalho" vencem as "fauces hiantes" da miséria. No caso de que uma comissão te leve a casa o retrato, deves agradecer-lhe o obséquio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água: é uso antigo, razoável e honesto. Convidarás então os melhores amigos, os parentes, e, se for possível, uma ou duas pessoas de representação. Mais. Se esse dia é um dia de glória ou regozijo, não vejo que possas, decentemente, recusar um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Em todo o caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa; e, dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente. — Digo-lhe que o que vosmecê me ensina não é nada fácil. — Nem eu te digo outra coisa. É difícil, come tempo, muito tempo, leva anos, paciência, trabalho, e felizes os que chegam a entrar na terra prometida! Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade. Mas os que triunfam! E tu triunfarás, crê-me. Verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades; elas virão ter contigo, com o seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. — E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida? — Decerto; não fica excluída nenhuma outra atividade. — Nem política? — Nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos, e reconhecer-lhe somente a utilidade do scibboleth bíblico. — Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? — Podes e deves; é um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens à escolha: — ou os negócios miúdos, ou a metafísica política, mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos, força é confessá-lo, não desdizem daquela chateza de bom-tom, própria de um medalhão acabado; mas, se puderes, adota a metafísica; — é mais fácil e mais atraente. Supõe que desejas saber por que motivo a 7ª companhia de infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu; serás ouvido tão-somente pelo ministro da guerra, que te explicará em dez minutos as razões desse ato. Não assim a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama os apartes e as respostas. E depois não obriga a pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado; é só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. — Farei o que puder. Nenhuma imaginação? — Nenhuma; antes faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo. — Nenhuma filosofia? — Entendamo-nos: no papel e na língua alguma, na realidade nada. "Filosofia da história", por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc., etc. — Também ao riso? — Como ao riso? — Ficar sério, muito sério... — Conforme. Tens um gênio folgazão, prazenteiro, não hás de sofreá-lo nem eliminá-lo; podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre. Somente, — e este ponto é melindroso... — Diga... 28 — Somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos cépticos e desabusados. Não. Usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem biocos, nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias, e arrebentar de riso os suspensórios. Usa a chalaça. Que é isto? — Meia-noite. — Meia-noite? Entras nos teus vinte e dois anos, meu peralta; estás definitivamente maior. Vamos dormir, que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o Príncipe de Machiavelli. Vamos dormir. (ASSIS, Machado de . “Teoria do medalhão” in: Papéis avulsos. http://www.educacional.com.br/classicos/obras/Papeis_Avulsos.pdf. Pp. 40-45. Portal Aprende Brasil.) O Espelho Machado de Assis Esboço de uma nova teoria da alma humana Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no morro de Santa Teresa, a sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que falavam; mas, além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre quarenta e cinqüenta anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca; e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma herança bestial; e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lha um dos presentes, e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina (assim se chamava ele) refletiu um instante, e respondeu: - Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença; não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, - uma conjetura, ao menos. - Nem conjetura, nem opinião, redargüiu ele; uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas... - Duas? - Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para entro... Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa; - e assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira; as duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo. A alma exterior aquele judeu eram os seus ducados; perdê-los equivalia a morrer. "Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal; é um punhal que me enterras no coração." Vejam bem esta frase; a perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma... - Não? - Não, senhor; muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas; mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, - na verdade, gentilíssima, - que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera; cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra: um concerto, um baile do Cassino, a rua do Ouvidor, Petrópolis... 29 - Perdão; essa senhora quem é? - Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo nome; chama-se Legião... E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato, porque iria longe; restrinjo-me ao episódio de que lhes falei. Um episódio dos meus vinte e cinco anos... Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto; todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração: - Tinha vinte e cinco anos, era pobre, e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa! tão contente! Chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados; choro e ranger de dentes, como na Escritura; e o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita: nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes, que se davam comigo, e passaram a olhar-me de revés, durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação; e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos... Vai então uma das minhas tias, D. Marcolina, viúva do Capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me, e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina, apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me! Chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes; era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda a hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes; e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o "senhor alferes". Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o "senhor alferes", não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples... Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de D. João VI. Não sei o que havia nisso de verdade; era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom... - Espelho grande? - Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala; era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito; respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o "senhor alferes" merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? - Não. - O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente; a outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? - Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. - Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos: os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada; e, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave; uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a cinco léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho! adeus, alferes! Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela, e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia o contrário; deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confessolhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia; estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa, e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô alferes, de minuto a minuto; nhô alferes é muito bonito; nhô alferes há de ser coronel; nhô alferes há de casar com moça bonita, filha de general; um concerto de louvores e profecias, que me deixou extático. Ah ! pérfidos! mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. - Matá-lo? 30 - Antes assim fosse. - Coisa pior? - Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite; e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo; ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão-somente, um par de mulas, que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? era pior. Não por medo; juro-lhes que não tinha medo; era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada, durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina; fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela, para lhe dar a triste notícia, ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum; finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já trinta e seis horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele; à tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tictac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei este famoso estribilho: Never, for ever! - For ever, never! confessolhes que tive um calafrio: recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina: - Never, for ever!- For ever, never! Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite! Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita, ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém, nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma... Riem-se? - Sim, parece que tinha um pouco de medo. - Oh! fora bom se eu pudesse ter medo! Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo, era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno: - o sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes; vinha um amigo de nossa casa, e prometia-me o posto de tenente, outro o de capitão ou major; e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único -porque a alma interior perdia a ação exclusiva, e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar... Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu rien venir? Nada, coisa nenhuma; tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode; não escolhi nada definitivamente; sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tia Marcolina, deixava-se estar. Soeur Anne, soeur Anne... Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. - Mas não comia? - Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em trinta volumes. As vezes fazia ginástica; outra dava beliscões nas pernas; mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac... - Na verdade, era de enlouquecer. - Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo; era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo, naquela casa solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo; não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziume textualmente, com os mesmos contornos e feições; assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo; atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava; receei ficar mais tempo, e enlouquecer. - Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro; o gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado... Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de 31 contornos... Continuei a vestir-me. Subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me... Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha idéia... - Diga. - Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento... Não, não são capazes de adivinhar. - Mas, diga, diga. - Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e, como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e... não lhes digo nada; o vidro reproduziu então a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros; enfim, sabe que este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes, e sentava-me diante do espelho, lendo olhando, meditando; no fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar mais seis dias de solidão sem os sentir... Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. (http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/machadode-assis/o-espelho.php) A Cartomante Machado de Assis HAMLET observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras. — Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa..." Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declaroume que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade... — Errou! interrompeu Camilo, rindo. — Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria... Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... — Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa. — Onde é a casa? — Aqui perto, na Rua da Guarda Velha; não passava ninguém nessa ocasião. Descansa; eu não sou maluca. Camilo riu outra vez: — Tu crês deveras nessas cousas? perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita cousa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência; mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranqüila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento: limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade; diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada; Camilo, não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia; Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagcm para a casa da cartomante. 32 Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. — É o senhor? exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos: contava trinta anos, Vilela vinte e nove e Camilo vinte e seis. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela, era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor di femmina: eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites; — ela mal, — ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as cousas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente; tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: — a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. — Bem, disse ela; eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem; se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a... Nenhuma apareceu; mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar à casa deles, tatear o marido, e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia; aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem , em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela: "Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora." Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo; na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório; por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas cousas com a notícia da véspera. — Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora, — repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha 33 medo: depois sorriu amarelo, e em todo caso repugnava-lhe a idéia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir a casa; podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua, e a idéia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil; era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes; podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos, fixas, ou então, — o que era ainda pior, — eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. "Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora." Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem, já, já, para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a idéia, vexado de si mesmo, e seguia, picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. "Quanto antes, melhor, pensou ele; não posso estar assim..." Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tílburi teve de parar, a rua estava atravancada com uma carroça, que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo, e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente Destino. Camilo reclinou-se no tílburi, para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa, e ir por outro caminho: ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para fitar a casa... Depois fez um gesto incrédulo: era a idéia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas; desapareceu, reapareceu, e tornou a esvair-se no cérebro; mas daí a ponco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos... Na rua, gritavam os homens, safando a carroça: — Anda! agora! empurra! vá! vá! Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras cousas: mas a voz do marido sussurrava-lhe a orelhas as palavras da carta: "Vem, já, já..." E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar . Camilo achou-se diante de um longo véu opaco... pensou rapidamente no inexplicável de tantas cousas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários: e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro: "Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a filosofia... " Que perdia ele, se... ? Deu por si na calçada, ao pé da porta: disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor, e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso; mas ele não, viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve idéia de descer; mas era tarde, a curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam-lhe; ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher; era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de quarenta anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três cartas sobre a mesa, e disse-lhe: — Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto... Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. — E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma cousa ou não... — A mim e a ela, explicou vivamente ele. A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas; baralhou-as bem, transpôs os maços, uma, duas. três vezes; depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela curioso e ansioso. — As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela: ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. . . Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. — A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele estendedo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Esta levantou-se, rindo. — Vá, disse ela; vá, ragazzo innamorato... E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão da própria sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho destas, 34 começou a despencá-las e comê-las, mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse; ignorava o preço. — Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar buscar? — Pergunte ao seu coração, respondeu ela. Camilo tirou uma nota de dez mil-réis, e deu-lha. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era dois mil-réis. — Vejo bem que o senhor gosta muito dela... E faz bem; ela gosta muito do senhor. Vá, vá, tranqüilo. Olhe a escada, é escura; ponha o chapéu... A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, e descia com ele, falando, com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo, e desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tílburi esperando; a rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor, as outras cousas traziam outro aspecto, o céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris; recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes, e que fizera mal em demorar-se tanto; podia ser algum negócio grave e gravíssimo. — Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer cousa; parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar à antiga assiduidade... De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro; por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado; mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação: — Vá, vá, ragazzo innamorato; e no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes, que formavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Daí a ponco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se, e apareceu-lhe Vilela. — Desculpa, não pude vir mais cedo; que há? Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: — ao fundo sobre o canapé, estava Rita morta e ensangüentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Fonte: www.bibvirt.futuro.usp.br MISSA DO GALO Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir; combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Meneses, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranqüilo, naquela casa assobradada da rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente estava nos quartos; às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Meneses que ia ao teatro, pedilhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa; ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Meneses trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça; mas, afinal, resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição! Chamavam-lhe "a santa", e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana; aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar; pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias; mas fiquei até o Natal para ver "a missa do galo na Corte". A família recolheu-se à hora do costume; eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três chaves a porta; uma estava com o escrivão, eu levaria outra, a terceira ficava em casa. - Mas, Sr. Nogueira, que fará você todo esse tempo? perguntou-me a mãe de Conceição. - Leio, D. Inácia. 35 Tinha comigo um romance, os Três Mosqueteiros, velha tradução creio do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D’Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer, quando são de espera; ouvi bater onze horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar; levantei a cabeça; logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. - Ainda não foi? Perguntou ela. - Não fui; parece que ainda não é meia-noite. - Que paciência! Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da a1cova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro; ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se a havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza: - Não! qual! Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir; pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. - Mas a hora já há de estar próxima, disse eu. - Que paciência a sua de esperar acordado, enquanto o vizinho dorme! E esperar sozinho! Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. - Quando ouvi os passos estranhei; mas a senhora apareceu logo. - Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o romance dos Mosqueteiros. - Justamente: é muito bonito. - Gosta de romances? - Gosto. - Já leu a Moreninha? - Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. - Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio-cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada; ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. - Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto: - D. Conceição, creio que vão sendo horas, e eu... - Não, não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio; são onze e meia. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? - Já tenho feito isso. - Eu, não; perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso, e, meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. - Que velha o quê, D. Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranqüilas; agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo; essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador; afinal deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas idéias; tornou ao espanto de me ver esperar acordado; eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira missa do galo na Corte, e não queria perdê-la. - É a mesma missa da roça; todas as missas se parecem. - Acredito; mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a semana santa na Corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio... Pouco a pouco, tinha-se inclinado; fincara os cotovelos no mármore da mesa e metera o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, muitos claros, e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum; naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis, que apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os 36 assuntos, sem saber por quê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros; o nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me: - Mais baixo! Mamãe pode acordar. E não saía daquela posição, que me enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas caras. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido; cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais; ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou; trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me, e pude ver, a furto, o bico das chinelas; mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho: - Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve; se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. - Eu também sou assim. - O quê? Perguntou ela inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti a palavra. Riu-se da coincidência; também ela tinha o sono leve; éramos três sonos leves. - Há ocasiões em que sou como mamãe: acordando, custa-me dormir outra vez, rolo na cama, à toa, levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me, e nada. - Foi o que lhe aconteceu hoje. - Não, não, atalhou ela. Não entendi a negativa; ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com elas sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos, e afirmou-me que só tivera um pesadelo, em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando, reprimia-me: - Mais baixo, mais baixo... Havia também umas pausas. Duas outras vezes, pareceu-me que a via dormir; mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite, que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados; eu, em respeito a ela, quis levantar-me; não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro, e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa; mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio, voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé, falou de duas gravuras que pendiam da parede. - Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava "Cleópatra"; não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos; naquele tempo não me pareciam feios. - São bonitos, disse eu. - Bonitos são; mas estão manchados. E depois francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para sala de rapaz ou de barbeiro. - De barbeiro? A senhora nunca foi a casa de barbeiro. - Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que não acho próprio. É o que eu penso; mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita; mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. A idéia do oratório trouxe-me a da missa, lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos vinte e sete anos. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos, e entrou a olhar à toa para as paredes. - Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo. Concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação; fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um sentimento de respeito; mas a idéia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levavame os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. 37 Chegamos a ficar por algum tempo, - não posso dizer quanto, - inteiramente calados. O rumor único e escasso, era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência; quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que bradava: "Missa do galo! missa do galo!" - Aí está o companheiro, disse ela levantando-se. Tem graça; você é que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas; adeus. - Já serão horas? perguntei. - Naturalmente. - Missa do galo! repetiram de fora, batendo. -Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus; até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez, entre mim e o padre; fique isto à conta dos meus dezessete anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo Ano-Bom fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. Fonte: Contos Consagrados - Machado de Assis - Coleção Pretígio - Ediouro - s/d. Eça de Queirós VI A RAMALHO ORTIGÃO Paris, Abril. Querido Ramalho.—No sábado à tarde, na Rue Cambon, avisto dentro dum fiacre o nosso Eduardo, que se arremessa pela portinhola para me gritar: «Ramalho, esta noite! de passagem para a Holanda! às dez! no café da Paz!» Fico docemente alvoroçado; e às nove e meia, apesar da minha justa repugnância pela esquina do café da Paz, Centro catita do Snobismo internacional, lá me instalo, com um bock, esperando a cada instante que surja, por entre a turba baça e mole do boulevard, o esplendor da Ramalhal figura. Às dez salta dum fiacre com ansiedade o vivaz Carmonde, que abandonara à pressa uma sobremesa alegre pour voir ce grand Ortigan! Começa uma espera a dois, com bock a dois. Nada de Ramalho, nem do seu viço. Às onze aparece Eduardo, esbaforido. E Ramalho? Inédito ainda!Espera a três, impaciência a três, bock a três. E assim até que o bronze nos soou o fim do dia. Em compensação um caso, e profundo. Carmonde, Eduardo e eu sorvíamos as derradeiras fezes do bock, já desiludidos de Ramalho e das suas pompas, quando roça pela nossa mesa um sujeito escurinho, chupadinho, esticadinho, que traz na mão com respeito, quase com religião, um soberbo ramo de cravos amarelos. É um homem de além dos mares, da República Argentina ou Peruana, e amigo de Eduardo—que o retém e apresenta «o sr. Mendibal». Mendibal aceita um bock: e eu começo a contemplar mudamente aquela facezinha toda em perfil, como recortada numa lâmina de machado, duma cor acobreada de chapéu-coco inglês, onde a barbita rala, hesitante, denunciando uma virilidade frouxa, parece cotão, um cotão negro, pouco mais negro que a tez. A testa escanteada recua, foge toda para trás, assustada. O caroço da garganta esganiçada, ao contrário, avança como o esporão duma galera, por entre as pontas quebradas do colarinho muito alto e mais brilhante que esmalte. Na gravata, grossa pérola. Eu contemplo, e Mendibal fala. Fala arrastadamente, quase dolentemente, com finais que desfalecem, se esvaem em gemido. A voz é toda de desconsolo:—mas, no que diz, revela a mais forte, segura e insolente satisfação de viver. O animal tem tudo: imensas propriedades além do mar, a consideracão dos seus fornecedores, uma casa no ParcMonceau, e «uma esposa adorável». Como deslizou ele ,a mencionar essa dama que lhe embeleza o lar? Não sei. Houve um momento em que me ergui, chamado por um velho Inglês meu amigo, que passava, recolhendo da Ópera, e que me queria simplesmente segredar, com uma convicção forte, que «a noite estava esplêndida!» Quando voltei à mesa e ao bock, o Argentino encetara em monólogo a glorificação da «sua senhora». Carmonde devorava o homenzinho com olhos que riam e que saboreavam, deliciosamente divertido. Eduardo, esse, escutava coma compostura pesada de um português antigo. E Mendibal, tendo posto ao lado sobre uma cadeira, com cuidados devotos, o ramo de cravos, desfiava as virtudes e os encantos de Madame. Sentia-se ali uma dessas admirações efervescentes, borbulhantes, que se não podem retrair, que trasbordam por toda a parte, mesmo por sobre as mesas dos cafés: onde quer que passasse, aquele homem iria deixando escorrer a sua adoracão pela mulher, como um guarda-chuva encharcado vai fatalmente pingando água. Compreendi, desde que ele, com um prazer que lhe repuxava mais para fora o caroço da garganta, revelou que Madame Mendibal era francesa. Tinhamos ali, portanto, um fanatismo de preto pela graça loura duma parisiensezinha, picante em sedução e finura. Desde que compreendi, 38 simpatizei. E o Argentino farejou em mim esta benevolência critica—porque foi para mim que se voltou, lançando o derradeiro traço, o mais decisivo, sobre as excelências de Madame: «Sim, positivamente, não havia outra em Paris! Por exemplo, o carinho com que ela cuidava da mamã (da mamã dele), senhona de grande idade, cheia de achaques! Pois era uma paciência, uma delicadeza, uma sujeição... De cair de joelhos! Então nos últimos dias a mamã andara tão rabugenta!... Madame Mendibal até emagrecera. De sorte que ele próprio, nesse domingo, lhe pedira que se fosse distrair, passar o dia a Versalhes, onde a mãe dela, Madame Jouffroy, habitava por economia. E agora viera de a esperar na gare Saint-Lazare. Pois, senhores, todo o dia em Versalhes, a santa criatura estivera com cuidado na sogra, cheia de saudades da casa, numa ânsia de recolher. Nem lhe soubera bem a visita à mamã! A maior parte da tarde, e uma tarde tão linda, gastara-a a reunir aquele esplêndido ramo de cravos amarelos para lhe trazer, a ele!» —É verdade! Veja o senhor! Este ramo de cravos! Até consola. Olhe que para estas lembrancinhas, para estes carinhos, não há senão uma francesa Graças a Deus, posso dizer que acertei! E se tivesse filhos, um só que fosse, um rapaz, não me trocava pelo Príncipe de Gales. Eu não sei se o senhor é casado. Perdoe a confiança. Mas se não é, sempre lhe direi, como digo a todo o mundo:—Case com uma francesa, case com uma francesa!... Não podia haver nada mais sinceramente grotesco e tocante. Como V. não vinha, fugidio Ramalho, dispersámos. Mendibal trepou para um fiacre com o seu amoroso molho de cravos. Eu arrastei os passos, no calor da noite, até ao clube. No clube encontro Chambray, que V. conhece—o «formoso Chambray». Encontro Chambray no fundo duma poltrona, derreado e radiante. Pergunto a Chambray como lhe vai a Vida, que opinião tem nesse dia da Vida. Chambray declara a Vida uma delícia. E, imediatamente, sem se conter, faz a confidência que lhe bailava impacientemente no sorriso e no olho humedecido. Fora a Versalhes, com tenção de visitar os Fouquiers. No mesmo compartimento com ele ia uma mulher, une grande et belle femme. Corpo soberbo de Diana num vestido colante do Redfern. Cabelos apartados ao meio, grossos e apaixonados, ondeando sobre a testa curta. Olhos graves. Dois solitários nas orelhas. Ser substancial, sólido, sem chumaços e sem blagues, bem alimentado, envolto em consideração, superiormente instalado na vida. E, no meio desta respeitabilidade física e social, um jeito guloso de molhar os beiços a cada instante, vivamente, com a ponta da língua... Chambray pensa consigo:—«burguesa, trinta anos, sessenta mil francos de renda, temperamento forte, desapontamentos de alcova». E apenas o comboio larga, toma o seu «grande ar Chambray», e dardeja à dama um desses olhares que eram outrora simbolizados pelas flechas de Cupido. Madame impassível. Mas, momentos depois, vem dentre as pálpebras um pouco pesadas, direito a Chambray (que vigiava de lado, por trás do Fígaro aberto), um desses raios de luz indagadora que, como os da lanterna de Diógenes, procuram um homem que seja um homem. Ao chegar a Courbevoie, a pretexto de baixar o vidro por causa da poeira, Chambray arrisca uma palavra, atrevidamente tímida, sobre e calor de Paris. Ela concede outra, ainda hesitante e vaga, sobre a frescura do campo. Está travada a Écloga. Em Suresnes, Chambray já se senta na banqueta ao lado dela, fumando. Em Sevres, mão de Madame arrebatada por Chambray, mão de Chambray repelida por Madame:— e ambas insensivelmente se entrelaçam. Em Viroflay, proposta brusca de Chambray para darem um passeio por um sítio de Viroflay que só ele conhece, recanto bucólico, de incomparável doçura, inacessível ao burguês. Depois, às duas horas tomariam o outro trem para Versalhes. E nem a deixa hesitar—arrebata-a moralmente, ou antes fisiologicamente, pela simples força da voz quente, dos olhos alegres, de toda a sua pessoa franca e máscula. Ei-los no campo, com um aroma da seiva em redor, e a Primavera e Satanás conspirando e soprando sobre Madame os seus bafos quentes. Chambray conhece à orla do bosque, junto de água, uma tavernola que tem as janelas encaixilhadas em madressilva. Por que não irão lá almoçar uma caldeirada, regada com vinho branco de Suresnes? Madame na verdade sente uma fomezinha alegre de ave solta no prado: e Satanás, dando ao rabo, corre adiante, a propiciar as coisas na tavernola. Acham lá, com efeito, uma instalação magistral: quarto fresco e silencioso, mesa posta, cortina de cassa ao fundo escondendo e traindo a alcova. «Em todo o caso que o almoço suba depressa» porque eles têm de partir pelo trem das duas horas»—tal é o brado sincero de Chambray! Quando chega a caldeirada, Chambray tem uma inspiração genial—despe o casaco, abanca em mangas de camisa. É um rasgo de boémia e de liberdade, que a encanta, a excita, faz surgir a garota que há quase sempre no fundo da matrona. Atira também o chapéu, um chapéu de duzentos francos, para o fundo do quarto, alarga os braços, e tem este grito de alma: —Ah oui, que c’est bon, de se desembêter! E depois, como dizem os Espanhóis—la mar. O Sol, ao despedir-se da Terra por esse dia, deixou-os ainda em Viroflay; ainda na tavernola; ainda no quarto;—e outra vez à mesa, diante dum beefsteak reconfortante, como os acontecimentos pediam com urgência e lógica. Versalhes, esquecido! Tratava-se de voltar à estação para tomar o trem de Paris. Ela aperta devagar as fitas do chapéu, apanha uma das flores da janela que mete no corpete, fixa um olhar lento em redor pelo quarto e pela alcova, para tudo decorar e reter—e partem. Na estacão, ao saltar para um compartimento diferente (por causa da chegada a Paris), Chambray num aperto de mão, já apressado e frouxo, suplica-lhe que ao menos lhe diga como se chama. Ela murmura—Lucie. —E é tudo o que sei dela—conclui Chambray, acendendo o charuto.—E sei também que é casada porque na gare Saint-Lazare, à espera dela, e acompanhado por um trintanário sério, de casa burguesa, estava o marido... É um rastacuero cor de chocolate, com uma barbita rala, enorme pérola na gravata... Coitado, ficou encantado quando ela lhe deu um grande ramo de cravos amarelos, que eu lhe mandara arranjar em Viroflay... Mulher deliciosa. Não há senão as francesas! 39 Que diz V. a estas coisas consideráveis, meu bom Rarnalho? Eu digo que, em resumo, este nosso Mundo é perfeito e não há nos espaços outro mais bem organizado. Porque note V. como, ao fim deste domingo de Maio, todas estas três excelentes criaturas, com uma simples jornada a Versalhes, obtiveram um ganho positivo na vida. Chambray passou por um imenso prazer e uma imensa vaidade—os dois únicos resultados que ele conta na existência como proventos sólidos, e valendo o trabalho de existir. Madame experimentou uma sensação nova ou diferente, que a desenervou, a desafogou, lhe permitiu reentrar mais acalmada na monotonia do seu lar, e ser útil aos seus com rediviva aplicação. E o Argentino adquiriu outra inesperada e triunfal certeza, de quanto era amado e feliz na sua escolha. Três ditosos, ao fim desse dia de Primavera e de campo. E se daqui resultar um filho (o filho que o Argentino apetece), que herde as qualidades fortes e brilhantemente gaulesas de Chambray, acresce, ao contentamento individual dos três, um lucro efetivo para a sociedade. Este mundo, portanto, está superiormente organizado. Amigo fiel, que fielmente o espera à volta da Holanda.—FRADIQUE. (http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/resumos_comentarios/a/a_correspondencia_de_fradique_mendes) NO MOINHO (Eça de Queirós) I MARIA DA PIEDADE era considerada em toda a vila como “uma senhora modelo”. O velho Nunes, diretor do correio, sempre que se falava nela, dizia, acariciando com autoridade os quatro pelos da calva: _ A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante; era uma loura, de perfil fino, a pele ebúrnea, e os olhos escuros de um tom de violeta, a que as pestanas longas escureciam mais o brilho sombrio e doce. Morava ao fim da estrada, numa casa azul de três sacadas; e era, para a gente que às tardes ia fazer o giro até ao moinho, um encanto sempre novo vê-la por trás da vidraça, entre as cortinas de cassa, curvada sobre a sua costura, vestida de preto, recolhida e séria. Poucas vezes saía. O marido, mais velho que ela, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma doença de espinha; havia anos que não descia à rua; avistavam-no às vezes também à janela murcho e trôpego, agarrado à bengala, encolhido na robe-de-chambre, com uma face macilenta, a barba desleixada e com um barretinho de seda enterrado melancolicamente até ao cachaço. Os filhos, duas rapariguitas e um rapaz, eram também doentes, crescendo pouco e com dificuldade, cheios de tumores nas orelhas, chorões e tristonhos. A casa, interiormente, parecia lúgubre. Andava-se nas pontas dos pés, porque o senhor, na excitação nervosa que lhe davam as insônias, irritava-se com o menor rumor; havia sobre as cômodas alguma garrafada da botica, alguma malga com papas de linhaça; as mesmas flores com que ela, no seu arranjo e no seu gosto de frescura, ornava as mesas, depressa murchavam naquele ar abafado de febre, nunca renovado por causa das correntes de ar; e era uma tristeza ver sempre algum dos pequenos ou de emplastro sobre a orelha, ou a um canto do canapé, embrulhado em cobertores com uma amarelidão de hospital. Maria da Piedade vivia assim, desde os vinte anos. Mesmo em solteira, em casa dos pais, a sua existência fora triste. A mãe era uma criatura desagradável e azeda; o pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, já velho, sempre bêbedo, os dias que aparecia em casa passava-os à lareira, num silêncio sombrio, cachimbando e escarrando para as cinzas. Todas as semanas desancava a mulher. E quando João Coutinho pediu Maria em casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem hesitação, quase com reconhecimento, para salvar o casebre da penhora, não ouvir mais os gritos da mãe, que a faziam tremer, rezar, em cima no seu quarto, onde a chuva entrava pelo telhado. Não amava o marido, decerto; e mesmo na vila tinha-se lamentado que aquele lindo rosto de Virgem Maria, aquela figura de fada, fosse pertencer ao Joãozinho Coutinho, que desde rapaz fora sempre entrevado. O Coutinho, por morte do pai, ficara rico; e ela, acostumada por fim àquele marido rabugento, que passava o dia arrastando-se sombriamente da sala para a alcova, ter-se-ia resignado, na sua natureza de enfermeira e de consoladora, se os filhos ao menos tivessem nascido sãos e robustos. Mas aquela família que lhe vinha com o sangue viciado, aquelas existências hesitantes, que depois pareciam apodrecer-lhe nas mãos, apesar dos seus cuidados inquietos, acabrunhavam-na. Às vezes só, picando a sua costura, corriam-lhe as lágrimas pela face: uma fadiga da vida invadia-a, como uma névoa que lhe escurecia a alma. Mas se o marido de dentro chamava desesperado, ou um dos pequenos choramingava, lá limpava os olhos, lá aparecia com a sua bonita face tranquila, com alguma palavra consoladora, compondo a almofada a um, indo animar a outro, feliz em ser boa. Toda a sua ambição era ver o seu pequeno mundo bem tratado e bem acarinhado. Nunca tivera desde casada uma curiosidade, um desejo, um capricho: nada a interessava na terra senão as horas dos remédios e o sono dos seus doentes. Todo o esforço lhe era fácil quando era para os contentar: apesar de fraca, passeava horas trazendo ao colo o pequerrucho, que era o mais impertinente, com as feridas que faziam dos seus pobres beicinhos uma crosta escura: durante as insônias do marido não dormia também, sentada ao pé da cama, conversando, lendo-lhe as Vidas dos Santos, porque o pobre entrevado ia caindo em devoção. De manhã estava um pouco mais pálida, mas toda correta no seu vestido preto, fresca, com os bandós bem lustrosos, fazendo-se bonita para ir dar as sopas de leite aos pequerruchos. A sua única distração era à tarde sentar-se à janela com a sua costura, e a pequenada em roda aninhada no chão, brincando tristemente. A mesma paisagem que ela via da janela era tão monótona como a sua vida: embaixo a estrada, depois uma ondulação de campos, uma terra magra plantada aqui e além de oliveiras e, erguendo-se ao fundo, uma colina triste e nua, sem uma casa, uma árvore, um fumo de casal que pusesse naquela solidão de terreno pobre uma nota humana e viva. 40 Vendo-a assim tão resignada e tão sujeita, algumas senhoras da vila afirmavam que ela era beata; todavia ninguém a avistava na igreja, a não ser ao domingo, com o pequerrucho mais velho pela mão, todo pálido no seu vestido de veludo azul. Com efeito, a sua devoção limitava-se a esta missa todas as semanas. A sua casa ocupava-a muito para se deixar invadir pelas preocupações do Céu: naquele dever de boa mãe, cumprido com amor, encontrava uma satisfação suficiente à sua sensibilidade; não necessitava adorar santos ou enternecer-se com Jesus. Instintivamente mesmo pensava que toda a afeição excessiva dada ao Pai do Céu, todo o tempo gasto em se arrastar pelo confessionário ou junto do oratório, seria uma diminuição cruel do seu cuidado de enfermeira: a sua maneira de rezar era velar os filhos: e aquele pobre marido pregado numa cama, todo dependente dela, tendo-a só a ela, parecialhe ter mais direito ao seu fervor que o outro, pregado numa cruz, tendo para amar toda uma humanidade pronta. Além disso, nunca tivera estas sentimentalidades de alma triste que levam à devoção. O seu longo hábito de dirigir uma casa de doentes, de ser ela o centro, a força, o amparo daqueles inválidos, tornara-a terna, mas prática: e assim era ela que administrava agora a casa do marido, com um bom senso que a afeição dirigira, uma solicitude de mãe próvida. Tais ocupações bastavam para entreter o seu dia: o marido, de resto, detestava visitas, o aspecto de caras saudáveis, as comiserações de cerimônia; e passavam-se meses sem que em casa de Maria da Piedade se ouvisse outra voz estranha à família, a não ser a do dr. Abílio – que a adorava, e que dizia dela com os olhos esgazeados: _ É uma fada! é uma fada!... Foi por isso grande a excitação na casa, quando João Coutinho recebeu uma carta de seu primo Adrião, que lhe anunciava que em duas ou três semanas ia chegar à vila. Adrião era um homem célebre, e o marido da Maria da Piedade tinha naquele parente um orgulho enfático. Assinara mesmo um jornal de Lisboa, só para ver o seu nome nas locais e na crítica. Adrião era um romancista: e o seu último livro, Madalena, um estudo de mulher trabalhado a grande estilo, duma análise delicada e sutil, consagrara-o como um mestre. A sua fama, que chegara até à vila, num vago de legenda, apresentava-o como uma personalidade interessante, um herói de Lisboa, amado das fidalgas, impetuoso e brilhante, destinado a uma alta situação no Estado. Mas realmente na vila era sobretudo notável por ser primo do João Coutinho. D. Maria da Piedade ficou aterrada com esta visita. Via já a sua casa em confusão com a presença do hóspede extraordinário. Depois a necessidade de fazer mais toilette, de alterar a hora do jantar, de conversar com um literato, e tantos outros esforços cruéis!... E a brusca invasão daquele mundano, com as suas malas, o fumo do seu charuto, a sua alegria de são, na paz triste do seu hospital, dava-lhe a impressão apavorada duma profanação. Foi por isso um alívio, quase um reconhecimento, quando Adrião chegou e muito simplesmente se instalou na antiga estalagem do tio André, à outra extremidade da vila. João Coutinho escandalizou-se: tinha já o quarto do hóspede preparado, com lençóis de rendas, uma colcha de damasco, pratas sobre a cômoda, e queria-o todo para si, o primo, o homem célebre, o grande autor... Adrião porém recusou: _ Eu tenho os meus hábitos, vocês têm os seus... Não nos contrariemos, hem?... o que faço é vir cá jantar. De resto, não estou mal no tio André... Vejo da janela um moinho e uma represa que são um quadrozinho delicioso... E ficamos amigos, não é verdade? Maria da Piedade olhava-o assombrada: aquele herói, aquele fascinador por quem choravam mulheres, aquele poeta que os jornais glorificavam, era um sujeito extremamente simples, – muito menos complicado, menos espetaculoso que o filho do recebedor! Nem formoso era: e com o seu chapéu desabado sobre uma face cheia e barbuda, a quinzena de flanela caindo à larga num corpo robusto e pequeno, os seus sapatos enormes, parecia-lhe a ela um dos caçadores de aldeia que às vezes encontrava, quando de mês a mês ia visitar as fazendas do outro lado do rio. Além disso não fazia frases; e a primeira vez que veio jantar, falou apenas, com grande bonomia, dos seus negócios. Viera por eles. Da fortuna do pai, a única terra que não estava devorada, ou abominavelmente hipotecada, era a Curgossa, uma fazenda ao pé da vila, que andava além disso mal arrendada... o que ele desejava era vendê-la. Mas isso parecia-lhe a ele tão difícil como fazer a Ilíada!... E lamentava sinceramente ver o primo ali, inútil sobre uma cama, sem o poder ajudar nesses passos a dar com os proprietários da vila. Foi por isso, com grande alegria, que ouviu João Coutinho declarar-lhe que a mulher era uma administradora de primeira ordem, e hábil nestas questões como um antigo rábula!... _ Ela vai contigo ver a fazenda, fala com o Teles, e arranja-te isso tudo... E na questão de preço, deixa-a a ela!... _ Mas que superioridade, prima! – exclamou Adrião maravilhado. – Um anjo que entende de cifras! Pela primeira vez na sua existência Maria da Piedade corou com a palavra dum homem. De resto prontificou-se logo a ser a procuradora do primo... No outro dia foram ver a fazenda. Como ficava perto, e era um dia de março fresco e claro, partiram a pé. Ao princípio, Acanhada por aquela companhia de um leão, a pobre senhora caminhava junto dele com o ar de um pássaro assustado: apesar de ele ser tão simples, havia na sua figura enérgica e musculosa, no timbre rico da sua voz, nos seus olhos, nos seus olhos pequenos e luzidios alguma coisa de forte, de dominante, que a enleava. Tinhase-lhe prendido à orla do seu vestido um galho de silvado, e como ele se abaixara para o desprender delicadamente, o contato daquela mão branca e fina de artista na orla da sua saia incomodou-a singularmente. Apressava o passo para chegar bem depressa à fazenda, aviar o negócio com o Teles e voltar imediatamente a refugiar-se, como no seu elemento próprio, no ar abafado e triste do seu hospital. Mas a estrada estendia-se, branca e longa, sob o sol tépido – e a conversa de Adrião foi-a lentamente acostumando à sua presença. Ele parecia desolado daquela tristeza da casa. Deu-lhe alguns bons conselhos: o que os pequenos necessitavam era ar, sol, uma outra vida diversa daquele abafamento de alcova... 41 Ela também assim o julgava: mas quê! o pobre João, sempre que se lhe falava de ir passar algum tempo à quinta, afligia-se terrivelmente: tinha horror aos grandes ares e aos grandes horizontes: a natureza forte fazia-o quase desmaiar; tornara-se um ser artificial, encafuado entre os cortinados da cama... Ele então lamentou-a. Decerto poderia haver alguma satisfação num dever tão santamente cumprido... Mas, enfim, ela devia ter momentos em que desejasse alguma outra coisa além daquelas quatro paredes, impregnadas do bafo de doença... _ Que hei-de eu desejar mais? – disse ela. Adrião calou-se: pareceu-lhe absurdo supor que ela desejasse, realmente, o Chiado ou o Teatro da Trindade... No que ele pensava era noutros apetites, nas ambições do coração insatisfeito... Mas isto pareceu-lhe tão delicado, tão grave de dizer àquela criatura virginal e séria – que falou da paisagem... _ Já viu o moinho? – perguntou-lhe ela. _Tenho vontade de o ver, se mo quiser ir mostrar, prima. _ Hoje é tarde. Combinaram logo ir visitar esse recanto de verdura, que era o idílio da vila. Na fazenda, a longa conversa com o Teles criou uma aproximação maior entre Adrião e Maria da Piedade. Aquela venda que ela discutia com uma astúcia de aldeã punha entre eles como que um interesse comum. Ela faloulhe já com menos reserva quando voltaram. Havia nas maneiras dele, dum respeito tocante, uma atração que a seu pesar a levava a revelar-se, a dar-lhe a sua confiança: nunca falara tanto a ninguém: a ninguém jamais deixara ver tanto da melancolia oculta que errava constantemente na sua alma. De resto as suas queixas eram sobre a mesma dor – a tristeza do seu interior, as doenças, tantos cuidados graves... E vinha-lhe por ele uma simpatia, como um indefinido desejo de o ter sempre presente, desde que ele se tornava assim depositário das suas tristezas. Adrião voltou para o seu quarto, na estalagem do André, impressionado, interessado por aquela criatura tão triste e tão doce. Ela destacava sobre o mundo de mulheres que até ali conhecera, como um perfil suave de ano gótico entre fisionomias da mesa redonda. Tudo nela concordava deliciosamente: o ouro do cabelo, a doçura da voz, a modéstia na melancolia, a linha casta, fazendo um ser delicado e tocante, a que mesmo o seu pequenino espírito burguês, certo fundo rústico de aldeã e uma leve vulgaridade de hábitos davam um encanto: era um anjo que vivia há muito tempo numa vilota grosseira e estava por muitos lados preso às trivialidades do sítio: mas bastaria um sopro para o fazer remontar ao céu natural, aos cimos puros da sentimentalidade... Achava absurdo e infame fazer a corte à prima... Mas involuntariamente pensava no delicioso prazer de fazer bater aquele coração que não estava deformado pelo espartilho, e de pôr enfim os seus lábios numa face onde não houvesse pós de arroz... E o que o tentava sobretudo era pensar que poderia percorrer toda a província em Portugal, sem encontrar nem aquela linha de corpo, nem aquela virgindade tocante de alma adormecida... Era uma ocasião que não voltava. O passeio ao moinho foi encantador. Era um recanto de natureza, digno de Corot, sobretudo à hora do meiodia em que eles lá foram, com a frescura da verdura, a sombra recolhida das grandes árvores, e toda a sorte de murmúrios de água corrente, fugindo, reluzindo entre os musgos e as pedras, levando e espalhando no ar o frio da folhagem, da relva, por onde corriam cantando. O moinho era dum alto pitoresco, com a sua velha edificação de pedra secular, a sua roda enorme, quase podre, coberta de ervas, imóvel sobre a gelada limpidez da água escura. Adrião achou-o digno duma cena de romance, ou, melhor, da morada duma fada. Maria da Piedade não dizia nada, achando extraordinária aquela admiração pelo moinho abandonado do tio Costa. Como ela vinha um pouco cansada, sentaram-se numa escada desconjuntada de pedra, que mergulhava na água da represa os últimos degraus: e ali ficaram um momento calados, no encanto daquela frescura murmurosa, ouvindo as aves piarem nas ramas. Adrião via-a de perfil, um pouco curvada, esburacando com a ponteira do guardasol as ervas bravas que invadiam os degraus: era deliciosa assim, tão branca, tão loura, duma linha tão pura, sobre o fundo azul do ar: o seu chapéu era de mau gosto, o seu mantelete antiquado, mas ele achava nisso mesmo uma ingenuidade picante. O silêncio dos campos em redor isolava-os – e, insensivelmente, ele começou a falar-lhe baixo. Era ainda a mesma compaixão pela melancolia da sua existência naquela triste vila, pelo seu destino de enfermeira... Ela escutava-o de olhos baixos, pasmada de se achar ali tão só com aquele homem tão robusto, toda receosa e achando um sabor delicioso ao seu receio... Houve um momento em que ele falou do encanto de ficar ali para sempre na vila. _ Ficar aqui? Para quê? – perguntou ela, sorrindo. _ Para quê? para isto, para estar sempre ao pé de si... Ela cobriu-se de um rubor, o guarda-solinho escapou-lhe das mãos. Adrião receou tê-la ofendido, e acrescentou logo rindo: _ Pois não era delicioso?... Eu podia alugar este moinho, fazer-me moleiro... A prima havia de me dar a sua freguesia... Isto fê-la rir; era mais linda quando ria: tudo brilhava nela, os dentes, a pele, a cor do cabelo. Ele continuou gracejando, com o seu plano de se fazer moleiro, e de ir pela estrada tocando o burro, carregado de sacas de farinha. _ E eu venho ajudá-lo, primo! – disse ela, animada pelo seu próprio riso, pela alegria daquele homem a seu lado. _Vem? – exclamou ele. – Juro-lhe que me faço moleiro! Que paraíso, nós aqui ambos no moinho, ganhando alegremente a nossa vida, e ouvindo cantar esses melros! Ela corou outra vez do fervor da sua voz, e recuou como se ele fosse já arrebatá-la para o moinho. Mas Adrião agora, inflamado àquela idéia, pintava-lhe na sua palavra colorida toda uma vida romanesca, de uma felicidade 42 idílica, naquele esconderijo de verdura: de manhã, a pé cedo, para o trabalho; depois o jantar na relva à beira da água; e à noite as boas palestras ali sentados, à claridade das estrelas ou sob a sombra cálida dos céus negros de verão... E de repente, sem que ela resistisse, prendeu-a nos braços, e beijou-a sobre os lábios, dum só beijo profundo e interminável. Ela tinha ficado contra o seu peito, branca, como morta: e duas lágrimas corriam-lhe ao comprido da face. Era assim tão dolorosa e fraca, que ele soltou-a; ela ergueu-se, apanhou o guarda-solinho e ficou diante dele, com o beicinho a tremer, murmurando: _ É malfeito... É malfeito... Ele mesmo estava tão perturbado – que a deixou descer para o caminho: e daí a um momento, seguiam ambos calados para a vila. Foi só na estalagem que ele pensou: _ Fui um tolo! Mas no fundo estava contente da sua generosidade. À noite foi à casa dela: encontrou-a com o pequerrucho no colo, lavando-lhe em água de malva as feridas que ele tinha na perna. E então, pareceu-lhe odioso distrair aquela mulher dos seus doentes. De resto um momento como aquele no moinho não voltaria. Seria absurdo ficar ali, naquele canto odioso da província, desmoralizando, a frio, uma boa mãe... A venda da fazenda estava concluída. Por isso, no dia seguinte, apareceu de tarde, a dizer-lhe adeus: partia à noitinha na diligência: encontrou-a na sala, à janela costumada, com a pequenada doente aninhada contra as suas saias... Ouviu que ele partia, sem lhe mudar a cor, sem lhe arfar o peito. Mas Adrião achou-lhe a palma da mão tão fria como um mármore: e quando ele saiu, Maria da Piedade ficou voltada para a janela escondendo a face dos pequenos, olhando abstratamente a paisagem que escurecia, com as lágrimas, quatro a quatro, caindo-lhe na costura... Amava-o. Desde os primeiros dias, a sua figura resoluta e forte, os seus olhos luzidios, toda a virilidade da sua pessoa, se lhe tinham apossado da imaginação. O que a encantava nele não era o seu talento, nem a sua celebridade em Lisboa, nem as mulheres que o tinham amado: isso para ela aparecia-lhe vago e pouco compreensível: o que a fascinava era aquela seriedade, aquele ar honesto e são, aquela robustez de vida, aquela voz tão grave e tão rica; e antevia, para além da sua existência ligada a um inválido, outras existências possíveis, em que se não vê sempre diante dos olhos uma face fraca e moribunda, em que as noites se não passam a esperar as horas dos remédios. Era como uma rajada de ar impregnado de todas as forças vivas da natureza que atravessava, subitamente, a sua alcova abafada: e ela respirava-a deliciosamente... Depois, tinha ouvido aquelas conversas em que ele se mostrava tão bom, tão sério, tão delicado: e à força do seu corpo, que admirava, juntava-se agora um coração terno, duma ternura varonil e forte, para a cativar... Esse amor latente invadiu-a, apoderou-se dela uma noite que lhe apareceu esta idéia, esta visão: – Se ele fosse meu marido! Toda ela estremeceu, apertou desesperadamente os braços contra o peito, como confundindo-se com a sua imagem evocada, prendendo-se a ela, refugiando-se na sua força... Depois ele deulhe aquele beijo no moinho. E partira! Então começou para Maria da Piedade uma existência de abandonada. Tudo de repente em volta dela – a doença do marido, achaques dos filhos, tristezas do seu dia, a sua costura – lhe pareceu lúgubre. Os seus deveres, agora que não punha neles toda a sua alma, eram-lhe pesados como fardos injustos. A sua vida representava-se-lhe como desgraça excepcional: não se revoltava ainda: mas tinha desses abatimentos, dessas súbitas fadigas de todo o seu ser, em que caía sobre a cadeira, com os braços pendentes, murmurando: _ Quando se acabará isto? Refugiava-se então naquele amor como uma compensação deliciosa. Julgando-o todo puro, todo de alma, deixava-se penetrar dele e da sua lenta influência. Adrião tornara-se, na sua imaginação, como um ser de proporções extraordinárias, tudo o que é forte, e que é belo, e que dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou vinha dele lhe fosse alheio. Leu todos os seus livros, sobretudo aquela Madalena que também amara, e morrera dum abandono. Essas leituras calmavam-na, davam-lhe como uma vaga satisfação ao desejo. Chorando as dores das heroínas de romance, parecia sentir alívio às suas. Lentamente, essa necessidade de encher a imaginação desses lances de amor, de dramas infelizes, apoderou-se dela. Foi durante meses um devorar constante de romances. Ia-se assim criando no seu espírito um mundo artificial e idealizado. A realidade tornava-se-lhe odiosa, sobretudo sob aquele aspecto da sua casa, onde encontrava sempre agarrado às saias um ser enfermo. Vieram as primeiras revoltas. Tornou-se impaciente e áspera. Não suportava ser arrancada aos episódios sentimentais do seu livro, para ir ajudar a voltar o marido e sentir-lhe o hálito mau. Veio-lhe o nojo das garrafadas, dos emplastros, das feridas dos pequenos a lavar. Começou a ler versos. Passava horas só, num mutismo, à janela, tendo sob o seu olhar de virgem loura toda a rebelião duma apaixonada. Acreditava nos amantes que escalam os balcões, entre o canto dos rouxinóis: e queria ser amada assim, possuída num mistério de noite romântica... O seu amor desprendeu-se pouco a pouco da imagem de Adrião e alargou-se, estendeu-se a um ser vago que era feito de tudo o que a encantara nos heróis de novela; era um ente meio príncipe e meio facínora, que tinha, sobretudo, a força. Porque era isto que admirava, que queria, por que ansiava nas noites cálidas em que não podia dormir – dois braços fortes como aço, que a apertassem num abraço mortal, dois lábios de fogo que, num beijo, lhe chupassem a alma. Estava uma histérica. Às vezes, ao pé do leito do marido, vendo diante de si aquele corpo de tísico, numa imobilidade de entrevado, vinha-lhe um ódio torpe, um desejo de lhe apressar a morte... E no meio desta excitação mórbida do temperamento irritado, eram fraquezas súbitas, sustos de ave que pousa, um grito ao ouvir bater uma porta, uma palidez de desmaio se havia na sala flores muito cheirosas... À noite abafava; abria a janela; mas o cálido ar, o bafo morno da terra aquecida do sol, enchiam-na dum desejo intenso, duma ânsia voluptuosa, cortada de crises de choro. 43 A Santa tornava-se Vênus. E o romanticismo mórbido tinha penetrado naquele ser, e desmoralizara-o tão profundamente, que chegou ao momento em que bastaria que um homem lhe tocasse, para ela lhe cair nos braços: – e foi o que sucedeu enfim, com o primeiro que a namorou, daí a dois anos. Era o praticante da botica. Por causa dele escandalizou toda a vila. E agora, deixa a casa numa desordem, os filhos sujos e ramelosos, em farrapos, sem comer até altas horas, o marido a gemer abandonado na sua alcova, toda a trapagem dos emplastros por cima das cadeiras, tudo num desamparo torpe – para andar atrás do homem, um maganão odioso e sebento, de cara balofa e gordalhufa, luneta preta com grossa fita passada atrás da orelha e bonezinho de seda posto à catita. Vem de noite às entrevistas de chinelo de ourelo: cheira a suor: e pede-lhe dinheiro emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam na vila a bola de unto. (QUEIRÓS, Eça de . “No moinho” in: Contos. Pp. 29-36. Portal Aprende Brasil. http://www.educacional.com.br/classicos/obras/eca_de_queiros_contos.pdf) CIVILIZAÇÃO (Eça de Queirós) I Eu possuo preciosamente um amigo (o seu nome é Jacinto) que nasceu num palácio, com quarenta contos de renda em pingues terras de pão, azeite e gado. Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e crédula de Trás-os-Montes, espalhava, para reter as Fadas Benéficas, funcho e âmbar, Jacinto fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Um lindo rio, murmuroso e transparente, com um leito muito liso de areia muito branca, refletindo apenas pedaços lustrosos de um céu de verão ou ramagens sempre verdes e de bom aroma, não ofereceria, àquele que o descesse numa barca cheia de almofadas e de champanhe gelado, mais doçura e facilidades do que a vida oferecia ao meu camarada Jacinto. Não teve sarampo e não teve lombrigas. Nunca padeceu, mesmo na idade em que se lê Balzac e Musset, os tormentos da sensibilidade. Nas suas amizades foi sempre tão feliz como o clássico Orestes. Do Amor só experimentara o mel – esse mel que o amor invariavelmente concede a quem o pratica, como as abelhas, com ligeireza e mobilidade. Ambição, sentira somente a de compreender bem as ideias gerais, e a “ponta do seu intelecto” (como diz o velho cronista medieval) não estava ainda romba nem ferrugenta... E todavia, desde os vinte e oito anos, Jacinto já se vinha repastando de Schopenhauer, do Eclesiastes, de outros pessimistas menores, e três, quatro vezes por dia, bocejava, com um bocejo cavo e lento, passando os dedos finos sobre as faces, como se nelas só palpasse palidez e ruína. Por quê? Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado – ou antes aquele que se munira da mais vasta soma de civilização material, ornamental e intelectual. Nesse palácio (floridamente chamado o Jasmineiro) que seu pai, também Jacinto, construíra sobre uma honesta casa do século XVII, assoalhada a pinho e branqueada a cal – existia, creio eu, tudo quanto para bem do espírito ou da matéria os homens têm criado, através da incerteza e dor, desde que abandonaram o vale feliz de Septa-Sindu, a Terra das Águas Fáceis, o doce país ariano. A biblioteca, que em duas salas, amplas e claras como praças, forrava as paredes, inteiramente, desde os tapetes de Caramânia até ao teto de onde, alternadamente, através de cristais, o sol e a eletricidade vertiam uma luz estudiosa e calma – continha vinte e cinco mil volumes, instalados em ébano, magnificamente revestidos de marroquim escarlate. Só sistemas filosóficos (e com justa prudência, para poupar espaço, o bibliotecário apenas colecionara os que irreconciliavelmente se contradizem) havia mil oitocentos e dezessete! Uma tarde que eu desejava copiar um ditame de Adam Smith, percorri, buscando este economista ao longo das estantes, oito metros de economia política! Assim se achava formidavelmente abastecido o meu amigo Jacinto de todas as obras essenciais da inteligência – e mesmo da estupidez. E o único inconveniente desse monumental armazém do saber era que todo aquele que lá penetrava, inevitavelmente lá adormecia, por causa das poltronas, que, providas de finas pranchas móveis para sustentar o livro, o charuto, o lápis das notas, a taça de café, ofereciam ainda uma combinação oscilante e flácida de almofadas, onde o corpo encontrava logo, para mal do espírito, a doçura, a profundidade e a paz estirada dum leito. Ao fundo, e como um altar-mor, era o gabinete de trabalho de Jacinto. A sua cadeira, grave e abacial, de couro, com brasões, datava do século XIV, e em torno dela pendiam numerosos tubos acústicos, que, sobre os panejamentos de seda cor de musgo e cor de hera, pareciam serpentes adormecidas e suspensas num velho muro de quinta. Nunca recordo sem assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e sutis instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar lápis, raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, carimbar contas! Uns de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento: alguns, com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e feriam: e nas largas folhas de papel Whatman em que ele escrevia, e que custavam 500 réis, eu por vezes surpreendi gotas de sangue do meu amigo. Mas a todos ele considerava indispensáveis para compor as suas cartas (Jacinto não compunha obras), assim como os trinta e cinco dicionários, e os manuais, e as enciclopédias, e os guias, e os diretórios, atulhando uma estante isolada, esguia, em forma de torre, que silenciosamente girava sobre o seu pedestal, e que eu denominara o Farol. O que, porém, mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso caráter de civilização eram, sobre as suas peanhas de carvalho, os grandes aparelhos, facilitadores do pensamento, – a máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo 44 Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros ainda, todos com metais luzidios, todos com longos fios. Constantemente sons curtos e secos retiniam no ar morno daquele santuário. Tique, tique, tique! Dlim, dlim, dlim! Craque, craque, craque! Trrre, trrre, trrre!... Era o meu amigo comunicando. Todos esses fios mergulhados em forças universais transmitiam forças universais. E elas nem sempre, desgraçadamente, se conservavam domadas e disciplinadas! Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade: _“Maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século?” Pois, numa doce noite de S. João, o meu supercivilizado amigo, desejando que umas senhoras parentas de Pinto Porto (as amáveis Gouveias) admirassem o fonógrafo, fez romper do bocarrão do aparelho, que parece uma trompa, a conhecida voz rotunda e oracular: _ Quem não admirará os progressos deste século? Mas, inábil ou brusco, certamente desconcertou alguma mola vital – porque de repente o fonógrafo começa a redizer, sem descontinuação, interminavelmente, com uma sonoridade cada vez mais rotunda, a sentença do conselheiro: _ Quem não admirará os progressos deste século? Debalde Jacinto, pálido, com os dedos trêmulos, torturava o aparelho. A exclamação recomeçava, rolava, oracular e majestosa: _Quem não admirará os progressos deste século? Enervados, retiramos para uma sala distante, pesadamente revestida de panos de Arrás. Em vão! A voz de Pinto Porto lá estava, entre os panos de Arras, implacável e rotunda: _ Quem não admirará os progressos deste século? Furiosos, enterramos uma almofada na boca do fonógrafo, atiramos por cima mantas, cobertores espessos, para sufocar a voz abominável. Em vão! sob a mordaça, sob as grossas lãs, a voz rouquejava, surda mas oracular: _ Quem não admirará os progressos deste século? As amáveis Gouveias tinham abalado, apertando desesperadamente os xales sobre a cabeça. Mesmo à cozinha, onde nos refugiamos, a voz descia, engasgada e gosmosa: _ Quem não admirará os progressos deste século? Fugimos espavoridos para a rua. Era de madrugada. Um fresco bando de raparigas, de volta das fontes, passava cantando com braçados de flores: Todas as ervas são bentas Em manhã de S. João... Jacinto, respirando o ar matinal, limpava as bagas lentas do suor. Recolhemos ao Jasmineiro, com o sol já alto, já quente. Muito de manso abrimos as portas, como no receio de despertar alguém. Horror! Logo da antecâmara percebemos sons estrangulados, roufenhos: “admirará... progressos... século!...” Só de tarde um eletricista pôde emudecer aquele fonógrafo horrendo. Bem mais aprazível (para mim) do que esse gabinete temerosamente atulhado de civilização – era a sala de jantar, pelo seu arranjo compreensível, fácil e íntimo. À mesa só cabiam seis amigos que Jacinto escolhia com critério na literatura, na arte e na metafísica, e que, entre as tapeçarias de Arras, representando colinas, pomares e portos da Ática, cheias de classicismo e de luz, renovavam ali repetidamente banquetes que, pela sua intelectualidade, lembravam os de Platão. Cada garfada se cruzava com um pensamento ou com palavras destramente arranjadas em forma de pensamento. E a cada talher correspondiam seis garfos, todos de feitios dessemelhantes e astuciosos: – um para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para a fruta, outro para o queijo. Os copos, pela diversidade dos contornos e das cores, faziam, sobre a toalha mais reluzente que esmalte, como ramalhetes silvestres espalhados por cima de neve. Mas Jacinto e os seus filósofos, lembrando o que o experiente Salomão ensina sobre as ruínas e amarguras do vinho, bebiam apenas em três gotas de água uma gota de Bordéus (Chateaubriand, 1860). Assim o recomendam – Hesíodo no seu Nereu, e Díocles nas suas Abelhas. E de águas havia sempre no Jasmineiro um luxo redundante – águas geladas, águas carbonatadas, águas esterilizadas, águas gasosas, águas de sais, águas minerais, outras ainda, em garrafas sérias, com tratados terapêuticos impressos no rótulo... O cozinheiro, mestre Sardão, era daqueles que Anaxágoras equiparava aos Retóricos, aos Oradores, a todos os que sabem a arte divina de “temperar e servir a Idéia”: e em Síbaris, cidade do Viver Excelente, os magistrados teriam votado a mestre Sardão, pelas festas de Juno Lacínia, a coroa de folhas de ouro e a túnica milésia que se devia aos benfeitores cívicos. A sua sopa de alcachofras e ovas de carpa; os seus filetes de veado macerados em velho Madeira com purê de nozes; as suas amoras geladas em éter, outros acepipes ainda, numerosos e profundos (e os únicos que tolerava o meu Jacinto) eram obras de um artista, superior pela abundância das ideias novas – e juntavam sempre a raridade do sabor à magnificência da forma. Tal prato desse mestre incomparável parecia, pela ornamentação, pela graça florida dos lavores, pelo arranjo dos coloridos frescos e cantantes, uma jóia esmaltada do cinzel de Cellini ou Meurice. Quantas tardes eu desejei fotografar aquelas composições de excelente fantasia, antes que o trinchante as retalhasse! E essa superfinidade do comer condizia deliciosamente com a do servir. Por sobre um tapete, mais fofo e mole que o musgo da floresta da Brocelianda, deslizavam, como sombras fardadas de branco, cinco criados e um pajem preto, à maneira viscosa do século XVIII. As travessas (de prata) subiam da cozinha e da copa por dois 45 ascensores, um para as iguarias quentes, forrado de tubos onde a água fervia; outro, mais lento, para as iguarias frias, forrado de zinco, amônia e sal, e ambos escondidos por flores tão densas e viçosas, que era como se até a sopa saísse fumegando dos românticos jardins de Armida. E muito bem me lembro de um domingo de maio em que, jantando com Jacinto um bispo, o erudito bispo de Chorazin, o peixe emperrou no meio do ascensor, sendo necessário que acudissem, para o extrair, pedreiros com alavancas. II NAS tardes em que havia “banquete de Platão” (que assim denominávamos essas festas de trufas e ideias gerais), eu, vizinho e íntimo, aparecia ao declinar do sol e subia familiarmente aos quartos do nosso Jacinto – onde o encontrava sempre incerto entre as suas casacas, porque as usava alternadamente de seda, de pano, de flanelas Jaegher, e de foulard das Índias. O quarto respirava o frescor e aroma do jardim por duas vastas janelas, providas magnìficamente (além das cortinas de seda mole Luís XV) de uma vidraça exterior de cristal inteiro, duma vidraça interior de cristais miúdos, dum toldo rolando na cimalha, dum estore de sedinha frouxa, de gazes que franziam e se enrolavam como nuvens e duma gelosia móvel de gradaria mourisca. Todos estes resguardos (sábia invenção de Holland & C.ª, de Londres) serviam a graduar a luz e o ar – segundo os avisos de termômetros, barômetros e higrômetros, montados em ébano, e a que um meteorologista (Cunha Guedes) vinha, todas as semanas, verificar a precisão. Entre estas duas varandas rebrilhava a mesa de toilette, uma mesa enorme de vidro, toda de vidro, para a tornar impenetrável aos micróbios, e coberta de todos esses utensílios de asseio e alinho que o homem do século XIX necessita numa capital, para não desfear o conjunto suntuário da civilização. Quando o nosso Jacinto, arrastando as suas engenhosas chinelas de pelica e seda, se acercava desta ara – eu, bem aconchegado num divã, abria com indolência uma revista, ordinariamente a Revista Electropática, ou a das Indagações Psíquicas. E Jacinto começava... Cada um desses utensílios de aço, de marfim, de prata, impunham ao meu amigo, pela influência onipoderosa que as coisas exercem sobre o dono (sunt tyranniae rerum), o dever de o utilizar com aptidão e deferência. E assim as operações do alindamento de Jacinto apresentavam a prolixidade, reverente e insuprimível, dos ritos dum sacrifício. Começava pelo cabelo... Com uma escova chata, redonda e dura, acamava o cabelo, corredio e louro, no alto, aos lados da risca; com uma escova estreita e recurva, à maneira do alfange dum persa, ondeava o cabelo sobre a orelha; com uma escova côncava, em forma de telha, empastava o cabelo, por trás, sobre a nuca... Respirava e sorria. Depois, com uma escova de longas cerdas, fixava o bigode; com uma escova leve e flácida acurvava as sobrancelhas; com uma escova feita de penugem regularizava as pestanas. E deste modo Jacinto ficava diante do espelho, passando pêlos sobre o seu pêlo, durante catorze minutos. Penteado e cansado, ia purificar as mãos. Dois criados, ao fundo, manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório – que era apenas um resumo dos maquinismos monumentais da sala de banho. Ali, sobre o mármore verde e róseo do lavatório, havia apenas duas duches (quente e fria) para a cabeça; quatro jatos, graduados desde zero até cem graus; o vaporizador de perfumes; o repuxo para a barba; e ainda torneiras que rebrilhavam e botões de ébano que, de leve roçados, desencadeavam o marulho e o estridor de torrentes nos Alpes... Nunca eu, para molhar os dedos, me cheguei àquele lavatório sem terror – escarmentado da tarde amarga de janeiro em que bruscamente, dessoldada a torneira, o jato de água a cem graus rebentou, silvando e fumegando, furioso, devastador... Fugimos todos, espavoridos. Um clamor atroou o Jasmineiro. O velho Grilo, escudeiro que fora do Jacinto pai, ficou coberto de ampolas na face, nas mãos fiéis. Quando Jacinto acabava de se enxugar laboriosamente a toalhas de felpo, de linho, de corda entrançada (para restabelecer a circulação), de seda frouxa (para lustrar a pele), bocejava, com um bocejo cavo e lento. E era este bocejo, perpétuo e vago, que nos inquietava a nós, seus amigos e filósofos. Que faltava a este homem excelente? Ele tinha a sua inabalável saúde de pinheiro bravo, crescido nas dunas; uma luz da inteligência, própria a tudo alumiar, firme e clara, sem tremor ou morrão; quarenta magníficos contos de renda; todas as simpatias duma cidade chasqueadora e céptica; uma vida varrida de sombras, mais liberta e lisa do que um céu de verão... E todavia bocejava constantemente, palpava na face, com os dedos finos, a palidez e as rugas. Aos trinta anos Jacinto corcovava, como sob um fardo injusto! E pela morosidade desconsolada de toda a sua ação parecia ligado, desde os dedos até à vontade, pelas malhas apertadas duma rede que se não via e que o travava. Era doloroso testemunhar o fastio com que ele, para apontar um endereço, tomava o seu lápis pneumático, a sua pena elétrica – ou, para avisar o cocheiro, apanhava o tubo telefônico!... Neste mover lento do braço magro, nos vincos que lhe arrepanhavam o nariz, mesmo nos seus silêncios, longos e derreados, se sentia o brado constante que lhe ia na alma: – Que maçada! Que maçada! Claramente a vida era para Jacinto um cansaço – ou por laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por isso o meu pobre amigo procurava constantemente juntar à sua vida novos interesses, novas facilidades. Dois inventores, homens de muito zelo e pesquisa, estavam encarregados, um em Inglaterra, outro na América, de lhe noticiar e de lhe fornecer todas as invenções, as mais miúdas, que concorressem a aperfeiçoar a confortabilidade do Jasmineiro. De resto, ele próprio se correspondia com Edison. E, pelo lado do pensamento, Jacinto não cessava também de buscar interesses e emoções que o reconciliassem com a vida – penetrando à cata dessas emoções e desses interesses pelas veredas mais desviadas do saber, a ponto de devorar, desde janeiro a março, setenta e sete volumes sobre a evolução das idéias morais entre as raças negróides. Ah! nunca homem deste século batalhou mais esforçadamente contra a seca de viver! Debalde! Mesmo de explorações tão cativantes como essa, através da moral dos negróides, Jacinto regressava mais murcho, com bocejos mais cavos! 46 E era então que ele se refugiava intensamente na leitura de Schopenhauer e do Ecclesiastes. Por quê? Sem dúvida porque ambos esses pessimistas o confirmavam nas conclusões que ele tirava de uma experiência paciente e rigorosa: “que tudo é vaidade ou dor, que, quanto mais se sabe, mais se pena e que ter sido rei de Jerusalém e obtido os gozos todos na vida só leva a maior amargura...” Mas por que rolara assim a tão escura desilusão? O velho escudeiro Grilo pretendia que “Sua Ex.ª sofria de fartura!” III ORA justamente depois desse Inverno, em que ele se embrenhara na moral dos negróides e instalara a luz elétrica entre os arvoredos do jardim, sucedeu que Jacinto teve a necessidade moral iniludível de partir para o Norte, para o seu velho solar de Torges. Jacinto não conhecia Torges, e foi com desusado tédio que ele se preparou, durante sete semanas, para essa jornada agreste. A quinta fica nas serras – e a rude casa solarenga, onde ainda resta uma torre do século XV, estava ocupada, havia trinta anos, pelos caseiros, boa gente de trabalho, que comia o seu caldo entre a fumaraça da lareira, e estendia o trigo a secar nas salas senhoriais. Jacinto, logo nos começos de março, escrevera cuidadosamente ao seu procurador Sousa, que habitava a aldeia de Torges, ordenando-lhe que compusesse os telhados, caiasse os muros, envidraçasse as janelas. Depois mandou expedir, por comboios rápidos, em caixotes que transpunham a custo os portões do Jarmineiro, todos os confortos necessários a duas semanas de montanha – camas de penas, poltronas, divãs, lâmpadas de Carcel, banheiras de níquel, tubos acústicos para chamar os escudeiros, tapetes persas para amaciar os soalhos. Um dos cocheiros partiu com um cupê, uma vitória, um breque, mulas e guizos. Depois foi o cozinheiro, com a bateria, a garrafeira, a geleira, bocais de trufas, caixas profundas de águas minerais. Desde o amanhecer, nos pátios largos do palacete, se pregava, se martelava, como na construção de uma cidade. E as bagagens, desfilando, lembravam uma página de Heródoto ao narrar a invasão persa. Jacinto emagrecera com os cuidados daquele Êxodo. Por fim, largamos numa manhã de junho, com o Grilo e trinta e sete malas. Eu acompanhava Jacinto, no meu caminho para Guilães, onde vive minha tia, a uma légua farta de Torges: e íamos num vagão reservado, entre vastas almofadas, com perdizes e champanhe num cesto. A meio da jornada devíamos mudar de comboio – nessa estação, que tem um nome sonoro em ola e um tão suave e cândido jardim de roseiras brancas. Era domingo de imensa poeira e sol – e encontramos aí, enchendo a plataforma estreita, todo um povaréu festivo que vinha da romaria de S. Gregório da Serra. Para aquele trasbordo, em tarde de arraial, o horário só nos concedia três minutos avaros. O outro comboio já esperava, rente aos alpendres, impaciente e silvando. Uma sineta badalava com furor. E, sem mesmo atender às lindas moças que ali saracoteavam, aos bandos, afogueadas, de lenços flamejantes, o seio farto coberto de ouro, e a imagem do santo espetada no chapéu – corremos, empurramos, furamos, saltamos para o outro vagão, já reservado, marcado por um cartão com as iniciais de Jacinto. Imediatamente o trem rolou. Pensei então no nosso Grilo, nas trinta e sete malas! E debruçado da portinhola avistei ainda junto ao cunhal da estação, sob os eucaliptos, um monte de bagagens, e homens de boné agaloado que, diante delas, bracejavam com desespero. Murmurei, recaindo nas almofadas: _Que serviço! Jacinto, ao canto, sem descerrar os olhos, suspirou: _Que maçada! Toda uma hora deslizamos lentamente entre trigais e vinhedo; e ainda o sol batia nas vidraças, quente e poeirento, quando chegamos à estação de Gondim, onde o procurador de Jacinto, o excelente Sousa, nos devia esperar com cavalos para treparmos a serra até ao solar de Torges. Por trás do jardim da estação, todo florido também de rosas e margaridas, Jacinto reconheceu logo as suas carruagens ainda empacotadas em lona. Mas quando nos apeamos no pequeno cais branco e fresco – só houve em torno de nós solidão e silêncio... Nem procurador, nem cavalos! O chefe da estação, a quem eu perguntara com ansiedade “se não aparecera ali o sr. Sousa, se não conhecia o sr. Sousa”, tirou afavelmente o seu boné de galão. Era um moço gordo e redondo, com cores de maçã-camoesa, que trazia sob o braço um volume de versos. “Conhecia perfeitamente o sr. Sousa! Três semanas antes jogara ele a manilha com o sr. Sousa! Nessa tarde, porém, infelizmente, não avistara o sr. Sousa!” O comboio desaparecera por detrás das fragas altas que ali pendem sobre o rio. Um carregador enrolava o cigarro, assobiando. Rente da grade do jardim, uma velha, toda de negro, dormitava agachada no chão, diante duma cesta de ovos. E o nosso Grilo, e as nossas bagagens!... O chefe encolheu risonhamente os ombros nédios. Todos os nossos bens tinham encalhado, decerto, naquela estação de roseiras brancas que tem um nome sonoro em ola. E nós ali estávamos, perdidos na serra agreste, sem procurador, sem cavalos, sem Grilo, sem malas. Para que esfiar miudamente o lance lamentável? Ao pé da estação, numa quebrada da serra, havia um casal foreiro à quinta, onde alcançamos para nos levarem e nos guiarem a Torges, uma égua lazarenta, um jumento branco, um rapaz e um podengo. E aí começamos a trepar, enfastiadamente, esses caminhos agrestes – os mesmos, decerto, por onde vinham e iam, de monte a rio, os Jacintos do século XV. Mas, passada uma trêmula ponte de pau que galga um ribeiro todo quebrado por fragas (e onde abunda a truta adorável), os nossos males esqueceram, ante a inesperada, incomparável beleza daquela serra bendita. O divino artista que está nos Céus compusera, certamente, esse monte numa das suas manhãs de mais solene e bucólica inspiração. 47 A grandeza era tanta como a graça... Dizer os vales fofos de verdura, os bosques quase sacros, os pomares cheirosos e em flor, a frescura das águas cantantes, as ermidinhas branqueando nos altos, as rochas musgosas, o ar de uma doçura de paraíso, toda a majestade e toda a lindeza – não é para mim, homem de pequena arte. Nem creio mesmo que fosse para mestre Horácio. Quem pode dizer a beleza das coisas, tão simples e inexprimível? Jacinto adiante, na égua tarda, murmurava: _Ah! que beleza! Eu atrás, no burro, com as pernas bambas, murmurava: _Ah! que beleza! Os espertos regatos riam, saltando de rocha em rocha. Finos ramos de arbustos floridos roçavam as nossas faces, com familiaridade e carinho. Muito tempo um melro nos seguiu, de choupo a castanheiro, assobiando os nossos louvores. Serra bem acolhedora e amável... Ah! que beleza! Por entre ahs maravilhados chegamos a uma avenida de faias, que nos pareceu clássica e nobre. Atirando uma nova vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz, com o seu podengo ao lado, gritava: _ Aqui é que estêmos! E ao fundo das faias havia, com efeito, um portão de quinta, que um escudo de armas de velha pedra, roída de musgo, grandemente afidalgava. Dentro já os cães ladravam com furor. E mal Jacinto, e eu atrás dele no burro de Sancho, transpusemos o limiar solarengo, correu para nós, do alto da escadaria, um homem branco, rapado como um clérigo, sem colete, sem jaleca, que erguia para o ar, num assombro, os braços desolados. Era o caseiro, o Zé Brás. E logo ali, nas pedras do pátio, entre o latir dos cães, surdiu uma tumultuosa história, que o pobre Brás balbuciava, aturdido, e que enchia a face de Jacinto de lividez e cólera.O caseiro não esperava S. Ex.ª. Ninguém esperava S. Ex.ª. (Ele dizia sua inselência). O procurador, o sr. Sousa, estava para a raia desde maio, a tratar a mãe que levara um coice de mula. E decerto houvera engano, cartas perdidas... Porque o sr. Sousa só contava com S. Ex.ª em setembro, para a vindima. Na casa nenhuma obra começara. E, infelizmente para S. Ex.ª, os telhados ainda estavam sem telhas, e as janelas sem vidraças... Cruzei os braços, num justo espanto. Mas os caixotes – esses caixotes remetidos para Torges, com tanta prudência, em abril, repletos de colchões, de regalos, de civilização!... O caseiro, vago, sem compreender, arregalava os olhos miúdos onde já bailavam lágrimas. Os caixotes?! Nada chegara, nada aparecera. E na sua perturbação o Zé Brás procurava entre as arcadas do pátio, nas algibeiras das pantalonas... Os caixotes? Não, não tinha os caixotes? Foi então que o cocheiro de Jacinto (que trouxera os cavalos e as carruagens) se acercou, gravemente. Esse era um civilizado – e acusou logo o governo. Já quando ele servia o sr. Visconde de S. Francisco se tinham assim perdido, por desleixo do governo, da cidade para a serra, dois caixotes com vinho velho da Madeira e roupa branca de senhora. Por isso ele, escarmentado, sem confiança na Nação, não largara as carruagens – e era tudo o que restava a S. Ex.ª: o breque, a vitória, o cupé e os guizos. Somente, naquela rude montanha, não havia estradas onde elas rolassem. E como só podiam subir para a quinta em grandes carros de bois – ele lá as deixara embaixo, na estação, quietas, empacotadas na lona... Jacinto ficara plantado diante de mim, com as mãos nos bolsos: _ E agora? Nada restava senão recolher, cear o caldo do tio Zé Brás e dormir nas palhas que os fados nos concedessem. Subimos. A escadaria nobre conduzia a uma varanda, toda coberta, em alpendre, acompanhando a fachada do casarão e ornada, entre os seus grossos pilares de granito, por caixotes cheios de terra, em que floriam cravos. Colhi um cravo. Entramos. E o meu pobre Jacinto contemplou, enfim, as salas do seu solar! Eram enormes, com as altas paredes rebocadas a cal que o tempo e o abandono tinham enegrecido, e vazias, desoladamente nuas, oferecendo apenas como vestígio de habitação e de vida, pelos cantos, algum monte de cestos ou algum molho de enxadas. Nos tetos remotos de carvalho negro alvejavam manchas – que era o céu já pálido do fim da tarde, surpreendido através dos buracos do telhado. Não restava uma vidraça. Por vezes, sob os nossos passos, uma tábua podre rangia e cedia. Paramos, enfim, na última, a mais vasta, onde havia duas arcas tulheiras para guardar o grão; e aí depusemos, melancolicamente, o que nos ficara de trinta e sete malas – os paletós alvadios, uma bengala e um Jornal da Tarde. Através das janelas desvidraçadas, por onde se avistavam copas de arvoredos e as serras azuis de além-rio, o ar entrava, montesino e largo, circulando plenamente como em um eirado, com aromas de pinheiro bravo. E, lá debaixo, dos vales, subia, desgarrada e triste, uma voz de pegureira cantando. Jacinto balbuciou: _É horroroso! Eu murmurei: _É campestre! IV O ZÉ BRÁS, no entanto, com as mãos na cabeça, desaparecera a ordenar a ceia para suas inselências. O pobre Jacinto, esbarrondado pelo desastre, sem resistência contra aquele brusco desaparecimento de toda a civilização, caíra pesadamente sobre o poial duma janela, e dali olhava os montes. E eu, a quem aqueles ares serranos e o jantar do pegureiro sabiam bem, terminei por descer à cozinha, conduzido pelo cocheiro, através das escadas e becos, onde a escuridão vinha menos do crepúsculo do que de densas teias de aranha. 48 A cozinha era uma espessa massa de tons e formas negras, cor de fuligem, onde refulgia ao fundo, sobre o chão de terra, uma fogueira vermelha que lambia grossas panelas de ferro, e se perdia em fumarada pela grade escassa que no alto coava a luz. Aí um bando alvoroçado e palreiro de mulheres depenava frangos, batia ovos, escarolava arroz, com santo fervor... Do meio delas o bom caseiro, estonteado, investiu para mim jurando que “a ceia de suas inselências não demorava um credo”. E como eu o interrogava a respeito de camas, o digno Brás teve um murmúrio vago e tímido sobre “enxergazinhas no chão”. _ É o que basta, sr. Zé Brás – acudi eu para o consolar. _Pois assim Deus seja servido! – suspirou o homem excelente, que atravessava, nessa hora, o transe mais amargo da sua vida serrana. Voltando acima, com estas consolantes novas de ceia e cama, encontrei ainda o meu Jacinto no poial da janela, embebendo-se todo da doce paz crepuscular, que lenta e caladamente se estabelecia sobre vela e monte. No alto já tremeluzia uma estrela, a Vésper diamantina, que é tudo o que neste céu cristão resta do esplendor corporal de Vênus! Jacinto nunca considerara bem aquela estrela – nem assistira a este majestoso e doce adormecer das coisas. Esse enegrecimento de montes e arvoredos, casais claros fundindo-se na sombra, um toque dormente de sino que vinha pelas quebradas, o cochilar das águas entre relvas baixas – eram para ele como iniciações. Eu estava defronte, no outro poial. E senti-o suspirar como um homem que enfim descansa. Assim nos encontrou nesta contemplação o Zé Brás, com o doce aviso de que estava na mesa a ceiazinha. Era adiante, noutra sala mais nua, mais negra. E aí, o meu supercivilizado Jacinto recuou com um pavor genuíno. Na mesa de pinho, recoberta com uma toalha de mãos, encostada à parede sórdida, uma vela de sebo meio derretida num castiçal de latão alumiava dois pratos de louça amarela, ladeados por colheres de pau e por garfos de ferro. Os copos, de vidro grosso e baço, conservavam o tom roxo do vinho que neles passara em fartos anos de fartas vindimas. O covilhete de barro com as azeitonas deleitaria, pela sua singeleza ática, o coração de Diógenes. Na larga broa estava cravado um facalhão... Pobre Jacinto! Mas lá abancou resignado, e muito tempo, pensativamente, esfregou com o seu lenço o garfo negro e a colher de pau. Depois, mudo, desconfiado, provou um gole curto do caldo, que era de galinha e rescendia. Provou, e levantou para mim, seu companheiro e amigo, uns olhos largos que luziam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada de caldo, mais cheia, mais lenta... E sorriu, murmurando com espanto: _ Está bom! Estava realmente bom: tinha fígado e tinha moela: o seu perfume enternecia. Eu, três vezes, com energia, ataquei aquele caldo: foi Jacinto que rapou a sopeira. Mas já, arredando a broa, arredando a vela, o bom Zé Brás pousara na mesa uma travessa vidrada, que trasbordava de arroz com favas. Ora, apesar da fava (que os gregos chamaram ciboria) pertencer às épocas superiores da civilização, e promover tanto a sapiência que havia em Sício, na Galácia, um templo dedicado a Minerva Ciboriana – Jacinto sempre detestara favas. Tentou todavia uma garfada tímida. De novo os seus olhos, alargados pelo assombro, procuraram os meus. Outra garfada, outra concentração. E eis que o meu dificílimo amigo exclama: _Está ótimo! Eram os picantes ares da serra? Era a arte deliciosa daquelas mulheres que embaixo remexiam as panelas, cantando o Vira, meu bem? Não sei: – mas os louvores de Jacinto a cada travessa foram ganhando em amplidão e firmeza. E diante do frango louro, assado no espeto de pau, terminou por bradar: _ Está divino! Nada porém o entusiasmou como o vinho, o vinho caindo de alto, da grossa caneca verde, um vinho gostoso, penetrante, vivo, quente, que tinha em si mais alma que muito poema ou livro santo! Mirando à luz de sebo o copo rude que ele orlava de espuma, eu recordava o dia geórgico em que Virgílio, em casa de Horácio, sob a ramada, cantava o fresco palhete da Rética. E Jacinto, com uma cor que eu nunca vira na sua palidez schopenháurica, sussurrou logo o doce verso: Rethica quo te carmina dicat. Quem dignamente te cantará, vinho daquelas serras?! Assim jantamos deliciosamente, sob os auspícios do Zé Brás. E depois voltamos para as alegrias únicas da casa, para as janelas desvidraçadas, a contemplar silenciosamente um suntuoso céu de verão, tão cheio de estrelas que todo ele parecia uma densa poeirada de ouro vivo, suspensa, imóvel, por cima dos montes negros. Como eu observei ao meu Jacinto, na cidade nunca se olham os astros por causa dos candeeiros – que os ofuscam: e nunca se entra por isso numa completa comunhão com o universo. O homem nas capitais pertence à sua casa, ou se o impelem fortes tendências de sociabilidade, ao seu bairro. Tudo o isola e o separa da restante natureza – os prédios obstrutores de seis andares, a fumaça das chaminés, o rolar moroso e grosso dos ônibus, a trama encarceradora da vida urbana... Mas que diferença, num cimo de monte, como Torges? Aí todas essas belas estrelas olham para nós de perto, rebrilhando, à maneira de olhos conscientes, umas fixamente, com sublime indiferença, outras ansiosamente, com uma luz que palpita, uma luz que chama, como se tentassem revelar os seus segredos ou compreender os nossos... E é impossível não sentir uma solidariedade perfeita entre esses imensos mundos e os nossos pobres corpos. Todos somos obra da mesma vontade. Todos vivemos da ação dessa vontade imanente. Todos, portanto, desde os Úranos até os Jacintos, constituímos modos diversos de um ser único, e através das suas transformações somamos na mesma unidade. Não há idéia mais consoladora do que esta – que eu, e tu, e aquele monte, e o Sol que, agora, se esconde, somos moléculas do mesmo Todo, governadas pela mesma Lei, rolando para o mesmo Fim. 49 Desde logo se somem as responsabilidades torturantes do individualismo. Que somos nós? Formas sem força, que uma Força impele. E há um descanso delicioso nesta certeza, mesmo fugitiva, de que se é o grão de pó irresponsável e passivo que vai levado no grande vento, ou a gota perdida na torrente! Jacinto concordava,sumido na sombra. Nem ele nem eu sabíamos os nomes desses astros admiráveis. Eu, por causa da maciça e indesbastável ignorância de bacharel, com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Jacinto, porque na sua ponderosa biblioteca tinha trezentos e dezoito tratados sobre astronomia! Mas que nos importava, de resto, que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse José e o outro Jacinto? Éramos formas transitórias do mesmo ser eterno – e em nós havia o mesmo Deus. E se eles também assim o compreendiam, estávamos ali, nós à janela num casarão serrano, eles no seu maravilhoso infinito, perfazendo um ato sacrossanto, um perfeito ato de Graça – que era sentir conscientemente a nossa unidade e realizar, durante um instante, na consciência, a nossa divinização. Assim enevoadamente filosofávamos – quando Zé Brás, com uma candeia na mão, veio avisar que “estavam preparadas as camas de suas inselências...” Da idealidade descemos gostosamente à realidade, e que vimos então nós, os irmãos dos astros? Em duas salas tenebrosas e côncavas, duas enxergas, postas no chão, a um canto, com duas cobertas de chita; à cabeceira um castiçal de latão, pousando sobre um alqueire: e aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma cadeira de pau! Em silêncio, o meu supercivilizado amigo palpou a sua enxerga e sentiu nela a rigidez dum granito. Depois, correndo pela face descaída os dedos murchos, considerou que, perdidas as suas malas, não tinha nem chinelas nem roupão! E foi ainda o Zé Brás que providenciou, trazendo ao pobre Jacinto, para ele desafogar os pés, uns tremendos tamancos de pau, e para ele embrulhar o corpo, docemente educado em Síbaris, uma camisa da caseira, enorme, de estopa mais áspera que estamenha de penitente, e com folhos crespos e duros como lavores em madeira... Para o consolar, lembrei que Platão, quando compunha o Banquete, Xenofonte, quando comandava os Dez Mil, dormiam em piores catres. As enxergas austeras fazem as fortes almas – e é só vestido de estamenha que se penetra no Paraíso. _ Tem você – murmurou o meu amigo, desatento e seco – alguma coisa que eu leia?... Eu não posso adormecer sem ler! Eu possuía apenas o número do Jornal da Tarde, que rasguei pelo meio e partilhei com ele fraternalmente. E quem não viu então Jacinto, senhor de Torges, acaçapado à borda da enxerga, junto da vela que pingava sobre o alqueire, com os pés nus encafuados nos grosssos socos, perdido dentro da camisa da patroa, toda em folhos, percorrendo na metade do Jornal da Tarde, com os olhos turvos, os anúncios dos paquetes – não pode saber o que é uma vigorosa e real imagem do desalento! Assim o deixei – e daí a pouco, estendido na minha enxerga também espartana, subia, através dum sonho jovial e erudito, ao planeta Vênus, onde encontrava, entre os olmos e os ciprestes, num vergel, Platão e Zé Brás, em alta camaradagem intelectual, bebendo o vinho da Rética pelos copos de Torges! Travamos todos três bruscamente uma controvérsia sobre o século XIX. Ao longe, por entre uma floresta de roseiras mais altas que carvalhos, alvejavam os mármores duma cidade e ressoavam cantos sacros. Não recordo o que Xenofonte sustentou acerca da civilização e do fonógrafo. De repente tudo foi turbado por fuscas nuvens, através das quais eu distinguia Jacinto, fugindo num burro que ele impelia furiosamente com os calcanhares, com uma vergasta, com berros, para os lados do Jasmineiro! V CEDO, de madrugada, sem rumor, para não despertar Jacinto que, com as mãos sobre o peito, dormia placidamente no seu leito de granito – parti para Guiães. E durante três quietas semanas, naquela vila onde se conservam os hábitos e as idéias do tempo de El-Rei D. Dinis, não soube do meu desconsolado amigo, que decerto fugira dos seus tetos esburacados e remergulhara na civilização. Depois, por uma abrasada manhã de agosto, descendo de Guiães, de novo trilhei a avenida de faias e entrei o portão solarengo de Torges, entre o furioso latir dos rafeiros. A mulher do Zé Brás apareceu alvoroçada à porta da tulha. E a sua nova foi logo que o ser. D. Jacinto (em Torges, o meu amigo tinha dom) andava lá embaixo com o Sousa nos campos de Freixomil. _Então, ainda cá está o sr. D. Jacinto?! Sua inselência ainda estava em Torges – e sua inselência ficava para a vindima!... Justamente eu reparava que as janelas do solar tinham vidraças novas; e a um canto do pátio pousavam baldes de cal; uma escada de pedreiro ficara arrimada contra a varanda; e num caixote aberto, ainda cheio de palha de empacotar, dormiam dois gatos. _ E o Grilo apareceu? _ O sr. Grilo está no pomar, à sombra. _ Bem! e as malas? _ O sr. D. Jacinto já tem o seu saquinho de couro... Louvado Deus! O meu Jacinto estava, enfim, provido de civilização! Subi contente. Na sala nobre, onde o soalho fora composto e esfregado, encontrei uma mesa recoberta de oleado, prateleiras de pinho com louça branca de Barcelos e cadeiras de palhinha, orlando as paredes muito caiadas que davam uma frescura de capela nova. Ao lado, noutra sala, também de faiscante alvura, havia o conforto inesperado de três cadeiras de verga da Madeira, com braços largos e almofadas de chita: sobre a mesa de pinho, o papel almaço, o candeeiro de azeite, as penas de pato espetadas, num tinteiro de frade, pareciam preparadas para um estudo calmo e ditoso de humanidades: e na parede, 50 suspensa de dois pregos, uma estantezinha continha quatro ou cinco livros, folheados e usados, o D. Quixote, um Virgílio, uma História de Roma, as Crônicas de Froissart. Adiante era certamente o quarto de D. Jacinto, um quarto claro e casto de estudante, com um catre de ferro, um lavatório de ferro, a roupa pendurada de cabides toscos. Tudo resplandecia de asseio e ordem. As janelas cerradas defendiam do sol de Agosto, que escaldava fora os peitoris de pedra. Do soalho, borrifado de água, subia uma fresquidão consoladora. Num velho vaso azul um molho de cravos alegrava e perfumava. Não havia um rumor. Torges dormia no esplendor da sesta. E envolvido naquele repouso de convento remoto, terminei por me estender numa cadeira de verga junto à mesa, abri languidamente o Virgílio, murmurando: Fortunate Jacinthe! tu inter arva nota Et fontes sacros frigus captabis opacum. Já mesmo irreverentemente adormecera sobre o divino bucolista, quando me despertou um brado amigo. Era o nosso Jacinto. E imediatamente o comparei a uma planta, meio murcha e estiolada, no escuro, que fora profusamente regada e revivera em pleno sol. Não corcovava. Sobre a sua palidez de supercivilizado, o ar da serra ou a reconciliação com a vida tinha espalhado um tom trigueiro e forte que o virilizava soberbamente. Dos olhos, que na cidade eu lhe conhecera sempre crepusculares, saltava agora um brilho de meio-dia, decidido e largo, que mergulhava francamente na beleza das coisas. Já não passava as mãos murchas sobre a face – batia com elas rijamente na coxa... Que sei eu?! Era uma reencarnação. E tudo o que me contou, pisando alegremente com os sapatos brancos o soalho, foi que se sentira, ao fim de três dias em Torges, como desanuviado, mandara comprar um colchão macio, reunira cinco livros nunca lidos, e ali estava... _ Para todo o verão? _Para todo o sempre! E agora, homem das cidades, vem almoçar umas trutas que eu pesquei, e compreende enfim o que é o Céu. As trutas eram, com efeito, celestes. E apareceu também uma salada fria de couve-flor e vagens, e um vinho branco de Azães... Mas quem condignamente vos cantará, comeres e beberes daquelas serras? De tarde, finda a calma, passeamos pelos caminhos, coleando a vasta quinta, que vai de vales amontes. Jacinto parava a contemplar com carinho os milhos altos. Com a mão espalmada e forte batia no tronco dos castanheiros, como nas costas de amigos recuperados. Todo o fio de água, todo o tufo de erva, todo o pé de vinha o ocupava como vidas filiais que cantavam em certos choupos. Exclamava enternecido: _Que encanto, a flor do trevo! À noite, depois de um cabrito assado no forno, a que mestre Horácio teria dedicado uma Ode (talvez mesmo um Carme Heroico), conversamos sobre o Destino e a Vida. Eu citei, com discreta malícia, Schopenhauer e o Eclesiastes... Mas Jacinto ergueu os ombros, com seguro desdém. A sua confiança nesses dois sombrios explicadores da vida desaparecera, e irremediavelmente, sem poder mais voltar, como uma névoa que o Sol espalha. Tremenda tolice! afirmar que a vida se compõe, meramente, duma longa ilusão – é erguer um aparatoso sistema sobre um ponto especial e estreito da vida, deixando fora do sistema toda a vida restante, como uma contradição permanente e soberba. Era como se ele, Jacinto, apontando para uma urtiga, crescida naquele pátio, declarasse, triunfalmente: – “Aqui está uma urtiga! Toda a quinta de Torges, portanto, é uma massa de urtigas”. – Mas bastaria que o hóspede erguesse os olhos para ver as searas, os pomares e os vinhedos! De resto, desses dois ilustres pessimistas, um o alemão, que conhecia ele da vida – dessa vida de que fizera, com doutoral majestade, uma teoria definitiva e dolente? Tudo o que pode conhecer quem, como este genial farsante, viveu cinqüenta anos numa soturna hospedaria de província, levantando apenas os óculos dos livros para conversar, à mesa redonda, com os alferes da guarnição! E o outro, o israelita, o homem dos Cantares, o muito pedantesco rei de Jerusalém, só descobre que a vida é uma ilusão aos setenta e cinco anos, quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de trezentas concubinas se torna ridiculamente supérfluo à sua carcaça frígida. Um dogmatiza funebremente sobre o que não sabe – e o outro sobre o que não pode. Mas que se dê a esse bom Schopenhauer uma vida tão completa e cheia como a de César, e onde estará o seu schopenhauerismo? Que se restitua a esse sultão, besuntado de literatura, que tanto edificou e professorou em Jerusalém, a sua virilidade – e onde estará o Eclesiastes? De resto, que importa bendizer ou maldizer a vida? Afortunada ou dolorosa, fecunda ou vã, ela tem de ser vida. Loucos aqueles que, para a atravessar, se embrulham desde logo em pesados véus de tristeza e desilusão, de sorte que na sua estrada tudo lhe seja negrume, não só as léguas realmente escuras, mas mesmo aquelas em que cintila um sol amável. Na terra tudo vive – e só o homem sente a dor e a desilusão da vida. E tanto mais as sente, quanto mais alarga e acumula a obra dessa inteligência que o torna homem, e que o separa da restante natureza, impensante e inerte. É no máximo de civilização que ele experimenta o máximo de tédio. A sapiência, portanto, está em recuar até esse honesto mínimo de civilização, que consiste em ter um teto de colmo, uma leira de terra e o grão para nela semear. Em resumo, para reaver a felicidade, é necessário regressar ao Paraíso – e ficar lá, quieto, na sua folha de vinha, inteiramente desguarnecido de civilização, contemplando o anho aos saltos entre o tomilho, e sem procurar, nem com o desejo, a árvore funesta da Ciência! Dixi! Eu escutava, assombrado, este Jacinto novíssimo. Era verdadeiramente uma ressurreição no magnífico estilo de Lázaro. Ao surge et ambula que lhe tinham sussurado as águas e os bosques de Torges, ele erguia-se do fundo da cova do Pessimismo, desembaraçava-se das suas casacas de Poole, et ambulabat, e começava a ser ditoso. Quando recolhi ao meu quarto, àquelas horas honestas que convém ao campo e ao Otimismo, tomei entre as minhas a mão já firme do meu amigo e, pensando que ele enfim alcançara a verdadeira realeza, porque possuía a verdadeira liberdade, gritei-lhe os meus parabéns à maneira do moralista de Tíbure: 51 Vive et regna, fortunate Jacinthe! Daí a pouco, através da porta aberta que nos separava, senti uma risada fresca, moça, genuína e consolada. Era Jacinto que lia o D. Quixote. Oh bem-aventurado Jacinto! Conservava o agudo poder de criticar, e recuperara o dom divino de rir! Quatro anos vão passados. Jacinto ainda habita Torges. As paredes do seu solar continuam bem caiadas, mas nuas. De Inverno enverga um gabão de briche e acende um braseiro. Para chamar o Grilo ou a moça, bate as mãos, como fazia Catão. Com os seus deliciosos vagares, já leu a Ilíada. Não faz a barba. Nos caminhos silvestres, pára e fala com as crianças. Todos os casais da serra o bendizem. Ouço que vai casar com uma forte, sã e bela rapariga de Guiães. Decerto crescerá ali uma tribo, que será grata ao Senhor! Como ele, recentemente, me mandou pedir livros da sua livraria (uma Vida de Buda, uma História da Grécia e as obras de S. Francisco de Sales), fui, depois destes quatro anos, ao Jasmineiro deserto. Cada passo meu sobre os fofos tapetes de Caramânia soou triste como num chão de mortos. Todos os brocados estavam engelhados, esgaçados. Pelas paredes pendiam, como olhos fora de órbitas, os botões elétricos das campainhas e das luzes: – e havia vagos fios de arame, soltos, enroscados, onde a aranha regalada e reinando tecera teias espessas. Na livraria, todo o vasto saber dos séculos jazia numa imensa mudez, debaixo duma imensa poeira. Sobre as lombadas dos sistemas filosóficos alvejava o bolor: vorazmente a traça devastara as Histórias Universais: errava ali um cheiro mole de literatura apodrecida: – e eu abalei, com o lenço no nariz, certo de que naqueles vinte mil volumes não restava uma verdade viva! Quis lavar as mãos, maculadas pelo contato com estes detritos de conhecimentos humanos. Mas os maravilhosos aparelhos do lavatório, da sala de banho, enferrujados, perros, dessoldados, não largaram uma gota de água; e, como chovia nessa tarde de abril, tive de sair à varanda, pedir ao Céu que me lavasse. Ao descer, penetrei no gabinete de trabalho de Jacinto e tropecei num montão negro de ferragens, rodas, lâminas, campainhas, parafusos... Entreabri a janela e reconheci o telefone, o teatrofone, o fonógrafo, outros aparelhos, tombados das suas peanhas, sórdidos, desfeitos, sob a poeira dos anos. Empurrei com o pé esse lixo do engenho humano. A máquina de escrever, escancarada, com os buracos negros marcando as letras desarraigadas, era como uma boca alvar e desdentada. O telefone parecia esborrachado, enrodilhado nas suas tripas de arame. Na trompa do fonógrafo, torta, esbeiçada, para sempre muda, fervilhavam carochas. E ali jaziam, tão lamentáveis e grotescas, aquelas geniais invenções, que eu saí rindo, como duma enorme facécia, daquele supercivilizado palácio. A chuva de abril secara: os telhados remotos da cidade negrejavam sobre um poente de carmesim e ouro. E, através das ruas mais frescas, eu ia pensando que este nosso magnífico século XIX se assemelharia, um dia, àquele Jasmineiro abandonado e que outros homens, com uma certeza mais pura do que é a Vida e a Felicidade, dariam, como eu, com o pé no lixo da supercivilização e, como eu, ririam alegremente da grande ilusão que findara, inútil e coberta de ferrugem. Àquela hora, decerto, Jacinto, na varanda, em Torges, sem fonógrafo e sem telefone, reentrado na simplicidade, via, sob a paz lenta da tarde, ao tremeluzir da primeira estrela, a boiada recolher entre o canto dos boieiros. (QUEIRÓS, Eça de. “Civilização” in: Contos. Pp. 37-51. Portal Aprende Brasil. http://www.educacional.com.br/classicos/obras/eca_de_queiros_contos.pdf) 52 PARNASIANISMO - OLAVO BILAC 1-Via Láctea – Soneto XIII “Ora (direis) ouvir estrelas! Certo Perdeste o senso! E eu vos direi, no entanto, Que, para ouvi-las, muita vez desperto, E abro as janelas, pálido de espanto... E conversamos toda a noite enquanto A via láctea, como um pálio aberto, Cintila. E ao vir do Sol, saudoso e em pranto Inda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: "Tresloucado amigo! Que conversas com elas? Que sentido Têm o que dizem, quando estão contigo?" E eu vos direi: "Amai para entendê-las! Pois só quem ama pode ter ouvido Capaz de ouvir e de entender estrelas." 2-Língua Portuguesa Última flor do Lácio, inculta e bela, És, a um tempo, esplendor e sepultura: Ouro nativo, que na ganga impura A bruta mina entre os cascalhos vela... Amo-te assim, desconhecida e obscura, Tuba de alto clangor, lira singela, Que tens o trom e o silvo da procela E o arrolo da saudade e da ternura! Amo o teu viço agreste e o teu aroma De virgens selvas e de oceano largo! Amo-te, ó rude e doloroso idioma, Em que da voz materna ouvi: "meu filho!" E em que Camões chorou, no exílio amargo, O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 3-Nel mezzo del camin... Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada E triste, e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, E a alma de sonhos povoada eu tinha... E paramos de súbito na estrada Da vida: longos anos, presa à minha A tua mão, a vista deslumbrada Tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo... Na partida Nem o pranto os teus olhos umedece, Nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face, e tremo, Vendo o teu vulto que desaparece Na extrema curva do caminho extremo 4-A um poeta Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve! No aconchego Do claustro, na paciência e no sossego, Trabalha e teima, e lima , e sofre, e sua! Mas que na forma se disfarce o emprego Do esforço: e trama viva se construa De tal modo, que a imagem fique nua Rica mas sóbria, como um templo grego Não se mostre na fábrica o suplicio Do mestre. E natural, o efeito agrade Sem lembrar os andaimes do edifício: Porque a Beleza, gêmea da Verdade Arte pura, inimiga do artifício, É a força e a graça na simplicidade. 5-Ao coração que sofre Ao coração que sofre, separado Do teu, no exílio em que a chorar me vejo, Não basta o afeto simples e sagrado Com que das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado, Nem só desejo o teu amor: desejo Ter nos braços teu corpo delicado, Ter na boca a doçura de teu beijo. E as justas ambições que me consomem Não me envergonham: pois maior baixeza Não há que a terra pelo céu trocar; E mais eleva o coração de um homem Ser de homem sempre e, na maior pureza, Ficar na terra e humanamente amar. 6-Remorso Às vezes uma dor me desespera... Nestas ânsias e dúvidas em que ando, Cismo e padeço, neste outono, quando Calculo o que perdi na primavera. Versos e amores sufoquei calando, Sem os gozar numa explosão sincera... Ah ! Mais cem vidas ! com que ardor quisera Mais viver, mais penar e amar cantando ! Sinto o que desperdicei na juventude; Choro neste começo de velhice, Mártir da hipocrisia ou da virtude. Os beijos que não tive por tolice, Por timidez o que sofrer não pude, E por pudor os versos que não disse ! 53
Download