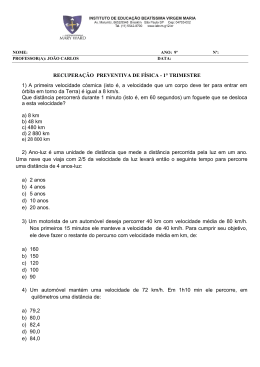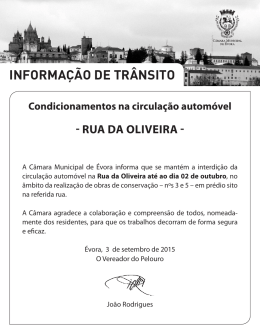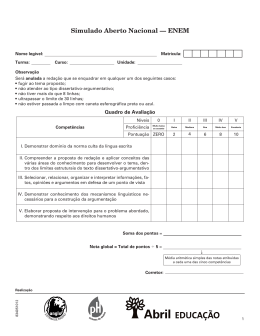BICICLETA E TEMPO DE CONTESTAÇÃO Leo Vinicius Maia Liberato1 Resumo O presente artigo procura apontar algumas razões pelas quais a bicicleta surge, potencialmente, como um elemento partícipe na construção de uma sociedade ecológica e na contestação da atual ordem social, na qual o automóvel é hegemônico nas vias e nos deslocamentos ordinários. O entendimento de que as tecnologias não são neutras, e de que os problemas ecológicos possuem fundamentalmente causas sociais, nos leva a analisar o tempo como significação imaginária social e a perceber no automóvel uma tecnologia que encarna e figura a significação social de tempo da sociedade capitalista. Esse mesmo entendimento, mesmo que num nível mais intuitivo, também se faz presente em diversos movimentos sociais, que vinculam a contestação de determinadas tecnologias a uma contestação da própria ordem social em que elas emergem. E é em parte através de alguns desses movimentos que a bicicleta tem surgido como elemento ao mesmo tempo de uma contestação e de uma alternativa a problemas ecológicos, sociais e existenciais, além de potencialmente portadora de uma distinta significação de tempo. Palavras-chave: mobilidade urbana; movimentos sociais; ecologia social; tecnologia Introdução As relações entre ecologia e bicicleta podem ser variadas. A começar pelas distintas noções e definições do que seja ecologia. A bicicleta, de forma geral, é reconhecida como meio de locomoção ecologicamente correto, frente ao domínio do automóvel. É desnecessário, por exemplo, citar estatísticas2 sobre a poluição gerada pelo automóvel durante seu uso, basta-nos respirar o ar das grandes cidades – ou simplesmente nos darmos conta de que podemos enxergálo – para se ter uma experiência prática quanto a isso. Mas a experiência enquanto moradores de centros urbanos não é capaz de constatar, por exemplo, o fato do automóvel poluir mais durante o seu processo de fabricação do que durante toda a sua vida útil, e nem que essa poluição irá afetar desigualmente regiões, indivíduos e classes. Às questões propriamente ambientais, da poluição à asfaltificação do solo, acrescenta-se ainda os chamados “acidentes de trânsito” envolvendo automóveis, que são a maior causa de morte de jovens no mundo, e as mortes derivadas da poluição atmosférica relacionada ao automóvel, que em alguns países estima-se que seja em número até maior do que as mortes geradas pelos “acidentes de trânsito”. No momento, o que nos interessa aqui é antever a impossibilidade de relacionarmos a bicicleta a qualquer noção de ecologia contemporaneamente sem nos referirmos também ao automóvel. Isso porque, como disse Illich (1974)3, apesar da bicicleta ser uma invenção da mesma geração que criou o veículo a motor, “as duas invenções são símbolos de avanços feitos em direções opostas pelo homem moderno”. O que ocorre é que as técnicas e tecnologias não são neutras ecologicamente, socialmente, ideologicamente ou politicamente. E quando falamos de bicicleta estamos falando de uma tecnologia. 1 Mestre em Sociologia Política pela UFSC, doutorando em Sociologia Política na UFSC e participante das bicicletadas de Florianópolis. 2 Os veículos motorizados são a maior causa isolada da poluição atmosférica, contribuindo estimadamente com 14% das emissões mundiais de dióxido de carbono provenientes da queima de combustível fóssil, uma proporção que aumenta continuamente. Adicionadas as emissões na extração, transporte, refino e distribuição de combustível, esse número aumenta para 15 a 20% das emissões mundiais (Fonte: www.carbusters.org). 3 O texto de Ivan Illich a que se faz referência neste artigo deverá ser lançado finalmente no Brasil, pela Conrad Editora (São Paulo). Fará parte de uma coletânea de textos críticos ao automóvel de título Apocalipse Motorizado: a tirania do automóvel em um planeta poluído, organizada por Ned Ludd. Em torno da bicicleta e do automóvel se desenvolveram conflitos que vão muito além de questões meramente ambientais. Como em inúmeros outros conflitos sociais, em última análise eles podem representar uma fissura no imaginário instituinte da sociedade em que vivemos. Ecologia e tecnologia pedem que examinemos, na expressão de Castoriadis (1982), as significações imaginárias sociais. Tecnologia e Sociedade Lewis Mumford, em seu Technics and Civilization, aponta que as inovações mecânicas e tecnológicas sempre tiveram de enfrentar alguma forma de resistência social na história ocidental, indo de uma espécie de nostalgia romântica por parte de intelectuais até a forma mais simples e direta de resistência: a destruição das máquinas que eram consideradas nocivas ou o assassinato de seu inventor. Aqui não nos interessa buscar um histórico dessas resistências, mas sim demarcar um ponto de partida resgatando aquele que foi o movimento social moderno mais paradigmático associado a um antagonismo em relação a determinadas técnicas e tecnologias. Cento e noventa anos atrás, na Inglaterra, um movimento de massa de trabalhadores que quebravam máquinas e incendiavam fábricas que as hospedavam só foi contido com o efetivo de milhares de soldados do exército inglês. Ficaram conhecidos como ludditas, derivado de Ludd, sobrenome do seu suposto e mítico líder. Os “inimigos” da Revolução Industrial, como não poderia deixar de ser diferente, entraram para a História como “inimigos” da tecnologia, e luddita virou verbete sinônimo de antiprogresso, antitecnologia, anti-“caminhos inevitáveis das coisas”. Vale ressaltar aqui o fato do pensamento socialista do século XIX (e por que não também do século XX?) ter contribuído, da sua forma, para a configuração desse verbete. Se o materialismo dialético teleológico de Marx e Engels – o qual reificava os “meios de produção”, isto é, a técnica, como determinante do progresso da humanidade – não era compartilhado por Proudhon, Bakunin e Blanc, por exemplo, não é menos verdade que os pensadores socialistas do século XIX, a exceção de Charles Fourier, não viam nos meios de produção, na técnica, ou nas coisas, um mal a ser combatido. A preocupação em relação às técnicas e tecnologias era acima de tudo a de socializá-las, fosse através do Estado (Marx, Engels, Blanc), ou da gestão operária, da autogestão (Proudhon, Bakunin). A fábrica, em si, era tida como local de produção, e não necessariamente de alienação e escravidão. Eis a descoberta dos socialismos científicos, seja o de Proudhon ou o de Marx: são as relações sociais que alienam, desumanizam e “escravizam”! Desvelada enfim, pelo raciocínio minucioso desses socialistas, a fonte da alienação e da desumanização, a fonte do mal humano e social: para um (Proudhon) a Autoridade, seja a Autoridade da propriedade ou a do Estado; para o outro (Marx) o Capital. Em resumo, o problema estava nas relações sociais capitalistas, e não nas máquinas ou nas fábricas. Portanto, não é de admirar que os ludditas passariam a ser lembrados na melhor das vezes como a fase infantil do movimento operário, uma fase de ignorância. E talvez também não seja coincidência que Fourier tenha sido aquele que, dentre os que podemos chamar de socialistas clássicos, apresentava uma crítica ao sistema industrial estabelecido e ao mesmo tempo carregava a visão de uma sociedade organizada em torno do lúdico e do prazer. Evidentemente, passando longe do mito criado pela direita (com a ajuda do pensamento de esquerda), de que os ludditas quebravam máquinas e incendiavam fábricas simplesmente para manterem seus empregos ou por serem irracionalmente contra o “progresso” e contra qualquer tecnologia, o fato é que o movimento luddita, enquanto movimento de massa, certamente não teria ganho a amplitude que teve se se sustentasse meramente no desejo de se manter o ganhapão, mas, indo muito mais além, era um movimento contra um processo que destituía os trabalhadores de uma autonomia, de uma liberdade e, para usar uma expressão moderna, de um 2 estilo de vida4. Dessa forma, não se pode chamá-los de “infantis” ou “ingênuos”. Analogamente, os zapatistas lutam hoje em Chiapas contra um processo que leva à destituição de sua cultura, das suas comunidades, de seu modo de vida e de sua autonomia. Quebrando as máquinas e fábricas, os ludditas quebravam as técnicas e tecnologias que eles sentiam ser em alto grau alienantes. Afirmavam assim, mais do que um desejo de socializar ou de sobreviver, um desejo de liberdade e autonomia. Acima de tudo, a batalha luddita era uma batalha por uma afirmação cultural, isto é, de um modo de vida, de um conjunto de relações – e técnicas – que eram ameaçadas e eliminadas por processos e forças, nos quais as máquinas e tecnologias que eles destruíam não eram certamente entes exógenos, neutros e separáveis. Pode-se dizer que somente na segunda metade do século XX o pensamento socialista, em figuras como Cornelius Castoriadis e Murray Bookchin, conseguiu finalmente perceber a necessidade e atar de maneira coerente e consistente a crítica às técnicas – implícita nas ações dos ludditas – à crítica às relações sociais (de exploração e dominação) que já eram próprias do pensamento e prática socialistas. Por tempo demais as técnicas foram tidas como neutras mesmo pelos socialistas; fábrica e autogestão, por exemplo, não eram vistas como concepções antitéticas5. No entanto, desde meados dos anos 1960 aparece claramente no horizonte revolucionário um mundo a destruir, não só composto por relações sociais, mas também por máquinas, tecnologias, que são encarnações de significações, de valores. Fazendo a crítica a Marx, Castoriadis (1982) afirma e procura demonstrar que: “Não se pode pensar a máquina, ainda que reduzida a seu ser-técnico, como neutra, a não ser acidentalmente. As máquinas em questão durante o período capitalista são máquinas “intrinsecamente” capitalistas” (p. 402). Desta forma, às “relações entre pessoas mediadas por coisas” de Marx, ao se referir este às relações de produção capitalistas, seria preciso corrigir e acrescentar, segundo Castoriadis (1982), que só podem se tratar de relações capitalistas se são mediadas por “coisas” específicas, isto é, por “coisas capitalistas”. As técnicas e tecnologias expressam significações imaginárias sociais, figuram valores. Elas no entanto não determinam o social: “relações”, “pessoas” e “coisas” são indissociáveis uns dos outros, sem que haja relação causal de um sobre o outro. Assim como ninguém pode tornar-se um pianista sem que exista piano, um piano não serve para nada senão se é pianista. Sujeito e objeto, pessoa e técnica, são estabelecidos simultaneamente. Portanto, a criação de outra sociedade implicaria a criação de um outro homem, outras relações sociais e outras técnicas, simultaneamente (Castoriadis, 1982). Os ludditas demonstravam possuir esse conhecimento de forma intuitiva. Nos anos 1960 e 1970, principalmente com o movimento antinuclear, as tecnologias saíram novamente de dentro do armário na Europa e na América do Norte para serem alvos de questionamento público. Pensadores como Castoriadis e Bookchin tiveram, assim, muito a dizer e compartilhar com parte do movimento verde que emergia. Bookchin, que, provavelmente não por coincidência, chegou a usar o pseudônimo Harry Ludd nos anos 50, se envolveria mais diretamente com questões propriamente ecológicas, criando nos anos 60, inclusive, o conceito de ecologia social. Murray Bookchin e a Ecologia Social Mumford (1963) chama atenção para um tipo de conseqüência indireta de um mundo cada vez mais mecanizado e tecnológico, muitas vezes ignorada por não coincidir com a lógica 4 Como salienta Sale (1999), na melhor e mais atual obra sobre os ludditas traduzida para o português, a questão nunca se resumiu às máquinas. Os ludditas “se opunham à evidência palpável e cotidiana das forças além de seu controle e poder, às quais não queriam continuar tão submissos, posto que elas lhes retiravam os meios de sustento, transformando suas vidas” (p. 71). E o que estava em jogo não era apenas os empregos de alguns, mas toda a organização social existente (ibidem, p. 100). 5 Cf. BOOKCHIN, Murray. Autogestão e Tecnologias Alternativas. In: BOOKCHIN, Murray. Textos Dispersos. Lisboa: SOCIUS, 1998. 3 racionalista das máquinas. Trata-se do florescer de um irracionalismo que com freqüência emergiria em meio às pessoas. Uma espécie de reação à máquina. A obra de Murray Bookchin é melhor compreendida se levarmos em conta que ela se insere num debate bastante vivo na América do Norte, onde a ecologia social se contrapõe diretamente a certas correntes verdes, como a ecologia profunda, as quais, segundo o pensamento de Bookchin, podemos considerar como parte desse florescer anti-razão e místico que tem acompanhado e feito parte de uma hipermecanização da sociedade. Bookchin faz questão de se vincular explicitamente a uma tradição iluminista, indo talvez na contramão de uma tendência tanto acadêmica quanto em movimentos ecologistas de imputar à razão e aos ideais iluministas os males ecológicos e sociais contemporâneos. Para Bookchin (s/d), “testemunhamos o alastrar do assalto contra as capacidades da razão, da ciência e da tecnologia em contribuírem para a melhoria do mundo, para nós próprios e para a vida em geral”. Expressões genéricas e vagas como “civilização”, “sociedade” e “humanidade” esconderiam vastas diferenças e mesmo antagonismos de classes, entre opressores e oprimidos, assim como diferenças entre sociedades livres, não hierárquicas, sem Estado e sem classes, por um lado, e sociedades que são hierárquicas, estatistas e dirigidas por interesses de classe, por outro. Falar abstratamente de “sociedade”, engolindo com essa expressão a enorme variedade de formas sociais, levaria assim a concluir que a sociedade, em si, é anti-natural. Deste modo, “a razão, a ciência, a tecnologia tornam-se [para essa forma de pensar] coisas destrutivas, sem qualquer relação com os fatores sociais que condicionam seu uso” (Bookchin, s/d). A ecologia social se funda, portanto, na convicção de que todos os problemas ecológicos são problemas sociais. Da mesma forma que para compreender os problemas econômicos e políticos atuais, para compreender os problemas ecológicos deve-se examinar as causas sociais, e procurar as suas soluções através de processos também sociais (Bookchin, s/d). Ela parte também de uma concepção que nega a separação entre sociedade e natureza: A ecologia social tenta mostrar de que modo a natureza se introduz lentamente na sociedade, sem ignorar as diferenças entre uma e outra, por um lado, nem a extensão pela qual se fundem, por outro. (...) as divisões entre sociedade e natureza têm as suas raízes profundas nas divisões internas do domínio social, nomeadamente nos conflitos humanos, que tantas vezes ignoramos pelo uso generalizado da palavra ‘humanidade’. (...) A questão, portanto, não é a de que de qualquer modo a evolução social se firma por oposição à evolução natural. É como é que a evolução social pode situar-se na evolução natural e porque é que tem sido arremessada — escusadamente, como argumentei — contra a evolução natural, em detrimento da vida como um todo. A capacidade de ser racional e livre não basta para assegurar que essa capacidade se concretize. Se a evolução social é vista como a potencialidade para a expansão dos horizontes da evolução natural até linhas criativas sem precedentes, e os seres humanos como a potencialidade de a natureza se tornar autoconsciente e livre, então a questão é porque é que estas potencialidades têm sido desviadas e como é que podem vir a concretizar-se (Bookchin, s/d). Para Bookchin (1998b), embora as tecnologias não sejam neutras, mesmo as más, como os reatores nucleares, apenas amplificam problemas existentes, e não os criam. O mercado, a ilimitada acumulação de capital, em suma, o sistema de “crescimento” conseqüente do sistema capitalista é o que, em última análise, estaria destruindo a biosfera a ponto da vida no planeta se ver ameaçada em médio prazo. A questão das técnicas e das tecnologias não deve, portanto, ser abordada isoladamente, separada das formas sociais em que emergem e se inserem. Bookchin (1998b) assim vaticina que: “Nenhuma libertação será completa, nenhuma tentativa de criar harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza poderá ter êxito se não forem erradicadas todas as hierarquias e não apenas a de classe, todas as formas de domínio e 4 não apenas a exploração econômica” (p. 104). Em suma, os problemas ecológicos, do ponto de vista da ecologia social, remetem ao domínio do homem sobre o homem; longe de serem problemas criados pela razão humana, pela ciência e pela tecnologia em si. Mas, como já antecipamos, para Bookchin (1998a) “a “neutralidade” da técnica sobre as relações sociais é apenas mais um mito. Ela, a técnica, mergulha num universo social de intenções, de necessidades, de desejos e de interações.” (p. 94). A transformação no sentido de uma sociedade ecológica passa, portanto, também pela transformação das técnicas6. Como Castoriadis (1982) também aponta, as técnicas, de todo modo, permanecem ligadas a fins que não resultam de suas próprias determinações intrínsecas. Elas determinam e são determinadas (circularmente) por necessidades sociais. Sendo assim, uma técnica ou uma instituição – seja a energia nuclear, o dinheiro, caças supersônicos, o automóvel etc. – “só é uma necessidade na medida que alguma coisa alimenta essa necessidade” (Bookchin, 1998a, p. 95). Ou seja, as técnicas se ligam a necessidades, que por sua vez são socialmente determinadas. E uma vez que esses fins e funções desempenhadas por uma tecnologia ou por uma instituição são postos em causa, abre-se o caminho para se questionar a necessidade de tal tecnologia ou instituição. O que vimos até aqui nos faz levantar uma primeira questão e procurar algumas respostas: para entendermos os problemas ecológicos, urbanísticos e humanitários ligados ao sistema de transporte estabelecido, e em específico ao automóvel, devemos buscar as causas sociais desses problemas, isto é, entender a sociedade do automóvel e a que fins e funções o automóvel está ligado. Outras questões aparecem. Primeiro: pode a bicicleta substituir o automóvel no cumprimento desses fins e funções que se erigem como necessidade social? Segundo: é desejável que a bicicleta se ligue a esses fins e funções de modo a substituir o automóvel? Terceiro: são desejáveis esses fins e funções? Quarto: a bicicleta, como ser-técnico que conhecemos, pode substituir o automóvel e potencialmente determinar e possibilitar uma transformação social e uma transformação da vida cotidiana mais profundas, isto é, para além de uma atmosfera bem mais limpa e da sensível diminuição de mortes no trânsito? Se sim, sob quais circunstâncias e condições e até que ponto? O Tempo na Sociedade do Automóvel Entender a “sociedade do automóvel” na complexidade e nas interligações de seus vários aspectos é tarefa não apenas para um volume, quanto mais para apenas um artigo. Similarmente, discorrer sobre “fins e funções” do automóvel poderia encher pelo menos um livro7. Não é mistério que os fins e funções do automóvel – o automóvel na forma como ganha existência na sociedade e como conhecemos – ultrapassam muito o que poderíamos chamar de seu uso prático, ou seja, como veículo, como meio de deslocamento. A esse uso prático, que poderíamos relacionar a um valor de uso, se acrescenta uma miríade de fins e funções, muitos, em parte, revelados pela publicidade. Focaremos apenas alguns aspectos da sociedade do automóvel, e que se relacionam a determinados fins e funções do automóvel. Uma vez que tanto o automóvel quanto a bicicleta 6 É bom frisar, seguindo o pensamento de Castoriadis (1981), que se por um lado as técnicas não são neutras, por outro seria falso também acreditar que ela é capaz, por is só, de determinar uma sociedade, bastando modificá-la para fazer surgir uma nova sociedade. Além disso, também é bom deixar claro que a transformação da tecnologia existente não poderá ser feita a partir de um vazio, e terá que contar necessariamente com o que existe: “Isto é, será preciso ainda apoderar-nos de partes do que existe agora como tecnologia (...). O que é essencial é chegar a uma visão suficientemente clara daquilo que queremos fazer e do que queremos evitar, para que as partes que utilizamos não ameacem reengendrar o sistema que tentamos destruir” (Castoriadis, 1981, p. 57). 7 Duas obras bastante recomendáveis que tratam da sociedade em questão e reservam algumas páginas relacionando alguns de seus aspectos ao automóvel: LEFEBVRE, Henri. A Vida Cotidiana no Mundo Moderno. São Paulo: Ática, 1991 (pp. 110-113); e BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Elfos, 1995 (pp. 42-3 e p. 84). 5 são tecnologias de locomoção (ponto em comum entre as duas), parece lógico que esse foco recaia sobre as significações sociais de tempo, espaço, velocidade e/ou movimento. Nos deteremos no tempo; à significação social de tempo na sociedade do automóvel. Sociedade do automóvel que, já é hora de apontarmos, pode ser nomeada como sociedade de consumo. Mas para chegarmos até o tempo na sociedade de consumo, é bom antes percorrermos um caminho histórico, tendo um ponto de partida dado por Mumford (1963). Mumford (1963) lembra que a aplicação de métodos quantitativos de pensamento para o estudo da natureza teve sua primeira manifestação na mensuração regular do tempo. A concepção mecânica de tempo, por sua vez, teria em parte emergido a partir da rotina dos monastérios. Inclusive por isto, os beneditinos são por vezes creditados como os fundadores do capitalismo. A vida monástica contribuiu para dar às atividades humanas a batida e o ritmo coletivo regulares da máquina8. Como salienta Mumford (1963), o relógio não é simplesmente um meio de saber as horas, mas um meio de sincronizar as ações dos homens. Dessa forma, o relógio, e não a máquina a vapor, seria a máquina fundamental da era industrial moderna. O produto da máquina-relógio são segundos e minutos, produto por sua essência e por sua natureza dissociado do tempo dos acontecimentos humanos. A burguesia, classe em emergência, foi a primeira a descobrir que tempo é dinheiro – no domínio do quantitativo tudo se torna equivalente. A regularidade do funcionamento do relógio era inclusive um ideal burguês, e possuir um relógio de bolso (de uso pessoal) foi por muito tempo um símbolo de sucesso, como lembra Mumford (1963). A cadência cada vez maior da civilização levou então à necessidade de um poder maior, e por sua vez o poder acelerava a cadência. Enfim, o tempo deixou de se relacionar a uma seqüência de experiências, passando a ser relacionado a uma coleção de horas, minutos e segundos. Dessa forma, pôde surgir a prática de “poupar tempo” e “acrescentar tempo”. O tempo se tornou uma grandeza, entrando no domínio do quantitativo, podendo ser dividido e preenchido. O tempo abstrato se tornou o novo mediador da existência, regulando inclusive as funções orgânicas (comer, dormir etc.), como aponta Mumford (1963). Mudanças históricas na significação social de espaço contribuíram também para a conquista do espaço e do tempo, coordenados pelo movimento. Vale lembrar, por exemplo, que o conceito de aceleração surge tão somente no século XVII. Com o desenvolvimento do capitalismo, novos hábitos de abstração e cálculo adentraram principalmente à vida urbana. A economia capitalista adquire uma forma cada vez mais abstrata, até os nossos dias. Ela se volta a futuros imaginários, ganhos hipotéticos e prospecções. Como aponta Mumford (1963), numa economia baseada no dinheiro, acelerar o processo de produção significa acelerar o retorno; isto é, multiplicar o dinheiro. Chegamos então à sociedade de consumo, que toma forma em meados do século XX principalmente nos centros urbanos dos chamados “países desenvolvidos”, mas que em maior ou menor medida se faz presente – e cada vez mais – em outros lugares, isto é, em zonas rurais e “países subdesenvolvidos”. Baudrillard (1995a; 1995b) nos oferece uma análise extremamente perspicaz e profunda da sociedade de consumo, que tende a generalizar-se, não sem resistências, a todo o globo, fruto da própria expansão e mundialização do capitalismo contemporâneo. Baudrillard (1995a; 1995b) vê o consumo, e o define, como um sistema de valor de trocasigno – como conversão do valor de troca econômico em valor de troca-signo. A lógica do consumo, tendo como lócus privilegiado os centros urbanos, é uma lógica de diferenciaçãopersonalização a partir do valor de troca-signo, e na qual o valor de uso desempenharia um papel de álibi. O objeto de consumo seria, antes de tudo, um objeto-signo, e não um objeto-utensílio. Sem nos aprofundarmos mais na explicação da sociedade de consumo, e do consumo, segundo Baudrillard (1995a; 1995b), passemos mais especificamente ao tempo no contexto dela. 8 Mumford (1963) lembra que inclusive vigorou durante bastante tempo a lenda de que o primeiro relógio mecânico moderno teria sido inventado pelo monge Gerberto d'Aurillac, que depois se tornaria o Papa Silvestre II. 6 Para Baudrillard (1995a), “a analogia do tempo com o dinheiro (...) é fundamental para analisar o “nosso” tempo e o que pode implicar o grande corte significativo entre tempo de trabalho e tempo livre (...). Time is money: esta divisa (...) rege inclusive (…) o lazer e o tempo livre” (p. 162). Também para Baudrillard (1995a), da mesma forma que vimos em Mumford (1963), “o tempo seccionável, abstrato e cronometrado torna-se, assim, homogêneo do sistema de valor de troca, no qual se integra como qualquer outro objeto. Transformado em objeto de cálculo temporal, pode e deve cambiar-se por qualquer outra mercadoria (sobretudo o dinheiro)” (p. 162). Portanto, o tempo na sociedade capitalista contemporânea é uma mercadoria submetida às leis do valor de troca, como se constata pelo tempo de trabalho, que é comprado e vendido (Baudrillard, 1995a). E é o que se pode constatar cada vez mais através do tempo livre, que para ser “consumido” tende a ser direta ou indiretamente comprado (ibidem). Normam Mailer analisa o cálculo da produção aplicado ao suco de laranja, que se entrega congelado ou líquido. Este é mais caro porque no preço se incluem os dois minutos ganhos relativamente à preparação do produto congelado: o próprio tempo livre vende-se desta maneira ao consumidor. Nada mais lógico; o tempo “livre” é tempo “ganho”, capital que pode render, força produtiva virtual, que importa resgatar a fim de ser possível dispor dele (Baudrillard, 1995a, p. 162). Por fim, Baudrillard (1995a) conclui que: As leis do sistema (de produção) nunca entram em férias. Reproduzem incessantemente e por toda a parte nas estradas, nas praias, nos clubes, o tempo como força produtiva. O aparente desdobramento em tempo de trabalho e tempo de lazer – inaugurando este a esfera transcendente de liberdade – constitui um mito (p. 163). O tempo “livre” na sociedade capitalista é, na verdade, como os outros “tempos” nessa sociedade, um tempo constrangido, sendo este tempo do consumo (o do lazer, o tempo “livre”) o mesmo da produção. O tempo “livre”, por mais que se queira relaciona-lo a um “perder tempo”, a uma restituição do valor de uso do tempo, continua sendo propriedade privada e objeto ganho pelo indivíduo; objeto possuído e diante do qual o indivíduo se vê impossibilitado de se desapossar, para, por exemplo, “o destinar à disponibilidade total, ausência de tempo que consistiria a verdadeira liberdade” (Baudrillard, 1995a, p. 168). Resta notar, como salienta Baudrillard (1995a), que nas sociedades ditas primitivas não há tempo. E toda a questão de “ter” ou não ter tempo perde sentido. O tempo reduz-se nelas ao ritmo das atividades coletivas repetidas (ritual de trabalho, das festas). Não se dissocia de semelhantes atividades para se projetar no futuro, previsto e manipulado. Não é individual, mas constitui o próprio ritmo de permuta, que culmina no ato da festa. Não existe nome para o nomear, confunde-se com os verbos da permuta, com o ciclo dos homens e da natureza (p. 162). De forma semelhante, Morin (1975) salienta que o “tempo livre” na cultura de massa é um tempo ganho sobre o trabalho, mas que é diferente “do tempo das festas, característico do antigo modo de vida” (p. 56). As festas, distribuídas ao longo do ano, eram simultaneamente o tempo das comunhões coletivas, dos ritos sagrados, das cerimônias, da retirada dos tabus, das pândegas e dos festins. O tempo das festas foi corroído pela organização moderna e a nova repartição das zonas de tempo livre: fim-de-semana, férias. Ao mesmo tempo, o 7 folclore das festas se enfraqueceu em benefício do novo emprego do tempo livre. A ampliação, a estabilização, a quotidianização do novo tempo livre se efetuam simultaneamente em detrimento do trabalho e da festa (Morin, 1975, p. 56). Assim, o tempo livre não seria mais, na sociedade da cultura de massa, apenas o tempo de repouso, nem seria mais a participação coletiva na festa nem em atividades familiares produtivas, mas sim cada vez mais a possibilidade de ser enquanto consumidor (Morin, 1975). Como Gorz (1973)9 bem apontou, o automóvel surgiu como um privilégio de burgueses, ou seja, um luxo. Ele surge já como signo estatutário. Com o automóvel, pela primeira vez, as classes começam a se mover em velocidades diferentes. “Diga-me a que velocidade te moves e te direi que és”, dizia Illich (1974) diante desta sociedade motorizada. O automóvel responde, simultaneamente, à significação de tempo é dinheiro da sociedade capitalista e ao individualismo de uma sociedade burguesa. Prometendo “poupar tempo”, ou seja, “dinheiro”, o automóvel é o protótipo onipresente na vida cotidiana da concorrência própria da economia capitalista. Acelerar significa multiplicar o dinheiro, multiplicar o tempo. O carro veloz, mesmo que jamais possa ultrapassar os 60 km/h nos centros urbanos, é símbolo de poder, entre outras coisas por ser uma máquina de ganhar tempo, uma máquina para se chegar à frente da concorrência, fazer dinheiro, mesmo que esse potencial em geral não possa se realizar. Há trinta anos Illich (1974) mostrou os efeitos da velocidade alcançada pelos veículos motorizados em termos de desigualdade social, consumo de espaço, perda de autonomia para deslocamentos ordinários e aumento do tempo social gasto com a circulação. Illich (1974) lembra que o norte-americano gasta 25% do tempo social disponível com a circulação, enquanto que nas sociedades não motorizadas é destinado de 3 a 8% do tempo social com a circulação. Ele lembra ainda que ao ultrapassar certo limite de velocidade (em torno dos 20 km/h), os veículos motorizados produzem distâncias que só eles podem cobrir, e que o tempo total devotado pela sociedade à circulação começa a aumentar. A velocidade cria a dependência por ela, e aqueles que não têm acesso aos veículos motorizados se encontram muitas vezes na condição de excluídos da vida social. Conclusão: a busca concorrencial por velocidade, na ânsia de fazer-valer seu tempo, acaba custando o tempo de todos. Um aparente paradoxo só explicável nos reportando à separação e oposição entre indivíduo e sociedade, própria de certas formações sociais. Fica claro, deste modo, que o automóvel figura e encarna um certo individualismo, propriamente burguês. A bicicleta, como Illich (1974) mostra, ao contrário do automóvel, não retira a autonomia individual, relativamente não consome espaço, não gera estratificação e permite a cada um controlar o gasto da sua própria energia: “o ser humano com bicicleta se converte em dono dos seus próprios movimentos, sem estorvar o vizinho” (Illich, 1974). De forma oposta, “O veículo a motor inevitavelmente torna os usuários rivais entre si pela energia, pelo espaço e pelo tempo” (ibidem). A bicicleta, no seu uso prático, implica uma racionalidade social, ou “socialista”; o automóvel carrega uma racionalidade individualista. Em termos de tempo social, eqüidade e autonomia, a bicicleta é incomparavelmente mais eficiente que os automóveis. Na verdade, pouco sentido tem uma comparação em termos de eficiência, pois a bicicleta e o automóvel seguem em direções opostas a respeito desses temas. A urgência do automóvel é a urgência da produção, a urgência do retorno. A velocidade do automóvel não é mais do que a cronometria (a quantificação do tempo abstrato) e a concorrência dos capitais individuais aplicados aos deslocamentos humanos ordinários. Como frisou Baudrillard (1996), a era da sociedade de consumo é também a era do desaparecimento da fábrica por sua difusão a toda a sociedade. O tempo dos lazeres e o tempo do deslocamento são o mesmo tempo da produção e seguem os mesmos imperativos desta. 9 O referido artigo de André Gorz também deverá ser publicado no Brasil pela Conrad Editora no livro Apocalipse Motorizado: a tirania do automóvel em um planeta poluído, organizado por Ned Ludd. 8 A bicicleta, assim como nunca foi investida e revestida simbolicamente como o automóvel (signo de poder, status, virilidade etc.), também mantém relativa distância da racionalidade da produção capitalista, que perpassa hoje em dia todas as esferas da vida e, como vimos, as próprias técnicas. E não é por outro motivo que a bicicleta aparece como uma tecnologia alternativa mas também como uma potencial tecnologia de uma “sociedade alternativa”. À eficiência social da bicicleta, cronometricamente falando, apontada por Illich (1974), soma-se uma possibilidade ou aposta mais radical: a possibilidade ou aposta de uma outra significação de tempo, e de trânsito (ou a supressão de ambos). Ferrovias podem ser mais rápidas do que canais para gôndolas, e um lampião a gás pode iluminar mais do que uma vela: mas é somente em termos de objetivo humano e em relação a um conjunto de valores humanos e sociais que a velocidade ou a iluminação têm algum significado. Se se deseja absorver o cenário, o movimento lento de um canal pode ser preferível ao movimento rápido de um carro (Mumford, 1963, p. 282). A Contestação “Até mesmo essa proposta “realista” irá parecer extremamente utópica para muitos, mas há um limite para quanto do mundo real um homem pode aceitar e ainda manter o seu auto-respeito”. Robert Paul Wolff No seio mesmo da sociedade de consumo surgiram movimentos expressivos de questionamento da “cultura do automóvel”. Coincidentemente ou não, os movimentos mais significativos que questionaram o automóvel, contestaram também a ordem social em que ele aparece. Nos anos 60, quando a luta contra o automóvel era algo realmente novo e um atentado contra “as maravilhas do progresso”, em plena ascensão automobilística, um movimento em Amsterdã chamado Provos (uma abreviatura para “provocação”) contrapôs a emergente cultura automobilística com a bicicleta. Entre os vários e inusitados “planos” que o Provos delineou estava o “Plano das Bicicletas Brancas”. A idéia era espalhar bicicletas pintadas de branco pela cidade para que qualquer um pudesse utiliza-las, deixando-as no ponto de destino para que outra pessoa qualquer pudesse fazer uso dela. A contestação do Provos em relação ao automóvel ia desde os problemas ambientais causados por ele, passando pelos problemas urbanos (o roubo do espaço público), até a agressividade e o risco à vida conseqüente dele. Apesar da contestação do Provos não se restringir ao automóvel, o primeiro choque verdadeiro entre eles e a polícia se deu por causa da bicicleta. Plano das Bicicletas Brancas (Provokatie nº 5) Cidadão de Amsterdam! Basta com o asfáltico terror da classe média motorizada! Todo dia, as massas oferecem novas vítimas em sacrifício ao último patrão a quem se dobraram: a autoridade. O sufocante monóxido de carbono é seu incenso. A visão de milhares de automóveis infecta ruas e canais. O plano Provo das bicicletas nos libertará desse monstro. Provo lança a bicicleta branca de propriedade comum. A primeira bicicleta branca será apresentada ao público quarta-feira, 28 de julho, às três da tarde no Lieverdje, o monumento ao consumismo que nos torna escravos. 9 A bicicleta branca estará sempre aberta. A bicicleta branca é o primeiro meio de transporte coletivo gratuito. A bicicleta branca é uma provocação contra a propriedade privada capitalista, porque a bicicleta branca é anarquista! A bicicleta branca está à disposição de quem quer que dela necessite. Uma vez utilizada, nós a deixamos para o usuário seguinte. As bicicletas brancas aumentarão em número até que haja bicicletas suficientes para todos, e o transporte branco fará desaparecer a ameaça automobilística. A bicicleta branca simboliza simplicidade e higiene diante da cafonice e da sujeira do automóvel. Uma bicicleta não é nada, mas já é alguma coisa10. A polícia recolheria as bicicletas brancas das ruas, porém não sem ter algumas de suas bicicletas pintadas de branco pelo Provos. As bicicletas brancas acabariam se tornando uma espécie de símbolo do movimento. Unindo um senso de humor e um deboche à sua contestação anticapitalista e das autoridades e instituições constituídas, o Provos foi precursor de muitos movimentos. Talvez precursores do que se costuma chamar “contracultura”; e também precursores de uma crítica ecológica e social ao automóvel. O então bizarro plano das bicicletas brancas, décadas depois, viraria política municipal na cidade francesa de Rochelle (bicicletas azuis) e mais recentemente na cidade portuguesa de Aveiro11. O Provos era um movimento constituído basicamente por jovens, de nítida influência anarquista, e também artística. Foi em meio a happenings e “cerimônias” – que se encontravam em algum ponto entre o místico, o artístico, o político e o no sense – que o Provos ganhou vida. Esses happenings e cerimônias, em determinada altura, passaram a acontecer sempre numa mesma praça, à meia-noite de sábado, juntando por vezes milhares de pessoas. Sem dúvida elas carregavam um teor nítido de festa e de rito. Muito do espírito do Provos se faz presente hoje em dia no Reclaim The Streets: um movimento surgido nos anos 90 na Inglaterra a partir das lutas anti-estradas e das raves ilegalizadas. Como pode-se avaliar pelo seu próprio nome, o RTS é, a princípio, um movimento (e uma forma de ação) pelo resgate do espaço público, privatizado, entre outras cosias, pelo automóvel. Por ter tido sua origem ligada ao forte movimento anti-estradas britânico surgido no início dos anos 90, e por consistir em festas de rua que interrompem o trânsito abrindo as ruas para as pessoas, o RTS por vezes é reduzido a um movimento anticarro. Se é certo que a crítica ao automóvel é nítida no RTS, no entanto, assim como o Provos sua contestação abrange processos sociais mais amplos. Trata-se de um movimento libertário, isto é, de influência anarquista, e ecologicamente direcionado. Inclusive, o RTS teve um destacado papel na formação das redes e manifestações anticapitalistas que ficariam midiaticamente caracterizadas como “antiglobalização”. Também é importante destacar o caráter lúdico do RTS, e a implosão da separação entre festa e política, entre o lúdico e o sério nas suas práticas. Assim como o Provos, o RTS carrega uma influência situacionista, que passa pela preocupação com questões urbanísticas e pela idéia da revolução como festa e como revolução da vida cotidiana. A Massa Crítica12 é outro movimento contemporâneo (que assim como o RTS pode ser entendido como uma forma de ação) que contesta a “cultura do automóvel” ao mesmo tempo que reivindica as ruas para os não motorizados. Ela surgiu na cidade de San Francisco, EUA, em 1992, e a idéia consistia em reunir os ciclistas da cidade uma vez por mês para voltarem juntos para suas casas, numa espécie de “coincidência organizada”, de modo que essa presença em massa fosse sentida pelos próprios ciclistas e pela cidade como um todo. 10 Trecho do Plano das Bicicletas Brancas, aqui reproduzido de Guarnaccia (2001, p. 76). Cf. http://www.bikemagazine.com.br/especial/buga/buga.htm 12 O nome “Massa Crítica” foi retirado do documentário sobre bicicletas Return of the Scorcher, de Ted White, no qual a travessia de cruzamentos nas grandes cidades chinesas é discutida em termos de massa crítica: as bicicletas se acumulam até atingirem um ponto de massa crítica, no qual conseguem parar o tráfego e atravessar o cruzamento. 11 10 Em pouco tempo a idéia se espalhou pelo mundo, a ponto de hoje em dia ser quase impossível precisar todas as cidades em que elas ocorrem mensalmente. A Massa Crítica se tornou também uma forma comum de manifestação na Europa e na América do Norte como parte de protestos contra guerras, contra organismos gestores da globalização capitalista etc... Em 2002 algumas cidades brasileiras ganharam sua versão da Massa Crítica. Com o nome de Bicicletada13 ela tem ocorrido no último sábado de cada mês em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Petrópolis. Ainda é cedo para saber o futuro e as implicações das Bicicletadas no Brasil, já que o contexto e o histórico latino-americanos são distintos do europeu e norte-americano. No Brasil, embora o Código de Trânsito Brasileiro determine que a bicicleta tem preferência em relação aos automóveis, o que se constata no dia-a-dia é a bicicleta sendo vista como um corpo estranho na rua, quer pela própria Polícia Militar, quer pelos motoristas ou mesmo por certos jornalistas. A bicicleta no Brasil tem sido, do ponto de vista das classes dominantes e autoridades constituídas, sinônimo de brinquedo de fim-de-semana, e não de um meio de locomoção14. Num país de “terceiro mundo”, onde o carro não é um objeto de consumo acessível a todos, seu valor de troca-signo no sistema de diferenciações e distinções, próprio da sociedade de consumo, se torna mais forte. O carro é signo do moderno na vida cotidiana da periferia da modernidade. O uso cotidiano da bicicleta acaba em grande parte se restringindo aos semdinheiro, aos sem-poder. Na economia dos signos e na organização das aparências o valor da bicicleta é ainda mais baixo num país de “terceiro mundo”, como é o caso do Brasil. A bicicleta se depara assim com motivos extras que a põe fora do dia-a-dia das pessoas, ficando reservada e confinada ao lazer. Portanto aqui – no Brasil e na América Latina – as Bicicletadas, colocando os “brinquedos” na rua, têm o potencial de significarem a reivindicação no dia-a-dia de cada um da promessa contida e separada no lazer. Uma ilustração: elas podem significar um impulso no sentido da expansão do Parque do Ibirapuera, transformando e submergindo a cidade de São Paulo no Parque. Se as ciclovias em São Paulo são confinadas num parque para servirem a passeios relaxados e despreocupados de fim-de-semana, resta uma aposta de que a construção de ciclovias e o uso cotidiano de bicicletas possam significar uma expansão do parque para fora de seus limites, num questionamento mais amplo dos fins e funções desempenhados pelo automóvel, pelo urbanismo e pela locomoção cotidiana das pessoas e bens. A aposta nesse caso é de que os brinquedos deixem de ser simplesmente brinquedos quando libertados do confinamento do lazer, e a corrida e concorrência do trânsito se esvaia pela ludicidade daquilo que continua sendo brinquedo. Esse é um caso em que a bicicleta não é apenas portadora de uma eficiência cronométrica no plano social, mas também portadora de outros conjuntos de valores, que buscam realizar a mítica promessa separada no lazer. Do Tempo da Depressão ao Tempo da Festa Cerca de trinta anos atrás Baudrillard (1995a) explicava a multiplicidade de fenômenos discordantes – como a abundância, a euforia e a depressão – que em conjunto caracterizam a “sociedade de consumo” fazendo referência a desconstrução e dissociação da ambivalência do desejo no sistema de consumo. Vaneigem (2002), entre outros, já apontava nos anos 60 o caráter depressivo da sociedade de consumo. De lá para cá essa característica parece ter se aprofundado. Em 1990 a depressão 13 Cf. www.bicicletada.org Espera-se que estejamos assistindo uma mudança em curso, visto que um projeto que institui o dia 22 de setembro (dia mundial sem carros) como Dia Sem Carros (de adesão voluntária) foi aprovado pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina, pioneiramente no Brasil. 14 11 ganhou a quarta posição entre as causas de morte no mundo. A Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial e a Escola de Saúde Pública de Harvard prevêem que em 2010 a depressão afetará 30% de todos os adultos e em 2020 será a segunda maior causa de invalidez e morte em todo o mundo. Nada mais do que a expansão e o aprofundamento dos processos sociais próprios da sociedade de consumo. Interessante notar que a mesma previsão das três instituições indica os “acidentes de carro” como a terceira maior causa de mortes e ferimentos em todo o planeta no ano de 2020, perdendo apenas para as isquemias de coração e a depressão. Se acrescentarmos ainda que as principais causas de morte entre jovens europeus entre 15 e 24 anos são, por ordem, os acidentes de carro, suicídios e câncer (de acordo com o escritório estatístico da União Européia – Eurostat)15, então podemos notar claramente uma coincidência entre uma sociedade depressiva e a sociedade do automóvel. Uma sociedade que leva ao extremo os problemas da vida, transformando-os também em problemas da sobrevivência. Os aspectos lúdico e festivo presentes de forma e em graus diferentes no Provos, no RTS e na Massa Crítica (Bicicletada) denunciam e se colocam em contraposição a uma sociedade cada vez mais depressiva, onde o isolamento é a regra e as relações são mediadas por imagens, papéis e objetos de consumo em geral. Paradoxalmente o carro acaba sendo depositário de uma tentativa de fuga, na “procura da festa perdida”. Os happenings do Provos resgatavam o caráter das festas do “antigo modo de vida” de que fala Morin (1975). Tempo das comunhões coletivas, e onde rito e mito se fundem, fazendo da festa um evento agregador, político, e não mero rito ou diversão individualizada em massa. As festas do RTS são uma contestação explícita dos paradigmas espaciais dominantes. Também são uma crítica bastante clara da vida cotidiana nas sociedades capitalistas. Talvez menos óbvia seja a contestação, implícita nessas práticas, do tempo como força produtiva. O tempo da festa, busca ser o não-tempo, para além do consumo e da produção, para além da abstração cronométrica. O processo de colonização nunca se completa. E é na chamada periferia, nas neocolonias como a América latina, onde se pode mais facilmente encontrar sociabilidades, significações e modos de vida distintos daqueles próprios da sociedade de consumo. Os povos originários, por exemplo, vide a luta dos zapatistas e dos Mapuches, carregam uma distinta significação da terra, que se choca com a concepção da terra como recurso, mercadoria, propriedade, típica do universo capitalista. Mas mesmo em boa parte das cidades brasileiras é possível encontrar localidades e comunidades que ainda compartilham antigos modos de vida, onde o tempo das festas não foi totalmente corroído pelo tempo como força produtiva e pelo tempo “livre” da sociedade de consumo. Nesses casos a bicicleta pode aparecer como parte de uma alternativa integral a um dado desenvolvimento, do qual sabemos os resultados ecológicos, e no fim do qual o que estará esperando é, na melhor das hipóteses, a depressão. Entre 1912 e 1916 um movimento de massa de trabalhadores caboclos, no interior do que é agora Santa Catarina, só foi contido com o efetivo de milhares de soldados federais e com o massacre dos rebeldes. O episódio ficou conhecido como Guerra do Contestado, por ter ocorrido em terras contestadas pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Com a empresa Brazil Railway e a construção de uma ferrovia que cortaria a região, adentraram forças políticas, econômicas e sociais inteiramente novas, e que foram um importante fator na eclosão do movimento. Com a estrada de ferro chegava uma nova lógica econômica, política e social, se sobrepondo às 15 No Brasil o trânsito é responsável por mais da metade das mortes de adolescentes entre 15 e 19 anos, sendo a principal causa de óbito de jovens entre 10 e 25 anos. Não temos dados sobre a depressão, mas não é difícil perceber pela própria experiência de vida de cada um, inclusive do leitor, que a depressão torna-se problema cada vez mais comum, na própria medida que são incorporados os modos de vida, os valores e sociabilidades próprios da sociedade de consumo, irradiados do centro para a periferia da ordem geopolítica mundial. 12 existentes. Apropriação de terras e grandes serrarias vinham com o capitalismo corporativo que chegava com a Brazil Railway: do tempo métrico e abstrato, do tempo como dinheiro. Lembrando os ludditas, os pelados (como eram conhecidos os rebeldes) destruíram uma grande serraria, do mesmo grupo corporativo da Brazil Railway. Criaram redutos – também conhecidos como cidades santas – onde viviam e onde o dinheiro foi praticamente abolido. A historiografia em geral salienta o caráter festivo que impregnava o cotidiano dos redutos, apontando esta como uma das principais características dessa experiência rebelde. Monteiro (1974) fala em “festa permanente”, onde os momentos de exceção passaram a ser regras; onde os ritos das festas religiosas reencontraram os mitos; o reencontro da alegria; cessação do fluxo do tempo; fim do tempo. Julho de 2003 Referências Bibliográficas BAUDRILLARD, Jean. (1995a) A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Elfos. __________. (1995b) Para Uma Crítica da Economia Política do Signo. Rio de Janeiro: Elfos. __________. (1996) A Troca Simbólica e a Morte. Rio de Janeiro: Loyola. BOOKCHIN, Murray. (1998a) Autogestão e Tecnologias Alternativas. In: BOOKCHIN, Murray. Textos Dispersos. Lisboa: SOCIUS. __________. (1998b) Porquê Ecologia Social? In: BOOKCHIN, Murray. Textos Dispersos. Lisboa: SOCIUS. __________. (s/d) Sociedade e Ecologia. versão eletrônica: http://www.azul.net/m31/utopia/7/7d_soc_edu.html. CASTORIADIS, Cornelius. (1982) A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2ªed. CASTORIADIS, Cornelius; COHN-BENDIT, Daniel. (1981) Da Ecologia à Autonomia. São Paulo: Brasiliense. GORZ, André. (1973) L’Ideologie Sociale de la Bagnole. versão eletrônica: www.carbusters.org/freesources/TheSocialIdeologyFrench.rtf. GUARNACCIA, Matteo. (2001) Provos: Amsterdam e o nascimento da contracultura. São Paulo Conrad. ILLICH, Ivan. (1974) Energía y Equidad. versão eletrônica: www.ivanillich.org. MONTEIRO, Duglas Teixeira. (1974) Os errantes do novo século: um estudo sobre o surto milenarista do Contestado. São Paulo: Duas Cidades. MORIN, Edgar. (1975) Cultura de Massas no Século XX: o espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 3ª ed. MUMFORD, Lewis. (1963) Technics and Civilization. New York: Harbinger. SALE, Kirkpatrick. (1999) Inimigos do Futuro: a guerra dos luditas contra a revolução industrial e o desemprego. Rio de Janeiro: Record. VANEIGEM, Raoul. (2002) A Arte de Viver para as Novas Gerações. São Paulo: Conrad. 13
Download