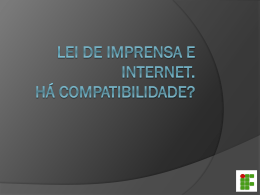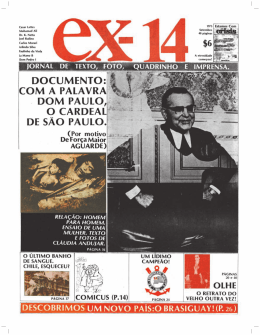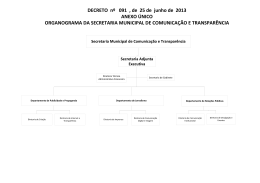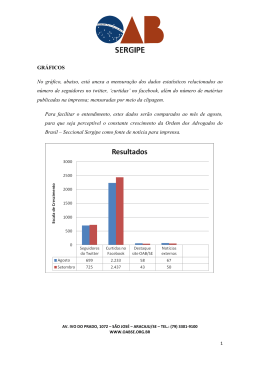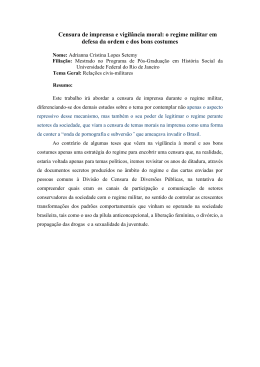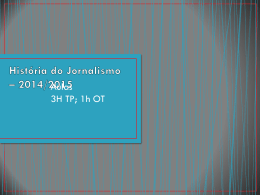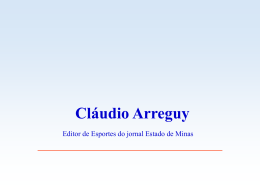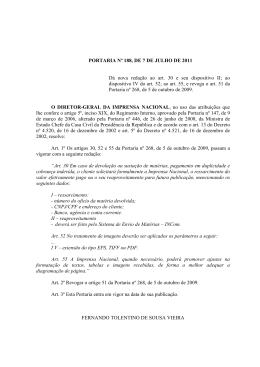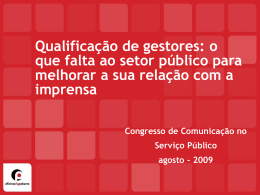Imprensa – 40 textos subdivididos em sub temas denominados: imprensa (24); midia (7); cartoons ( 9). 1. ALBUQUERQUE, Caio Rodrigo Notícia versus História de vida: O Jornalismo e o relato de testemunhas do regime militar em Piracicaba. São Paulo: UNESP/Bauru, 2002. Resumo: Essa tese estuda as representações que ocorreram no período de 1964 à 1985, período do regime militar no Brasil, por meio do estudo jornalístico, do jornal de Piracicaba, a fala de testemunhas da época e com religiosos, políticos, estudantes, professores, jornalistas e militares que viveram este período na cidade, confrontando o discurso político e os relatos buscaram construir a história das relações entre Piracicaba e o regime pós 1964. 2. AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, Imprensa, Estado Autoritário 196878: O Exercício Cotidiano da Dominação e da Resistência; O Estado de São Paulo e Movimento. São Paulo: USP, 1990. Mestrado Resumo: Este trabalho representa uma analise das relações estabelecidas entre a censura previa, a imprensa escrita e o estado autoritário brasilieiro pós-64. Realizou-se uma pesquisa envolvendo os materiais produzidos e vetados por dois orgãos de divulgação diferenciados em momentos históricos distintos, a saber: o estado de s. Paulo (1972-75), representante da grande imprensa e movimento (1975-78) da alternativa. Colheram-se depoimentos de nove profissionais da imprensa, de algum modo, relacionados com o momento histórico referido em que houve a interferência política no sentido da limitação da liberdade de expressão. A originalidade desta pesquisa prende-se ao fato de que busca captar o aspecto multifacetado e nao aleatório da censura previa, ao lado da diversidade de reações de resistência por parte de orgãos de divulgação da imprensa escrita, paralelamente a multiplicidade de conflitos que interferem na atuação do estado autoritário brasileiro pós-64. Isto através da pratica cotidiana vivenciada pelos produtores de noticias (jornalistas) e pelos encarregados do impedimento de sua veiculação (censores). Encara-se este trabalho como uma abertura para uma variedade abordagens possíveis no exercício com a temática da censura previa a imprensa escrita, frente à imensidão de material que ainda se encontra a disposição do pesquisador. 3. ARAÚJO, Luís Carlos Elblak de. O versus e a imprensa alternativa. São Paulo: USP 2001. Mestrado Resumo: Este trabalho representa uma análise do jornal da imprensa alternativa versus, que circulou em São Paulo e posteriormente em algumas capitais brasileiras entre 1975 e 79 durante, portanto, o regime militar no Brasil (1964-1985). Fiz uma pesquisa junto à coleção completa do periódico ao todo, 34 edições, buscando analisar em seus textos a visão que este jornal tinha da América Latina, um de seus principais temas nos quatro anos de existência. Colhi alguns depoimentos de jornalistas participantes de versus e consultei também, apenas como fonte de apoio, outros jornais da época estudada. A originalidade desta pesquisa consiste no fato de se tentar traçar a visão que versus tinha da América Latina, questionando o papel deste jornal no cenário da imprensa brasileira dos anos de 1970. 4. BIROLI, Flávia. João Goulart e o golpe de 1964 na imprensa, da transição aos dias atuais: uma análise das relações entre mídia, política e memória. I Congresso Anual da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação e Política. Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa sobre as representações do golpe de 1964 e da ditadura militar recente, na imprensa brasileira, nas últimas décadas. O material coletado e analisado consiste em textos publicados em alguns dos principais jornais e revistas do país (jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e Correio Braziliense; revistas Isto é, Época, Veja e Carta Capital), nos aniversários de 20, 30 e 40 anos do golpe; no momento da transferência do poder aos civis, em 1985; e no noticiário relacionado à publicação, pelo Correio Braziliense, no segundo semestre de 2004, de fotos que seriam de Wladimir Herzog antes de ser assassinado em uma cela do Doi-Codi, em São Paulo. 5. DELGADO, Márcio de Paiva, “O Golpismo Democrático” Carlos Lacerda e o Jornal Tribuna da Imprensa na Quebra da Legalidade (1949-1964). Universidade Federal de Juiz de Fora. 2002. Mestrado Resumo: o autor aponta como o jornalista Carlos Lacerda utiliza-se do Jornal Tribuna da Imprensa do qual era proprietário, redator e editor para atacar o governo, construir um discurso contra as esquerdas e em determinados momentos defendendo um discurso claramente golpista que defendia a quebra da legalidade por uma suposta verdadeira democracia diferente e sem as influências da nascida ao apagar das luzes do Estado Novo. 6. GAZZOTI, Juliana. “Imprensa e Ditadura: a revista Veja e os governos militares”.São Paulo, São Carlos: UFSCAR,1998. Mestrado. Resumo: A análise das relações entre imprensa e poder constitui uma lacuna na Ciência Política brasileira. No decorrer do período militar brasileiro, a grande imprensa sofreu muitas transformações. De modo sucinto, é possível dizer que, entre os anos de 1964 e 1985, o próprio governo preparou o terreno para o desaparecimento dos órgãos familiares e relativamente independentes, fazendo surgir jornais e revistas cada vez menos "ideológicos" e mais voltados para o mercado. Além disso, foi irregular e instável o caminho das relações entre certos órgãos de imprensa e os sucessivos governos militares. Por isso, chamou nossa atenção que a revista Veja não tivesse conquistado até aqui a atenção que merecia por sua posição de principal semanário brasileiro e como exemplo de transformação de nossa imprensa, com recursos a elementos visuais importados de exemplos americanos. Veja surgiu em setembro de 1968, como órgão da Editora Abril, dirigida pelo jornalista Nino Carta, um dos principais operadores da modernização da imprensa com base em veículos formalmente avançados e voltados para uma nova classe média. Com isso, do nosso ponto de vista, Veja encaixava-se no Jürgen Habermas chamou de "jornalismo empresarial". Desta maneira, analisamos a construção do discurso da revista frente a três contextos: o posicionamento do governo e das oposições nas sucessões presidenciais; os mecanismos de censura de repressão instalados pelo regime militar; e a consolidação da indústria cultural no país. Constatamos, com isso, a postura centrista assumida por Veja no período ditatorial por meio de sua coerência ao defender a abertura política do regime, das suas formas de aceitação e resistência em relação à censura e da sua conivência com as políticas econômicas do governo. 7. GAZZOTTI, Juliana. Jornal da Tarde (1966-75): ideologia liberal e ditadura militar? Santa Catarina: UFSC, 2004. Doutorado. Resumo: Este trabalho traz a análise do Jornal da Tarde (JT) ? vespertino paulista fundado em 4 de janeiro de 1966 ? e suas relações com a ditadura militar. O período focalizado vai do surgimento do novo jornal do grupo O Estado de S. Paulo até a extinção da censura prévia em sua redação ocorrida no dia 4 de janeiro de 1975. O Jornal da Tarde foi criado em plena ditadura militar no interior da empresa responsável pela publicação do jornal O Estado de S. Paulo (OESP). Tendo em sua chefia de redação o jornalista Mino Carta, já conhecido pelas inovações que efetuara em outros órgãos de imprensa, o JT reúne características fundamentais: 1) nasceu em um contexto de consolidação da indústria cultural no Brasil, com um projeto de modernização; 2) fazia parte de uma empresa cujos proprietários defendiam consistentemente o ideário liberal desde os primórdios do jornal O Estado de S. Paulo, apesar de terem sido protagonistas centrais no movimento que resultou no golpe de 1964; 3) foi um dos poucos órgãos da grande imprensa a sofrer censura prévia durante alguns anos do período militar. O nosso interesse recaiu sobre o Jornal da Tarde (1966-75) tendo como problemática, por um lado, saber por que a empresa S.A. O Estado de S. Paulo resolveu criar um novo jornal (JT), mesmo possuindo um outro jornal (OESP) já consolidado no mercado e de grande tradição na imprensa brasileira. E entender por que esse jornal ? apesar de suas características modernas ? foi alvo da censura, da mesma forma que seu irmão mais velho, o tradicional O Estado de S. Paulo. Por outro lado, analisar o liberalismo defendido pelo JT e entender como o jornal conciliava a defesa desta concepção num período ditatorial. 8. JUNIOR, Cillas Luciano A história e a língua na mídia escrita no Brasil na década de 1960. São Paulo: PUC-SP, 2007. Mestrado Resumo: A tese tem por fonte a imprensa escrita, em ascensão na década de 1960 e dali pra frente cada vez mais influente e formadora de opinião. Evidencia-se a relação entre a imprensa escrita e a ditadura militar através da análise das marcas lingüísticas do período, incluindo na análise a censura a que o material estava sujeito. 9. KOSHIYAMA, Alice Mitika. Histórias de jornalismo: das práticas jornalísticas as práticas pedagógicas. São Paulo: USP, 1992. (Livre Docência) Resumo: As práticas jornalísticas e as práticas pedagógicas são condicionadas pelas circunstâncias dos momentos vivenciados. A partir de nossa experiência em docência e pesquisa entre 1972 e 1992, aliada a nossa perspectiva da historia do jornalismo, estabelecemos relações entre as práticas. Os valores de uma sociedade desigual onde prevalecem os interesses das minorias privilegiadas, as práticas dominantes na grande imprensa brasileira, têm estado presentes nas práticas das escolas de jornalismo. A prática de jornalismo implantada na imprensa brasileira evolui tecnologicamente com o desenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos. Politicamente as grandes mudanças tecnológicas cobrem o período da ditadura militar até o pleno restabelecimento do estado de direito. Concluímos que, como nas práticas jornalísticas profissionais as práticas pedagógicas estão revestidas de aspectos ético-políticos além dos sempre destacados aspectos técnicos. 10. KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda: jornalistas e censores, do AI5 à Constituição de 1988. Campinas: UNICAMP, 2001. Doutorado. Resumo: Esta pesquisa tem como temática mais geral os procedimentos censórios no Brasil, do pós AI-5 à Constituição de 1988. A análise, contudo, é abordada a partir da relação entre censores e jornalistas sob a perspectiva do colaboracionismo, ou da não oposição às medidas restritivas. Isto porque, no processo de investigação, constatei que os primeiros censores deslocados para Brasília, quando da transferência da capital, eram jornalistas. Assim, por um lado foram mapeados, o locus institucional das agências de censura no aparelho de Estado, as tramas legislativas construídas no período Republicano, e as gerações dos Técnicos de Censura do DCDP - Departamento de Censura de Diversão Pública - além de toda a estratégia corporativa montada por este grupo para sobreviver após a decretação do fim da censura oficial, em 1988. Por outro, foi redesenhada a trajetória do periódico Folha da Tarde, do Grupo Folha da Manhã, que tinha a fama de possuir, em sua redação, jornalistas que eram policiais, sendo acusado também de colaborar com o regime que se instalou no Brasil em 1964. Partindo de uma abordagem da história cultural, cruzam a metodologia deste trabalho a união da história política com a história oral, dando voz aos personagens dessa trama - jornalistas e censores. O foco na Imprensa permite também refletir a relação entre estes dois profissionais das letras - jornalistas e historiadores - na investigação e feitura da história do tempo presente. 11. LACERDA, Eliane Muniz. O jornalismo nos limites da liberdade: um estudo da cobertura da imprensa sobre os casos dos religiosos acusados de praticar atividades subversivas durante o regime militar. UnB 2007. Mestrado. 12. LORENZOTTI, Elisabeth de Souza. Do artístico ao jornalístico: vida e morte de um suplemento – Suplemento literário de O Estado de São Paulo (19561974). São Paulo: USP, 2002. Mestrado. Resumo: O Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, idealizado por Antonio Candido de Mello e Souza e dirigido durante dez anos por Décio de Almeida Prado (1956-1966) viria a ser considerado o modelo de todos os cadernos culturais que o sucederam. Uma publicação independente e autônoma, não-jornalística, mas artística e literária inserida em um jornal, é um desafio ao entendimento do processo histórico do jornalismo brasileiro. Desde 1966 e até o fim, em 1974, a publicação foi editada por Nilo Scalzo. Ingerências conjunturais – o golpe militar de 64 e a ditadura --; profissionais (rivalidades entre críticos e jornalistas da redação), mas especialmente as transformações tecnológicas, a partir dos anos 70, que começaram a revolucionar a forma de se fazer jornal, contribuíram para a morte do Suplemento. Depois, vieram o Suplemento Cultural, o Cultura e o Caderno 2. Os novos tempos, velozes e imersos no consumo de massas, não comportam uma publicação não-jornalística, apensa a um jornal, com a tradição da crítica reflexiva e formativa. 13. LUNA, Cristina Monteiro de Andrada. A Associação Brasileira de Imprensa e a ditadura militar (1964- 1977). Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. Mestrado. Resumo: Embora apareça na bibliografia sobre a ditadura militar (1964-1985) como uma das principais organizações da sociedade civil que lutaram pelo respeito aos direitos humanos e pelo retorno da democracia, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) até agora ainda não havia se constituído em objeto de estudo acadêmico, pois os livros sobre a entidade foram escritos por jornalistas pertencentes ao seu quadro social. Assim, este trabalho discute a construção da memória oficial da ABI e analisa parte da trajetória da entidade durante o período da ditadura militar. Para tanto, trabalhamos com os conceitos de “sociedade civil” e “intelectual”, tal como formulados por Antonio Gramsci, e analisamos a ABI a partir do estudo de alguns momentos selecionados, como o golpe de 1964; o aniversário dos sessenta anos da entidade, em abril de 1968, quando o seu presidente recebeu o presidente da República, general Artur da Costa e Silva, para um almoço; a homenagem que a ABI prestou ao Exército em agosto de 1969 e alguns momentos da presidência de Prudente de Moraes Neto, como os episódios da morte do jornalista Vladimir Herzog, da explosão da bomba na entidade e da participação da ABI na “Missão Portela”. 14. MIGLIACCIO, Luciana Adayr Arruda. O jornal 'O Estado de S. Paulo' e a revista 'Veja' após o Ato Institucional nº 5: análise semiótica do discurso jornalístico de resistência. USP. 2007. Mestrado Resumo: Quando o AI- 5 foi decretado, em dezembro de 1968, o regime militar buscou, por meio da interdição à liberdade de imprensa, homogeneizar os discursos, impedir que os indivíduos demonstrassem insatisfação com o governo. A expectativa em relação aos discursos responsivos ao Regime é de um modo de presença submisso e que envolva textos com efeito de monofonia, ou seja, com acento único no tom da voz do enunciador. Observaremos como e por que a mídia jornalística impressa dessas décadas responde ao autoritarismo da ditadura militar. Para isso, analisaremos textos midiáticos correspondentes a essa época da História do Brasil, com apoio teórico e metodológico da semiótica de linha francesa. Alguns veículos de mídia submeteram-se à interdição, evitando o confronto com o Regime; outros, porém, como O Estado de S. Paulo e Veja, mesmo estando interditos, marcaram seu protesto, utilizando um efeito de descontinuidade semântica nas páginas dos periódicos, que supunha efeito de estranhamento ao leitor fiel do jornal e da revista. Rompiase a isotopia discursiva, que é a homogeneidade de leitura oferecida pelos periódicos dia após dia, ao se colocar, por exemplo, na revista Veja, desenhos de demônios, após uma reportagem que tratava da reforma da estrada Belém-Brasília; ou, na primeira página do jornal OESP, fotos de rosas e cartas de leitores. Os enunciadores dos textos midiáticos se apoiaram então no efeito de ironia, que é uma forma de heterogeneidade mostrada e não marcada para protestar contra a interdição. Desestabilizou-se, dessa maneira, o efeito de monofonia por meio de inserções pontuais de discursos representativos de formações discursivas contraditórias. Delineia-se, assim, o corpo flexível do ator da enunciação: depreende-se do próprio discurso um sujeito que, ainda que em segredo, opõe-se ao veto à liberdade de expressão da imprensa. Comprova-se a possibilidade de verificação de um éthos e seu anti-éthos no diálogo discursivo polêmico entre textos que defendiam a submissão como modelo de presença (ditadura) e textos que, responsivos àqueles (mídia), configuravam-se pelas dimensões da descontinuidade, da heterogeneidade mostrada, da polifonia e da polêmica veladas. 15. MORAES, Letícia Nunes de. Cotidiano & política em Carmen da Silva e David Nasser. São Paulo: USP, 2007. Doutorado. Resumo: Esta tese traz uma reflexão acerca das transformações observadas na sociedade brasileira nas décadas de 1960-70, muitas das quais tiveram início ou se aceleraram a partir do golpe de abril de 1964, com a instauração do regime militar. A discussão proposta parte do estudo dos artigos assinados por David Nasser, em O Cruzeiro, principalmente, e em Manchete, esporadicamente, e Carmen da Silva, na revista Claudia, entre 1963-1973. Mostro, através do trabalho destes autores, as sementes do que resultou num endurecimento político baseado num aparato repressivo cuidadosamente construído, com o objetivo de cercear e punir idéias políticas diferentes daquelas que sustentavam a ditadura instaurada. Paralelamente, no campo social/cultural, observou-se a abertura dos costumes e dos comportamentos, o que contradiz, neste momento da história brasileira, a noção segundo a qual: "É mais fácil derrubar um ditador do que mudar a cabeça das pessoas". 16. MUSSE, Christina Ferraz. Imprensa, Cultura e Imaginário Urbano: exercício de memória sobre os anos 60/70 em Juiz de Fora. Rio de Janeiro:UFRJ,2006.Doutorado. Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo demonstrar as relações entre cultura, imprensa e imaginário urbano, isto é, pretende evidenciar de que forma a imprensa atua como mediadora das relações sociais e construtora das identidades. Ao longo da história moderna, a imprensa aparece como importante fator de fixação do homem ao território e construção do ideal da cidade como espaço de convívio e trocas. A narrativa da imprensa coincide com o projeto de ordem e progresso da burguesia em ascensão. Somente em meados do século passado, vozes dissonantes dão origem a outras narrativas, até então colocadas à margem do discurso oficial. Elas antecipam uma nova (des)ordem mundial, em que a complexidade e a incerteza substituem os rígidos referenciais do homem moderno. É no cenário de ruptura, que se instaura nos anos sessenta do século XX, que se pretende analisar a incorporação das narrativas marginais ao novo imaginário urbano. No caso específico deste trabalho, investigasse como um grupo de estudantes e intelectuais ligados ao Partido Comunista Brasileiro luta pela hegemonia política, apropriando-se do suplemento de arte e literatura de um tradicional jornal mineiro da cidade de Juiz de Fora. Através da imprensa, é a cidade que se revela em seus paradoxos, no embate entre “oficiais” e “marginais”. Se a cultura é, neste momento, a peça de resistência à ditadura militar, ela vai aos poucos sendo cooptada pela lógica do capital, dando origem à indústria cultural. O jornal, por sua vez, antecipando as relações emergentes de poder e as novas subjetividades, vai se distanciar do pensamento crítico, tornando-se, cada vez mais, produto a ser consumido, e revelando, nas suas linhas, fotos e cores, uma nova forma de pensar e o ocupar a esfera pública. 17. OLIVEIRA, Cassiano Francisco Sherner de. Utopia e Desencanto: trajetória de vida e rememoração na imprensa alternativa gaúcha. PUC/RGS. 2000. Mestrado 18. OLIVEIRA, João Henrique de Castro de. Do underground brotam flores do mal: anarquismo e contracultura na imprensa alternativa brasileira (1969-1992). UFFRJ: 2007. 19. SEQUEIRA, Cleofe Monteiro de. Informação comprometida. Um estudo do noticiário da Folha da Tarde no governo Médici, A. USP. 2000. Mestrado 20. SILVA, Ana Cristina Teodoro da. O Tempo e as Imagens da Mídia: capas de revistas como signos de um olhar contemporâneo. São Paulo: UNESP/ASSIS, 2003. Doutorado. Resumo: Este trabalho se fundamenta na importância crescente das imagens no século vinte, as quais podem ser entendidas em duplo sentido: como estimulantes dos olhares e como aparências investidas de potencial comunicativo. É privilegiado o uso que a mídia efetuou do universo do olhar. As imagens, em sua ambigüidade, são instrumentos adequados ao uso publicitário em um século em que, paulatinamente, a notícia e a informação são consideradas mercadorias pelos grandes grupos de comunicação. As fontes da pesquisa são as capas de revistas brasileiras de sucesso de mercado. O mercado da informação está fundamentalmente ligado ao exercício da política, eis porque o período de análise corresponde ao final da década de sessenta (início da censura governamental à imprensa) e da década de oitenta (primeira eleição direta para presidente da República após o fim da censura), sendo lícito questionar de que forma a comunicação foi empreendida enquanto entrávamos e saíamos da ditadura militar. As capas são signos do funcionamento da chamada grande imprensa e, ao mesmo tempo, são signos de um olhar que se estrutura no decorrer do século: olhar que busca informação rápida e concisa. Estratégias comuns utilizadas nas imagens de capa são analisadas, como o uso dos códigos das cores e das expressões corporais, assim como os temas que tiveram destaque nas capas das revistas e que mostram a constituição de sentidos propostos à massa de fatos que os próprios meios de comunicação oferecem. As sínteses compostas em imagens estabelecem pautas de discussões, tornando-as importantes e exercendo um poder excludente. As capas das revistas buscam seduzir um público entendido pelas revistas como consumidor. Subjacente a suas sínteses, percebeu-se um arranjo temporal, um ritmo relacionado ao imediato, ao fugaz, ao fragmentado. A temporalidade presente nas imagens da mídia é um dos caminhos de compreensão do mundo contemporâneo e contribui para a constante reformulação dos imaginários e da memória histórica. 21. SILVA, Rosa da. A indústria cultural e o golpe militar (1964-1985): a imprensa brasileira como instrumento de repressão e libertação. São Paulo: USP, 2001. Doutorado. Resumo: Este trabalho é uma trajetória para compreender a Indústria Cultural como fator predominante para a manutenção do regime militar no Brasil (l964-1984). A discussão é baseada em estudos e pesquisas acerca do papel da publicidade e dos meios de comunicação - especialmente a imprensa escrita do jornal O Estado de São Paulo - durante o período do golpe militar. Para atingir o objetivo, estabeleceu-se uma interlocução entre alguns autores - de um lado, Horkheimer e Adorno (l985) e, de outro, Ortiz (1988), Ianni (19751976), Maar (1995) e outros - acerca da Indústria Cultural; isso, à medida que se percebeu ser esta, uma definição complexa de acordo com a teoria crítica e nãoconsensual entre alguns intelectuais brasileiros. Abordou-se o conceito de Indústria Cultural, considerando a realidade brasileira em um contexto maior de acordo com as necessidades de sobrevivência do sistema capitalista. Para tanto, foi necessário aprofundar o estudo sobre o conceito de Indústria Cultural e apontar elementos históricos da constituição da realidade brasileira nos níveis econômico, político e cultural. 22. SILVEIRA, Maria Rita Collor Jobim. A revista civilização brasileira: um veículo de resistência. PUC-Rio. 2007. doutorado Resumo: A Revista Civilização Brasileira, publicada de 1965 a 1968, foi um dos mais importantes veículos de resistência intelectual contra a ditadura militar. A análise de suas características gerais e de alguns de seus principais artigos literários demonstra a ousadia na livre manifestação de idéias contrárias ao governo. Um breve histórico dos eventos que levaram ao Golpe de 1964 e dos primeiros anos do regime oferece o quadro para que se possa avaliar o destaque e a relevância da Revista naquele contexto político, social e ideológico. Um resumo da atuação da Editora Civilização Brasileira permite que se compreenda sua linha editorial e como pensava o homem que a dirigia, o editor Ênio Silveira. Com essa pesquisa, destaca-se a importância da Revista, ressaltando seu papel na resistência intelectual e na abertura para novos valores literários. 23. SOBRINHO, Pedro Vicente Costa. Meios alternativos de comunicação e movimentos sociais na Amazônia ocidental. São Paulo: USP, 2000. Doutorado.Resumo: Este trabalho se constitui um registro e análise da importante contribuição dada pelos meios alternativos de comunicação, que circularam no Acre durante o período de 1971 a 1981, aos movimentos sociais, sobretudo aos que organizaram a luta de resistência contra o processo de ocupação predatório das áreas de fronteira, desencadeado na década de 70 pela nova frente de expansão agropastoril. Essa frente de expansão fora decorrente natural da nova estratégia de ocupação na Amazônia, de forte conteúdo geopolítico, elaborada nos anos 60 pela ditadura militar, que viera a ser conhecida como "Operação Amazônia". Nesse processo, iniciado na década de 70, milhares de trabalhadores foram expulsos de áreas que ocupavam nas florestas, para isso, empregando os fazendeiros as mais variadas formas da violência. A imprensa local fez vistas grossas aos conflitos, muitas vezes publicando versões simpáticas aos supostos donos da terra. A resistência de posseiros, seringueiros e índios, de início, individualizado ou em pequenos grupos, fora crescendo à medida que os sindicatos foram surgindo e organizando a luta contra seus opressores. Esses movimentos sociais de resistência vieram a contar com o apoio decisivo, para divulgar suas ações, dos periódicos alternativos: o boletim diocesano Nós Irmãos e o jornal Varadouro. 24. SOUZA, Leila Ronize Moraes de. A legitimação da ditadura militar nas reportagens jornalísticas de O Cruzeiro. Amazonas: UFAM. 2001. Mestrado Resumo: Traz uma proposta de reflexão sobre o fazer jornalístico, através da análise de três reportagens publicadas na revista. O Cruzeiro, edição extra, de 10 de abril de 1964. A intenção é mostrar que a objetividade jornalística, exigida durante a elaboração de textos nas redações de jornais e revistas, não passa de um mito e que as técnicas utilizadas para se obter um texto objetivo e sem juíjo de valor acabam, como no caso das matérias veiculadas à época da Ditadura Militar pelo O Cruzeiro, legitimado a ideologia da classe que está no poder. Este trabalho científico identifica, nas estruturas da reportagem, as marcas que acabam levando o autor da matéria a defender o ponto de vista dos militares, mesmo quando utiliza um texto informativo. Foram utilizados, para ratificar nosso argumento, os conceitos de polifonia, interdiscurso, pré-construído, efeitos de sentido, formação discursiva e ideológica, oriundos da Teoria da Análise do Discurso, e baseados nos estudos de Mikhail Bakhtin, Oswald Ducrot e Michel Pêcheux. Mídia 1. OLIVEIRA, Lucia Maciel Barbosa de. Nossos comerciais, por favor! O programa Flávio Cavalcanti e a Escola Superior de Guerra – década de 1970. São Paulo: USP,2000. Mestrado Resumo: O projeto nacional arquitetado na Escola Superior de Guerra (ESG) moldou a face do país nos anos da ditadura militar, entre 1964 e 1985. Alicerçado em um corpo de valores de linhagem cristã-ocidental e almejando como fim último o Bem Comum, tinha nos meios de comunicação, sobretudo a televisão, uma de suas armas estratégicas fundamentais, daí o incremento dado às telecomunicações no período. O Programa Flávio Cavalcanti, de enorme audiência, era embasado pelos mesmos valores que circulavam por outros segmentos da sociedade, sendo canal privilegiado na consecução do projeto nacional da ESG. Tentar entendê-los pelo viés da comunicação social é meu objetivo. 2. PACHECO, Fábio Piva. Mídia e poder: representações simbólicas - o autoritarismo na política - Uberlândia - 1960/1990. Tese, Programas de Pósgraduação da CAPES. Resumo: A dissertação que se segue, tem como objetivo geral, demonstrar como a mídia se tornou um instrumento de produção de imaginários políticos no mundo contemporâneo. A lógica de mercado, e os recursos de marketing, objetivam fabricar e vender, através de sofisticadas técnicas de “fazer crer”, um produto político que está fortemente vinculado ao imaginário de seus consumidores. A desigual distribuição desses instrumentos de produção de uma representação do mundo social provocou uma nova desigualdade política no mundo contemporâneo. Os que possuem tais instrumentos, manipulam os imaginários políticos e provocam a exclusão daqueles que não o possuem, causando um profundo retrocesso nas práticas democráticas modernas. A disputa pelo controle das emissoras de TV, desde a década de 60, em Uberlândia, e a análise das representações e símbolos fabricados pelos segmentos de caráter autoritário nos anos 80, se configuraram como o objeto de investigação central desse trabalho, para demonstrar o quanto estes instrumentos se tornaram fundamentais e indispensáveis na prática política. 3. RESENDE, Lino Geraldo. Mídia, ditadura e contra-hegemonia. A ação do jornal Posição no Espírito Santo. UFES: 2006. Doutorado. Resumo: No período em que circulou, de 1976 a 1979, graças à sua integração aos movimentos sociais e ao trabalho de intelectuais orgânicos, o jornal Posição, do Espírito Santo, exerceu um papel contra-hegemônico, ajudando na desconstrução do discurso do regime, se contrapondo às diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional e difundindo uma nova ideologia, a democracia. O jornal, sustentado pelos seus leitores, era distribuído na Grande Vitória, região metropolitana mais populosa do Estado, e em mais 18 municípios, levando uma visão crítica da realidade estadual, não abordada pela mídia tradicional, alinhada ao regime e controlada com o exercício da censura oficial ou da autocensura. A pesquisa discute a questão da contra-hegemonia, dos intelectuais orgânicos, a partir dos conceitos de Antonio Gramsci, usa ferramentas da análise do discurso e mostra como a ideologia é matriz para o trabalho hegemônico e contra-hegemônico. 4. SILVA, Ana Cristina Teodoro da. O Tempo e as Imagens da Mídia: capas de revistas como signos de um olhar contemporâneo.São Paulo: UNESP/ASSIS, 2003. Doutorado. 5. Resumo: Este trabalho se fundamenta na importância crescente das imagens no século vinte, as quais podem ser entendidas em duplo sentido: como estimulantes dos olhares e como aparências investidas de potencial comunicativo. É privilegiado o uso que a mídia efetuou do universo do olhar. As imagens, em sua ambigüidade, são instrumentos adequados ao uso publicitário em um século em que, paulatinamente, a notícia e a informação são consideradas mercadorias pelos grandes grupos de comunicação. As fontes da pesquisa são as capas de revistas brasileiras de sucesso de mercado. O mercado da informação está fundamentalmente ligado ao exercício da política, eis porque o período de análise corresponde ao final da década de sessenta (início da censura governamental à imprensa) e da década de oitenta (primeira eleição direta para presidente da República após o fim da censura), sendo lícito questionar de que forma a comunicação foi empreendida enquanto entrávamos e saíamos da ditadura militar. As capas são signos do funcionamento da chamada grande imprensa e, ao mesmo tempo, são signos de um olhar que se estrutura no decorrer do século: olhar que busca informação rápida e concisa. Estratégias comuns utilizadas nas imagens de capa são analisadas, como o uso dos códigos das cores e das expressões corporais, assim como os temas que tiveram destaque nas capas das revistas e que mostram a constituição de sentidos propostos à massa de fatos que os próprios meios de comunicação oferecem. As sínteses compostas em imagens estabelecem pautas de discussões, tornando-as importantes e exercendo um poder excludente. As capas das revistas buscam seduzir um público entendido pelas revistas como consumidor. Subjacente a suas sínteses, percebeu-se um arranjo temporal, um ritmo relacionado ao imediato, ao fugaz, ao fragmentado. A temporalidade presente nas imagens da mídia é um dos caminhos de compreensão do mundo contemporâneo e contribui para a constante reformulação dos imaginários e da memória histórica. Palavras-chave: Imagens de mídia; capas de revistas; ritmos do olhar contemporâneo; sínteses; tempo; comunicação, memória e história. 6. SOBRINHO, Pedro Vicente Costa. Meios alternativos de comunicação e movimentos sociais na Amazônia ocidental. São Paulo: USP/ECA,2000. Doutorado. Resumo: Este trabalho se constitui um registro e análise da importante contribuição dada pelos meios alternativos de comunicação, que circularam no Acre durante o período de 1971 a 1981, aos movimentos sociais, sobretudo aos que organizaram a luta de resistência contra o processo de ocupação predatório das áreas de fronteira, desencadeado na década de 70 pela nova frente de expansão agropastoril. Essa frente de expansão fora decorrente natural da nova estratégia de ocupação na Amazônia, de forte conteúdo geopolítico, elaborada nos anos 60 pela ditadura militar, que viera a ser conhecida como "Operação Amazônia". Nesse processo, iniciado na década de 70, milhares de trabalhadores foram expulsos de áreas que ocupavam nas florestas, para isso, empregando os fazendeiros as mais variadas formas da violência. A imprensa local fez vistas grossas aos conflitos, muitas vezes publicando versões simpáticas aos supostos donos da terra. A resistência de posseiros, seringueiros e índios, de início, individualizado ou em pequenos grupos, fora crescendo à medida que os sindicatos foram surgindo e organizando a luta contra seus opressores. Esses movimentos sociais de resistência vieram a contar com o apoio decisivo, para divulgar suas ações, dos periódicos alternativos: o boletim diocesano Nós Irmãos e o jornal Varadouro. 7. WEBER, Maria Helena. Ditadura e Sedução (Redes de Comunicação e Coerção no Brasil – 1969 -1974. Rio Grande do Sul: UFRGS,1994. mestrado. Resumo: Estudo sobre as relações históricas e teóricas entre o pode político autoritário militar e a comunicação no Brasil durante e especialmente o período MEDICI de 1969 a 1974. Desenvolvimento da análise sobre a singularidade deste governo que me busca do controle hegemônico da sociedade viabilizou o funcionamento de redes estratégicas de comunicação e coerção assim classificadas; a rede institucional; a rede repressiva e a rede persuasiva. Estas redes determinaram as relações entre o Estado e a sociedade brasileira a partir dos princípios da ideologia da segurança nacional . Cartoons 1. CARDOSO, Ana Cristina Bornhausen. Uma releitura da história por meio da análise de charges do período militar. São Paulo: Mackenzie, 2007. Mestrado. Resumo: A intenção é reler o referido período da história sob a perspectiva do humor refinado. Neste sentido, diversos traços históricos do regime militar aparecem a partir da análise das charges, que muitas vezes são praticamente imagens sem texto algum, uma forma de driblar a censura. 2. HOUAISS, Roberto. Os quadrinhos dos anos 70 e a resistência cultural. Rio de Janeiro: UFRJ, 1993. Mestrado. Resumo: Estudo de como os quadrinhos foram um interpretante cultural dos anos 70 pela via da chamada resistência cultural. Os quadrinhos adotados para isso serão os realizados a margem dos esquemas editoriais tradicionais em revistinhas universitárias, de educação popular e jornais de cunho alternativo a linguagem quadrinizada se presta assim a uma abordagem acentuadamente critica dos costumes e idéias, no particular e da situação de excepcionalidade institucional -a ditadura militar a resistência cultural e enfocada como um movimento artístico e cultural também em contraponto a situação geral vivida nos seus conflitos. 3. KOSHIYAMA, Alice Mitika. Histórias de jornalismo: das práticas jornalísticas as práticas pedagógicas. São Paulo: USP/ECA,1992. (Livre Docência) Resumo: As práticas jornalísticas e as práticas pedagógicas são condicionadas pelas circunstâncias dos momentos vivenciados. A partir de nossa experiência em docência e pesquisa entre 1972 e 1992, aliada a nossa perspectiva da historia do jornalismo, estabelecemos relações entre as práticas. Os valores de uma sociedade desigual onde prevalecem os interesses das minorias privilegiadas, as práticas dominantes na grande imprensa brasileira, têm estado presentes nas práticas das escolas de jornalismo. A prática de jornalismo implantada na imprensa brasileira evolui tecnologicamente com o desenvolvimento dos meios de comunicação eletrônicos. Politicamente as grandes mudanças tecnológicas cobrem o período da ditadura militar até o pleno restabelecimento do estado de direito. Concluímos que, como nas práticas jornalísticas profissionais as práticas pedagógicas estão revestidas de aspectos ético-políticos além dos sempre destacados aspectos técnicos. 4. OLIVEIRA, Lucia Maciel Barbosa de. Nossos comerciais, por favor! O programa Flávio Cavalcanti e a Escola Superior de Guerra – década de 1970. São Paulo:USP. 2000. Mestrado. Resumo: O projeto nacional arquitetado na Escola Superior de Guerra (ESG) moldou a face do país nos anos da ditadura militar, entre 1964 e 1985. Alicerçado em um corpo de valores de linhagem cristã-ocidental e almejando como fim último o Bem Comum, tinha nos meios de comunicação, sobretudo a televisão, uma de suas armas estratégicas fundamentais, daí o incremento dado às telecomunicações no período. O Programa Flávio Cavalcanti, de enorme audiência, era embasado pelos mesmos valores que circulavam por outros segmentos da sociedade, sendo canal privilegiado na consecução do projeto nacional da ESG. Tentar entendê-los pelo viés da comunicação social é meu objetivo. 5. PACHECO, Fábio Piva. Mídia e poder: representações simbólicas - o autoritarismo na política - Uberlândia - 1960/1990. Tese. Programas de Pósgraduação da CAPES. Resumo: A dissertação que se segue, tem como objetivo geral, demonstrar como a mídia se tornou um instrumento de produção de imaginários políticos no mundo contemporâneo. A lógica de mercado, e os recursos de marketing, objetivam fabricar e vender, através de sofisticadas técnicas de “fazer crer”, um produto político que está fortemente vinculado ao imaginário de seus consumidores. A desigual distribuição desses instrumentos de produção de uma representação do mundo social provocou uma nova desigualdade política no mundo contemporâneo. Os que possuem tais instrumentos, manipulam os imaginários políticos e provocam a exclusão daqueles que não o possuem, causando um profundo retrocesso nas práticas democráticas modernas. A disputa pelo controle das emissoras de TV, desde a década de 60, em Uberlândia, e a análise das representações e símbolos fabricados pelos segmentos de caráter autoritário nos anos 80, se configuraram como o objeto de investigação central desse trabalho, para demonstrar o quanto estes instrumentos se tornaram fundamentais e indispensáveis na prática política. 6. SILVA, Ana Cristina Teodoro da. O Tempo e as Imagens da Mídia: capas de revistas como signos de um olhar contemporâneo. São Paulo: UNESP/ASSIS, 2003. Doutorado. Resumo: Este trabalho se fundamenta na importância crescente das imagens no século vinte, as quais podem ser entendidas em duplo sentido: como estimulantes dos olhares e como aparências investidas de potencial comunicativo. É privilegiado o uso que a mídia efetuou do universo do olhar. As imagens, em sua ambigüidade, são instrumentos adequados ao uso publicitário em um século em que, paulatinamente, a notícia e a informação são consideradas mercadorias pelos grandes grupos de comunicação. As fontes da pesquisa são as capas de revistas brasileiras de sucesso de mercado. O mercado da informação está fundamentalmente ligado ao exercício da política, eis porque o período de análise corresponde ao final da década de sessenta (início da censura governamental à imprensa) e da década de oitenta (primeira eleição direta para presidente da República após o fim da censura), sendo lícito questionar de que forma a comunicação foi empreendida enquanto entrávamos e saíamos da ditadura militar. As capas são signos do funcionamento da chamada grande imprensa e, ao mesmo tempo, são signos de um olhar que se estrutura no decorrer do século: olhar que busca informação rápida e concisa. Estratégias comuns utilizadas nas imagens de capa são analisadas, como o uso dos códigos das cores e das expressões corporais, assim como os temas que tiveram destaque nas capas das revistas e que mostram a constituição de sentidos propostos à massa de fatos que os próprios meios de comunicação oferecem. As sínteses compostas em imagens estabelecem pautas de discussões, tornando-as importantes e exercendo um poder excludente. As capas das revistas buscam seduzir um público entendido pelas revistas como consumidor. Subjacente a suas sínteses, percebeu-se um arranjo temporal, um ritmo relacionado ao imediato, ao fugaz, ao fragmentado. A temporalidade presente nas imagens da mídia é um dos caminhos de compreensão do mundo contemporâneo e contribui para a constante reformulação dos imaginários e da memória histórica. Palavras-chave: Imagens de mídia; capas de revistas; ritmos do olhar contemporâneo; sínteses; tempo; comunicação, memória e história. 7. SOBRINHO, Pedro Vicente Costa. Meios alternativos de comunicação e movimentos sociais na Amazônia ocidental. São Paulo: USP/ECA,2000. Doutorado. Resumo: Este trabalho se constitui um registro e análise da importante contribuição dada pelos meios alternativos de comunicação, que circularam no Acre durante o período de 1971 a 1981, aos movimentos sociais, sobretudo aos que organizaram a luta de resistência contra o processo de ocupação predatório das áreas de fronteira, desencadeado na década de 70 pela nova frente de expansão agropastoril. Essa frente de expansão fora decorrente natural da nova estratégia de ocupação na Amazônia, de forte conteúdo geopolítico, elaborada nos anos 60 pela ditadura militar, que viera a ser conhecida como "Operação Amazônia". Nesse processo, iniciado na década de 70, milhares de trabalhadores foram expulsos de áreas que ocupavam nas florestas, para isso, empregando os fazendeiros as mais variadas formas da violência. A imprensa local fez vistas grossas aos conflitos, muitas vezes publicando versões simpáticas aos supostos donos da terra. A resistência de posseiros, seringueiros e índios, de início, individualizado ou em pequenos grupos, fora crescendo à medida que os sindicatos foram surgindo e organizando a luta contra seus opressores. Esses movimentos sociais de resistência vieram a contar com o apoio decisivo, para divulgar suas ações, dos periódicos alternativos: o boletim diocesano Nós Irmãos e o jornal Varadouro. 8. WEBER, Maria Helena. Ditadura e Sedução (Redes de Comunicação e Coerção no Brasil – 1969 -1974.UFRGS. 1994. mestrado. Resumo: Estudo sobre as relações históricas e teóricas entre o pode político autoritário militar e a comunicação no Brasil durante e especialmente o período MEDICI de 1969 a 1974. Desenvolvimento da análise sobre a singularidade deste governo que me busca do controle hegemônico da sociedade viabilizou o funcionamento de redes estratégicas de comunicação e coerção assim classificadas; a rede institucional; a rede repressiva e a rede persuasiva. Estas redes determinaram as relações entre o Estado e a sociedade brasileira a partir dos princípios da ideologia da segurança nacional . 9. ZAMPAULO, Mauricio Boldrin. Rir para não chorar: O humor gráfico no período da ditadura militar no Brasil (1974-1984), no salão internacional de humor de Piracicaba. UESP. 2005. mestrado.
Download