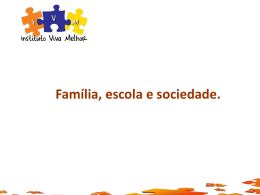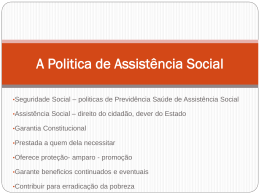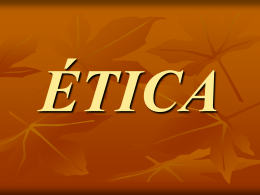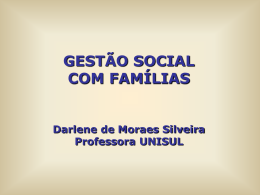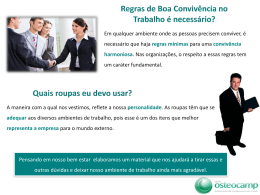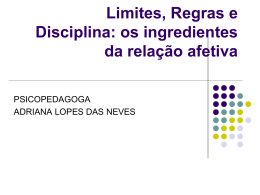CONVIVER NÃO É MOLE!1 Paulo Ritter2 Pretendo, no que segue, defender a idéia de que devemos ir além da mera convivência nos espaços coletivos de tratamento. Por convivência, entendo o que está no dicionário: ato ou efeito de conviver, viver em comum, manter relações de proximidade3. Por espaços coletivos, entendo os novos dispositivos de saúde mental surgidos no rastro da Reforma Psiquiátrica, a partir das décadas de 80 e 90, que se organizam prioritariamente numa dimensão coletiva. Incluo aqui tanto o Casa Verde como os Centros de Atenção Psicossocial. Tratamento, por sua vez, não é tão fácil definir, mas é possível constatar, recorrendo novamente ao dicionário, que um dos seus sentidos é justamente conviver, manter relações4. Assim, não me parece um disparate afirmar que tratamento é um termo mais amplo que convivência. Pelo contrário, me parece interessante clinicamente manter tal sobreposição de termos. Uma sobreposição na qual um termo engloba o outro, na qual o tratamento tem, na convivência, uma de suas possibilidades. Antes de continuar, uma ressalva: para alguns sujeitos a convivência é o tratamento possível, e não há mal algum nisso. Apesar da diferença de amplitude dos termos, nenhuma apreciação valorativa deve recair sobre eles. Bom, além de convivência, dispositivos coletivos e tratamento, um quarto termo infiltrou-se sorrateiramente algumas linhas acima. Quando defendi que seria interessante clinicamente manter a distinção entre convivência e tratamento, a clínica juntou-se ao grupo dos termos que merecem uma definição mais apurada. Tal definição, no entanto, não deve ser feita agora. Deixemos em suspenso esses quatro conceitos – dispositivos coletivos, convivência, tratamento e clínica – e tomemos outro rumo para reencontrá-los mais a frente. Não esqueçamos que dispositivos coletivos e convivência estão minimamente definidos, enquanto tratamento e clínica esperam por definição. 1 Trabalho apresentado no encontro Dez Anos do Casa Verde: Esboços de uma História, em agosto de 2004, no Instituto Philippe Pinel, no Rio de Janeiro 2 Psicólogo do Hospital-dia Casa Verde. 3 Dicionário Houais 4 Idem. 1 Seguindo outra direção, tomo a liberdade de recortar uma frase contida num dos “folders” do Casa Verde, cuja autoria, infelizmente, não é minha. Talvez seu autor esteja presente, e assim peço-lhe desculpas públicas pela usurpação de sua obra, mas acredito que as frases felizes, ao contrário das infelizes, não têm dono, pertencem à coletividade. Enfim, a frase é a seguinte: “o Casa Verde, portanto, é um local gerador de relações, questionamentos e vida para todos aqueles que dele se aproximam”. Parece-me que tal enunciado reúne alguns pontos relevantes. Vamos, então, trilhar o caminho que ele sugere e apreciar a paisagem que surge a nossa frente.. Certamente, poderíamos realizar outro percurso e vislumbrar paisagens já conhecidas, afinal, o alcance de nossa visão é conseqüência de nossas escolhas. Mas, como o viajante de Italo Calvino, acredito que devemos buscar cidades insuspeitadas que nos surpreendam com sua arquitetura improvável5. Inicialmente, o artigo “o” na frente de “Casa Verde” merece atenção. É claro que se trata de uma metonímia: “o Casa Verde” no lugar de “o hospital-dia Casa Verde”. Mas, além de uma figura de linguagem, o artigo masculino antecedendo o substantivo feminino indica que não se trata de uma simples casa, no sentido corrente do termo. Mesmo que, às vezes, o Casa Verde se aproxime bastante desse sentido, como vimos nas falas anteriores, principalmente na primeira mesa, a discordância entre o artigo e o substantivo indica uma certa resistência – uma resistência em não se deixar simplificar pelo hábito. O Casa Verde não é, de fato, uma casa, e as atividades que desenvolve não são do âmbito doméstico, são do âmbito profissional, apesar das nuanças que podemos encontrar entre esses espaços distintos. Seguindo na frase do “folder”, outro ponto que merece atenção é o Casa Verde como “local gerador de relações”. Ora, é óbvio que as relações são geradas principalmente pela convivência, as mais diferentes relações: entre os sujeitos que freqüentam o hospitaldia, entre esses sujeitos e a equipe técnica, entre os integrantes da equipe, entre os espaços da casa etc. As relações são múltiplas e diferenciadas, apontam nas mais diferentes direções, como as possibilidades transferenciais de que falou Ricardo, e incluem todos os que se aproximam do Casa Verde. 5 Calvino, I. As Cidades Invisíveis. São Paulo, Companhia das Letras, 1990. 2 O terceiro ponto que merece uma parada é o Casa Verde como “local gerador de questionamentos”. Ora, questionar é pôr em dúvida, é fazer vacilar a certeza, é tornar o certo duvidoso. Questionar é, na via de mão única da certeza, abrir novas veredas de interpretação e sentido. As questões, no cotidiano desse trabalho, são sempre abundantes. Referem-se às oficinas, aos freqüentadores da casa, às relações diferenciais que se estabelecem, às demandas, às possíveis respostas a essas demandas etc. Questionar isso tudo é a possibilidade de inventar novas respostas, que prontamente originarão mais dúvidas, num movimento permanente. Fugir dessa problematização é fugir de uma característica inerente ao trabalho que fazemos, pelo menos como o concebo. O quarto e último ponto que merece ser visitado é o Casa Verde como “local gerador de vida”, idéia que já foi várias vezes exposta hoje. Proponho, no entanto, que esse ponto seja deixado para o final do percurso, juntamente com a idéia de clínica. Assim, o que temos até agora, a partir da frase inicial, é o Casa Verde como um lugar específico com finalidades específicas, no qual sujeitos convivem entre si, estabelecendo as mais diversas relações, nas mais diversas direções, e no qual esse próprio movimento é colocado permanentemente em dúvida, é questionado em seu caráter de certeza. Já temos a mão os ingredientes de que necessitamos para defender a idéia inicial, a idéia de que devemos ir além da convivência nos dispositivos coletivos. O Casa Verde, assim como os Centros de Atenção Psicossocial, ao se organizar numa dimensão coletiva, promove a convivência de seus freqüentadores, gera relações. Fazem parte desse trabalho os cuidados, o acolhimento constante, o trabalho e o lazer assistidos6 – todas instâncias em que se dá a convivência. Para sujeitos que enfrentaram múltiplas internações, que foram esquecidos por seus familiares nos hospitais psiquiátricos, para sujeitos cujo tratamento resumiu-se à carga pesada da medicação, para sujeitos afastados do convívio social ordinário, para todos esses uma espécie de ressocialização permanente por meio da convivência7 é bem vinda. Afinal, o ponto fundamental da psicose 6 Fuigeiredo, A. C. Reforma Psiquiátrica e Psicanálise: um Novo Aggiornamento. In: Quinet, A. Psicanálise e Psiquiatria: Controvérsias e Divergências. Rio de Janeiro, Rios Ambiciosos, 2001. 7 Idem. 3 é justamente a ruptura dos laços sociais. Restituí-los, dentro das possibilidades de cada um, é o que podemos tentar fazer quando esses sujeitos nos procuram. No entanto, o cuidado, o acolhimento, a assistência ao trabalho e ao lazer e a convivência devem ser apenas uma das faces daquilo que oferecemos. Se tais sujeitos enfrentaram obstáculos incontornáveis em suas vidas, isso se deve a uma problemática bastante especifica. Isso se deve a impossibilidade que eles experimentaram, em algum momento, de responder como sujeitos a certas demandas. Impossibilidade que pode repetir-se a qualquer tempo. Portanto, não basta apenas oferecer aquilo que eles supostamente não conseguiram, como se essa restituição tardia aplacasse seu sofrimento e resolvesse suas dificuldades. E preciso ir além. E para avançar, é necessário lembrar que conviver é viver com o outro, é confrontar-se com o outro em sua dimensão imaginária e simbólica. Assim, conviver é um confronto do sujeito com suas dificuldades. Se na paranóia o sujeito é invadido pelo imaginário, na esquizofrenia é o simbólico que lhe invade8. Não acredito, portanto, que seja possível somente conviver, sem trabalhar com as questões que surgem desse convívio, a não ser que abdiquemos de tratar o outro como sujeito. Se o tratamos como sujeito, somos obrigados, por exigência ética, a levar em consideração sua voz e seu desejo. E aí está, me parece, a outra face daquilo que devemos oferecer em nossas instituições: a possibilidade do sujeito trabalhar com o outro que lhe constitui. Então, se a convivência, num sentido amplo, é fundamental ao trabalho institucional com a psicose, os efeitos que ela produz também devem ser levados em consideração. A convivência produz laços sociais e produz transferência. Nesse sentido, podemos agora entender melhor o significado de tratamento, já que a convivência e os encaminhamentos possíveis dos seus efeitos constituem seu próprio núcleo. Deste modo, tratamento é tudo aquilo que permite ao sujeito recuperar uma competência social perdida9 ou construir uma competência social que nunca houve. E com essa finalidade tudo é possível: medicações, sessões de análise, oficinas, passeios, convívio, reunião de familiares, eventos externos, festas etc. E tudo o mais que nossa imaginação possa inventar. Se a convivência produz tantos efeitos, como encaminhá-los? Simplesmente esperar que os arranjos curativos surjam na própria coletividade, a partir de uma espécie de trama 8 9 Birman, J. (org.) Sobre a Psicose Tenório, F. Da Reforma Psiquiátrica à Clínica do Sujeito. In: Quinet, A. Idem. 4 auto-resolutiva, me parece pouco. Não que o coletivo10 não tenha potencialidades fantásticas, mas até mesmo para aproveitá-las devemos conhecer um pouco a regra do jogo que estamos jogando. Aqui, creio, devemos lembrar do Casa Verde como “local gerador de questionamentos”. Se questionar é, como vimos, abrir novas possibilidades, o campo clínico encontra aqui terreno fértil para frutificar. Agora podemos retomar a idéia de clínica que deixamos em suspenso. A clínica, como processo permanente de invenção 11, está intimamente articulada com os questionamentos. É ela que pode informar para onde caminhar nos momentos em que os caminhos são múltiplos. Nesse sentido, a instituição e seus dispositivos de tratamento, como processos em permanente construção, estão subordinados à experiência clínica e seu arcabouço teórico12. Indagar, questionar o hábito, estranhar o familiar são as condições necessárias para a instauração da clínica como produção de subjetividades e sociabilidades13, da clínica como criação de novos caminhos e destinos, da clínica como novos direcionamentos e encaminhamentos. Assim, podemos agora dizer que, se o Casa Verde é um local gerador de relações e questionamentos, é também um lugar de convivência, tratamento e clínica. Conviver, viver em proximidade com o outro, é estabelecer relações que constituem e possibilitam o tratamento. Tratar, além de ajudar a constituir laços sociais, é questionar os enlaces constituídos e propor novas alternativas. Os questionamentos e os novos encaminhamentos estão assentados no conhecimento teórico-clínico, sendo a familiaridade com tal ferramenta aquilo que nos permite criar e apontar novas alternativas. Por fim, é chegada a hora de retomarmos um último ponto deixado em suspenso: a afirmação de que o Casa Verde é um “local gerador de vida”. E aí a situação literalmente se complica; a vida, diante do silêncio da morte, é complicação. O Casa Verde, assim como os demais centros de atenção diária, só tem sentido dentro do contexto no qual funciona. Talvez o contexto do território não tenha para o Casa Verde a mesma importância que tem para os dispositivos públicos, devido a suas características de instituição particular. Mas o contexto social e o cultural, desses não tem como fugir. Levar em consideração estes 10 Na acepção de Jean Oury, teórico da Psicoterapia Institucional Francesa. Amarante, P. Sobre Duas Preposições Relacionadas à Clínica e à Reforma Psiquiátrica. In: Quinet, A. Idem. 12 Grossi, F. Centro Mineiro de Toxicomania: uma Experiência Singular. In: Quinet, A. Idem. 13 Amarante, P. Idem. 11 5 contextos é trabalhar com o outro que nos constitui, é trabalhar com a alteridade. É trabalhar com a complicação que advém das relações alteritárias. Gerar vida é gerar relação com o diferente, é sair da identidade narcísica para a relação com o outro. Se na psicose o retraimento do sujeito alcança níveis trágicos, todos precisamos sair do narcisismo para não adoecer, psicóticos ou não. Aposto na idéia de que o trabalho que efetuamos nos novos dispositivos de saúde mental tenha a capacidade de engendrar novas formas de sociabilidade, novas formas de vida. Aposto na idéia de que a clínica ampliada14, no seu esforço de permanente invenção dos dispositivos de tratamento, tenha efeitos sobre a rede social. Se a clinica é ampliada, seus efeitos também o são. A história da loucura nada mais é que o conjunto de respostas que a sociedade dá à loucura. Se hoje podemos dar como resposta a tentativa de transformação de seu lugar social, é porque as condições para isso estão de alguma forma no campo cultural. Engendrar um novo lugar social para a loucura equivale a modificar as relações sociais, de modo que as singularidades subjetivas possam apoiar-se na presença de outras15. A saída, então, para todos nós, não só para os que necessitam de tratamento, é inventar novas modalidades de interação, novas formas de convívio; a saída é encontrar, na superação do isolamento narcísico, a terceira margem do rio16. Para muitos dos que aqui estão, o Casa Verde certamente representou e representa um local gerador de relações, questionamentos e vida. E talvez nossa ambição maior possa ser perceber que, no jardim dos caminhos que se bifurcam17, os percursos singulares de cada sujeito são possíveis apenas a partir de suas limitações, suas crenças e seus desejos. E dessa percepção extrair as conseqüências éticas para nosso trabalho. 14 Goldeber, J. A clínica da Psicose – Um Projeto na Rede Pública. Rio de Janeiro, Te Corá, 1996. Costa, J. F. Não Mais, Não Ainda: a Palavra na Democracia e na Psicanálise. In: Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. 16 Rosa, G. A Terceira Margem do Rio. In: Primeiras Estórias. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. 17 Borges, J. L. El Jardin de Senderos que se Bifurcan. In: Obras Completas, Tomo I. Barcelona, Emecé editores, 1989. 15 6
Download