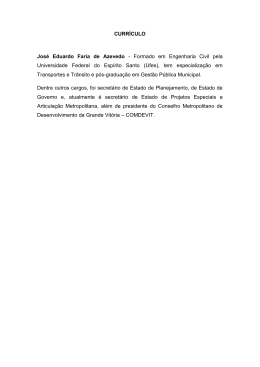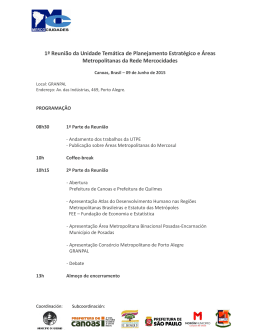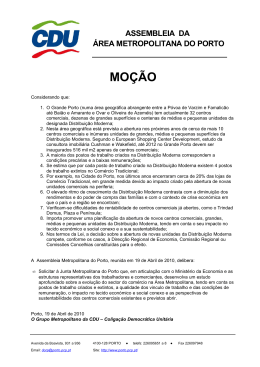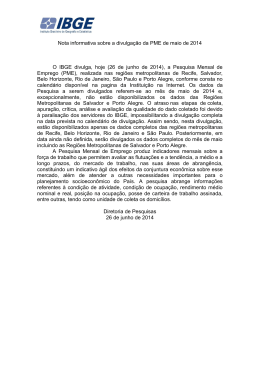Os Modelos de Governança da Região Metropolitana de São Paulo sob Perspectiva Institucional no Período 1960-2011: Breve Análise Autoria: Leonel de Miranda Sampaio Resumo O artigo apresenta em linhas gerais os sucessivos instrumentos legais que regem os temas ligados à gestão da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). São feitas algumas análises e críticas quanto à efetividade da legislação, observando desde resultados práticos e possíveis entraves ao desenvolvimento de políticas públicas até aspectos como participação dos governos locais e da sociedade civil no processo de governança da RMSP. Palavras-chave: Região desenvolvimento urbano Metropolitana de São Paulo, governança metropolitana, 1 1. Introdução O Brasil vive um dilema institucional quanto à governança de suas regiões metropolitanas. Sendo um dos únicos países do mundo onde os municípios são entes federativos de pleno direito, criam-se dificuldades adicionais para encontrar um modelo que favoreça uma governança metropolitana de fato. Países europeus tentaram ao longo dos anos 1960/70 lidar com a questão metropolitana a partir de soluções institucionais, que careceram de legitimidade e mesmo aceitação por parte das comunidades e poderes públicos locais. Já a partir dos anos 1990 vêm sendo testadas soluções mais horizontais, fundadas na participação da sociedade civil e dos poderes públicos locais - e pautadas na busca por acordos e consensos (Klink, 2008; Garson, 2009). A experiência brasileira dos anos 1960/70 em termos de estabelecimento de uma estrutura institucional responsável pela gestão das regiões metropolitanas (RM) não difere fundamentalmente da experiência europeia. Por aqui, considerando-se o regime autoritário daqueles anos, não houve nenhuma preocupação com uma legitimação das regiões metropolitanas junto à população ou mesmo aos prefeitos, que nem mesmo tinham assento nos Conselhos Deliberativos das RM. A seção 2 deste artigo aponta as grandes linhas da arquitetura institucional do governo federal durante os anos 1960/70, indicando um modelo de administração hierárquico, centralizado e setorialmente estruturado. A seção 3 trata do exemplo da Região Metropolitana de São Paulo, apontando o marco legal e os casos dos setores de habitação e transportes. Mostrar-se-á que na prática as políticas eram elaboradas em nível federal e aplicadas em nível estadual e municipal. As poucas instituições metropolitanas criadas (como a EMTU) não lograram êxito em sua missão de gerir setores como os transportes a partir de perspectiva regional. A seção 4 passa por diferentes momentos desde a promulgação da Constituição de 1988 até 2011. Nesta seção trata-se primeiramente da exacerbação da autonomia dos municípios trazida pela Constituição de 1988 - que acabou dificultando qualquer tipo de concertação entre diferentes municípios visando ao estabelecimento de ações e gestão conjunta de problemas em comum (como gestão de resíduos sólidos e transportes). A seguir são indicados os principais itens (mormente da reforma gerencial) dos anos 1990, que significaram uma atuação do Governo Federal voltada fundamentalmente à estabilização da economia, cuja grande preocupação estava no combate à inflação e rolagem dos títulos da dívida externa. Assim, como reação à descentralização de recursos tributários promovidos pela CF 88, diminuíram os repasses voluntários (Orçamento Geral da União) aos municípios. Já nos anos 2000 a seção 4 ilustra o surgimento de iniciativas como a Lei dos Consórcios Públicos, que permite a integração regional integrada em temas específicos (setores), e o Projeto de Lei do Estatuto da Metrópole no Congresso Nacional. É mostrada ainda a retomada de atenção do governo estadual paulista para o tema das RM - incluindo a criação da Secretaria de Negócios Metropolitanos (SNM) e a reformulação dos Conselhos Gestores da RMSP. A conclusão é que tem havido progresso no tema da governança metropolitana, mas muitas das propostas e ações são ainda muito incipientes - de efeito limitado (como a Lei dos Consórcios Públicos) - ou ainda ignoram a questão da participação da sociedade civil (exemplo do novo Conselho de Desenvolvimento da RMSP). E ainda não se logrou a conciliação entre a autonomia dos municípios enquanto entes federativos, de um lado; e a necessidade de se estabelecer ações e políticas comuns para se combater problemas regionais, de outro. 2. O modelo de gestão durante o regime militar 2 Após a Constituição de 1824 - que aborda a questão das cidades e dos governos municipais, e indica que uma lei regulamentar trataria das funções da cidade - somente as Constituições de 1967/69 voltam a tratar do fenômeno urbano: Porém, de maneira um tanto curiosa e paradoxal, o fato urbano reconhecido nesses diplomas corresponde a uma superestrutura urbana (a Região Metropolitana), enquanto as estruturas básicas da urbanização não são objeto de qualquer inovação no tratamento jurídico. (Hotz, 2000, p. 92) Mas a despeito do marco legal, a partir do Estado Novo de Getúlio Vargas o Estado brasileiro se volta definitivamente para as zonas urbanas, e começa a atuar como agente promotor da industrialização, via Política de Substituição de Importações - que perdura até os anos 1970. Neste período o Estado atua em todas as frentes: como regulador (instituição das leis trabalhistas; política monetária e alfandegária, controle sobre os preços dos bens agrícolas), como produtor (empresas estatais em setores de infraestrutura como transportes, energia e comunicações), como financiador (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE) (Hermann, 2005, cap. 3). Por sua vez, a imigração do início do século XX e as altas taxas de crescimento vegetativo do pós-guerra – acompanhadas de êxodo rural e intensa migração de outras regiões brasileiras (principalmente nordeste e Minas Gerais) para a cidade de São Paulo e arredores – contribuíram para que a região que atualmente compõe a RMSP saltasse dos pouco mais de 1,5 milhão de habitantes em 1940 para pouco mais de 8,1 milhões de habitantes em 1970. Ou seja, a população da RMSP ficou 5,4 vezes maior num período de 30 anos no qual a taxa de crescimento demográfico estava acima dos 5% ao ano (IBGE, 2011). Neste mesmo período (1940-70), a população urbana brasileira saltou de 31,2% para 56% dos habitantes. Em 1970 a indústria na Região Metropolitana de São Paulo era responsável por 58% do valor adicionado pela produção industrial no país (IBGE, 1970). Durante a primeira metade do século XX as cidades e principalmente estados detinham um relativo grau de autonomia, principalmente naquilo que concerne a arrecadação de alguns tributos e regulação do espaço urbano. Após o golpe militar de 1964 a relativa autonomia que estados e municípios possuíam foi subtraída: O endurecimento do regime ocorreu aos poucos. Primeiro, a deposição do presidente e de alguns governadores; em seguida, a cassação de mandatos eletivos e a suspensão de direitos políticos; depois, a extinção dos antigos partidos e a suspensão das eleições diretas. Cumpria-se o mesmo programa autoritário de supressão de garantias, cerceamento do Congresso, centralização de decisões, concentração de recursos e esvaziamento da federação.(…) Em 1965 teve início a reforma tributária que se consolidou com a Constituição de 1967, uniformizando a legislação, simplificando o sistema e reduzindo o número de impostos. Ela trouxe uma brutal concentração de recursos nas mãos da União, esvaziando financeiramente estados e municípios que ficaram dependentes de transferências voluntárias. (Costa, 2008, pp. 850-1) Nos primeiros anos do regime ditatorial foi feita reforma fiscal pela qual passou a pertencer ao governo federal quase 70% da receita pública total (Souza, C., 2007, p. 236). Beatriz Wahrlich (1974) destaca pontos positivos da reforma, lembrando que "o sistema nacional passou a constituir-se de impostos classificados por tipo de incidência e não mais por governos tributantes" (Wahrlich, 1974, p. 42), além de citar a criação do Serpro (Serviço Federal de Processamento de dados) e do antigo CGC (Cadastro Geral de Contribuintes). Não apenas os outros entes federativos perderam autonomia durante os vinte e um anos de regime autoritário no Brasil pós-1964: ocorreu também um relativo esvaziamento do Poder Legislativo e concentração do poder decisório no Poder Executivo – as figuras jurídicas dos “Atos Institucionais” e “Decretos-Lei” são bons exemplos - estes últimos foram introduzidos pela Constituição de 1967. Assim é que a Reforma Administrativa de 1967, consubstanciada no Decreto-lei n° 200, teve as discussões e trâmites relativos à sua aprovação 3 restritos ao poder Executivo (Wahrlich, 1974). Passando ao largo de discussões a respeito do caráter autoritário da Reforma de 1967, Beatriz Wahrlich (1974) afirma que: O Decreto-lei n° 200 representou a realização de uma reforma que já vinha sendo proposta e discutida desde o segundo governo Vargas, passando por J. Kubitschek e João Goulart (e sendo adaptada e aprimorada por diferentes comissões), sem que nenhum destes governos conseguisse aprovála no Congresso. Entre os princípios que regiam a reforma estavam os do planejamento e da descentralização. Este último princípio era definido da seguinte forma pelo Decreto-lei 200: Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. § 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução; b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio; c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. (Decreto-lei 200, 1967, art. 10)(grifos meus) Em 1973 foi formulada como um capítulo do II PND a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), cujos objetivos eram ajudar os municípios – via órgão denominado Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) – a criar Planos de Desenvolvimento Local Integrados, além de oferecer fundos para alguns setores (ligados a infraestrutura). (Ipea, 2010; Souza, M., 2010). Citando Bueno e Cymbalista (2007), o estudo do Ipea aponta que tais planos “privilegiavam, em geral, uma visão setorialista e tendiam a replicar, no nível local, as diretrizes de planejamento centralmente definidas pelo órgão” (Ipea, 2010, p. 293). Corroborando este diagnóstico, Maria Adélia A. de Souza, que fazia parte da equipe técnica responsável pela elaboração da PNDU, afirma em ensaio escrito “vinte anos depois” que: Pela instrumentação criada para a efetivação da política urbana (...) pode-se perceber, com clareza, essa visão setorialista do urbano, ou seja, as prioridades eram estabelecidas com bases nos setores (transporte urbano, saneamento, drenagem etc.), e não nos lugares numa perspectiva de promoção do desenvolvimento da totalidade do território urbano brasileiro. (Souza, M. Adelia, 2010, p. 118) O item a seguir ilustra com o exemplo da RMSP a forma como os gestores do período ditatorial trataram questões relativas à política urbano-metropolitana. 3. A criação da RMSP A Constituição de 1967 (alterada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969) foi a primeira a citar, ainda que de forma bastante superficial e genérica, as regiões metropolitanas. Afirmava a Emenda Constitucional de 1969 em seu artigo 164: "A União, mediante lei complementar, poderá para a realização de serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade sócio-econômica." (Brasil, Emenda Constitucional nº 1/1969) Apenas em 1973, a Lei Complementar Federal nº 14 criou as primeiras nove regiões metropolitanas do Brasil, entre elas a RMSP. Esta Lei Complementar estabeleceu sucintamente a estrutura de gestão e os serviços de competência das regiões metropolitanas. As RM seriam geridas cada uma por um Conselho Deliberativo composto por cinco membros “de reconhecida capacidade técnica” nomeados pelo governador: sendo um deles indicado a partir de lista tríplice elaborada prefeito da capital, e o outro indicado pelos prefeitos dos outros municípios componentes da RM. Haveria também um Conselho 4 Consultivo, integrado por prefeitos de cada uma das cidades da região metropolitana. Delegava-se à esfera estadual a criação de tais conselhos. Eram considerados serviços comuns de interesse metropolitano pela LC 14/1973: planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; saneamento básico; uso do solo metropolitano; transportes e sistema viário; produção e distribuição de gás combustível canalizado; aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição e; outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal. Em São Paulo a Lei Complementar Estadual nº 94/1974 em sua maior parte reproduz o conteúdo da LC 14/73, instituindo os Conselhos: Deliberativo (Codegran) e; Consultivo (Consulti) da Região Metropolitana de São Paulo. A Lei Estadual também cria a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. (Emplasa), na forma de uma sociedade por ações – pertencendo ao Estado a maioria absoluta das ações. A Emplasa seria – nos termos do Decreto Estadual 6.111/1975 – a unidade técnica e executiva responsável pela “realização de serviços necessários ao planejamento, programação, coordenação e controle da execução dos serviços de interesse metropolitano” (LC Estadual nº 94/1974, art. 15). A LC Estadual nº 94 criou ainda o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), visando financiar e investir em projetos de interesse da RMSP. Caberia à Emplasa “analisar, acompanhar e fiscalizar, quanto ao aspecto técnico e sua adequação às diretrizes de interesse metropolitano, os projetos que forem desenvolvidos ou executados com recursos do Fumefi.” (Decreto Estadual 8.838/1976, art. 11, inciso I). Finalmente, o Decreto Estadual nº 6.111/1975 criou e institucionalizou a Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos (SNM), como unidade coordenadora e operadora de “todos os assuntos de interesse metropolitano” (art. 12, § 1º). Os parágrafos anteriores ilustram como o modelo de gestão metropolitana adotado durante o regime militar possuía viés centralizador e autoritário, tendo sido a institucionalização das RM realizada “com escassa participação das esferas estaduais e completa ausência das esferas locais de governo” (Souza, C. 2007, p. 235). O governo federal era o responsável pela elaboração e desenho das políticas, tendo também papel importante no aporte de recursos financeiros aos governos locais – a quem cabia sua implementação/execução. Portanto, fica claro que o modelo de políticas para áreas metropolitanas do período ditatorial não privilegiou a participação dos governos locais, e tampouco a cooperação entre os diferentes entes federativos para a implementação de políticas – o que poderia ter contribuído para o surgimento de uma cultura de governança compartilhada (entre diferentes entes) que até os dias de hoje não existe de fato no Brasil. A seguir serão citados os exemplos das políticas habitacional e de transportes metropolitanos, que ilustram bem as conclusões dos parágrafos anteriores. 3.1. Política habitacional Primeiramente, vale notar que o campo da habitação – da maior importância quando se trata de planejamento e gestão metropolitana – não constava entre os serviços comuns de interesse metropolitano. O principal responsável pelas políticas habitacional e de saneamento durante o regime militar era o Banco Nacional de Habitação, instituição financeira criada em 1964, mas que ganhou relevância a partir de 1966, quando foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Este último foi criado como contribuição parafiscal de 8% sobre a remuneração dos trabalhadores, que era depositada em uma conta vinculada. O FGTS foi criado originalmente como compensação pela perda da estabilidade decenal¹ dos trabalhadores, mas logo se converteu na principal fonte de financiamento das políticas habitacionais e de saneamento básico no Brasil. O fundo garantiu ainda até 1980 excelentes 5 resultados quantitativos para o BNH (Royer, 2010, p. 51). A constituição de diversos mecanismos de financiamentos e subsídios cruzados a partir do FGTS, somados a recursos da caderneta de poupança, viabilizou a produção de unidades residenciais em larga escala para a população de baixa renda (Arretche, 2000, p. 79). Porém: Com o discurso populista do acesso à “casa própria”, o número de unidades produzidas – e não a qualidade de vida que propiciavam – era o único índice de eficiência do modelo. Isso gerou grandes conjuntos-dormitórios, distantes das áreas centrais e da oferta de emprego, geralmente mal servidos pelo transporte público e sem quase nenhuma infraestrutura nem serviços urbanos. Além disso, os financiamentos do sistema nunca conseguiram beneficiar a população realmente pobre, com renda abaixo de 5 salários mínimos. (Ferreira, 2005, pp. 14-15) Quanto a esta última afirmação vale esclarecer que a lógica da arquitetura financeira do BNH era a do retorno sobre o investimento (lógica do capital), e assim famílias com renda muito baixa tinham maiores dificuldades para obter acesso ao crédito imobiliário. O BNH assumiu um papel que não se restringia à produção habitacional, incluindo o saneamento básico e diversas modalidades de financiamentos a prefeituras e estados para a implantação de projetos de infraestrutura urbana. Nas palavras de Maria Adélia Souza (2010, p. 138) “ele [BNH] era o executor da política urbana de fato”. A estrutura institucional era hierárquica e centralizada: O BNH era a instituição responsável pela gestão do Sistema Nacional de Habitação e do Sistema Nacional de Saneamento, contando com os recursos do FGTS e da poupança. Assim, as políticas habitacional e de saneamento básico dependiam em última instância da arquitetura financeira do BNH (Royer, 2008), que era o formulador e o responsável pela oferta de habitação e infraestrutura urbana para estados e municípios, que assumiam o papel de agências executoras locais (Arretche, 2000, p. 80). Na RMSP, a principal executora de políticas habitacionais para a população de baixa renda foi a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP), criada pela Lei Estadual nº 6.738/1965 como Sociedade Anônima que tinha 51% de suas ações pertencentes ao município de São Paulo. O modelo das Cohab deitava raízes no marco estrutural das políticas do BNH, tendo sido replicado em diversas cidades e estados. As críticas recorrentes à Cohab (e por extensão ao BNH) apontam para uma forte concentração de grandes conjuntos habitacionais nas periferias – neste caso, do município de São Paulo, com destaque para os distritos do extremo leste – em locais carentes de infraestrutura e transporte público adequados. Além disso, apesar de a expressão “metropolitana” constar de seu nome, pode-se afirmar que, pelo menos até 1988, a atuação da Cohab-SP foi quase totalmente restrita ao município de São Paulo. 3.2. Transportes metropolitanos na RMSP Por sua vez o campo dos transportes e vias urbano-metropolitanas foi considerado como parte dos serviços comuns de interesse metropolitanos, mas a forma de gestão destes não diferiu consideravelmente do modo como foram concebidas e administradas as políticas habitacionais. Foram instituídos pela Lei nº 6.261/1975: i) o Sistema Nacional de Transportes Urbanos, que deveria ser gerido em nível nacional pela Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), e em nível urbano-metropolitano pelas Empresas Metropolitanas de Transporte Urbano, a ser criadas pelos Estados e; ii) o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes Urbanos (FDTU), composto por recursos de imposto sobre o consumo de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo. A Lei Estadual nº 1.492, de 13 de dezembro de 1977, estabeleceu o Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos e autorizou a criação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU. A empresa contaria com recursos do FDTU 6 e do Fumefi (entre outros), e teria a difícil missão de orquestrar verbas e ações das esferas municipais, estadual e federal para o desenvolvimento dos transportes públicos de passageiros e das estruturas viárias na RMSP. A EMTU encontrou muitas dificuldades para sua atuação, tendo sido extinta em 1980 (foi recriada sob legislação diversa em 1986). O antigo presidente da EMTU, Josef Barat, explica em artigo posterior que a gestão integrada dos recursos para transportes na RMSP: (...) encontrou forte oposição tanto de organismos municipais, como a CMTC e a Secretaria dos Transportes do Município, quanto de órgãos estaduais como o Metrô e a Fepasa. Na verdade, estas entidades queriam manter a sua independência e a sua capacidade de influenciar separadamente a destinação de recursos para as suas infraestruturas e instalações, e essa atitude encontrava, sem dúvida, respaldo na orientação do Governo Federal de financiar projetos numa base de aprovações específicas e de uma visão compartimentalizada dos projetos que recebiam seu apoio. (Barat, J. 1984, p. 23) 4. Arcabouço legal e governança das regiões metropolitanas pós-1988 Com os reflexos das crises do petróleo dos anos 70 no Brasil (a partir de 1980), o país começa a ter dificuldades para rolar sua dívida externa e faltam recursos para dar continuidade a políticas de infraestrutura, sociais, e outras com caráter desenvolvimentista. Os anos 1980 merecem o rótulo de década perdida não somente em função do crescimento econômico errático ou das dificuldades para se controlar a inflação, e rolar a dívida externa; tal rótulo se deve também à incapacidade de continuar com as políticas (autoritárias ou não) desenvolvimentistas. As verbas para infraestrutura (viária, de saneamento básico, etc.) e habitação secaram neste período. E mudanças relevantes no modo de se conceber e implantar políticas públicas vieram com a democratização e a Constituição de 1988. Celina Souza (2003; 2007) argumenta que a temática da gestão metropolitana ficou num vazio institucional a partir da nova Constituição. O motivo seria a autonomia (relativa) de que gozavam historicamente os municípios brasileiros desde o período colonial, e que foi perdida durante o regime militar. De acordo com Melo (apud, Souza, C. 2003, p. 141) “a ideologia municipalista constitui uma das construções discursivo-programáticas mais antigas e resilientes da cultura política brasileira". Souza utiliza o conceito de path dependency para explicar que o modelo de gestão metropolitana adotado durante o ciclo autoritário anterior era incompatível com a transição para um regime democrático. Com isso, a temática da gestão metropolitana, cuja experiência remetia ao modelo centralizado anterior, foi deixada de lado (Souza, C. 2003, p. 153; 2007). A nova Constituição, devolveu – maior do que nunca – a autonomia aos municípios, reconhecendo-os como entes federados plenos. Gouvêa (2009, p. 48) aponta para uma “euforia municipalista” entre os constituintes. Este autor critica o fato de a Constituição de 1988 não fazer nenhuma distinção entre os municípios brasileiros, tenham eles mais de 10 milhões ou menos de mil habitantes, sejam predominantemente rurais ou urbanos, tenham territórios imensos ou pequenos. Gouvêa afirma que municípios como São Paulo e Rio de Janeiro, por si sós já compõem “verdadeiras áreas metropolitanas”. (Gouvêa, 2009, p. 49). A Constituição de 1988 gerou um modelo de gestão dos municípios que ficou conhecido como "municipalismo autárquico" (Daniel, 2001). Tal modelo transforma: (...) os prefeitos nos atores fundamentais da dinâmica local e intergovernamental, cada qual defendendo a autonomia de seu município como se esta significasse um isolamento das demais unidades da federação, ignorando que alguns problemas têm solução apenas em âmbitos mais abrangentes como o microrregional, estadual, ou mesmo federal. (Abrucio & Franzese, 2001, p. 7) 7 A Constituição de 1988 citou as regiões metropolitanas em seu artigo 25, transferindo da União para os Estados a prerrogativa da instituição de RM: Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. (CF 1988, Art. 25, § 3º) No entanto, nenhuma orientação ou diretriz foi dada no sentido de se estabelecer a estrutura de gestão, os serviços comuns, ou mesmo a obrigação de os estados criarem regiões metropolitanas. Portanto, além da ausência de recursos específicos, a ausência de regulamentação acerca das RM “transformou questões de governança urbana/metropolitana em questões de governança local, deixando os temas metropolitanos em um vazio político e administrativo” (Souza, C. 2003, p.149). Os estados por sua vez definiram de maneiras bastante diversas o termo “região metropolitana” (Gouvêa, 2009). Dado este cenário, pouco se avançou durante os anos 1990 em termos de gestão metropolitana. Aos municípios não interessava abrir mão de parte de sua autonomia visando à gestão compartilhada de temas em comum. Aos governos estaduais era mais interessante realizar investimentos pontuais em determinados municípios do que tentar compor grandes coalizões intermunicipais para a realização de projetos e investimentos. Na visão de relatório do Observatório das Metrópoles (2009, p. 13) “o reconhecimento dos municípios enquanto entes federados tira a legitimidade dos estados para coordenar as ações metropolitanas”. Conforme Rolnik & Somekh (2000, p, 83), a descentralização em países que estavam em processo de redemocratização, como o Brasil: “passou a ser entendida enquanto dimensão essencial era se superar o regime autoritário anterior”, tendo sido adotada como bandeira por atores das mais diversas tendências políticas. Quanto ao governo federal, este é um capítulo a parte. Entre 1980 e o final dos anos 1990 indicadores importantes do desempenho econômico brasileiro, como taxa de inflação e taxa de crescimento do PIB, estiveram sujeitos a diversas instabilidades. Neste período a política econômica esteve voltada fundamentalmente a conseguir superávits na balança de pagamentos, controle da taxa de inflação e redução do déficit público. As políticas desenvolvimentistas entraram em crise por falta de verbas nos anos 1980, e foram praticamente abandonadas nos anos 1990. O BNH foi extinto em 1986, tendo seu fechamento representado um duro golpe na política habitacional brasileira. Maricato (1998) aponta nos anos 1990 o governo Collor iniciou e não terminou a construção de 200 mil casas; Collor extinguiu ainda a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU). Por sua vez o governo FHC criou uma Secretaria de Política Urbana no Ministério do Planejamento, a qual produziu propostas interessantes, mas a prática foi pautada por financiamento quase exclusivo das políticas de habitação com recursos onerosos (FGTS), dependendo da capacidade de endividamento das famílias e prefeituras. Foram parcos os recursos do Orçamento Geral da União, "indispensáveis para atingir a população de baixa renda" (Maricato, 1998, p. 6), para as políticas habitacionais. Em 1998 foi feito um acordo com o FMI pelo qual somente seriam feitos empréstimos com recursos do FGTS para a área de saneamento básico com aprovação do Ministério da Fazenda, impondo-se ainda a necessidade de privatização dos serviços (Maricato, 2011, p. 14). Essa (ausência de) política urbano-metropolitana por parte do governo federal nos anos 1990 tem diversos condicionantes. Por todo o mundo, o fordismo e as políticas do estado-providência que o acompanhavam tinham entrado em crise, havia pelo menos dez anos. A resposta foi conservadora: as mais importantes instituições internacionais financeiras e de fomento adotaram em meados dos anos 1980 o ideário neoliberal como solução para colocar os países ‘em desenvolvimento’ de volta nos trilhos do crescimento econômico. 8 Durante os anos 90 o Brasil ainda tinha problemas com pagamento da dívida externa, inflação, déficit fiscal, tendo adotado então o receituário neoliberal de políticas que compunham o chamado Consenso de Washington, promovidas via Fundo Monetário Internacional. A prioridade estava no combate à inflação e na diminuição dos déficits fiscais do setor público, para o que se operou forte abertura econômica, liberalização e desregulamentação de fluxos financeiros e privatização de empresas estatais, objetivando-se diminuir o tamanho do Estado. A brusca abertura econômica acentuou os efeitos da reestruturação produtiva causada pela crise do fordismo e globalização dos circuitos produtivos: para sobreviver a indústria nacional correu para cortar custos, e a RMSP, assistiu a uma debandada de plantas industriais rumo ao interior. Na administração direta houve a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare), cujo ministro Bresser-Pereira visava promover uma ampla “reforma gerencial” no setor público federal. O diagnóstico de Bresser-Pereira era que o setor público brasileiro era excessivamente orientado para o mero cumprimento de regras (rigidez burocrática), estando suas organizações pouco comprometidas com a obtenção de resultados. As soluções se concentrariam nos seguintes pontos (Rezende, 2003; Bresser-Pereira, 1998): i. Introduzir ganhos de racionalidade na gestão financeiro-fiscal do Estado (ajuste fiscal, privatização, terceirização, desregulamentação, redução do tamanho e grau de interferência do Estado); ii. Promover mudanças institucionais visando a transformações nas estruturas de controle, gestão e delegação entre as diversas partes do sistema burocrático (descentralização das políticas públicas, empoderamento dos governos e atores locais, garantindo uma melhor intermediação de interesses e aperfeiçoando a democracia). Em suma, descentralização das políticas e boa governança local. Frey (2008, p. 43) sustenta que o segundo grupo de reformas elencados acima (institucional) tinha função precípua de alicerçar o primeiro grupo de reformas (fiscais/econômicas) – que seriam o núcleo-duro do neoliberalismo. Ou seja, o empoderamento dos atores locais e os instrumentos de boa governança seriam pilares essenciais para garantir o sucesso das reformas neoliberais (por toda a América Latina) – reduzindo os governos federais à condição de garantidores do cumprimento de contratos e do funcionamento das leis de mercado. Passados cinco anos desde sua criação, o Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare), responsável pela implantação da reforma gerencial no governo FHC, foi extinto em 1999 e a política de reformas foi substancialmente alterada. A reforma conseguiu reverter uma tendência expansionista dos gastos públicos, mas teve reduzidos resultados em sua dimensão central: a mudança institucional. A principal explicação seria a resistência de atores importantes dentro da própria estrutura do Governo Federal, principalmente os Ministérios da Fazenda e Orçamento. Segundo Rezende (2003, p. 66) as cúpulas destes ministérios entendiam que a excessiva descentralização das políticas do Estado brasileiro e a precariedade dos controles eram nocivas ao ajuste fiscal. Entretanto cabe esclarecer que a “descentralização” pretendida pela reforma gerencial, coordenada pelo Ministro Bresser-Pereira, não era exatamente essa que transferia responsabilidades e poderes aos governantes locais. A leitura de Rezende (2003) deixa claro que as expressões “descentralização” e “reforma institucional” significavam para o Mare a transferência de funções e responsabilidades da administração direta para Organizações Sociais e Agências Reguladoras. Eventualmente o ministro Bresser-Pereira em sua defesa da reforma gerencial (1998) citou a democracia e o interesse dos cidadãos, mas os governos locais não foram lembrados. 9 Sua argumentação, como era de praxe naqueles anos, partia dos seguintes postulados: as políticas do Welfare State tornaram o Estado muito grande, e a globalização reduziu sua autonomia...daí a crise (Bresser-Pereira, 1998, p. 56). Para que não fiquem dúvidas quanto ao caráter da reforma institucional (gerencial) que se tentou levar a cabo na segunda metade dos anos 1990, vale a pena citar artigo do próprio ex-Ministro da Administração e Reforma do Estado, ao listar alguns “componentes básicos da reforma do Estado dos anos 90”: (a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos principalmente de pessoal através de programas de privatização, terceirização (...) (b) a redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário através de programas de desregulação que aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um promotor da capacidade de competição do país em nível internacional ao invés de protetor da economia nacional contra a competição internacional. (Bresser-Pereira, 1998, p. 60) Em suma, as reformas dos anos 1990 significaram a saída do governo federal do papel assumido durante as décadas anteriores: de promotor e financiador das políticas de habitação, saneamento básico, transportes e outras ligadas à infraestrutura e desenvolvimento urbano (Souza, C., 2003). Este cenário descrito nos parágrafos anteriores ilustra o vácuo institucional pelo qual passaram as regiões metropolitanas brasileiras desde a Constituição de 1988 até o início do século XXI: ausência de interesse e de recursos. Durante esse período as experiências de governança regional e local que surgiram no Brasil eram independentes do Governo Federal. O exemplo paradigmático é o do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que deve sua origem a fatores relacionados ao histórico local comum, relativo equilíbrio de forças entre os municípios e existência de capital social (Klink, 2001). Durante os anos 1990 foram diversas as iniciativas na região do ABC no sentido de se estabelecer uma gestão integrada de problemas comuns, ou nas palavras de Klink (2008, p. 285), a construção de “novos consensos sem institucionalidade”. A experiência do ABC paulista inspirou a lei 11.107/2005 – Lei dos Consórcios Públicos, que estabelece normas gerais para os poderes públicos contratarem consórcios públicos para realização de objetivos de interesse comum. A Lei dos Consórcios é um importante instrumento que traz normas e facilita a articulação e cooperação entre os entes federativos – sendo também um instrumento de pactuação e cooperação ideal para regiões metropolitanas. A lei permite uma aliança flexível entre os entes consorciados, sendo que a gestão pode ser realizada por contratos e projetos. Atualmente existem diversos consórcios públicos celebrados nas áreas de saúde, gestão de resíduos sólidos e transportes - englobando os três entes federativos. A Lei dos Consórcios Públicos certamente é um grande e importante avanço, mas “a governança metropolitana, no entanto, não se resume à execução de um punhado de políticas setoriais” (Observatório das Metrópoles, 2009, p. 15). Gouvêa (2009, p. 65) traz ainda outra importante questão com a qual a Lei dos Consórcios não lida: como a lei não toca na questão da autonomia municipal (e nem era esse seu objetivo), somente serão firmados consórcios nas Regiões Metropolitanas – como um todo – que interessem aos seus municípios mais importantes. Por exemplo, a transformação de determinados serviços em metropolitanos pode beneficiar muito mais os municípios menores e mais pobres da RM, ainda que a maior parcela dos recursos venha do município polo. Ponderando sobre os eventuais ganhos políticos, não é improvável que os gestores do município polo se esquivem de participar de tal consorciamento (Gouvêa, 2009 apud. Grau, 10 1975, p.35) – e este município tem sua autonomia garantida para uma possível recusa à gestão compartilhada de recursos e serviços. Na verdade, é difícil imaginar alguma situação em que um município com maior arrecadação se interesse pela redistribuição de parte das suas receitas (Maricato, 2011, p. 18; Gouvêa, 2009). 4.1. Iniciativas recentes para a governança metropolitana na RMSP Neste ponto, coloca-se com clareza o desafio: dado o arcabouço jurídicoconstitucional atual do Brasil, como se estabelecer um marco regulatório para as regiões metropolitanas? Há ainda a questão dos recursos para garantir esta gestão metropolitana. 4.1.1 Iniciativas dos Governos Estadual e Federal Com relação ao Governo Estadual, em 2011 aconteceram iniciativas importantes por parte do governo estadual paulista. Logo no mês de janeiro foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, a quem foi vinculada a Emplasa – que desde 2001 passou a chamar-se Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A., e atualmente suas funções incluem abrangem o território denominado Macrometrópole Paulista² – MMP. Já no mês de junho do ano 2011 foi aprovada a Lei Complementar nº 1.139/2011, que com mais de vinte anos de atraso em relação à Constituição Federal de 1988 reorganizou a Região Metropolitana de São Paulo, trazendo mudanças potencialmente relevantes. A LCE nº 1.139/2011 extinguiu os antigos Codegran e Consulti, criando em seus lugares o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. O Conselho de desenvolvimento é composto por prefeitos dos municípios da RMSP (ou representantes designados por estes) e membros do executivo e legislativo estadual – estando fixada na lei a representação paritária entre os governos municipais e o governo estadual. Conforme Artigo 12 da LCE 1.139/11, as possibilidades para atuação do Conselho de Desenvolvimento são bastante amplas: O Conselho de Desenvolvimento especificará as funções públicas de interesse comum ao Estado e aos Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, dentre os seguintes campos funcionais: i) planejamento e uso do solo; ii) transporte e sistema viário regional; iii) habitação; iv) saneamento ambiental; v) meio ambiente; vi) desenvolvimento econômico; vii) atendimento social; viii) esportes e lazer. (...) § 3º (...) os campos funcionais indicados nos incisos v, vi e vii deste artigo compreenderão as funções saúde, educação, planejamento integrado da segurança pública, cultura, recursos hídricos, defesa civil e serviços públicos em regime de concessão ou prestados diretamente pelo Poder Público, sem prejuízo de outras funções a serem especificadas pelo Conselho de Desenvolvimento. (LCE 1.139/2011, art. 12) Os municípios da RMSP foram agrupados em cinco sub-regiões, sendo que cada uma destas poderá criar um conselho consultivo – e apenas neste último conselho está prevista a presença de representantes da sociedade civil. Foi ainda prevista a criação de autarquia para exercer a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana de São Paulo. Enquanto não se cria tal autarquia, a Emplasa vem exercendo a função de Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento (Decreto Estadual 57.349/2011). Finalmente, foi prevista a criação de um Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo – ainda não instituído no início de 2012 – e que deverá ter entre suas fontes de recursos verbas dos municípios da RMSP, destinadas “por disposição legal” (LCE 1.139/2011, art. 21, § 1º). Vale lembrar que tal ‘dispositivo legal’ sempre poderá esbarrar na questão da autonomia municipal, sendo este um nó jurídico de difícil solução. 11 Certamente há avanços com a aprovação da Lei Complementar em questão, principalmente se for levada em consideração a estrutura anterior herdada do regime militar. Contudo, existem lacunas importantes que devem ser apontadas: a emenda nº 57 ao então Projeto de Lei Complementar nº 6/2005 (que originou a LCE 1.139/11), por exemplo, propunha o Conselho de Desenvolvimento contasse com representação paritária entre os municípios, estado e representantes da sociedade civil (39 membros), além de 1 (um) representante do governo federal. O conteúdo desta emenda não foi incluído na redação final da lei, ficando a representação da sociedade civil restrita aos conselhos consultivos subregionais, e ainda assim não está prevista a paridade. Acrescenta-se que na redação final da LCE nº 1.139/11 o governo federal somente é citado como uma possível fonte de recursos para o Fundo de Desenvolvimento da RMSP. Não é o caso de defender que a esfera federal tivesse paridade de representação ou determinasse os rumos do desenvolvimento regional, mas a ausência da União no Conselho de Desenvolvimento de um território com a importância econômica, demográfica – e portanto, política – da RMSP também não é desejável. Ideal seria que este Conselho comportasse a possibilidade de concertação entre as três esferas de governo, contando ainda com a presença de representantes da sociedade civil organizada. Um problema que constava na própria proposta de emenda nº 57 era a exigência de que os “representantes da sociedade civil organizada” fossem parte de entidades sindicais, de associações patronais, universidades ou institutos de pesquisa. A afirmação que se segue é de difícil comprovação, mas no entendimento do autor do presente artigo, a exigência de que o representante da sociedade civil pertença a entidades classistas contribui para que o cidadão comum permaneça excluído e alheio às discussões que digam respeito aos rumos de sua localidade e região. Quanto ao Governo Federal, a aprovação da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e a criação do Ministério das Cidades (2003) representaram a volta do governo federal ao tratamento de questões relacionadas ao desenvolvimento urbano, o que não se dava desde os anos 1980. A própria Constituição Federal de 1988 e o Estatuto das Cidades trouxeram grandes avanços no sentido de se instituir (CF/88) e regular (EC/2001) instrumentos importantes para a gestão urbana (função social da propriedade, outorga onerosa, IPTU progressivo) – ainda que tais instrumentos dependam dos Planos Diretores e de vontade política para serem efetivamente aplicados (Maricato, 2003). Contudo a questão da gestão e desenvolvimento metropolitanos continua sem tratamento do ponto de vista da União. O Ministério das Cidades lançou no final de 2004 uma publicação (Cadernos MCidades) sobre a então recém-lançada Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, em que eram apresentados diversos diagnósticos e propostas de ação do governo federal. Quanto à questão metropolitana, havia alguns diagnósticos e três propostas de ação: 1) Parcerias com universidades de todo o país reunidas no Observatório da Metrópoles para elaboração de um marco legal nacional que oriente a delimitação das regiões metropolitanas pelos estados; 2) O levantamento das políticas, ações e investimentos do Governo Federal nas regiões metropolitanas (...) 3) A realização de estudos para a elaboração de planos metropolitanos em parceria do Ministério das Cidades com estados e municípios (Mcidades, 2004, p. 42) Passados seis anos, pode-se afirmar com certeza que os itens 1 e 3 ainda não se concretizaram, ao menos não em sua forma final, ou seja, na criação de marco legal que oriente a delimitação das RM pelos estados, ou na forma de planos de desenvolvimentos metropolitanos³. Essa ausência de uma coordenação vertical (via regulação; via uma política nacional para as áreas metropolitanas; via mecanismos de indução e incentivos seletivos nos macrofinanciamentos etc.) dificulta trajetórias “virtuosas” de governança colaborativa horizontal (via consórcios, por exemplo). 12 A iniciativa nesse sentido que, se aprovada, deixará o Governo Federal mais próximo de atingir os objetivos expressos na PNDU com relação às RM é o Projeto de Lei nº 3.460/2004 – denominado PL do Estatuto da Metrópole. Neste projeto de lei há, entre outros tópicos: i. definição que unifica o conceito de Região Metropolitana (já que atualmente cada estado adota um conceito diferente); ii. proposta para criação de uma Política Nacional de Planejamento Regional e Urbano. Tal Política envolveria a criação de Planos nacional, regionais e setoriais urbanos – estando seus conteúdos mínimos especificados no PL do Estatuto da Metrópole; iii. criação de um Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas – contendo informações de natureza estatística, físico-territorial, demográfica, financeira, urbanística, social, cultural ambiental, entre outras, que subsidiariam os Planos e a Política Nacional de Planejamento Regional e Urbano; iv. criação de Fundo Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas. A própria demora para a tramitação do PL do Estatuto da Metrópole no Congresso Nacional mostra que o tema é controverso, ou ao menos não é prioritário para alguns setores. Pode-se afirmar que o país ainda está a procura de um marco regulatório para as regiões metropolitanas. O que torna esta missão complexa é o fato de que este marco regulatório deve prever a gestão compartilhada de bens e serviços comuns, de forma que o interesse coletivo regional não possa ser contrariado por uma ou outra localidade que esteja sendo beneficiada com a situação atual – ou seja, este marco regulatório necessariamente implica alguma perda de autonomia local em prol de benefícios regionais. 4. Conclusão Devido às crises e instabilidades econômicas que acompanharam a economia brasileira a partir de 1980 – que teve entre suas conseqüências a falência dos Sistemas Nacionais de Habitação e Saneamento, e a extinção do BNH – as políticas voltadas ao desenvolvimento urbano e metropolitano foram praticamente abandonadas pelo governo federal. As prioridades das duas “décadas perdidas” eram o controle da inflação e o equilíbrio econômico-financeiro do estado (ajuste fiscal). Além disso, como reação à forma autoritária com que foram estabelecidas as Regiões Metropolitanas nos anos da ditadura, o tema metropolitano foi relegado a segundo plano na Constituição de 1988 - tanto pelos prefeitos quanto pelos movimentos sociais - tendo sido priorizada a autonomia municipal. Entretanto as regiões metropolitanas enfrentam diversos desafios (constituição de uma rede de transportes públicos intermunicipal, gestão de mananciais, gestão de resíduos sólidos, questões de zoneamento e ocupação do solo, impacto da reestruturação produtiva causada pela crise do fordismo, etc.) que somente podem ser equacionados de forma satisfatória a partir de uma gestão compartilhada, feita sob perspectiva regional. Com isso, nos últimos dez anos houve um ressurgimento da preocupação com a gestão metropolitana, sendo um marco importante a Lei dos Consórcios Públicos de 2005. A temática metropolitana também entrou recentemente na agenda do governo estadual paulista, que em 2011 criou a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, reorganizou a RMSP e vem dando atenção à região denominada Macrometrópole Paulista, que engloba as RM de Campinas, da Baixada Santista e a Aglomeração urbana de Jundiaí. Até o momento a atuação do governo federal vem se restringindo ao financiamento de iniciativas pontuais nas RM, principalmente via participação em consórcios. Portanto, tem 13 sido mais um patrocinador do que um ente que estabelece diretrizes para o desenvolvimento das regiões metropolitanas. Conforme ilustrado na seção anterior, está no Congresso Nacional o PL 3.460/2004, que estabelece o Estatuto da Metrópole. Se aprovado, esse arcabouço legal dará respaldo a uma atuação mais efetiva do governo federal nas regiões metropolitanas, não só como co-financiador, mas também como propositor de rumos e políticas. Restam ainda muitas indefinições com relação a gestão das regiões metropolitanas no Brasil, e o caso da RMSP não foge à regra. Distanciando-se das experiências mais recentes de governança compartilhada em outros países (Klink, 2008; Garson, 2009), a estrutura estadual para governança metropolitana não prevê participação direta da sociedade civil em sua instância decisória máxima. Também não está claro como será a compatibilização entre a gestão feita pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMSP e os consórcios já existentes com base na Lei Federal 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos). O Estatuto da Metrópole por enquanto é apenas uma possibilidade, e mesmo a mudança na orientação do governo paulista com relação à gestão da RMSP ainda é muito recente para se analisar resultados práticos. A única conclusão possível neste início de 2012 é que mudanças institucionais importantes estão em curso no que diz respeito à gestão das regiões metropolitanas brasileiras. Contudo está claro que tais mudanças apontam para um horizonte em que possivelmente: i) sistemas viários e transportes públicos; ii) zoneamento do solo; iii) gestão de resíduos sólidos; iii) habitação e fornecimento de equipamentos públicos; iv) etc. – sejam geridos a partir de um paradigma que transcenda o “municipalismo autárquico”, o qual, sob a máscara da autonomia, segrega territórios que compartilham vias de transporte, mananciais, atividades econômicas, problemas ambientais etc. 5. Notas 1 Até a criação do FGTS, os trabalhadores ganhavam direito à estabilidade ao completarem dez anos de trabalho em uma mesma empresa. A partir da criação do fundo, os trabalhadores tinham direito ao saque do valor total depositado (8% sobre a remuneração mensal). 2 De acordo com o sítio da Emplasa: “A MMP abrange as quatro regiões metropolitanas do Estado já institucionalizadas – São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte –, as aglomerações urbanas não metropolitanas de Sorocaba, Jundiaí e Piracicaba, além das microrregiões de Bragantina e São Roque.” (Emplasa, 2011) 3 Existe tal plano na RMBH, mas não é possível atribuir sua existência a qualquer tipo de parceria com o MCidades. 6. Referências Bibliográficas Abrucio, Fernando L. & Franzese, Cibele (2007). Federalismo e políticas públicas: o impacto das relações intergovernamentais no Brasil. In: Maria Fátima Infante Araújo; Lígia Beira. (Org.). Tópicos de Economia Paulista para Gestores Públicos. 1 ed. Edições FUNDAP: São Paulo, v. 1, p. 13-31. Arretche, Marta T. S. (2000). Estado federativo e Políticas Sociais: determinantes da descentralização. São Paulo: Fapesp. Barat, Josef. (1986, junho). Questão institucional e financiamentos dos transportes urbanos no Brasil: o caso da Região Metropolitana de São Paulo. Cadernos Fundap.São Paulo, ano 6, n. 12, pp. 10-27. 14 Bresser-Pereira, Luiz Carlos. (1998) A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Lua Nova, São Paulo, n. 45, pp. 49-94. Costa, Frederico L. (2008) Brasil: 200 anos de Estado; 200 anos de administração pública; 200 anos de reformas. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 42, n.5. Daniel, C. (2001). Autonomia municipal e as relações com os Estados e a União. In: W. Hofmeister & J. M. B. Carneiro (Coord.), Federalismo na Alemanha e no Brasil (pp. 203-13). São Paulo: Fundação Konrad Adenauer. Diniz, Clélio Campolina. (1995) A dinâmica regional recente da economia brasileira e suas perspectivas. Rio de Janeiro, IPEA. (Texto para discussão n. 375). Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitana S.A.). (2011). Informações do sítio [www.emplasa.sp.gov.br] Acessado em 23-12-2011. Feldman, Walter. (2004) Autor do Projeto de Lei 3.460/2004 – PL do Estatuto da Metrópole. Ferreira, João S. W. A cidade para poucos: breve história da propriedade urbana no Brasil. Anais do Simpósio “Interfaces das representações urbanas em tempos de globalização”, UNESP Bauru e SESC Bauru, 21 a 26 de agosto de 2005. Frey, Klaus. (2008). Development, good governance, and local democracy. Brazilian Political Science Review, 2(2), pp. 39-73. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (1940 e 1970) Censo Demográfico. Disponível no sítio [www.ibge.gov.br]. Furtado, C. (1982) Formação econômica do Brasil. 18ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). (2010) Situação atual e perspectivas do programa federal de apoio à gestão urbana municipal. Brasil em Desenvolvimento. Vol. III, Cap. 26. pp. 689-711. Garson, Sol. (2009) Regiões Metropolitanas: por que não cooperam? Rio de Janeiro: Letra Capital. Gouvêa, Ronaldo G. (2009, abril) Diretrizes para a gestão metropolitana no Brasil. Revista Eure, Vol. XXXV, n. 104, pp. 47-76. Grau, Eros R. (1975). Análise, crítica e implementação da legislação metropolitana. Revista Brasileira de Estudos Políticos. n. 40, pp. 25-48 Hermann, Jeniffer. (2005) Reformas, endividamento externo e o milagre econômico. In: Giambiagi, Fabio [et al]. Economia Brasileira Contemporânea (1945-2004). 13ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Hotz, Eduardo F. (2000) A organização metropolitana pós-Constituição de 1988. São Paulo em Perspectiva. n. 14 (4), pp. 91-98. Klink, Jeroen J. (2001) A cidade-região: regionalismo e reestruturação no Grande ABC paulista. Rio de Janeiro: DP&A. 15 Klink, Jeroen J. (2008) Governos e governança metropolitana: o caso do ABC paulista. IN:LadislauDowbor (org.), Políticas para o desenvolvimento local, São Paulo: Fundação Perseu Abramo. Maricato, E. Política urbana e de habitação social: um assunto pouco importante para o governo FHC. Revista Praga, São Paulo: Hucitec, v. 1, n. 6, p. 67-78, 1998. Maricato, E. (2003, maio/agosto) Metrópole, legislação e desigualdade. Estudos Avançados. São Paulo, v. 17, n. 48, pp. 151-167. Maricato, E. (2011, janeiro/abril) Metrópoles desgovernadas. Estudos Avançados. São Paulo, v. 25, n. 71. Ministério das Cidades. (2004) Cadernos do Ministério das Cidades. Brasília: MCidades/Governo Federal. Observatório das Metrópoles. (2009) Projeto Observatório das Metrópoles: território, coesão social e governança democrática. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belém, Natal, Goiânia e Maringá – Relatório Arranjos Institucionais para a Gestão Metropolitana. Rio de Janeiro. Disponível em: [http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/relatorio_arranjos_gestao_metropolitana.pdf] Acessado em 04-01-2012 Rezende, F. da C. (2002) O dilema do controle e a falha sequencial nas reformas gerenciais. Revista do Serviço Público, ano 53, n. 3. Rolnik, Raquel & Somekh, Nadia. (2000) Governar as metrópoles: dilemas da recentralização. São Paulo em Perspectiva. v. 14, n. 4. Royer, Luciana de O. (2009) Financeirização da política habitacional: limites e perspectivas. FAU-USP [Tese de doutorado]. Simões, Renato et al. Proposta de Emenda n. 57 ao Projeto de Lei Complementar n. 6/2005 (que originou a Lei Complementar Estadual n. 1.139/2011). Souza, Celina. (2003) Regiões metropolitanas: condicionantes do regime político. Lua Nova, n. 59, p. 137-158. Souza, Celina. (2007) Regiões metropolitanas: reforma do regime político e vazio de governança. In E. DINIZ (Ed.), Globalização, Estado e desenvolvimento. Dilemas do Brasil no novo milênio (p. 235-261). Rio de Janeiro: FGV. Souza, Maria Adélia A. (2010) O II PND e a política urbana brasileira: uma contradição evidente. In: O processo de urbanização no Brasil. Deak, C. & Schiffer, Sueli R. (orgs.). São Paulo: Edusp, 2ª ed. Wahrlich, Beatriz M. S. Reforma administrativa federal brasileira: passado e presente. In Revista de Administração Pública, (8), 27-75, 1974. 16
Download