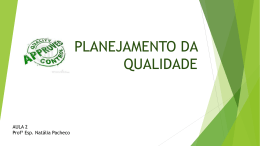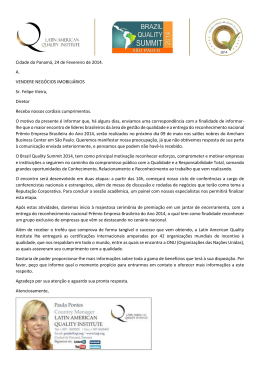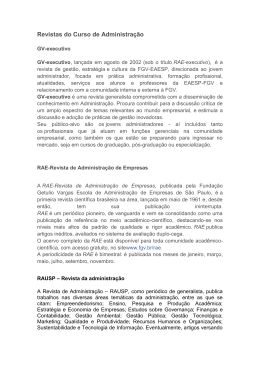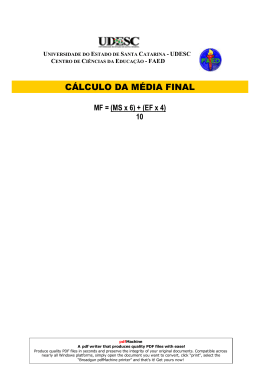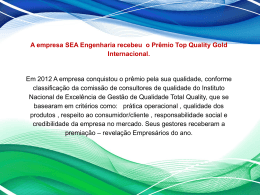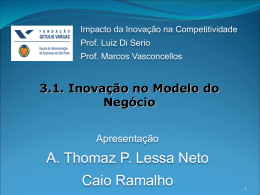CAPÍTULO 1 䡲 O papel da controladoria no processo de gestão 39 Capítulo 2 Estratégia empresarial Paulo Fernando Pinto Barcellos Com a crescente globalização de mercados, aumenta a competição entre as empresas e o decorrente desafio a sua sobrevivência. Firmas que sequer haviam cogitado sua exposição ao mercado externo vêemse, repentinamente, às voltas com a disputa de seus clientes locais por experientes competidores globais. No Brasil, são abundantes os exemplos recentes, tanto no comércio quanto na indústria. As aquisições, fusões e privatizações em curso ilustram bem o quadro atual das iniciativas estratégicas de resposta empresarial à confrontação global. O emprego cada vez maior da informática, associado às telecomunicações, está eliminando barreiras, encurtando distâncias e aproximando pessoas e organizações. Devido à substancial mudança em curso na atividade econômica, da manufatura e produção em massa para serviço e troca de informações, a economia moderna é muito diferente daquela sobre a qual foi desenvolvida grande parte da teoria econômica. Para as empresas, as implicações resultantes são imensas. A disponibilidade rápida de dados confiáveis e acurados para a tomada de decisão é um exemplo e seu valor para a gestão estratégica empresarial continuará a crescer em ritmo acelerado. Concomitantemente, a tecnologia está revolucionando o modo de competir das organizações. Produção flexível e redução do tempo de resposta, oriundas de desenvolvimentos tecnológicos em curso, estão sendo consideradas novas fontes de vantagem competitiva. Entretanto, sobreviver, conquistar participação de mercado e, sobretudo, satisfazer necessidades rapidamente mutáveis não é tarefa fácil para as empresas, cujo propósito deve ser criar e manter clientes. Agilidade surge, então, como requisito ímpar da estratégia empresarial, pois em época alguma da história a velocidade da mudança foi tão grande. Hoje, a única certeza das organizações é a incerteza. As conseqüências desse processo têm impacto significativo no cotidiano da gestão empresarial e a competitividade — decorrente do tratamento dispensado pelos competidores à qualidade definida pelo mercado — torna-se, como jamais o fora, o nome do jogo. Essa mudança radical em andamento significa nova e mais poderosa forma de fazer negócios. Forma emergente que requer agilidade e recursos para competir melhor e com mais vigor frente à selvagem concorrência global e aos fugazes momentos de oportunidade divisados. Forma que está intimamente ligada à estratégia e, por último, ao desempenho empresarial. ORIGEM E CONCEITO DE ESTRATÉGIA No mundo dos negócios, a estratégia — considerada de importância vital no embate da concorrência — está normalmente associada à arte da guerra. Entretanto, muito antes da estratégia, já existia a concorrência; ela surgiu com a própria vida. Com a evolução da vida, os primeiros organismos unicelulares passaram a alimentar seres mais complexos, desenvolvendo-se, com o passar do tempo, em intrincada rede de interações competitivas. Ao longo de milhões de anos, a concorrência natural não demandou qualquer estratégia; tratou-se, apenas, de seleção natural e sobrevivência do mais apto. A estratégia implica a capacidade de raciocínio lógico, sendo necessária a habilidade de previsão das possíveis reações às ações empreendidas. Possivelmente, o exemplo mais primitivo de desenvolvimento da 40 CONTROLADORIA estratégia caiba aos primeiros seres humanos — grupo de caçadores reunidos para enfrentar os grandes animais da época. Entretanto, não se constituiu em verdadeira estratégia, porquanto a presa somente contava com seu instinto, incapaz de raciocinar. Portanto, provavelmente a primeira estratégia verdadeira tenha sido a praticada por grupo de caçadores na conquista da área de caça de outro grupo (Henderson, 1984). Como conceito, provavelmente a estratégia surgiu relacionada a operações militares, nas quais são encontrados todos os elementos que a valorizam: recursos limitados, incerteza sobre a capacidade e as intenções do adversário, comprometimento irreversível dos recursos, coordenação das ações à distância e no tempo, incerteza sobre o controle da situação e a natureza fundamental das percepções recíprocas entre os contendores. É difícil, portanto, que a estratégia seja divisada com clareza, como destacou o general Sun Tzu, ao redor do ano 500 a.C., ao dizer que todos podiam ver as táticas que utilizava para conquistar, mas ninguém podia ver a estratégia a partir da qual surgia a vitória. O conceito de estratégia aplicado aos negócios, de modo geral, aparece no final da década de 50. Até então o planejamento, dito de longo prazo, era a projeção do passado no futuro, em que o lapso de tempo a ser considerado dependia do setor analisado. Para o setor elétrico, por exemplo, prazo de 15 anos ou mais era, e é até hoje, usual. O conceito de planejamento estratégico e a formulação de estratégias empresariais ganham destaque a partir dos anos 60, iniciando com a publicação, nos Estados Unidos, em 1957, de Leadership in Administration, de Selznick, seguida por Strategy and Structure, de Chandler, em 1962. Top Management Planning, de Steiner, editado em 1969, inclui-se, também, entre os referenciais então utilizados pelas empresas. Outros trabalhos publicados à época abordam conceitos de estratégia empresarial e administração estratégica. Dentre esses, Corporate Strategy, de Ansoff, editado em 1965, refere que o interesse resultou do reconhecimento de que a empresa deve ter seu campo de atuação definido com clareza, bem como orientação de crescimento, e que os objetivos, em si, não atendem a essa necessidade. Exigemse, então, regras de decisão adicional para que a empresa possa ter crescimento ordenado e com lucros. Essas regras de decisão e diretrizes foram definidas em termos amplos como estratégia ou, algumas vezes, como conceito do campo de atuação da empresa. Ótica inicialmente esposada em Marketing Myopia, de Levitt — anos mais tarde considerado artigo clássico de marketing — publicado, em 1960, pela Harvard Business Review. É a origem da discussão sobre a definição do negócio da empresa, ponto de partida do processo tradicional de planejamento estratégico. Para Mintzberg (1998), entretanto, a imagem da estratégia como planejamento — há muito tempo difundida na literatura pertinente — distorce esse processo, orientando, inadequadamente, as organizações que a adotam sem restrições. O autor defende o que define como criação artesanal da estratégia, em que os gerentes são artífices e a estratégia, sua argila. Como escultores, situam-se entre o passado de capacidades empresariais e o futuro de oportunidades de mercado, levando para seu trabalho o conhecimento íntimo dos materiais que utilizam. A isso, Mintzberg chama de essência da criação artesanal da estratégia. Para ele, estratégia não deve ser entendida somente como “primeiro pensar e depois agir”, “formular antes e implementar após”, em exclusivo processo formal e deliberado: estratégias podem se formar — o autor as chama de emergentes — assim como ser deliberadas. Destaca, ainda, que a idéia da estratégia dever ser formulada apenas por pessoas em posição destacada na empresa, distanciadas dos detalhes e percalços da condução do dia-a-dia da organização, o que constitui uma das grandes falácias do gerenciamento estratégico convencional. Robert (1998) afirma que a palavra estratégia passou a significar coisas diferentes para pessoas diferentes e que quanto mais livros lia, mais confuso ficava. Decidiu, então, entrevistar diversos presidentes sobre o futuro de suas empresas, deparando com um fenômeno interessante. Todos começavam a falar sobre uma certa “visão” em suas mentes — a imagem da organização no futuro — definida pelo autor como o início do processo de “raciocínio estratégico” que, para Hamel e Prahalad (1989), constitui a “intenção estratégica”. O processo de formação, compartilhamento e sustentação dessa visão é especificamente discutido por Quigley (1993). Essa abordagem da estratégia está intimamente ligada ao conceito de liderança visionária citado por Kotter (1996), bem como à iniciativa empreendedora (Barcellos et al., 1992). NÍVEIS, TIPOS E FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS É engano, portanto, pensar que as empresas possuem apenas uma estratégia. Organizações não contam com estratégia única e, sim, com diversas. Trata-se tanto de novas estratégias quanto de desdobra- CAPÍTULO 2 䡲 Estratégia empresarial 41 mentos, adequações e ajustes de estratégias existentes, que são formuladas ou emergem em vários níveis. Do nível corporativo, ou empresarial, partem as estratégias de linhas gerais, deliberadas — as estratégias guarda-chuvas — que se disseminam pelas empresas do grupo ou pelas unidades de negócio e pelas diversas áreas funcionais. Aí, então, emergem estratégias com o desenvolvimento gradativo das ações e experiências da organização. O importante é a convergência e a consistência das estratégias nos vários níveis, de sorte a ensejar o posicionamento desejado pela organização no mercado, seja ele de consolidação ou de mudança. No nível mais alto, a questão estratégica básica a definir é: qual o negócio da empresa ou, em outras palavras, em que mercados e com quais produtos deve operar. Resposta que tem constituído a aspiração dos que se envolvem na análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) de pontos fortes e fracos da organização e de oportunidades e ameaças divisadas. Wright et al. (2000) abordam diferentes tipos de estratégia, de acordo com o nível na organização. No nível empresarial, por exemplo, encontram-se: a) b) c) estratégias de crescimento (crescimento interno, integração horizontal, diversificação horizontal relacionada e não-relacionada ou por conglomerados, integração vertical de empresas relacionadas e não-relacionadas, fusões e alianças estratégicas); estratégia de estabilidade; estratégias de redução (turnaround ou reviravolta, desinvestimento e liquidação). Estratégias de crescimento são indicadas quando o resultado esperado possibilitar aumento do valor da empresa. A estratégia de estabilidade, ou seja, a manutenção das unidades de negócio, aplica-se quando a concentração de esforços no portfólio de negócios contribuir para fortalecer o posicionamento competitivo das distintas unidades. Estratégias de redução geralmente constituem o derradeiro recurso de unidades de negócio que enfrentam desempenhos insatisfatórios ou até mesmo o risco de sobrevivência da empresa. Ainda no nível empresarial, são também utilizadas para a formulação de estratégias: a) b) c) a matriz de portfólio, também chamada modelo ou estrutura BCG, desenvolvida pelo Boston Consulting Group, em 1967, no qual as unidades de negócio são dispostas em quatro quadrantes, cujas estratégias correspondem a ganhar participação de mercado, manter participação de mercado, colher e desinvestir; a matriz atratividade do mercado — posicionamento do negócio, também conhecida como matriz GE ou McKinsey, devido a seu desenvolvimento conjunto por ambas as empresas; o projeto PIMS (Profit Impact of Market Strategies), desenvolvido a partir da matriz atratividade do mercado — posicionamento do negócio, em que um programa computacional identifica os fatores mais importantes que impactam a atratividade do mercado ou o posicionamento do negócio, mostra seus relacionamentos com o desempenho empresarial e “pesa” suas importâncias relativas na equação total (Abell e Hammond, 1979). No nível de unidades de negócio, a pergunta a ser feita é: como competir no negócio escolhido? A resposta encontra-se na formulação de adequada estratégia competitiva, dependente do tamanho, recursos e competências da unidade de negócios. Porter (1986, 1989) aponta a liderança em custos ou a diferenciação como alternativas estratégicas a considerar, em escopo competitivo de alvo amplo ou estreito. Seu modelo de análise da estrutura da indústria e das cinco forças que influenciam a concorrência (rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos compradores e ameaça de substitutos) significou importante contribuição, especialmente para a avaliação do ambiente competitivo e da rentabilidade da indústria. Wright et al. (2000) indicam, adicionalmente, a possibilidade de utilização de estratégia competitiva de custos baixos/diferenciação — conjugação de ambas as estratégias em uma única — aplicada a todo mercado ou apenas a um nicho dele, dependendo do tamanho da unidade de negócios. Segundo Gale (1994), essa mescla ou combinação proporciona mais valor para o cliente, caracterizando-se valor como a relação custo-benefício para o comprador ou preçoqualidade para o ofertante. A teoria dos jogos, modelo matemático para análise de relações sociais em que predomina a tensão entre cooperação e conflito, é outra área que tem interessado à formulação de estratégias competitivas. Foi desenvolvida para análise do equilíbrio nuclear entre Estados Unidos da América e União Soviética, à época da Guerra Fria (von Neumann e Morgenstern, 1947). O estudo dos conflitos de interesse por meio da teoria dos jogos tem constituído aspecto importante de distintas áreas do conhecimento, como ciência política, economia, administração, sociologia e outras. Nesta teoria, o estrategista é confrontado com diversos cur- 42 CONTROLADORIA sos de ação — cada um resultando em distintas conseqüências sobre as quais tem escala de preferência — cujos resultados finais dependem de variáveis sobre as quais não tem controle, principalmente o comportamento dos outros participantes. Esses jogos são chamados estratégicos porque estão baseados na incerteza em relação à ação do outro, fazendo com que seja necessário tentar antecipar sua ação para prever os resultados. A contribuição da teoria dos jogos está na melhor compreensão da lógica da estratégia e da tendência de comportamento de indivíduos, quando submetidos a certas restrições estruturais. Ela tem integrado as teorias matemáticas da administração como parte das abordagens quantitativas do processo de tomada de decisão. No nível das áreas funcionais de unidades de negócio, a questão a ser proposta diz respeito a como desempenhar a função de modo a criar e oferecer valor para o cliente. Sendo as diversas áreas funcionais inter-relacionadas, a estratégia de determinada área não pode ser considerada isoladamente. A eficácia da estratégia genérica da unidade de negócios será ditada pela mescla homogênea das tarefas executadas pelas distintas áreas funcionais. Segundo Robert (1998), toda organização é composta por dez áreas estratégicas importantes: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) conceito de produto/serviço; tipo de usuário/cliente; tipo/categoria de mercado; capacidade de produção; tecnologia/know-how; método de vendas/marketing; método de distribuição; recursos naturais; tamanho/crescimento; retorno/lucro. Afirma o autor que embora todos esses componentes estejam presentes na maioria das organizações, em geral somente um deles é estrategicamente mais importante para a empresa, sendo o motor que a impele ou conduz em direção ao sucesso, refletindo, na essência, a abordagem de Prahalad e Hamel (1990), ampliada em Hamel e Prahalad (1994), relativa à competência essencial das organizações. Estas, em decorrência, devem precisamente desenvolver estratégias em torno de sua competência essencial para a obtenção de vantagem competitiva sustentável. O desenvolvimento de estratégias tem sido tradicionalmente abordado pela maioria dos autores sob a ótica de processo formal de planejamento, envolvendo, em geral, duas etapas: a primeira, de caráter quase permanente, engloba a definição do negócio, bem como a explicitação da missão da organização e seus princípios; a segunda, de caráter transitório, constam as análises dos ambientes interno e externo (a análise SWOT), a determinação de objetivos com seus respectivos indicadores de acompanhamento e a formulação das estratégias correspondentes para alcançá-los. Entretanto, Mintzberg et al. (2000) propõem a existência de dez escolas de pensamento sobre formulação de estratégias, das quais a abordagem usualmente encontrada como processo formal de planejamento é apenas uma delas. As escolas propostas são: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) a escola do design (estratégia como processo de concepção); a escola do planejamento (estratégia como processo formal); a escola do posicionamento (estratégia como processo analítico); a escola empreendedora (estratégia como processo visionário); a escola cognitiva (estratégia como processo mental); a escola de aprendizado (estratégia como processo emergente); a escola do poder (estratégia como processo de negociação); a escola cultural (estratégia como processo coletivo); a escola ambiental (estratégia como processo reativo); a escola de configuração (estratégia como processo de transformação). CAPÍTULO 2 䡲 Estratégia empresarial 43 ESTRATÉGIA, TECNOLOGIA E PRODUÇÃO É particularmente interessante observar o enfoque de Kobata (1995) sobre tecnologia, como fonte de competitividade, e sua relação com a estratégia empresarial: afirma ser imperativo às empresas conhecer a tecnologia que empregam e dispor de capacidade para aperfeiçoá-la. Como ilustração, referindo ser fácil comprar equipamento moderno, instalá-lo e usá-lo, afirma que a utilização do equipamento original estará condenando seu proprietário a nunca ser melhor que a concorrência — pois o concorrente poderá comprar equipamento idêntico. Por isso, segundo ele, é muito importante o desenvolvimento de capacidade de produção diferenciada na empresa — inovar para conquistar vantagem competitiva. Ainda assim, e não obstante o aprimoramento da tecnologia, o tempo gasto em seu desenvolvimento pode ensejar aos concorrentes a “largada na frente”. O conceito de estratégia tecnológica é relativamente novo. Até recentemente, a tecnologia tem figurado como integrante das estratégias funcionais da empresa, como no exemplo referido por Kobata, em que a estratégia tecnológica refere-se à tecnologia de produção. Contudo, para as empresas que competem em áreas nas quais a mudança tecnológica ocorre de forma constante, é de suma importância definir acuradamente a estratégia tecnológica em cujo projeto distintos aspectos devem ser considerados. Como processo de tomada de decisão, envolve decidir sobre estratégias genéricas para diferentes negócios de base tecnológica, bem como sobre a seleção da combinação produto-mercado tecnologicamente mais adequada. Ademais, é necessário compreender as fontes de sinergia e de alavancagem tecnológica (Burgelman e Maidique, 1988). Nas indústrias de baixo nível tecnológico, as barreiras à entrada são pequenas e, conseqüentemente, as estratégias devem ser formuladas visando à minimização dos custos de fabricação, enquanto em indústrias de alta tecnologia — aquelas cuja tecnologia está em contínuo estado de fluxo — a flexibilidade para apoiar modificações no projeto deve ser enfatizada paralelamente ao avanço tecnológico (DuBois e Oliff, 1992), constituindo a inovação tecnológica na condutora da estratégia (Barcellos, 1995). Fundamentalmente, a tecnologia está mudando as regras da concorrência. A mudança tecnológica ocorreu, de início, em três áreas: tecnologia da informação, tecnologia dos materiais e tecnologia da produção. Essas mudanças têm afetado todas as áreas inter-relacionadas nas organizações, com as empresas recorrendo a número crescente de novas técnicas e procedimentos de projeto e fabricação, tais como engenharia simultânea, DFM (Design For Manufacturability) — projeto para fabricação, CAD/CAM (ComputerAided Design/Computer-Aided Manufacturing) — projeto auxiliado por computador/fabricação auxiliada por computador, CIM (Computer-Integrated Manufacturing) — fabricação integrada por computador e fabricação virtual (USAF, 1994). O ponto de partida do processo é a voz do cliente, no qual técnicas como QFD (Quality Function Deployment) — desdobramento da função qualidade — são empregadas para descobrir as necessidades do cliente e convertê-las em requisitos de projeto, fabricação e prestação de serviço. Esta última passa a desempenhar papel cada vez mais relevante, pois em ambiente competitivo, onde é difícil competir somente em tecnologia, há crescente interesse na prestação de serviços ao cliente como meio de diferenciação do produto (Anderson e Fornell, 1994), posicionado, então, como produto ampliado (Levitt, 1983) e destacado por seus aspectos intangíveis. Estes, para McKenna (1985), são muito mais poderosos como posicionadores do produto que preço ou promoções, por contribuírem para a diferenciação da oferta e ensejarem sua percepção como a que melhor satisfaz a heterogeneidade da demanda. Melhor qualidade, mais produtividade, redução de custos e redução do tempo de resposta são preocupações evidentes das organizações nos dias que correm — caracterizados pela globalização da economia, mudanças rápidas no mercado e alta velocidade de difusão tecnológica —, aliadas ao cuidado com a nãoagressão ao meio ambiente por parte da tecnologia utilizada (Barcellos e Leão, 1998). Do lado da oferta, praticamente qualquer país pode tornar-se potencial competidor, enquanto que, do lado da demanda, aumenta a procura por produtos personalizados, entregues rapidamente. Contrariamente à noção de que vantagens em custo são conquistadas com grande volume de produção de produtos padronizados (economias de escala), pequenos lotes de produtos diversos podem, também, proporcionar vantagens competitivas em custo pela contribuição adicional ao volume total produzido (economias de escopo). O sistema de produção japonês JIT (Just-In-Time) tem demonstrado que sistemas flexíveis — com fulcro em células de produção — podem proporcionar, adicionalmente, economia considerável pela eliminação do desperdício, convertendo-se em vantagem competitiva. Na manufatura, o sistema Toyota de produção, o primeiro FMS (Flexible Manufacturing System) — sistema flexível de fabricação — a desenvolver o kanban como sistema de controle, é um exemplo clássico. 44 CONTROLADORIA A intensificação da competição internacional evidenciou a importância da fabricação para a estratégia empresarial como já referido e destacado por Baranson (1993). Tal preocupação havia sido exposta por Skinner (1969) ao mencionar que, ao fracassarem as empresas no reconhecimento do relacionamento entre as decisões de manufatura e a estratégia empresarial, podem tornar-se sobrecarregadas com sistemas produtivos caros, deveras não competitivos e de alteração morosa. A função fabricação transforma-se, então, de arma competitiva em pesado fardo empresarial. Dada a relevância do impacto da produção na estratégia empresarial, vários autores têm abordado o tema. Algumas importantes contribuições à discussão da formulação da estratégia de manufatura são apontadas por Voss (1992), bem como as desenvolvidas por Hill (1985) e Miller (1989). Ambos propõem um processo que inicia pelo exame do mercado efetuado pela equipe de marketing, seguido da análise de fabricação, privilegiando nitidamente a visão de fora para dentro da empresa. Wheelwright e Hayes (1985) propuseram quatro estágios ao longo de um continuum como os tipos genéricos de papéis estratégicos que a manufatura pode desempenhar na empresa. Em um extremo, a fabricação pode não oferecer contribuição alguma ou mesmo contribuir negativamente para o sucesso da organização, enquanto no outro, torna-se a fonte principal da vantagem competitiva. Embora não sejam estágios mutuamente excludentes, é difícil para a empresa, se não impossível, evitar qualquer um deles. O estágio em que se encontram as operações de manufatura da empresa é caracterizado pela ponderação de todos seus fatores determinantes. Contudo, a transição para a flexibilidade não é simples extensão de práticas da produção em massa para a produção enxuta. É processo que envolve determinação de aprendizado constante, como, por exemplo, o lidar com as ameaças e oportunidades decorrentes do uso crescente da internet. Flexível significa adaptável à mudança e, para Beckman (1990), a flexibilidade na produção pode ser definida como a habilidade da organização em distribuir e redistribuir seus recursos eficazmente em resposta a condições mutáveis ou variabilidades, como: a) b) c) d) e) variabilidade da demanda, a partir do composto de produtos e seu volume; variabilidade da oferta, resultante de diversos fornecedores com distintos níveis de qualidade, prazos de entrega e introdução de novos materiais; variabilidade do produto, originada tanto pelo lançamento de novos produtos quanto por inovações incrementais nos produtos existentes; variabilidade do processo, causada pela introdução de nova tecnologia de processo e/ou por nova técnica de gestão, como, por exemplo, ERP (Enterprise Resources Planning) — planejamento dos recursos do empreendimento; variabilidade da força de trabalho e equipamentos, originada por absenteísmo, eficiência, treinamento e confiabilidade de equipamentos. Para lidar com diferentes fontes de variabilidade, a produção pode recorrer a um punhado de técnicas sem esquecer o papel crítico desempenhado por marketing e pesquisa e desenvolvimento (P&D) na conquista da flexibilidade. Algumas dessas técnicas causam a redução do tempo e aumentam a rapidez de resposta das organizações — sua agilidade. ESTRATÉGIA E AGILIDADE O tempo tem sido discutido como nova fonte de vantagem competitiva; estratégias foram propostas em que a entrega em tempo real desempenha papel fundamental. Stalk (1988) e Stalk e Hout (1990) abordaram o conceito do ciclo de desenvolvimento do produto, da fase de P&D à expedição, propondo a competição baseada no tempo. Focando particularmente a inovação, Patterson (1993) também discute a redução do tempo ao longo de todo o ciclo da inovação, enfatizando seu impacto no ROI (Return On Investment) — retorno sobre o investimento — e, finalmente, nos lucros. Destaca especialmente que, sob perspectiva econômica, cada mês de atraso no lançamento do produto representa um mês a menos no retorno previsto, não havendo maneira de recuperar essa perda. Para ele, o sucesso deriva da definição do melhor produto possível e de seu rápido lançamento. Para competir com base no tempo, grandes transformações tornam-se necessárias na maneira tradicional de gestão das organizações. As mudanças requeridas são as que conduzem a área de produção a operar de modo similar ao sistema JIT e a empresa a atuar como um móbile, apta a aproveitar imediatamente o mínimo sopro de oportunidade. São, portanto, necessárias ações globais, como, entre outras, auto- CAPÍTULO 2 䡲 Estratégia empresarial 45 mação de projetos, estrutura organizacional flexível, trabalho em equipe e sistemas de apoio. Organização ágil ou virtual é o novo conceito que engloba toda essa gama de ações (Davidow e Malone, 1993). Para uma organização, ser ágil é ser capaz de operar com lucratividade em ambiente competitivo, no qual oportunidades de mercado são continuamente mutáveis e imprevisíveis. Agilidade também significa a utilização das habilidades e recursos da empresa na formação de organizações virtuais com terceiros, cujo objetivo final seja a maximização e a personalização de esforços individuais e coletivos dos parceiros estratégicos no aproveitamento de oportunidades de mercado, em diversificadas relações empresariais virtuais. A força competitiva resultante, então, tem origem na maneira como as pessoas, organizações e tecnologia são sistematicamente coordenadas umas com as outras para formar um novo tipo de entidade de negócios (Goldman et al., 1995), em que, para ser eficaz, a própria página da web deve estar bem alinhada com a estratégia da organização, firmemente acoplada a seu plano de negócios, e não constituir, apenas, uma “brochura eletrônica” (Neilson et al., 2000). Organização ágil significa, ainda, fabricação organizada ao redor do fluxo de informações do mercado, em vez do fluxo de materiais como na manufatura tradicional. Essa postura estratégica resulta no que é conhecido como empresa conduzida pelos clientes (Whiteley, 1991), que pode ser chamada, também, de empresa dirigida pela informação. O emprego criativo da informação está ajudando as pessoas a desenvolver habilidades de criação de organizações ágeis, de aprendizado contínuo e baseadas no conhecimento. Redes de informação estão interligando mercado, clientes e organizações, formando um empreendimento que cria novos produtos e serviços. Decisões de produção, então, são controladas por pessoas que detêm informação focada externamente, percebendo e capturando as necessidades, vontades e desejos do mercado, mas integradas ao longo de toda a cadeia de valor para criar processos novos, e constantemente evolventes, que forneçam valor ao mercado. É requisito prévio e fundamental à mudança para o paradigma da agilidade que a organização deseje operar em ambiente aberto, na qual a cooperação e a confiança sejam valorizadas. Para atingir esse objetivo, não deve ser ignorado o que tem sido descrito como características da organização de aprendizado (Argyris e Schön, 1978; Hayes et al., 1988), agrupadas por Senge (1990) em cinco disciplinas: a) b) c) d) e) visão compartilhada de objetivo comum; modelos mentais de idéias profundamente arraigadas; raciocínio sistêmico; aprendizado em grupo; domínio pessoal, representado pela capacidade de concentrar energias, desenvolver a paciência e ver a realidade de maneira objetiva. De acordo com Merron (1995), para criar tal organização, seus líderes devem dedicar muito mais atenção à criação de condições próprias ao aprendizado que à execução de determinadas tarefas. Para ele, dada a forte tendência da sociedade de agir imediatamente e esperar resultados também imediatos, a contemplação de aspectos contextuais da organização, além de desconcertante para muitos, não é fácil de adotar. Para as poucas organizações que podem ser caracterizadas apropriadamente como organizações de aprendizado, este não é um acontecimento, é um processo que está diretamente relacionado a implantação de clima propício ou contexto no qual as pessoas podem aprender e crescer, bem como a organização pode adaptar-se continuamente. Portanto, a significação do ser humano nesse processo deve ser enfatizada, bem como o papel da liderança na condução da organização ao crescimento, evitando que se implante burocracia organizacional em que objetivos internos de sobrevivência pessoal e departamental sobrepujem os dos clientes e que se desenvolva, como referido por Kotter (1996), uma cultura arrogante. No ambiente de mercado atual — global, altamente competitivo e dinâmico — a condição da agilidade não garante competitividade, mas não ser ágil significa, seguramente, perda de competitividade (Enterprise Integration Focus Group, 1994). Agilidade não é, por conseguinte, um ponto de destino ao qual as empresas aspirem chegar. É um processo contínuo de gerenciamento da mudança, de adaptação constante de práticas internas e de relacionamentos externos a novas oportunidades de mercado, de permanente aprendizado; enfim, constituindo desafio máximo tanto ao pensamento empresarial quanto, para muitas empresas, à redefinição simultânea do tipo de negócio em que atuam. Em decorrência, organização ágil demanda intenção estratégica, visão clara e regeneração da estratégia empresarial (Hamel e Prahalad, 1994), o que requer mudança encarada como oportunidade, recursos humanos preparados e satisfeitos, estruturas organizacionais flexíveis e dinâmicas, bem como foco permanente na satisfação do cliente. 46 CONTROLADORIA Como já abordado, de acordo com Patterson (1993), o único fator que tem o máximo impacto nos dois objetivos básicos de qualquer organização — satisfazer os clientes e obter retorno do investimento — é o tempo decorrido no desenvolvimento e introdução de novo produto, medido desde a ocorrência da oportunidade. Portanto, o tempo envolvido no ciclo da inovação é visto como o tempo decorrido entre o momento em que se abre a janela de oportunidade e aquele em que os primeiros clientes são atendidos, sendo a tecnologia um dos fatores impactantes na redução do tempo. Está entre as principais preocupações das organizações, sendo parte fundamental da estratégia empresarial, juntamente com produtividade e qualidade (Barcellos e Borges, 1994). ESTRATÉGIA E QUALIDADE O crescimento econômico não é simplesmente o resultado de maior produção com menos recursos — ou seja, produtividade —, mas, sim, do melhor suprimento de demanda progressivamente mais heterogênea. Padrões de vida e crescimento econômico dependem da produtividade dos recursos econômicos, bem como da qualidade da produção gerada por esses recursos. Em conseqüência, qualidade e produtividade passaram a constituir preocupações constantes para nações e empresas em todo o mundo, especialmente a partir dos primeiros movimentos de globalização da economia, embora, para expressivo número de empresas brasileiras, há poucos anos atrás os ganhos do mercado financeiro ultrapassassem, em muito, os lucros advindos das operações empresariais, dissimulando, em grande parte, a necessidade de gestão estratégica de seus negócios até então. Entretanto, supor que qualidade e produtividade andem sempre juntas pressupõe acreditar que a essência da qualidade seja ausência de variabilidade, definida esta última por termos tais como seis sigma, zero defeitos, consistência e conformação a especificações. Contudo, se a qualidade afetar, além dos custos, a satisfação do cliente e a receita da empresa, poderá, então, significar, também, flexibilidade, inovação, personalização da oferta e serviço individualizado — fatores que usualmente têm efeito adverso na produtividade (Barcellos, 1997). O objetivo não é mais zero defeitos, mas zero defecção de clientes (Fornell, 1995), expressão também referida por Reichheld e Sasser (1990) como resultado a ser atingido pela qualidade em serviços. A retenção do cliente constitui a derradeira meta visada pelo sistema que interliga a qualidade à satisfação do cliente. Portanto, a questão central é como conseguir aumentar a retenção do cliente. Para Fornell (1995), a resposta não se encontra no gerenciamento da qualidade total (Total Quality Management, ou TQM), já que essa abordagem apresenta, muitas vezes, resultados desapontadores porque não leva em conta duas leis básicas da economia: retornos decrescentes e alocação eficaz de recursos. Todos os esforços em qualidade irão, mais cedo ou mais tarde, experimentar retornos decrescentes quando o custo da qualidade aumentar mais que seu retorno. Adicionalmente, a maioria das melhorias da qualidade terá impactos distintos na satisfação do cliente e nos retornos econômicos. A tarefa é alocar os recursos para obter as melhorias de qualidade que proporcionam retorno máximo. Novamente, a questão é como ter êxito na identificação dessas dimensões da qualidade. Fornell (1995) apresenta a resposta, dizendo que, obviamente, não se pode perguntar aos clientes o que é importante: os clientes desconhecem o que dará máximo retorno à empresa. Acrescenta, ainda, que não podem sequer dizer o que os fará, por exemplo, comprar mais, pagar mais, ser mais leais e assim por diante. Podem, entretanto, prover valiosas informações sobre o bom ou mau desempenho de determinado fornecedor em diversas dimensões da qualidade. De posse desses dados, é possível montar detalhadas equações de causa e efeito, personalizadas para empresas individualmente e criar sistema no qual esses componentes da qualidade, cuja melhoria conduzirá a efeitos máximos no desempenho econômico, possam ser identificados e acompanhados. A satisfação do cliente é, pois, a chave para a sua retenção (Fornell et al., 1990) e a retenção do cliente exerce efeito poderoso na lucratividade dos negócios (Anderson et al., 1994; Fornell et al., 1995; Ittner e Larcker, 1996; Reichheld e Sasser, 1990). Não obstante sua popularidade corrente, há pouca concordância a respeito do significado da qualidade e sobre como atingi-la (Huff et al., 1994). O termo qualidade tem vários significados. Para Crosby (1979), qualidade significa conformação a especificações. Deming (1986) enfoca a melhoria da conformação pela redução da incerteza e variabilidade ao longo dos processos de projeto e fabricação, sendo a variação a principal culpada pela má qualidade. Juran (1989) define qualidade como “adequação ao uso” e postula ser a qualidade caracterizada tanto pela ausência de deficiências quanto pela presença de atributos CAPÍTULO 2 䡲 Estratégia empresarial 47 que satisfazem as necessidades do cliente. De acordo com a estrutura proposta por Juran, a qualidade global é função de confiabilidade e personalização, o que, para Huff et al. (1994), é paradoxal, pois a confiabilidade é tipicamente alcançada por meio de algum tipo de padronização, naturalmente contrário à personalização. A qualidade em serviços apresenta peculiaridades não encontradas em produtos. Para Grönroos (1990), uma das dimensões relevantes refere-se ao momento da verdade (Carlzon, 1994) — como se desenrola a interação comprador-vendedor. De acordo com Zeithaml et al. (1988), na comercialização de serviços há dificuldade em compreender e controlar a qualidade porque serviços são desempenhos, em vez de objetos. Para Oliver (1993), embora há grande divergência de opinião sobre sua definição, a qualidade de produtos é tipicamente discutida no contexto da conformação a especificações técnicas, refletindo perspectiva tradicional de engenharia e operações, contrastando com a qualidade em serviços, em que é, mais ou menos, uma dinâmica interpessoal. Ainda que os consumidores possuam experiência com os padrões do serviço, o vendedor pode mudar esses padrões à medida que o encontro se desenrola. A habilidade do vendedor de influenciar o consumidor, via mudanças na expectativa deste pelo desempenho daquele, constitui a marca distintiva da experiência de serviços, em contraste com produtos. Atualmente, também as prestadoras de serviços, em número crescente, estão demonstrando interesse na medição da qualidade dos serviços que executam para atingir melhor desempenho e usá-lo como estratégia de posicionamento. Como abordado, o desempenho personalizado é característico dos serviços. Dez dimensões da qualidade (tangibilidade, confiabilidade, capacidade de resposta, competência, cortesia, credibilidade, segurança, acesso, comunicação e compreensão do cliente) foram definidas por Parasuraman et al. (1985) como as que podem ser oferecidas pelas organizações de serviço. Posteriormente, essas dez dimensões foram agrupadas em conjunto de cinco: tangibilidade, confiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia (Parasuraman et al., 1988; Zeithaml et al., 1990). Referindo-se a produtos, entretanto, Garvin (1987, 1988) afirma que competir significa satisfazer clientes em oito dimensões principais da qualidade (desempenho, características, confiabilidade, conformação, durabilidade, prestação de serviço, estética e qualidade percebida). Cada organização tem sua definição de qualidade, mas é a definição do cliente a que realmente importa. Em outras palavras, as especificações são fixadas com base no que os gerentes percebem como importante, mas as perspectivas dos gerentes podem diferir consideravelmente da ótica dos clientes ou usuários (Zeithaml, 1988). Como referido por Fornell (1995), há mais de 200 anos atrás Adam Smith observou que a simples finalidade da produção é servir ao consumo. Portanto, qualquer avaliação global da qualidade deverá ser feita no nível da demanda ou consumo — não no nível da oferta ou produção. É a avaliação subjetiva da qualidade por parte do cliente e seu subseqüente comportamento de compra que determinam a taxa de retorno de quaisquer investimentos em qualidade. Portanto, qualidade não é conformação às especificações da empresa. Qualidade é conformação às especificações do cliente, constatação que tem repercussão fundamental na estratégia competitiva das organizações. A competitividade, portanto, configura-se, hoje em dia, como assunto estratégico compulsório na gestão empresarial em decorrência da acirrada disputa por clientes em toda parte, fruto da integração de mercados resultante do advento da telemática e da revolução conseqüente nos fluxos financeiros. A busca pela competitividade tem seguido tendência geral de evolução firmemente ligada à visão estratégica da qualidade — foco no cliente — como propulsora do desempenho empresarial. ESTRATÉGIA E DESEMPENHO EMPRESARIAL Gerir a visão estratégica das organizações — traduzida por objetivos de empregados, colaboradores, clientes e investidores — não constitui prática regular de grande parte das organizações (Lingle e Schiemann, 1996). Em 1994, o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados observou a importância de divulgação mais detalhada, pelas empresas, de indicadores não-financeiros e orientados ao futuro, que propiciem discernimento do desempenho de processos básicos para a operação do negócio como, por exemplo, satisfação de clientes, qualidade de produtos, produtividade, tempo de ciclo de inovações, satisfação de recursos humanos e satisfação de fornecedores (Fornell et al., 1996). Poucas coisas são tão importantes para o desempenho empresarial como sua medição, até porque é impossível gerenciar o que não se consegue medir. A essência da questão diz respeito, portanto, ao relacionamento entre a estratégia e as medições de desempenho das organizações. Muitas das áreas mais críticas de medição do desempenho empresarial 48 CONTROLADORIA ainda não estão bem definidas e, conseqüentemente, os dados necessários à gestão estratégica das organizações não são coletados. Este é o problema e o desafio, uma vez que dados constituem a base das medições. Tradicionalmente, a preocupação das organizações tem-se concentrado na medição de seus resultados financeiros, traduzidos por vários indicadores, tais como retorno sobre o investimento, crescimento da receita, aumento de margens, giro de estoques, venda por metro quadrado de loja, entre outros. Entretanto, para Heskett et al. (1994), estes são os resultados finais de processo. Processo esse que inicia com a estratégia de recursos humanos da empresa, em que a filosofia e as políticas dessa área funcional envolvem decisões diversas, como, por exemplo, a qualidade do ambiente de trabalho, métodos de recrutamento, seleção e admissão de recursos humanos, sistemas de reconhecimento e premiação, treinamento e oportunidades de carreira, entre outras. Em decorrência, as organizações contam com distintos níveis de satisfação de seus recursos humanos — resultando, por exemplo, em maior ou menor rotatividade da mão-de-obra e em aumento ou decréscimo da produtividade. É importante notar que, em particular para empregados inseridos em processos de trabalho nos quais haja interação com clientes — envolvidos com o momento da verdade — o comportamento dos primeiros, decorrente do nível de satisfação em que se encontram, traduzse em maior ou menor percepção de valor pelos últimos, resultando para estes, também, em maior ou menor nível de satisfação, indispensável à sua fidelização. Clientes fiéis ou leais à empresa é o que buscam todas as organizações, pois as conseqüências diretas da lealdade do cliente são representadas por sua retenção, repetição de compras e recomendações a terceiros (os três erres do sucesso empresarial). Esse comportamento é imprescindível para crescimento da receita, aumento da lucratividade e melhor desempenho econômico-financeiro (Reichheld, 1996). Portanto, o processo de gestão estratégica das organizações principia com a estratégia de recursos humanos que, por sua vez, afeta a estratégia de qualidade da empresa que, de outra parte, repercute grandemente em sua estratégia de marketing. Esta, finalmente, tem impacto na estratégia financeira, explicando, no processo como um todo, o desempenho empresarial. A dificuldade existente é, por ótica e hábito, a inexistência de gestão estratégica do processo antes descrito. Efetivamente, as organizações, em sua grande maioria, não são geridas estrategicamente. Em geral, cingem-se a indicadores financeiros ao término do processo, gravitando em torno do efeito sem consideração da causa e limitando-se a simples atividade de verificação final — como, figurativamente —, o controle da qualidade no fim da linha de montagem. Nesse caso, quando os problemas são constatados, o desperdício de insumos materiais e de mão-de-obra já ocorreu. Pelas razões expostas, é necessária a utilização de indicadores que efetivamente traduzam a visão da organização e a condução de sua estratégia empresarial. Indicadores além dos tradicionalmente relativos à área financeira, bem como, mais recentemente, dos que se referem à qualidade de processos operacionais — em sua maioria fruto de certificação segundo normas internacionais como, por exemplo, as ISO 9000 — que dizem respeito a ações já ocorridas na empresa, refletindo o passado. Sob essa nova perspectiva, é indispensável, por conseguinte, o emprego de indicadores complementares que, adicionalmente, prevejam a capacidade da empresa de gerar resultados, ou seja, sinalizadores do futuro. Esse entendimento levou Kaplan e Norton (1992, 1993, 1996a, 1996b) a defender o emprego de um conjunto equilibrado de indicadores que contemplem tanto medidas de resultado (indicadores de fatos ocorridos) quanto vetores de desempenho (indicadores de tendências futuras), a que denominaram balanced scorecard, contemplando as perspectivas financeira, dos processos internos da empresa, dos clientes e, por último, mas não menos importante, de aprendizado e crescimento da organização. O balanced scorecard, entretanto, não deve ser entendido como simples conjunto de medidas financeiras e não-financeiras, mas, sim, como a tradução da estratégia da organização sob a forma de conjunto articulado de medidas que definam tanto os objetivos estratégicos de longo prazo quanto os mecanismos para alcançá-los. Sob idêntica perspectiva, Schiemann e Lingle (1999) abordam a indispensável necessidade de seu emprego pelas organizações que aspirem ao sucesso empresarial. Para as empresas, o objetivo econômico principal é criar ativos que maximizem retornos. Contudo, a natureza dos ativos e sua medição mudaram, fruto das grandes mudanças havidas na economia nos anos recentes. Ativos tangíveis, tais como prédios, equipamentos, inventário, não constituem os ativos mais importantes na economia moderna. Para a maioria das organizações, os assim chamados ativos intangíveis são, agora, muito mais significativos: contribuem mais para o MVA (market value added) — valor agregado CAPÍTULO 2 䡲 Estratégia empresarial 49 de mercado das ações da empresa — do que os ativos tangíveis tradicionais. Dentre os ativos intangíveis, o mais crítico é a força e magnitude dos relacionamentos da organização com seus clientes. Sua medição precisa torna possível relacionar tais ativos com a receita deles derivada, isto é, fundamental à gestão e às decisões de investimento. A contabilidade tradicional, desenvolvida há séculos, não considera esses relacionamentos nem outros importantes ativos intangíveis, como o valor da marca, por exemplo, e os deixa fora do balanço, produzindo relatórios financeiros que fornecem visão distorcida da lucratividade da empresa, como abordado por Ehrbar (1998). Se, de outra parte, a contabilidade incorporasse a satisfação do cliente como ativo no balanço, haveria melhor compreensão do relacionamento entre a condição atual da empresa e sua futura capacidade de produzir riqueza. A satisfação do cliente constitui a própria avaliação contínua da capacidade da marca de proporcionar os benefícios por ele buscados. Em outras palavras, a satisfação do cliente conduz ao que Aacker (1991, 1995) define como o valor da marca e que o mundo financeiro traduz como MVA. Grande parte da economia moderna está naturalmente relacionada aos avanços da tecnologia de informação, mas também aconteceram mudanças filosóficas importantes, que têm conduzido mais economias nacionais em direção a economias de mercado. Em conseqüência, a economia mundial conta, agora, com mais competição global, mais informação para os compradores, menos poder monopolístico e circulação mais rápida de capital. Isso significa que não somente o tempo está se tornando cada vez mais precioso; também o equilíbrio de poder entre comprador e vendedor está, agora, pendendo para o primeiro, fazendo com que os ofertantes necessitem competir mais enérgica e rapidamente por sua preferência. Por essas razões, as medições de desempenho pelo lado do comprador, externamente à produção, tornam-se cada vez mais úteis. Não importa quanto possa a empresa melhorar a qualidade de seus produtos e serviços se a satisfação de seus clientes não for aumentada também. O grau de satisfação do cliente indica aos administradores e investidores duas coisas: a) b) o que a empresa “tem feito” a seus clientes (relacionado a condição atual de desempenho da empresa); o que os clientes “farão” à empresa (relacionado a capacidade futura da empresa gerar riqueza). Clientes satisfeitos representam, pois, ativo real, embora intangível, das organizações. Por definição, ativo econômico é o que gera fluxos futuros de receita. É evidente que, corretamente medida, a satisfação do cliente pode ser usada em predições dos resultados financeiros da empresa. A medição precisa, contudo, é difícil. Certamente, não basta perguntar simplesmente aos clientes quão satisfeitos estão e o que consideram importante; tais abordagens simplistas padecem de grande quantidade de erro e instabilidade. O necessário é a criação de sistema de gestão dos clientes como ativo empresarial, baseado em metodologia de mensuração precisa, que integre as medições da satisfação do cliente com as funções operacionais do negócio, fornecendo: a) b) c) d) avaliação monetária dos clientes, como integrantes do ativo da empresa; identificação do que fazer para aumentar este ativo; ligação do valor dos clientes, como ativo da empresa, às operações, processos e recursos humanos; prognóstico de futuros fluxos de receita e valorização do ativo. Bom exemplo de aplicação desse sistema é encontrado na Sears Roebuck (Rucci et al., 1998), a grande cadeia de varejo norte-americana que, de um prejuízo de quase 4 bilhões de dólares, em 1992, chegou ao lucro de 1,3 bilhões de dólares, em 1997, com retorno total sobre os investimentos — entre setembro de 1992 e abril de 1997 — de 298%, conforme publicado pela revista Fortune (1997). Como a Sears, organizações de sucesso gerem eficazmente sua carteira de clientes com o objetivo de aumentar o valor desse ativo para os acionistas — o que requer medição precisa e análise objetiva dos ativos intangíveis e suas inter-relações. Nas empresas onde é máximo o MVA, a força e a magnitude dos relacionamentos com o cliente também têm se revelado máximas. Em decorrência, para ter êxito na economia atual, os dirigentes empresariais não deverão avaliar novas oportunidades de negócio pelas repercussões no aumento de vendas ou na participação no mercado, mas pelo crescimento provocado no ativo de clientes. Isso é que conduz ao valor para o investidor, sustentável a longo prazo, e constitui o cerne da estratégia empresarial de sucesso. 50 CONTROLADORIA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AAKER, D.A. Managing Brand Equity. New York: Free Press, 1991. ———. Building Strong Brands. New York: Free Press, 1995. ABELL, D.; HAMMOND, J.. Strategic Market Planning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979. ANDERSON, E.W.; FORNELL, C. A Customer Satisfaction Research Prospectus. In: RUST, R.T.; OLIVER, R.L. (eds.) Service Quality: New Directions in Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. P. 241-268. ———. FORNELL, C.; LEHMANN D.R. Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, July, 1994, p. 53-66, ANSOFF, H.I. Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill, 1965. ARGYRIS, C.; SCHÖN, D.A. Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978. BARANSON, J. Impact of Global Change on International Business Strategy. In: WALLACE, W.A.; BERG, D.; ORNE, D. (eds.) Global Manufacturing: Technological and Economic Opportunities and Research Issues, Series Advances in Applied Business Strategies, Supplement 1, Greenwich, CT: JAI Press, 1993. BARCELLOS, P. F. P. Indicadores de Desempenho Orientados pelo Mercado para a Administração Estratégica no Varejo. Revista de Administração, v. 32, n.2, p. 84-89. São Paulo: USP, 1997. ———. Carvão x Gás Natural: Associação Energética Estratégica do Mercosul no Século XXI. Porto Alegre: Ortiz, 1995. ———. BIGNETTI, L.; FRACASSO, E. La implantación de pequeñas firmas de alta tecnología en América Latina. Revista del Derecho Industrial, v. 14, n. 40, p. 165-85. Buenos Aires: Depalma, 1992. ———. e BORGES, L.A.J. An Essay to Design a Technological Strategy Model. In: KALIL, T.M.; BAYRAKTAR, B.A. (eds.) Management of Technology IV. Institute of Industrial Engineers, 1994. ———. e LEÃO, M.L. Technology and Customer Satisfaction as an Approach to Electric Utility Eco-efficiency. Presented in: 7th Intl. Conference on Management of Technology. Orlando, FL, Feb., 1998. BECKMAN, S. Manufacturing Flexibility: the next source of competitive advantage. In: MOODY, P. E. (ed.). Strategic Manufacturing — Dynamic New Directions for the 1990s. Homewood, IL: Irwin, 1990. BURGELMAN, R.A.; MAIDIQUE, M.A. Strategic Management of Technology and Innovation. Homewood, IL: Irwin, 1988. CARLZON, J. A Hora da Verdade. 11ª ed. Rio de Janeiro: Cop, 1994. CHANDLER, A.D. Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. CROSBY, P.B. Quality is Free: The Art of Making Quality Certain. New York: New American Library, 1979. DAVIDOW, W.H.; MALONE, M.S. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York: Harper Business, 1993. DEMING, W. E. Out of the Crisis. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986. DUBOIS, F. L.; OLIFF, M. D. International Manufacturing Configuration and Competitive Priorities. In: VOSS, C.A. (ed.). Manufacturing Strategy: Process and Content. New York: Chapman and Hall, 1992. Enterprise Integration Focus Group Report. A Critical Agile Enabler: Enterprise Integration, The Agility Forum. Bethlehem, PA: AMEF, 3, Winter, 1994. EHRBAR, A.; STERN S. & CO. EVA — The Real Key to Creating Wealth. New York: Wiley, 1998. FORNELL, C. Productivity, Quality, and Customer Satisfaction as Strategic Success Indicators at Firm and National Levels. In: Advances in Strategic Management. Greenwich, CT: JAI Press, 1995. v. 11A, p. 217-229. ———; ITTNER, C.; LARCKER, D. Understanding and Using the American Customer Satisfaction Index (ACSI): Assessing the Financial Impact of Quality Initiatives. In: Proceedings of the Juran Institute’s Conference on Managing for Total Quality, 1995. ———. The Valuation Consequences of Customer Satisfaction. Working Paper, National Quality Research Center, School of Business Administration, University of Michigan, July, 1996. ———. RYAN, M.; WESTBROOK, R. Customer Satisfaction: The Key to Customer Retention. Mobius, IX (3), p. 14-18, 1990. FORTUNE. Bringing Sears into the New World. Oct. 13, p. 183-184, 1997. GALE, B.T. Managing Customer Value: Creating Quality and Service That Customers Can See. New York: Free Press, 1994. GARVIN, D.A. Competing on the Eight Dimensions of Quality. Harvard Business Review, nov./dec. 1987., p. 101-109. ———. Managing Quality: the Strategic and Competitive Edge. New York: Free Press, 1988. GOLDMAN, S.L.; NAGEL, R.N.; PREISS, K. Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer, New York: Van Nostrand Reinhold, 1995. GRÖNROOS, C. Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition. Lexington, MA: Free Press, Lexington Books, 1990. HAMEL, G.; PRAHALAD, C.K. Strategic Intent. Harvard Business Review, p. 63-76, may/jun., 1989. ———. Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press, 1994. HAYES, R.H.; WHEELWRIGHT, S.C.; CLARK, K.B. Dynamic Manufacturing — Creating the Learning Organization. New York: Free Press, 1988. HENDERSON, B.D. El Concepto de Estrategia. In: ALBERT, K. J. (ed.) Manual de Administración Estratégica. México, D.F.: McGraw-Hill, 1984. HESKETT, J.L.; JONES, T.; LOVEMAN, G. et al. Putting the Service-Profit Chain to Work. Harvard Business Review, p. 164-174, mar./apr., 1994. HILL, T. Manufacturing Strategy. London: MacMillan, 1985. HUFF, L.; FORNELL, C.; ANDERSON, E. Quality and Productivity: Contradictory and Complimentary. Working Paper, National Quality Research Center, University of Michigan School of Business Administration, 1994. ITTNER, C.D.; LARCKER, D.F. Measuring the Impact of Quality Initiatives on Firm Financial Performance. Advances in the Management of Organizational Quality, p. 1-37, 1996. CAPÍTULO 2 䡲 Estratégia empresarial 51 JURAN, J.M. Juran on Leadership for Quality. New York: Free Press, 1989. KAPLAN, R.S.; DAVID P.N. The Balanced Scorecard — Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, p. 71-79, jan./feb., 1992. ———. Putting the Balanced Scorecard to Work. Harvard Business Review, p. 134-43, sep./oct., 1993. ———. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, p. 75-85, jan./feb., 1996a. ———. The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School Press, 1996. KOBATA, T. Managing by Fact: The Results-Oriented Approach to Quality. Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization, 1995. KOTTER, J. P. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996. LEVITT, T.. Marketing Myopia. Harvard Business Review, p. 45-56, jul./aug., 1960. ———. The Marketing Imagination. New York: Free Press, 1983. LINGLE, J.H.; SCHIEMANN, W.A. From Balanced Scorecard to Strategic Gauges: Is Measurement Worth It? Management Review, American Management Association, p. 56-61, Mar., 1996. McKENNA, R. The Regis Touch: Million-Dollar Advice from America’s Top Marketing Consultant. Reading, MA: Addison-Wesley, 1985. MERRON, K. Riding the Wave: Designing Your Organization’s Architecture for Enduring Success. New York: Van Nostrand Reinhold, 1995. MILLER, S.S. Competitive Manufacturing: Using Production as a Management Tool. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989. MINTZBERG, H. A Criação Artesanal da Estratégia. In: MONTGOMERY, C.A.; PORTER, M.E. Estratégia: a busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus, p. 419-437, 1998. ———. AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de Estratégia: um Roteiro pela Selva do Planejamento Estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. NEILSON, G. L.; PASTERNACK, B. A.; VISCIO, A. J. Up the (E)Organization!: A Seven Dimensional Model for the Centerless Enterprise. www.strategy-business.com/strategy, Reprint N. 00106, First Quarter, 2000. OLIVER, R.L. A conceptual model of service quality and service satisfaction: compatible goals, different concepts. In: Advances in Services Marketing and Management, p. 65-85. Greenwich, CT: JAI Press, 1993. v.2. PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A.; BERRY, L.L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Fall 1985, p. 41-50. ———. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, Spring 1988, p. 12-40. PATTERSON, M.L. Accelerating Innovation: improving the process of product development. New York: Van Nostrand Reinhold, 1993. PORTER, M.E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise da indústria e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986. ———. Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Rio de Janeiro: Campus, 1989. PRAHALAD, C.K.; HAMEL, G. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, may/jun., 1990, p. 91. QUIGLEY, J.V. Vision — How Leaders Develop It, Share It, and Sustain It. New York: McGraw-Hill, 1993. REICHHELD, F.F. The Loyalty Effect: The Hidden Force behind Growth, Profits, and Lasting Value. Boston: Harvard Business School Press, 1996. ———. e SASSER, Jr., W. E. Zero Customer Defections: Quality Comes to Services. Harvard Business Review, sep./oct. 1990, p. 105-11. ROBERT, M. Estratégia: como empresas vencedoras dominam a concorrência. São Paulo: Negócio, 1998. RUCCI, J.; KIRN, S.P.; QUINN, R.T. The Employee-Customer-Profit Chain at Sears. Harvard Business Review, jan./feb. 1998, p. 82-97. SCHIEMANN, W.A.; LINGLE, J.H. Bullseye! Hitting Your Strategic Targets Through High-Impact Measurement. New York: Free Press, 1999. SELZNICK, P. Leadership in Administration: a sociological interpretation. Evanston, IL: Row, Peterson, 1957. SENGE, P.M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday, 1990. SKINNER, W. Manufacturing — Missing Link in Corporate Strategy. Harvard Business Review, may/jun. 1969, p. 136-45. STALK, Jr., G. Time-The Next Source of Competitive Advantage. Harvard Business Review, jul./aug. 1988, p. 41-51. ———. e HOUT, T.M. Competing Against Time: how time-based competition is reshaping global markets. New York: Free Press, 1990. STEINER, G.A. Top Management Planning. New York: MacMillan, 1969. TZU, S. A Arte da Guerra. Adaptação e prefácio de James Clavell. Rio de Janeiro: Record, 12ª ed., 1992. USAF. Users Workshop in Virtual Manufacturing Working Paper. Dayton, OH: Department of Defense, july 1994, p. 12-13. VON NEUMANN, J.; MORGENSTERN, O. Theory of Games and Economic Behavior. 2ª ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1947. VOSS, C.A. Manufacturing Strategy Formulation as a Process. In: VOSS, C.A., (ed.) Manufacturing Strategy: Process and Content. New York: Chapman & Hall, 1992. WHEELWRIGHT, S.C.; HAYES, R.H. Competing through Manufacturing. Harvard Business Review, jan./feb. 1985, p. 99-109. WHITELEY, R. The Customer-Driven Company: from talk to action. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991. WRIGHT, P.; KROLL, M.J.; PARNELL, J. Administração Estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2000. ZEITHAML, V.A. Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, july 1988, p. 2-22. ———. BERRY, L.L.; PARASURAMAN, A. Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality. Journal of Marketing, apr. 1988, p. 35-48. ———. PARASURAMAN, A.; BERRY, L.L. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: Free Press, 1990. 52 CONTROLADORIA
Baixar