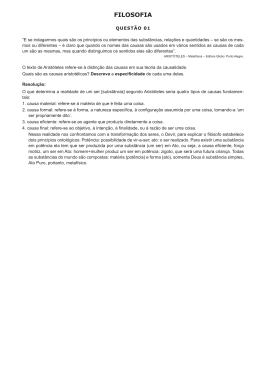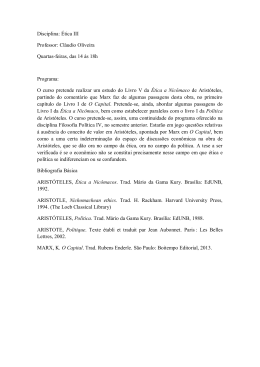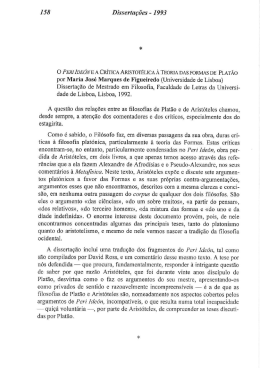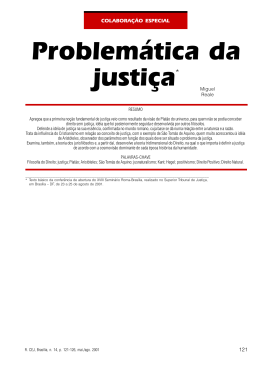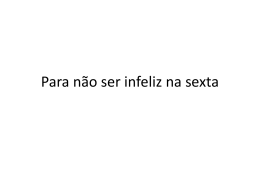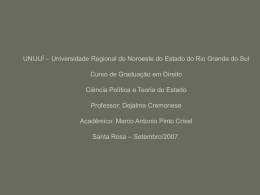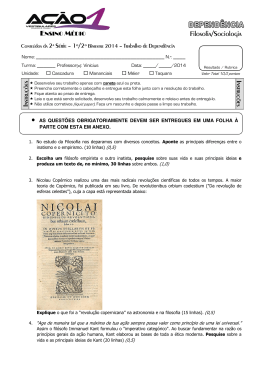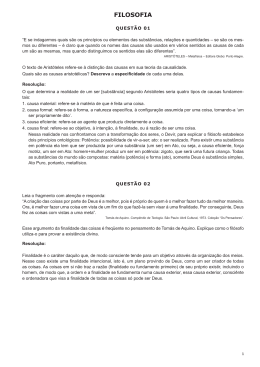JOGO
590
JUDAICA, FILOSOFIA
"expansividade livre" ou "atividade improdutiva e inútil", porque anula as características repressivas e exploradoras
do trabalho e do ócio e "simplesmente brinca com a realidade". Desse ponto de vista, o próprio trabalho deveria
tornar-se lúdico, ou seja, subordinar-se ao livre desenvolvimento das potencialidades do homem e da natureza
(MARCUSE, Eros and Civi-lization, 1954, cap. IX).
Na realidade, hoje não se pode aceitar sem restrições a definição tradicional de J., que evidencia o seu caráter de
absoluta espontaneidade e liberdade, contrapondo-o, pois, ao caráter coativo do trabalho que é determinado pelo fim
ou pelo resultado que deve atingir. Esse caráter de espontaneidade não pode ser entendido em sentido absoluto: de
fato, todos os jogos têm restrições ou regras que delimitam suas possibilidades. Mesmo em J. simples e individuais
existem tais restrições: não se pode, p. ex., lidar do mesmo modo com um cubo e com uma bola. Nos J. coletivos, as
regras definem e regulamentam, sendo impossível ignorá-las. Na cultura contemporânea, quando se lança mão do
conceito de J., como por vezes fazem filósofos e economistas, estã-se acentuando exatamente esse caráter de ser
guiado por regras cabíveis, escolhidas e estabelecidas para possibilitar a realização do J. e a alternativa entre sucesso
e malogro. Wittgenstein alude a isso quando fala em "J. lingüísticos", ou seja, linguagens diferentes, cada uma das
quais é regida por regras próprias {Philosophical Investiga-tions, I, § 81). Assim, também considera a linguagem
matemática como J. e entende que jogar é "agir de acordo com certas regras" (Re-marks on the Foundations of
Mathematics, IV, 1). Em economia (v.), a chamada "teoria dos J." considera que o J. é uma atividade limitada por
regras, graças às quais o jogador pode escolher, entre as várias estratégias possíveis, a que lhe assegure mais
vantagens (NEUMANN-MORGENSTERN, Theory of Games and Economic Behavior, 1944). Nestes empregos, o
significado dessa palavra compreende: le limitação das escolhas, impostas à atividade do jogador pelas regras; 2°
caráter não rigorosamente determinante dessas regras, que possibilitam escolher entre várias táticas e, eventualmente,
determinar a melhor tática caso por caso (que assegure sucesso ou o melhor resultado do J.). Obviamente essas
características não eliminam as tradicionais, já expressas por Aristóteles, mas a elas se somam, corrigem-nas e às
vezes as sobrepujam, como acontece no caso da teoria da linguagem como J. e da teoria dos J. na economia política. Recorreu-se
a conceito análogo de J. na elaboração de uma teoria do comportamento individual que permitisse explicar as
alterações psíquicas como "brigas" de J.: confusão entre antigas e novas normas para as interações sociais, recusa em
participar de um J. comandado por outros, não-aceitação da importância do J. (T. S. SZASZ, The Myth of Mental
Illness, 1961).
JUDAICA, FILOSOFIA (in. Jewish philosophy, fr. Philosophy judaique, ai. Jüdischen Philosophie, it. Filosofia
giudaica). A filosofia J! é de tipo escolástico (v. FILOSOFIA; ESCO-LÁSTICA); consiste essencialmente na tentativa de
interpretar a tradição religiosa J. em termos de filosofia grega, mais precisamente de neo-platonismo ou de
aristotelismo. A filosofia J. nasceu, portanto, quando o judaísmo entrou em contato com o helenismo no séc. II a.C.
Uma de suas primeiras manifestações é a seita dos essênios, dos quais nos falam Fílon, Jo-sefo e Plínio, à qual
parecem pertencer os documentos encontrados nas proximidades do Mar Morto em 1947, que costumam ser
chamados de "manuscritos do Mar Morto", (cf. BURROWS, The Dead Sea Scrolls, Nova York, 1956). Essa seita
mostra profunda afinidade com o neopitagorismo, supondo-se que se tenha desenvolvido sob a influência dos
mistérios órfico-pitagóricos. Era constituída por várias comunidades submetidas a disciplina severa, com certo
número de regras ascéticas. Do ponto de vista doutrinai, os essênios interpretavam alegorica-mente o Antigo
Testamento de acordo, segundo tradição que atribuíam a Moisés; acreditavam na preexistência da alma e na vida
depois da morte, admitiam divindades intermediárias ou demônios, bem como a possibilidade de profetizar o futuro.
Fílon de Alexandria (que viveu na primeira metade do séc. I d.C.) é a maior personalidade filosófica desse período da
filosofia J.: sua intenção é interpretar alegorica-mente as doutrinas do Antigo Testamento mediante conceitos da
filosofia grega. O resultado dessa interpretação é uma forma de neopla-tonismo muito semelhante àquela que se
desenvolverá em Alexandria por obra do neopla-tonismo (v.).
A segunda fase ocidental da filosofia J. desenvolveu-se na Idade Média, principalmente na Espanha, durante o
domínio árabe. A essa fase pertencem Isaac (que viveu no Egito entre
JUÍZO
591
JUÍZO
os sécs. IX e X); Saadja (séc. X); Ibn-Gebirol, que os escolásticos latinos conheceram com o nome de
Avicebron, autor de uma obra famosa intitulada Fonte da vida (séc. XI), e Moisés Ben Maimoun,
denominado Maimônides (séc. XII), autor do Guia dos perplexos. Os temas fundamentais dessa segunda
fase da Escolástica J. são os seguintes: ls utilização do neoplatonis-mo árabe, especialmente da filosofia
de Avi-cena, para a demonstração da existência de Deus; 2e negação do necessarismo característico da
filosofia árabe e, portanto, crítica das duas doutrinas decorrentes desse necessarismo: d) da eternidade do
mundo e conseqüente defesa da criação como início das coisas no tempo por obra de Deus; b) do rigoroso
determinismo astrológico, com a reafirmação da liberdade humana. Estas teses aproximam muito a
Escolástica J. da Escolástica cristã, que defende filosoficamente crenças religiosas análogas. Portanto, a
Escolástica cristã empregou muito a filosofia J., e especialmente a de Maimônides (cf. J. GUTTMANN, Die
Phil. des Ju-dentums, Munique, 1933).
JUÍZO (gr. TÒ KpitiKÓv, Kpíoiç, lat. Judicium; in. Judgment; fr. Jugement; ai. Urteilskraft, Ur-teil; it.
Giudizió). Este termo, oriundo da linguagem jurídica, possui quatro significados principais: 1 Q faculdade
de distinguir e avaliar ou o produto ou o àto desta faculdade, bem como sua expressão; 2 S uma parte da
lógica; 3S em relação a uma proposição, ato de assentir, discordar, afirmar ou negar; 4 Q operação
intelectual de síntese que se expressa na proposição.
lg No sentido mais geral, entende-se por J. a faculdade de avaliar e escolher, própria de todos os seres
animados. Aristóteles dizia que o J. é uma das faculdades da alma dos animais (a outra é a faculdade
motriz), sendo obra do pensamento e da sensação {De an., III, 9, 432 a 15). Em especial, atribuía ao
intelecto a capacidade de julgar as qualidades sensíveis com o sensório e a substância das coisas com um
meio diferente {Ibid., III, 4, 429, b 10). O significado geral conservou-se constante na tradição filosófica e
na linguagem comum. A faculdade de julgar consiste em avaliar, escolher, decidir. "Ter J." significa saber
ser comedido nas escolhas, ou fazê-las de acordo com as melhores regras. Nesse sentido, o J. é
qualificado segundo os campos específicos em que age, falando-se de "J. moral", "estético", "histórico",
"político", etc. Esse termo ainda indica, em todas línguas, o resultado ou o produto da atividade judicativa e a expressão lingüística desta: por isso, chama-se
de J. tanto a decisão ou a escolha que elimine uma incerteza, dirima uma controvérsia ou elimine um
conflito quanto a formulação verbal de alguns desses atos. Nesse sentido, a faculdade judicativa não se
reduz ao intelecto, conquanto compreenda também o intelecto. S. Tomás observava que "a palavra 'J.',
que segundo a primeira imposição significa a correta determinação do que é justo, foi ampliada para
significar a correta determinação em todas as coisas, tanto nas especulativas quanto nas práticas" {S. Th.,
II, 11, q. 60 a. 2 ad Io). Kant, que definia o intelecto como "a faculdade de julgar" {Crít. R. Pura, Anal.
transe, I, cap. I, seç. I; Prol, § 22), em Antropologia conceituava de modo mais geral o J., entenden-do-o
como "a capacidade intelectual de distinguir se cabe ou não uma regra", e afirmava que o J. não pode ser
ensinado, mas só exercitado, e que o seu desenvolvimento chama-se "maturidade" {Antr, 1, § 42). Locke
havia restringido o J. à faculdade de utilizar os conhecimentos prováveis na falta do conhecimento seguro
(Jud., IV, 14, 3), mas Leibniz observava que "outros chamam de julgar a ação realizada todas as vezes em
que alguém se pronuncia com algum conhecimento de causa" {Nouv. ess, IV, 14).
Nesse sentido, o J. é uma atividade va-lorativa, embora possa expressar-se (como de fato o fez com
freqüência) por fórmulas verbais diversas, como regras, normas, exortações, imperativos, pareceres,
conselhos, conclusões e, em geral, fórmulas que expressam uma escolha ou um critério de escolha. Peirce
diz: "O hábito cerebral da mais alta espécie, que determinará o que faremos, tanto em imaginação quanto
em ação, chama-se crença. Chama-se J. a representação, que fazemos para nós mesmos, de que temos
determinado hábito" {Coll. Pap. 3, 160).
Na mesma linha, Dewey considerou o J. como a conclusão de uma busca e a sistemati-zação efetiva da
situação que a provocou, segundo o modelo do procedimento judiciário {Logic, 1939, cap VII).
2a Cícero deu o nome de "J." à dialética{v.) dos estóicos, que "foi inventada quase como árbitro e juiz do
verdadeiro e do falso" {Acad., II, 28, 91). Disse ele: "Todo tratamento completo da argumentação possui
duas partes, uma que se ocupa da invenção a outra do J.". Aristóteles foi o fundador de ambas, os estóicos
se-
JUÍZOS, CLASSIFICAÇÃO DOS
593
JUSTIÇA
lógica, 1,19222, pp. 192 ss.). Para Bradley e Bo-sanquet, o sujeito autêntico do J., ao qual se referem as qualificações
ou a idéia que o constituem, é a realidade total, ou seja, o Absoluto ou Consciência (BRADLEY, Appearance and
Reality, 19022, p. 370; BOSANQUET, Logic, I, 1888, p. 294). Por outro lado, os próprios lógicos matemáticos usaram
freqüentemente a palavra "J.", porém em sentido diferente, passando então a prevalecer o termo proposição (v.).
Contudo, foi no próprio campo da lógica filosófica que se esboçou a reação contra a noção de J. como operação
mental. Husserl estabeleceu inicialmente a distinção entre o ato judicativo e sua essência "intencional" ou "cognitiva",
que seria seu conteúdo objetivo (Logis-che Untersuchungen, 1900, II, V, § 21), e mais tarde fez a distinção entre o J.
como noese (v.), que é o "julgar", e o J. como noema (v.), que é o "julgado", o "juízo formulado" que possibilita a
consideração lógico-formal do próprio J. Ambos os aspectos são dados na vivência {Erlebnis) do julgar ildeen, I, §
94).
JUÍZOS, CLASSIFICAÇÃO DOS (in. Clas-sification of judgments; fr. Classification des jugements, ai. Einteilung
der Urteile, it. Clas-sificazione deigiudizi). 1. Com esta expressão entende-se comumente a classificação das
proposições, ou seja, sua divisão em afirmativas e negativas, universaise particulares, categóricas e hipotéticas, etc.
Para tal significado, v. PROPOSIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO DAS.
2. Mais propriamente, entende-se por esta expressão a divisão das atividades valorativas. Nesse sentido, Kant
distinguiu o juízo determinante (propriamente intelectual) do juízo reflexivo (teleológico ou estético). Definindo em
geral o juízo como "faculdade de pensar o particular como contido no geral", Kant considera que no juízo
determinante é dado o geral (a regra, o princípio, a lei), cabendo subsumir-lhe o particular (o múltiplo sensível),
enquanto no juízo reflexivo é dado o particular (as coisas naturais) cabendo encontrar o geral ao qual ele está
subsumido, ou seja, o fim no qual as coisas são reintegráveis mediante um conceito (juízo teleológico) ou
imediatamente, sem conceito (juízo estético) (Crít. do Juízo, Intr., § IV). Essas distinções pertencem efetivamente ao
plano de divisão dos juízos, como atividades valorativas, enquanto as demais distinções que Kant faz, como entre
juízos analíticos e sintéticos ou as que se encontram na tábua dos juízos que ele dá no § 9 da Crítica da Razão Pura,
pertencem
ao plano das proposições. A relutância do pensamento contemporâneo em estabelecer distinções rígidas entre as
atividades humanas impede que se estabeleçam distinções nítidas entre as diversas atividades judicativas. Fala-se
certamente de um juízo estético, que é diferente do juízo intelectual ou do juízo moral, mas fala-se analogamente de
juízo econômico, jurídico, etc, sem que isso implique a diversidade ou a respectiva autonomia de diferentes
faculdades de juízo. Em geral, pode-se dizer que uma atividade judicativa assume o nome do campo específico a que
ela se refere, de tal forma que é possível falar de juízos atinentes a campos especialíssimos, que obviamente se
recusam a ser considerados "formas" ou "categorias" espirituais.
JUSNATURALISMO. Teoria do direito natural configurada nos sécs. XVII e XVIII a partir de Hugo Grócio (15831645), também representada por Hobbes (1588-1679) e por Pufendorf (1632-94). Essa doutrina, cujos defensores
formam um grande contingente de autores dedicados às ciências políticas, serviu de fundamento à reivindicação das
duas conquistas fundamentais do mundo moderno no campo político: o princípio da tolerância religiosa e o da
limitação dos poderes do Estado. Desses princípios nasceu de fato o Estado liberal moderno (v. LIBERALISMO). O J.
distingue-se da teoria tradicional do direito natural por não considerar que o direito natural represente a participação
humana numa ordem universal perfeita, que seria Deus (como os antigos julgavam, p. ex., os estóicos) ou viria de
Deus (como julgaram os escritores medievais), mas que ele é a regulamentação necessária das relações humanas, a
que se chega através da razão, sendo, pois, independente da vontade de Deus. Assim, o J. representa, no campo moral
e político, reivindicação da autonomia da razão que o cartesianismo afirmava no campo filosófico e científico (v.
DIREITO).
JUSTIÇA (gr. ôiKouoaúvri; lat. Justitia; in. Justice, fr. Justice, ai. Gerechtigkeit; it. Giusti-zià). Em geral, a ordem
das relações humanas ou a conduta de quem se ajusta a essa ordem. Podem-se distinguir dois significados principais:
le J. como conformidade da conduta a uma norma; 2- J. como eficiência de uma norma (ou de um sistema de normas),
entenden-do-se por eficiência de uma norma certa capacidade de possibilitar as relações entre- os homens. No
primeiro significado, esse conceito
JUSTIÇA
594
JUSTIÇA
é empregado para julgar o comportamento humano ou a pessoa humana (esta última, com base em seu
comportamento). No segundo significado, é empregado para julgar as normas que regulam o próprio comportamento.
A problemática histórica dos dois conceitos, ainda que freqüentemente interligada e confundida, é completamente
diferente.
1Q No primeiro significado, a J. é a conformidade de um comportamento (ou de uma pessoa em seu comportamento)
a uma norma; no âmbito deste significado, a polêmica filosófica, jurídica e política versa apenas sobre a natureza da
norma que é tomada em exame. Esta pode ser de fato a norma natural, a norma divina ou a norma positiva.
Aristóteles diz: "Uma vez que o transgressor da lei é injusto, enquanto é justo quem se conforma à lei, é evidente que
tudo aquilo que se conforma à lei é de alguma forma justo: de fato, as coisas estabelecidas pelo poder legislativo
conformam-se à lei e dizemos que cada uma delas é justa" (Et. nic, V, 1, 1129 b 11). Neste sentido, segundo
Aristóteles, a J. é a virtude integral e perfeita: integral porque compreende todas as outras, perfeita porque quem a
possui pode utilizá-la não só em relação a si mesmo, mas também em relação aos outros (Ibid., 1129 b 30). Mas
também as duas formas da J. particular que Aristóteles enumera, que são a distributiva (v. DiSTRiBunvo) e a
corretiva ou comutativa (v. COMUTATIVO), consistem em conformar-se a normas, mais precisamente às que
prescrevem a igualdade entre os méritos e as vantagens ou entre as vantagens e as desvantagens de cada um. A
definição de J. feita por Ulpiano, adotada pelos jurisconsultos romanos (Dig., I, 1, 10) como "vontade constante e
perpétua de dar a cada um o que é seu" é outra maneira de expressar a noção de justiça como conformidade à lei,
visto pressupor que o que cabe a cada um já está determinado por uma lei. Kelsen tachou essa definição de
tautológica por não conter indicação alguma sobre o que é o "seu" de cada um (.General Theory of Law and State,
1945, I, I, A, c, 2); na realidade, prescreve apenas a conformidade a uma lei ou regra que estabeleça exatamente
aquilo que cabe a cada um. A noção de conformidade à lei como definição de J. é uma constante mesmo naqueles que
se opõem ao conceito tradicional de justiça. Assim, Hobbes afirma que a J. consiste simplesmente na manutenção dos
pactos, e que, portanto, onde não há Estado como poder coercitivo que assegure a manutenção dos pactos, não existe J. nem injustiça (Leviath., I, 15). Mas também neste caso a J. não passa de
conformidade a uma regra, mesmo em se tratando de uma regra simplesmente pactuada. Mesmo a interpretação feita
por Kant da definição romana reduz a J. ao respeito a uma norma já estabelecida: "Se aquela fórmula fosse traduzida
por 'dar a cada um o que é seu', estaria dizendo um absurdo, pois não é possível dar a alguém o que já tem. Para ter
sentido deve ser assim expressa: inclui-se numa sociedade em que a cada um possa ser garantido o que é seu contra
qualquer outro" (Lex justitiaê) (Met. der Sitten, I, Divisão da doutr. do Dir., A). Por outro lado, também aqueles que
não vêem no conceito de J. nada mais além da tentativa de justificar determinado sistema de valores, pretendendo
expungi-lo da teoria científica do direito, utilizam ou adaptam a mesma noção de justiça. Kelsen diz: "J. significa a
manutenção de uma ordenação positiva mediante sua conscienciosa aplicação. Ela é J. segundo o direito. A
proposição segundo a qual o comportamento de um indivíduo é justo ou injusto no sentido de ser jurídico ou
antijurídico significa que seu comportamento corresponde ou não à norma jurídica que é pressuposta como válida
pelo sujeito judicante por pertencer a uma ordenação jurídica positiva" (General Theory, cit., I, I, A, c, 5, trad. it, p.
14). Esse conceito de J. não está submetido às conseqüências resultantes das diferenças, mesmo as mais substanciais,
entre as doutrinas do direito. Quer se entenda a norma como norma de direito natural, quer como norma moral ou de
direito positivo, a J. é sempre considerada conformidade do comportamento à norma.
2° No segundo conceito, a J. não se refere ao comportamento ou à pessoa, mas à norma; expressa a eficiência da
norma, sua capacidade de possibilitar as relações humanas. Neste caso, obviamente, o objeto do juízo é a própria
norma, e desse ponto de vista as diferentes teorias da J. são os diferentes conceitos do fim em relação ao qual se
pretende medir a eficiência da norma como regra para o comportamento intersubjetivo. Platão foi o primeiro a insistir
na J. como instrumento. Sócrates pergunta a Trasímaco: "Acreditas por acaso que uma cidade, um exército, um grupo
de bandidos ou de ladrões, ou qualquer outro amontoado de pessoas que se ponha de acordo para fazer algo de
injusto, poderia chegar a fazer alguma coisa
JUSTIÇA
595
JUSTIÇA
« os seus integrantes cometessem injustiça uns •para com os outros? — Não, de certo, respon-■deu
Trasímaco. — E se não cometessem injustiça, não seria melhor? — Seguramente. — A razão disto,
Trasímaco, é que a injustiça dá origem a ódios e lutas entre os homens, enquanto ij. produz acordo e
amizade" {Rep., 351 c-d). Neste trecho a J. é desvinculada de qualquer objetivo que tenha valor
privilegiado: ela não passa de condição para possibilitar a convivência e a ação conjunta dos homens:
condição que vale para qualquer comunidade humana, mesmo para um grupo de bandidos. Da mesma
forma, no mito exposto a Protágoras no diálogo homônimo, Platão diz que, enquanto os homens não
tiveram a arte da política, que consiste no respeito recíproco e na J., nãq puderam reunir-se em cidades e
eram destruídos pelas feras. "Apesar de ajudá-los a obter alimento, a arte mecânica não lhes era suficiente
para combater as feras porque eles não possuíam a arte política, de que faz parte a arte da guerra" {Prot.,
322 b-c). Com mais freqüência, porém, filósofos e juristas não mediram a J. das leis tomando como
referência a sua eficiência geral no que diz respeito às possibilidades de relações humanas, mas a sua
eficiência em garantir este ou aquele objetivo considerado fundamental, ou seja, como valor absoluto.
Não faltou portanto quem julgasse impossível definir a J. nesse sentido, limitando-se a propor a exigência
genérica de que, para ser justa, uma norma deve adequar-se a um sistema de valores qualquer (CH.
PERELMAN, De Ia justice, 1945, trad. it., 1959). Todavia, os fins aos quais se recorreu com mais
freqüência são: d) felicidade; ti) utilidade; c) liberdade; d) paz.
d) Foram os filósofos que mais recorreram à felicidade. Aristóteles diz: "As leis promulgadas sobre
qualquer coisa visam à utilidade comum a todos ou à utilidade de quem se destaca pela virtude ou por
outra forma; desse modo, com uma só expressão definimos como justas as coisas que propiciam ou
mantêm a felicidade ou parte dela na comunidade política" {Et. nic., V. 1, 1129 b 4). A identificação do
bem comum com a bem-aventurança eterna é um caso particular dessa doutrina (S. TOMÁS, De regimine
principum, III, 3).
ti) Já na antigüidade (p. ex., para os sofistas e para Carnéades) a J. foi identificada com a utilidade. No
mundo moderno, Hume impôs eficazmente esse ponto de vista: "A utilidade e o fim da J. é propiciar a
felicidade e a segurança, mantendo a ordem na sociedade" {Inq. Cone. Morais, III, 1). A redução da J. à utilidade, e não à
felicidade, tem a característica de eliminar o caráter de fim último ou valor absoluto, levando a considerála como solução (às vezes a menos pior) de determinadas situações humanas. É o que pensa Hume,
corrigindo nesse aspecto o jusnaturalismo racionalista de Grócio, que à J. atribuía valor absoluto, e às
normas que a garantem, absoluta racionalidade, pois para ele "as relações mútuas de sociedade"
possibilitadas por tais normas eram fins em si mesmas, porque objeto último de desejo {De jure belli
aepacis, Intr., § 16).
c) Foi Kant quem identificou J. e liberdade. "A tarefa suprema da natureza em relação à espécie humana"
é uma sociedade em que a liberdade sob leis externas esteja unida, no mais alto grau possível, a um poder
irresistível, o que é uma consütuição civil perfeitamente justa ildee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht, 1784, Tese V). Segundo esse ponto de vista, o iluministno é a condição que
derivará da progressiva eliminação dos obstáculos opostos à liberdade da espécie humana (Jbid., Tese
VIII).
d) Por fim, além da felicidade, da utilidade e da liberdade, os filósofos tomaram freqüentemente a paz
como medida ou critério da J. de uma ordenação normativa. Esse parâmetro foi introduzido por Hobbes:
para ele, é justa a ordenação que garanta a paz, afastando os homens do estado de guerra de todos contra
todos, em que vivem no "estado natural". De fato, para Hobbes a primeira lei da natureza, a primeira das
normas que permite afastar o homem do estado de guerra é a que prescreve perseguir a paz. "Para a
igualdade de forças e de todas as outras faculdades humanas, os homens que vivem no estado natural, isto
é, no estado de guerra, não podem pretender que sua conservação seja duradoura. Por isso, tender para a
paz enquanto brilhar alguma esperança de obtê-la, e só recorrer à guerra quando isso não for possível, é o
primeiro ditame da boa razão, a primeira lei da natureza" {De eive, I, § 15). No séc. XX, Kelsen contrapôs
à J. como "ideal irracional" a paz como medida empírica da eficiência das leis: "Uma teoria pode fazer
uma afirmação com base na experiência: só uma ordenação jurídica que não satisfaça aos interesses de
uns em detrimento de outros, mas que chegue a uma conciliação entre os interesses opostos, que reduza
ao mínimo seus
JUSTIÇA
596
JUSTIFICAÇÃO
possíveis atritos, pode contar com uma existência relativamente duradoura. Só uma ordenação dessa espécie estará
em condições de assegurar a paz social em bases relativamente permanentes a todos os que se lhe submetem. Embora
o ideal de J. em seu significado originário seja totalmente diferente do ideal de paz, existe nítida tendência a
identificar os dois ideais ou ao menos a substituir o ideal de J. pelo de paz" {General Theory, cit., I, I, A, c, 4; trad. it.,
p. 14).
Essa tendência, partilhada por muitos que julgam irrealizável o ideal de J. como felicidade ou liberdade, tende a
julgar a eficiência das normas com base em sua funcionalidade negativa, ou seja, em sua capacidade de evitar
conflitos. Sem dúvida, conforma-se mais ao espírito positivo de uma teoria do direito que pretenda ter como objeto
nada mais do que a técnica da coexistência humana. Mas na realidade o jusnaturalismo moderno, a partir de Grócio,
já havia alcançado, pelo menos nesse aspecto, uma generalização maior, exigindo que as normas do direito natural
servissem tanto para a paz quanto para a guerra, e que pudessem, pelo menos em parte, valer para qualquer condição
ou situação humana. Portanto, do ponto de vista da teoria geral do direito, mesmo a paz pode mostrar-se como
objetivo restrito demais para julgar da eficiência (isto é, da J.) das normas do direito. A guerra, assim como os
conflitos individuais e sociais, as competições, etc, constituem situações humanas recorrentes, mesmo que
indesejáveis; portanto, um juízo objetivo e sem preconceitos sobre as normas de direito deve medir sua eficiência
também com relação a tais situações e às possibilidades de superá-las. Na realidade, é possível aduzir apenas dois
critérios como fundamento de um juízo objetivo sobre ordenações normativas, visto que só eles valem não como fins,
absolutos ou relativos, mas como condições de validade de uma ordenação qualquer. O primeiro, já bastante
conhecido na tradição filosófica, é o de igualdade como reciprocidade, segundo o qual cada um deve esperar dos
outros tanto quanto os outros esperam dele. Na maioria das vezes em que a tradição filosófica definiu a J. como
igualdade (o que fez com freqüência a partir dos pitagóricos), pretendeu ressaltar esse mesmo caráter da J., o de
reciprocidade (cf. p. ex., HOBBES, Leviath., I. 14; De eive, III, § 6). O segundo critério pode ser deduzido do caráter
fundamental que garante a
validade do saber científico no mundo moderno: a autocorrigibilidade. Assim como o conhecimento científico se
define como tal só quando organizado com vistas à sua própria verificação e, portanto, à sua autocorrigibilidade,
também uma ordenação normativa define-se como tal (ou seja, consegue ser eficiente como ordenação) só quando é
organizada com vistas à sua eventual autocorreção. Os dois critérios citados, com as variações devidas, também
podem integrar-se. Podem conferir à palavra J. um significado tão distante do ideal transcendente e da aspiração
sentimental quanto da justificação interessada das ordenações em vigor. Não se deve esquecer também que a mais
eficaz e radical defesa de determinada ordenação ne varietur não foi feita pela demonstração, ou tentativa de
demonstração da J. de tal ordenação, mas simplesmente ignorando-se e eliminando-se a própria noção de justiça. De
fato, é isso o que acontece na filosofia do direito de Hegel, que considera o Estado como Deus realizado no mundo e
nega até a possibilidade de discutir a ordenação jurídica sob qualquer aspecto. Hegel dizia: "O direito é algo sagrado
em geral porque é a existência do Conceito Absoluto" (Fil. do dir., § 30). O emprego do conceito de J. no segundo
significado é o exercício do juízo, que deve ser possível para todos os homens livres, sobre as ordenações normativas
que os regem. Que hoje esse juízo não pode ser exercido com base em noções tautológicas ou ideais quiméricos é fato
reconhecido. Mas também é fato que ele pode e deve tornar-se objeto de uma disciplina específica que o torne
positivo e o mais rigoroso possível, sem subtraí-lo às suas condições empíricas. Desse forma, o conceito de J. ainda
pode reassumir a função que sempre teve: a de instrumento de reivindicação e de libertação. Para a distinção das
várias espécies de J., v. os verbetes: ATRIBUTIVA, JUSTIÇA; COMUTATIVO; DISTRIBUTTVO.
JUSTIFICAÇÃO (in. Justification; fr. Justi-fication; ai. Rechtfertigung; it. Giustificazione). Este termo, de origem
teológica, foi introduzido na filosofia como sinônimo da dedução kantiana (v. DEDUÇÃO TRANSCENDENTAL). A J.
concerne à questão do direito de usar certos conceitos. Essa questão é fundamento da postura crítica da filosofia
kantiana. Kant dizia: "Todos os metafísicos estão solene e legitimamente suspensos das suas funções enquanto não
responderem satisfatoriamente à pergunta:
JUSTIFICAÇÃO
597
JUSTIFICAÇÃO
'como são possíveis os conhecimentos sintéticos apriori?', pois só essa resposta pode autorizá-los a falar em nome da
razão pura" (Prol., § 5). Autorização e legitimação são os termos que Kant emprega para exprimir a exigência de J.
Segundo Kant, o fato de um conceito ser empregado não é J. do direito de empregá-lo. Em face dos conceitos é
preciso distinguir, como fazem os juristas, uma questão de fato e uma questão de direito (quid iuris). A última é,
precisamente, o objeto da J. ou dedução. A propósito, Kant distingue uma J. empírica, uma J. transcendental e uma J.
metafísica. A dedução empírica consiste em mostrar de que modo se chega a um conceito por meio da experiência e
da reflexão sobre ela. A dedução transcendental consiste em mostrar de que modo os conceitos apriori podem referirse aos objetos. A dedução metafísica consiste em mostrar "a origem apriori das categorias em geral, mediante seu
perfeito acordo com as funções lógicas do pensamento" (Crít. R. Pura, § 13, 26). Para Kant a verdadeira J. de um
conceito é a dedução transcendental, que consiste em mostrar a possibilidade da referência do conceito a um objeto
empírico. Assim sendo, Hegel mudou o conceito de J. quando a identificou com a exigência de mostrar a necessidade
do conceito. "A razão subjetiva" — disse ele — "exige
a sua satisfação ulterior no que diz respeito à forma, e essa forma é, em geral, a necessidade" (Ene, § 9). E acrescenta:
"Esse pensamento do modo de conhecimento, que é conhecimento filosófico, considerado tanto sob o aspecto de sua
necessidade quanto de sua capacidade de conhecer os objetos absolutos, precisa ser justificado. Mas a própria J. é um
conhecer filosófico que, por isso, se realiza só dentro da filosofia" (Ibid., § 10). Portanto, o conceito de J. dá lugar a
duas alternativas, segundo a modalidade que se exija dela: l s a demonstração da necessidade de um conceito, ou seja,
a demonstração de que ele não pode não ser e de que só pode ser do modo como é; 2 Q o esclarecimento da
possibilidade de um conceito em relação a um campo determinado, ou seja, a determinação da possibilidade de uso
do conceito. A filosofia contemporânea inclina-se a admitir e a usar esse segundo significado do termo, o único que
não depende de um ponto de vista idealista, considerando que um conceito é justificado nos dois casos seguintes:
a) quando seu uso em contexto formal (matemático ou lógico) não comporte contradição:
b) quando o conceito possa referir-se a um objeto verificável (como ocorre nos contextos reais, isto é, nos campos
dos conhecimentos empíricos).
K
K. Na lógica de Lukasiewicz, a letra K é usada para indicar a conjunção mais comumente simbolizada com um ponto
".". Cf. A. CHURCH, Introduction to Mathematical Logic, nB 91.
KANTISMO. V. CRITICISMO.
KENNETICO (in. Kennetic). Neologismo cunhado por A. F. Bentley e tirado do escocês ken ou kenning, que
significa "conhecer", para marcar a indagação transacional Unquiry into Inquiries, 1954) (v. TRANSAÇÃO).
L
L. Posposto ou anteposto a termos como conceito, verdade, etc, significa lógico. Em geral, como diz Carnap, um Ltermo, p. ex., "L-verdadeiro", aplica-se toda vez que o termo radical correspondente, p. ex., "verdadeiro", se aplique
com base em razões simplesmente lógicas, em oposição a razões de fato (Introduc-tion to Semantics, § 14).
LAICISMO (in Laicism-, fr. Laicisme; it. Laicismó). Com este termo entende-se o princípio da autonomia das
atividades humanas, ou seja, a exigência de que tais atividades se desenvolvam segundo regras próprias, que não lhes
sejam impostas de fora, com fins ou interesses diferentes dos que as inspiram. Esse princípio é universal e pode ser
legitimamente invocado em nome de qualquer atividade humana legítima, entendendo-se por "legítima" toda
atividade que não obste, destrua ou impossibilite as outras. Portanto, o L. não pode ser entendido apenas como
reivindicação de autonomia do Estado perante a Igreja, ou melhor, perante o clero, pois, como sua história demonstra,
já serviu à defesa da atividade religiosa contra a política e ainda hoje, em muitos países, tem essa finalidade; também
tem o fim de subtrair a ciência ou, em geral, a esfera do saber às influências estranhas e deformantes das ideologias
políticas, dos preconceitos de classe ou de raça, etc.
O Papa Gelásio I, que, no fim do séc. V, expunha num tratado e em algumas cartas a teoria denominada "duas
espadas", foi provavelmente o primeiro a recorrer explicitamente ao princípio do L., desconhecido na Antigüidade
clássica porque esta não conheceu conflitos de princípios entre as várias atividades humanas. A teoria das duas
espadas, ou seja, de dois po-deres distintos, ambos derivados de Deus, (o do papa e o do imperador), servia a Gelásio
I
para reivindicar a autonomia da esfera religiosa em relação à política. Durante muitos séculos foi doutrina oficial da
Igreja e ainda no séc. XII o canonista Estêvão de Tournai expressava-a com extrema clareza (Summa decretorum,
Intr.). O princípio expresso nesta doutrina continua o mesmo quando os papéis se invertem ou essa doutrina é
invocada para defender o poder político contra o eclesiástico, como faz João de Paris em seu tratado Sobre o poder
ré-gio e papal (1302-3), como fez Dante alguns anos mais tarde, em De monarchia; e como fizeram Marcílio de
Pádua no Defensor pacis (1324) e Guilherme de Ockham em suas obras políticas. Certamente as doutrinas políticas e
eclesiásticas desses escritores eram diferentes e vez por outra opostas, mas está claro que a teoria dos dois poderes
nada mais é que um apelo à autonomia das respectivas esferas de atividade e que a força do L. não está no particularismo das doutrinas, mas no reconhecimento de sua autonomia, que é o princípio do L. Esse princípio tornou-se
exigência fundamental na vida civil nas comunas italianas, francesas, belgas e alemãs (cf. SALVEMINI, Studi storici,
Florença, 1901; PIRENNE, Les villes du Moyen Âge, Bruxelas, 1927; DE LAGARDE, La naissance de Vesprit laique, ou
déclin du Moyen Age. Louvain-Paris, 3a ed., 1956); o Renascimento e o Iluminismo não passam de duas etapas
sucessivas de seu predomínio crescente na vida política e civil do Ocidente.
Mas, como se disse, o princípio do L. não vale somente nas relações entre a atividade política e a religiosa. Na
primeira metade do séc. XIV, Ockham reivindicava com energia a autonomia da atividade filosófica. A propósito da
condenação de algumas proposições de S. Tomás pelo Bispo de Paris, em 1277, ele dizia: "As asserções,
principalmente filosóficas, que não
LAICISMO
600
LATENTE
concernem à teologia não devem ser condenadas ou proibidas, pois nelas qualquer um deve ser livre para dizer
livremente o que lhe apraz" {Dialogus inter magistrum et discipulum de imperatorum etpontificumpotestate, I, II,
22). Essa foi a primeira e certamente uma das mais enérgicas afirmações do princípio do L. em filosofia, e deve-se a
um frade franciscano do séc. XIV. No séc. XMI Galilei afirmava o mesmo princípio em relação à ciência, opondo-se
aos limites e obstáculos que a autoridade eclesiástica pudesse impor à ciência. A Sagrada Escritura e a natureza —
dizia ele — procedem ambas do Verbo Divino, mas, enquanto a palavra de Deus teve de adaptar-se ao limitado
entendimento dos homens, a natureza é inexorável e imutável, e nunca transgride os termos das leis que lhe foram
impostas, pois pouco lhe importa se as suas razões recônditas são compreendidas ou não pelos homens: por isso, "os
efeitos naturais que a sensata experiência nos ponha diante dos olhos ou que as necessárias demonstrações nos levem
a concluir não devem por razão alguma ser postos em dúvida nem condenados, em nome de trechos da Escritura
cujas palavras tenham aparência diferentes" {Lett. alia Grand. Cristina, em op., V, p. 316). Galilei reivindicava assim
a autonomia da ciência, nos mesmos termos em que Ockham reivindicara a autonomia da filosofia. O princípio do L.
foi fundamento da cultura moderna e é indispensável à vida e ao desenvolvimento de todos os seus aspectos. Os
únicos adversários autênticos do L. são as correntes políticas totalitárias, que pretendem apoderar-se do poder
político e exercê-lo com o único objetivo de conservá-lo para sempre. Tais correntes pretendem de fato assenhorearse do corpo e da alma do homem, para impedir qualquer crítica ou rebeldia. Embora o Romantismo do séc. XIX haja
encorajado sua persistência ou revivescên-cia, hoje essas correntes sofrem a oposição da mesma situação objetiva que
exige, em qualquer campo, o desenvolvimento do saber positivo: esse saber, por sua vez, exige a autonomia de suas
regras, o que é L. Por outro lado, as correntes políticas totalitárias podem ser facilmente reconhecidas exatamente por
sua atitude em relação ao princípio do L.: quer se apoie numa confissão religiosa, quer se apoie numa ideologia
racista, classista ou de qualquer outra espécie, tendem, em primeiro lugar, a diminuir e em última instância a destruir
a autonomia das esferas espirituais, assim como tendem a
diminuir e a destruir os direitos de liberdade dos cidadãos. No plano das inter-relações das atividades humanas, o L.
desempenha o mesmo papel da liberdade no plano das inter-relações humanas: é o limite ou a medida que garante a
essas atividades a possibilidade de organizar-se e desenvolver-se, assim como a liberdade é o limite e a medida que
garante às relações humanas a possibilidade de manter-se e desenvolver-se.
Considerado em sua estrutura conceituai e histórica, o princípio do L. não tem qualquer caráter de antagonismo a
qualquer forma de religiosidade, nem mesmo ao catolicismo. Em primeiro iugar, ele freqüentemente foi útil aos
católicos na defesa da autonomia de sua atividade, constituindo ainda hoje a política oficial do catolicismo nos países
em que ele não tem partido político à disposição, como p. ex. nos países anglo-saxões. Em segundo lugar, é interesse
dos católicos, como de todos, que a administração do Estado, as ciências, a cultura, a educação e, em geral, as esferas
da atividade humana sejam organizadas e regidas por princípios que possam ser reconhecidos por todos, que sejam
independentes da inevitável disparidade de crenças e ideologias e que, por isso, tornem eficazes e fecundas as
atividades que neles se fundem. É bastante óbvio que as administrações políticas que favorecem certos grupos de
cidadãos em prejuízo de outros, em vista de suas crenças religiosas, são simplesmente ineficientes e corruptas, não
podendo reivindicar méritos "religiosos". Da mesma forma, os poderes judiciários que não aplicam com escrúpulo e
eqüidade a lei vigente do Estado, não oferecem garantias a ninguém, porque também são ineficientes e corruptos. A
ciência que serve a interesses de partidos, crenças e ideologias não pode ter méritos de nenhum tipo, não é uma
ciência. Poderia ser comparada a uma medicina que tomasse como critério de diagóstico, prognóstico e cura os
desejos do paciente ou de outras pessoas; uma medicina assim estruturada seria um caso de ciência "não laica",
clerical ou partidária. O L. não atende ao interesse deste ou daquele grupo político, religioso ou ideológico, mas ao
interesse de todos. Contanto que o interesse de todos seja o desenvolvimento harmônico das atividades que
asseguram a sobrevivência do homem no mundo.
LAMARQUISMO. V. EVOLUÇÃO.
LATENTE (lat. Latens). F. Bacon chamava de L. o processo natural que vai da causa efi-
IATITUDINÂRIO
601
LEI
ciente da matéria sensível à forma, ou seja, o processo de constituição da forma (Nov. Org., H, 1). Os processos
psíquicos latentes dos quais falava a psicologia do século passado hoje são denominados inconscientes ou
subconscientes.
IATITUDINÂRIO (in Latitudinarian-, fr. Latitudinaire, ai. Latitudinarier, it. Latitudina-rió). Kant denominou com
este termo aquele que, em alguns casos, admite a neutralidade moral, ou seja, a existência de atos ou caracteres
humanos indiferentes do ponto de vista moral: "Estes são os L. da neutralidade, para quem o homem não é bom nem
mau, podendo ser denominados indiferentistas, ou os L. da coalizão, para quem o homem é ao mesmo tempo bom e
mau, podendo ser denominados sincretistas." O oposto de L. é rigorista, ou seja, aquele que não admite neutralidade
moral alguma (Religion, I, Observação). Na igreja inglesa do séc. XVII, o substantivo indicará os defensores de uma
interpretação mais aberta dos dogmas tradicionais.
LAXISMO. V. RIGORISMO.
LEALDADE (in Loyalty). Dedicação voluntária, prática e completa de uma pessoa a uma causa. Foi assim que F.
Royce a definiu em seu livro Filosofia da L. (1908), assumindo-a como princípio geral da ética. A L. inclui
solidariedade para com os outros indivíduos, ou melhor, para com a comunidade de indivíduos, e contém o critério
para julgar o valor das causas, visto que permite reconhecer como inaceitável uma causa que impossibilite ou negue a
L. alheia. Portanto, segundo Royce, a L. à L. é o critério da vida moral.
LEGALIDADE (in Legality; fr. Légalité; ai. Legalitãt, Gesetzlichkeit; it. Legalitã). Conformidade de uma ação à lei.
Kant distinguiu a L. assim entendida da moralidade propriamente dita: "A conformidade ou desconformidade pura de
uma ação em relação à lei, sem referência ao móbil da ação, denomina-se L. (conformidade à lei); quando, porém, a
idéia do dever derivada da lei é ao mesmo tempo móbil da ação, tem-se a moralidade (doutrina moral)" (Met.
derSitten, Intr., § III; cf. Crít. R. Prãt, I, cap. III). Com forma mais atenuada, essa distinção fora introduzida por S.
Tomás, para distinguir a norma jurídica da norma moral (v. DIREITO); Kant utiliza-a com a mesma finalidade em
Metafísica dos costumes.
LEGALISMO (in Legalism; fr. Légalisme; ai. legalismus; it. Legalismo). Atitude de observância literal da lei. Na
moral, é o mesmo que
rigorismo (v.). Fora da moral, consiste em dar valor excessivo às prescrições ou aos procedimentos formais.
LEI (gr. vóu.oç; lat. Lex; in Law-, fr. Loi; ai. Gesetz; it. Leggè). Uma regra dotada de necessidade, entendendo-se por
necessidade: 1Q impossibilidade (ou improbabilidade) de que a coisa aconteça de outra forma; ou 2 B uma força que
garanta a realização da regra. A noção de L. é distinta da noção de regra e de norma. A regra (que é termo
generalíssimo) pode ser isenta de necessidade; são regras não só as L. naturais ou as normas jurídicas, mas também as
prescrições da arte ou da técnica. Norma é uma regra que concerne apenas às ações humanas e não tem por si valor
necessitante: portanto não são normas as leis naturais e as regras técnicas, e as normas, p. ex. de natureza moral, não
são coercitivas como as leis jurídicas. Desse ponto de vista, há apenas duas espécies de L.: as L. naturais e as L.
jurídicas. Como a noção de L. jurídica foi analisada no verbete DIREITO, resta-nos analisar a noção de L. natural.
Podemos distinguir as seguintes interpretações fundamentais: V L. como razão; 2e L. como uniformidade; 3a L. como
convenção; 42 L. como relação simbólica.
le A noção de L. como razão surgiu na Grécia antiga, com a transposição para o mundo natural do conceito de justiça
ou de ordem que havia sido elaborado para o mundo humano (cf. JAEGER, Paidéia, I, cap. 6; trad. it., I, pp. 212 ss.).
Anaximandro foi o primeiro a transpor a noção de dike do mundo da polis para o mundo da natureza, entendendo o
vínculo causai de nascimento e morte das coisas como uma L. que rege uma demanda judiciária, em que todos os
seres — diz ele — "devem sofrer as conseqüências de sua injustiça na ordem do tempo" (Pr. 9, Diels). Heráclito, por
sua vez, concebia essa L. como a própria razão ou Logos: dela "se alimentam todas as L. humanas" (Fr. 114, Diels).
Conquanto Platão (cf. Tim., 83 e) e Aristóteles (De caei, I, 1, 268 a 13) usem só excepcionalmente a expressão "L.
natural", foi graças a eles que o conceito de racionalidade da natureza e de expressibilidade dessa racionalidade em
proposições universais e necessárias acabou prevalecendo na história da filosofia. Lucrécio utilizou a expressão
"pacto da natureza" (foedus naturae: De rer. nat., V, 57, 924; VI, 906), e o conceito estóico de destino ou providência
é expressão do mesmo ponto de vista (DIÓG. L., VII, 149). Plotino admitia,
LEI
602
LEI
inclusive para as coisas que escapam ao destino, uma lei que dimana diretamente do Intelecto Divino {Enn., IV, 3,
15). A subjetivação das L. da natureza, realizada por Kant na tentativa de ver a "fonte" delas no intelecto, mais
precisamente nas formas a priori do intelecto (categorias), não muda muito o conceito de L. natural que, também ele,
continua sendo expressão da racionalidade da natureza, ainda que de uma racionalidade introduzida na natureza
(como fenômeno) pelo próprio intelecto. Kant diz: "As L. naturais, se consideradas como princípios do uso empírico
do intelecto, possuem ao mesmo tempo cunho de necessidade e, portanto, pelo menos a presunção de uma
determinação que derive de princípios válidos em si, a priori e anteriormente a qualquer experiência. Todas as L. da
natureza, sem distinção, estão sujeitas aos princípios superiores do intelecto e aplicam tais princípios a casos
particulares do fenômeno. Só esses princípios dão o conceito que contém a condição e, por assim dizer, o expoente de
uma regra geral, mas a experiência dá o caso que está submetido à regra" (Crit. R. Pura, Anal. dos princ, cap. II, sec.
3). Schelling interpretava a formulação das L. naturais como a transfiguração progressiva da natureza em
racionalidade: "A ciência da natureza chegaria ao auge da perfeição se conseguisse espiritualizar perfeitamente todas
as L. naturais em L. da intuição e do pensamento. Os fenômenos (o material) devem desaparecer inteiramente,
ficando apenas as L. (o formal). Assim, acontece que, quanto mais a L. extrapola o campo da natureza, tanto mais se
dissipa o véu que a envolve, os fenômenos tornam-se mais espirituais e por fim desaparecem totalmente. Os
fenômenos ópticos nada mais são que uma geometria cujas linhas são traçadas por meio da luz, e mesmo essa luz já
tem materialidade duvidosa" {System des transzendentalen Idealis-mus, 1800, Intr. § 1, trad. it., pp. 8-9). Pode-se
dizer que toda interpretação racionalista da ciência adota até certo ponto essa tese de Schelling. Desse ponto de vista,
a L. é apenas expressão da racionalidade da natureza, e sua formulação por parte da ciência tem o objetivo de reduzir
a natureza à razão.
22 A concepção de L. natural como relação constante entre os fenômenos foi proposta pela primeira vez por Hume.
Para ele, a L. natural é resultado de "uma experiência fixa e inalterável" {lnq. Cone. Underst., X, 1): a experiência da
"conjunção constante de objetos semelhantes",
à qual se reduz a relação causai. A conexão habitual e constante entre eventos diversos autoriza a falar de
causalidade, permite a previsão de eventos futuros e exclui o milagre {Lbid., VII, 2). Essa concepção era adotada por
Comte e, com ele, pela ciência positivista. "O caráter fundamental da filosofia positiva" — dizia Comte — "é
considerar todos os fenômenos como sujeitos a L. naturais invariáveis, cuja descoberta precisa e cuja redução ao
mínimo número possível constituem o objetivo de todos os nossos esforços." Essas L. não consistem em expor "as
causas geradoras dos fenômenos", mas só expressam aquilo que interliga os fenômenos mediante "relações normais
de sucessão e de semelhança" (Cours dephil.positive, I, liç. I, § II). Do mesmo ponto de vista Stuart Mill considerava
as L. como casos especiais da uniformidade da natureza. "As várias uniformida-des, quando verificadas por aquilo
que se considera uma indução suficiente, são denominadas, na linguagem comum, L. da natureza. Cientificamente
falando, essa expressão é empregada em sentido mais restrito para designar as uniformidades que foram reduzidas à
sua expressão mais simples" {Logic, III, 4, § 1). Essa concepção dominou todo o positivismo clássico e só entrou em
crise com o reconhecimento do caráter econômico das L. naturais, efetuado por Mach.
3Q O conceito de L. natural como convenção nasce da função econômica que Mach atribuíra ao conhecimento
científico, ao afirmar o caráter subjetivo das L. naturais. Só os nossos conceitos e a nossa intuição — diz ele —
prescrevem L. à natureza; "as L. naturais são as restrições que nós, guiados pela experiência, prescrevemos à nossa
expectativa dos fenômenos" {Erkenntniss und Irrtum, cap. 23; trad. fr., p. 368). O progresso da ciência leva à
crescente restrição das possibilidades de previsão, ou seja, à sua crescente determinação e precisão. Esse
reconhecimento do caráter econômico ou utilitário da ciência foi sobejamente encorajado pela filosofia de Bergson e
pelo pragmatismo. A primeira, atribuindo à inteligência apenas a função vital de fabricar objetos e de orientar-se no
mundo natural, transformava a ciência, que é a criação da inteligência, em "auxiliar da ação" (BERGSON, La penseé et
le mouvant, 3a ed., 1934, p. 158) e não podia atribuir às L. científicas qualquer validade teorética. O pragmatismo, por
sua vez, generalizando a tese da instrumentalidade da consciência encorajava a
LEI
603
LEI
interpretação das L. científicas como simples instrumentos da orientação prática do homem no mundo. Algumas
formas de espiritualismo e de idealismo interpretaram essa função econômica da ciência como sinal de sua
inferioridade teorética (e por vezes de todo o pensamento discursivo) em relação à filosofia e aos seus órgãos
específicos. Le Roy, levando ao extremo a crítica de Bergson, afirmou o caráter convencional da ciência e por isso a
natureza arbitrária de suas L. Para Le Roy, a tarefa da ciência é encontrar constantes úteis; e encontra-as porque a
ação humana não comporta precisão absoluta, mas exige apenas que a realidade seja aproximativamente representada,
em suas relações conosco, por um sistema de constantes simbólicas denominadas L. (Science et philoso-phie, 18991900). A mesma tese, num exagero quase caricatural, pode ser encontrada em Croce: "Como essas L. são construções
nossas e apresentam o móvel como fixo, além de não serem irrepreensíveis nem isentas de exceções, definitivamente
não existe fato real que não constitua exceção à sua L. naturalista". Isso acontece porque não existem uniformidades
rigorosas, e um ursinho nunca é totalmente semelhante aos seus pais. "Donde se poderia definir: as L. inexoráveis da
natureza são L. violadas a todo instante; ao contrário, L. filosóficas são as observadas o tempo todo. (...) As ciências
naturais, que não propiciam conhecimentos verdadeiros, têm ainda menos direito (se é lícito expressar-se assim) de
falar em previsão" (Lógica, II, cap. 5; 4a ed., 1920, p. 218). Poin-caré pronunciou-se contra a natureza convencional
das L., em polêmica com Le Roy. A L. não é uma criação arbitrária do cientista, mas a expressão aproximativa ou
provisória de uma constância de ação que permite a previsão. É bem verdade que por vezes algumas L. são erigidas
em princípio, escapando assim à verificação da experiência e à incessante revisão que esta comporta, mas nesse caso
a L. deixa de ser verdadeira ou falsa para tornar-se apenas cômoda, e a verificação continua sendo feita sobre as
relações que expressem "o fato bruto da experiência" (Le valeur de Ia science, p. 239). Poincaré observa também que
"o cientista cria no fato apenas a linguagem na qual o enuncia", mas que, uma vez enunciada uma previsão em
determinada linguagem, "não depende evidentemente dele que ela se realize ou não" (Lbid., p. 233). A mesma crítica
era dirigida à tese do caráter convencional das L. científicas por
Moritz Schilick. Utilizando a distinção entre enunciado e proposição, que é um enunciado dotado de significado (na
medida em que realmente cumpre a função de comunicar), Schilick julgou que "o conteúdo próprio de uma lei.
natural consiste no fato de que a certas leis gramaticais (p. ex., de uma geometria) correspondem algumas proposições
definidas como descrições verdadeiras da realidade". Uma vez que esse fato é completamente invariante com relação
a qualquer mudança arbitrária das regras gramaticais, não se pode reduzir as L. da natureza a meras convenções
lingüísticas. "Só as proposições são verdadeiras ou falsas, não os enunciados. Os enunciados realmente estão sujeitos
a modificações arbitrárias, mas isto não diz respeito a quem se preocupa com o conhecimento dos fatos. Com a ajuda
das regras dos símbolos (cuja gramática deve ser conhecida porque sem ela os enunciados não teriam sentido), é
possível chegar a proposições genuínas, cuja verdade não depende da predileção por símbolos" (Gesetz Kausalitât,
und Wahr-scheinlichkeit, Viena, 1948; agora em Readings in Phil. of Science, 1953, pp. 181 e ss.).
4o As críticas de Poincaré e Schilick à tese da natureza convencional da L. científica partem daquilo que se pode
denominar quarta concepção fundamental da L., que a vê como relação simbólica entre os fatos. Essa tese foi
expressa pela primeira vez por Duhem, no livro sobre Teoria física, que assim a resumiu: "Uma L. de física é uma
relação simbólica cuja aplicação à realidade concreta exige que se conheça e se aceite todo um conjunto de teorias"
(Théoriephysique, 1906, p. 274). Isto quer dizer que os termos simbólicos que uma lei inter-relaciona são abstrações
produzidas pelo trabalho lento, complicado e cônscio que serviu para elaborar as teorias físicas, e que esse trabalho
nunca está definitivamente acabado. "Toda L. física" — diz Duhem — "é aproximada; conseqüentemente, para o
lógico rigoroso, ela não pode ser verdadeira nem falsa; qualquer outra L. que represente as mesmas experiências com
a mesma aproximação pode pretender, com o mesmo direito da primeira, o título de L. verdadeira ou, para falar com
mais rigor, de L. aceitável" (lbid., p. 280). Esses conceitos permaneceram substancialmente inalterados na filosofia
contemporânea. As observações de Schilick contra a convencionalidade das L. naturais e em favor do seu caráter
simbólico constituem uma confirmação substancial do ponto de vista
LEI BIOGENÉTICA
604
LIBERALISMO
de Duhem. Uma L. é sempre um enunciado gramatical e sempre pressupõe a gramática da linguagem em que é
expressa; mas, embora essa gramática possa ser considerada convencional, o mesmo não pode ser dito do significado
da L., pois ele se refere a relações entre fatos verificavelmente constantes e capazes de possibilitar uma previsão
provável. Conquanto a teoria de Duhem tenha sido formulada antes do reconhecimento do caráter probabilista da
ciência, aquilo que ele chamava de "aproximação das L. da natureza" abria caminho para o que hoje se denomina
caráter probabilista das L Ou melhor, a função que a metodologia das ciências tende hoje a atribuir cada vez mais à L.
científica é a capacidade de previsão. Peirce disse: "Uma proposição não pode ser denominada 'lei da natureza'
enquanto sua capacidade de previsão não for submetida a prova confirmada de tal forma que não persista dúvida
sobre ela" (Values in a Universe of Chance, p. 290). Uma L. geralmente é uma fórmula para a previsão. Desse ponto
de vista, a L. deixa de ter a necessidade que a primeira e a segunda interpretações lhe atribuíam. Sua validade é
medida pela sua eficiência, e essa eficiência é medida pela possibilidade de obter com ela previsões suficientemente
corretas.
LEI BIOGENÉTICA. V. BIOGENÉTICA LEIBNIZIANISMO. V. CARACTERÍSTICA-, ESPIRITUALISMO.
LEI DA MÍNIMA AÇÃO. V. AÇÃO MÍNIMA. LEI DAS TRÊS ETAPAS. V. POSITIVISMO. LEI MODAL. V.
MODAL LEI PSICOFÍSICA. V. PSICOLOGIA, b.
LEKTON. V. SIGNIFICADO.
LEMA (gr. A.fj(X|ia; in. Lemma; fr. Lemme; ai. Lemma; it. Lenimà). 1. Proposição assumida como primeira
premissa de um raciocínio (ARISTÓTELES., Top., VIII, 1, 156 a, 21; DIÕG. L., VII, 76; CÍCERO, De divin. II, 53, 108).
Nesse sentido, Kant, chamava de L. a proposição que uma ciência extrai de outra e aceita sem demonstração (Crít. do
Juízo, § 68; Logik, § 39).
2. Teorema matemático lateral ou subordinado, fora de sua cadeia dedutiva (LEIBNIZ, Nouv. ess., IV, 2, 8).
LENINISMO. V. COMUNISMO.
LETÍCIA (gr. ewppoown; lat. Laetitia). V ALEGRIA.
LEVIATÃ (in. Leviathan). Com esse nome, de um monstro bíblico (Jacó, 40, 20), Hobbes denominou "o Estado —
em latim civitas—, que é
um homem artificial, ainda que de maior estatura e força que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi
idealizado" {Leviath., Intr.); e deu esse título à sua obra política fundamental (1561).
LIBERALISMO (in. Liberalism; fr. Libéralis-me; ai. Liberalismus, it. Liberalismo). Doutrina que tomou para si a
defesa e a realização da liberdade no campo político. Nasceu e afirmou-se na Idade Moderna e pode ser dividida em
duas fases: 1- do séc. XVIII, caracterizada pelo individualismo; 2- do séc. XIX, caracterizada pelo estatismo.
Ia A primeira fase é caracterizada pelas seguintes linhas doutrinárias, que constituem os instrumentos das primeiras
afirmações políticas do L.: d) jusnaturalismo (\O, que consiste em atribuir ao indivíduo direitos originários e
inalienáveis; b) contratnalismo (v.), que consiste em considerar a sociedade humana e o Estado jomo fruto de
convenção entre indivíduos; c) L. econômico, próprio da escola fisiocrática, que combate a intervenção do Estado nos
assuntos econômicos e quer que estes sigam exclusivamente seu curso natural (v. ECONOMIA); d) como conseqüência
global das doutrinas precedentes, negação do absolutismo estatal e redução da ação do Estado a limites definidos,
mediante a divisão dos poderes (v. ESTADO). O postulado fundamental dessa fase do L. é a coincidência entre
interesse privado e público. Jusnaturalistas e moralistas, como Bentham, acreditavam que bastava ao indivíduo buscar
inteligentemente sua própria felicidade para estar buscando, simultaneamente, a felicidade dos demais. A doutrina
econômica de Adam Smith baseia-se no pressuposto análogo da coincidência entre o interesse econômico do
indivíduo e o interesse econômico da sociedade (v. INDIVIDUALISMO).
2- A segunda fase do L. começa quando esse postulado entra numa crise cujos precedentes se encontram nas
doutrinas políticas de Rous-seau, Burke e Hegel, bem como no fato de que, no terreno político e econômico, o L.
individualista parecia defender uma classe determinada de cidadãos (a burguesia), e não a totalidade dos cidadãos. O
Contrato social (1762) de Rousseau já constitui uma guinada no indi-vidua ismo. Para Rousseau, os direitos que o
jusnat jralismo atribuíra aos indivíduos pertencem apenas ao cidadão. "O que o homem perde com o contrato social é
sua liberdade e o direito ilimitado a tudo o que o tenta e que ele
LIBERALISMO
605
LIBERDADE
pode obter; o que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui". Mas, na realidade, só "a obediência
à lei que prescrita é liberdade", de tal forma que só no Estado o homem é livre (Contraí social, I, 8). A afirmada
infalibilidade da "vontade geral", resultante da "alienação total de cada associado com todos os seus direitos a toda a
comunidade" (Ibid., I, 6), transforma aquilo que para o individualismo é a coincidência do interesse individual com o
interesse comum em coincidência — preliminar e garantida — do interesse estatal com o interesse individual. Desta
forma, ia-se afirmando a superioridade do Estado sobre o indivíduo contra a qual o L. se insurgira em sua primeira
fase. Tal superioridade também é reconfirmada por Burke: "A sociedade é um contrato, mas, embora os contratos
sobre objetos de interesse ocasional possam ser desfeitos a bel-prazer, não se pode considerar que o Estado tenha o
mesmo valor de um acordo entre partes num comércio de especiarias e café. (...) Deve-se considerá-lo com reverência
porque não é a participação em coisas que servem somente à existência animal.(...): é uma sociedade em todas as
ciências, em todas as artes, em todas as virtudes e em toda a perfeição" (Reflection on the Revolution in France, 1700;
Works, II, p. 368). Mas o ponto alto dessa nova concepção de Estado encontra-se na doutrina de Hegel, para quem ele
é "o ingresso de Deus no mundo", razão pela qual seu fundamento é a potência da razão que se realiza como vontade"
(Fil. dodir., § 258, Zusatz). Com essa exaltação do Estado concordava outro ramo do romantismo do séc. XIX, o
positivismo: Comte preconizava um estatismo tão absolutista quanto o hegelia-no (Système de politique positive,
1851-54; IV, p. 65), e Stuart Mill, mesmo sem fazer concessões às concepções absolutistas, deixava grande margem à
ação do Estado, mesmo no domínio que, para o liberalismo clássico, deveria ficar reservado exclusivamente para a
iniciativa individual: o econômico (Principies ofPolitical Economy, 1848). O ensaio Sobre a liberdade (1859), de
Stuart Mill, tendia, ao mesmo tempo, a retirar a liberdade do rol de condições indispensáveis para o exercício da
atividade moral, jurídica, econômica, etc. (segundo a concepção do L. clássico), e a transformá-la num ideal ou valor
em si (independente das possibilidades que oferece). Isso não impede que essa obra seja uma das mais nobres e
apaixonadas defesas da liberdade.
Nas primeiras décadas do séc. XX assistiu-se à continuação desse L. estatista. Tanto o idealismo inglês quanto o
italiano insistiram no caráter divino do Estado. Foi o que fizeram Bosan-quet (The Philosophical Theory of the State,
1899) e Gentile, que identificou o Estado com o Eu Absoluto (Genesi e struttura delia società, póstuma, 1946). A
inspiração hegeliana prevalecia também na doutrina de Croce, que no entanto permaneceria fiel ao ideal clássico de
liberdade, demonstrando-o na prática, durante o fascismo. Para Croce, L. é a doutrina do desenvolvimento dialético
da história, que tudo absolve e justifica, mesmo o absolutismo e a negação da liberdade (Ética epolítica, 1931, p.
290). O socialismo marxista pode ser considerado uma das manifestações dessa mesma forma de L. (ao qual se liga
diretamente através de Hegel) (v. MATERIALISMO).
Os partidos políticos que, a partir do início do séc. XIX, desfraldaram a bandeira liberal inspiraram-se em uma e em
outra das diretrizes fundamentais ora expressas: individualismo ou estatismo. Portanto, um grande número de
correntes políticas díspares e por vezes opostas puderam falar em nome do L. (DE RUGGIERO. Storia delL. europeo,
1925): partidos que negaram o valor do Estado (como o radicalismo inglês do século passado), partidos que
exaltaram o valor do Estado (como a chamada "direita histórica" da Itália após o resorgimento), partidos que
recusaram qualquer ingerência do Estado em assuntos econômicos (como fazem ainda hoje alguns partidos liberais
europeus), partidos que defendem a intervenção do Estado na iniciativa e na direção dos negócios econômicos,
partidos que consideraram a liberdade como condição para a prática de qualquer atividade humana e partidos que a
relegaram para o empíreo dos "valores" puros. Esses contrastes são a manifestação evidente do caráter compósito da
doutrina liberal, caráter este que decorre do modo aproximativo e confuso como foi tratada a noção que deveria ser
fundamental para o L.: a de liberdade. O recurso casual ou sub-reptício a um ou outro dos conceitos de liberdade
elaborados na história do pensamento filosófico tornou a idéia liberal em política confusa e oscilante, conduzindo-a
por vezes à defesa e à aceitação da não-liberdade (v. LIBERDADE).
LIBERDADE (gr. èXe\)6epía; lat. Libertas; in. Freedom, Liberty; fr. Liberte; ai. Freiheit; it. Liberta). Esse termo
tem três significados fun-
LIBERDADE
606
LIBERDADE
damentais, correspondentes a três concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história e que podem ser
caracterizadas da seguinte maneira: Ia L. como autodeterminação ou autocausalidade, segundo a qual a L. é ausência
de condições e de limites; 2- L. como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da precedente, a
autodeterminação, mas atri-buindo-a à totalidade a que o homem pertence (Mundo, Substância, Estado); 3 a L. como
possibilidade ou escolha, segundo a qual a L. é limitada e condicionada, isto é, finita. Não constituem conceitos
diferentes as formas que a L. assume nos vários campos, como p. ex. L. metafísica, L. moral, L. política, L.
econômica, etc. As disputas metafísicas, morais, políticas, econômicas, etc, em torno da L. são dominadas pelos três
conceitos em questão, aos quais, portanto, podem ser remetidas as formas específicas de L. sobre as quais essas
disputas versam.
Ia Para a primeira concepção, de L. absoluta. incondicional e, portanto, sem limitações nem graus, é livre aquilo que é
causa de si mesmo. Sua primeira expressão encontra-se em Aristóteles. Embora a análise aristotélica do voluntarismo
das ações pareça recorrer ao conceito da L. finita, a definição de voluntário é a mesma de L. infinita: voluntário é
aquilo que é "princípio de si mesmo". Aristóteles começa afirmando que a virtude e o vício dependem de nós; e
prossegue: "Nas coisas em que a ação depende de nós a não-ação também depende; e nas coisas em que podemos
dizer não também podemos dizer sim. De tal forma que, se realizar uma boa ação depende de nós, também dependerá
de nós não realizar má ação" (Et. nic, III, 5, 1113 b 10). Isso já fora dito por Platão no mito de Er. Mas para
Aristóteles significa que "o homem é o princípio e o pai de seus atos, assim como de seus filhos" (Ibid.). De fato, "só
para quem tem em si mesmo seu próprio princípio, o agir ou o não agir depende de si mesmo" (Ibid., III,. 1, 1110 a
17); assim o homem "é o princípio de seus atos" {Ibid., III, 3, 1112 b 15-16). Essa noção de "princípio de si mesmo" é
a definição da lei incondicionada, encontrada, p. ex., em Cícero: "Para os movimentos voluntários da alma não se
deve procurar uma causa alheia, pois o movimento está em nosso poder e depende de nós: nem por isso é sem causa,
visto que sua causa é sua própria natureza" (De fato, II). Em Epicuro, a noção de L. tinha o mesmo significado de
autodeterminação absoluta, que para ele começava nos átomos, aos quais atribuía o poder de desviar-se da própria trajetória.
Lucrécio diz: "Podemos desviar nossos movimentos sem sermos determinados pelo tempo nem pelo lugar, mas pelo
que nos inspira nosso espírito; pois sem dúvida a vontade é o princípio desses atos e através dela o movimento se
expande por todos os membros" (De rer. nat., II, 260). A noção de L. como autocausalidade ou autodeterminação
(aÚT07tpa7Ía) também é o fundamento do conceito de L. como necessidade. Os es-tóicos admitiam que eram livres
as ações que têm em si mesmas causa ou princípio: "Só o sábio é livre, e todos os malvados são escravos, pois L. é
autodeterminação, enquanto escravidão é falta da autodeterminação" (DIÓG. L., VII, 121). Epicteto,
conseqüentemente, dizia que eram "livres" as coisas que estão "em nosso poder", ou seja, os atos do homem que têm
princípio no próprio homem (Dis., 1,1).
Este conceito foi transmitido durante toda a Idade Média. Orígenes foi o primeiro a defendê-lo no mundo cristão,
esclarecendo-o no sentido de que a L. consiste não só em ter em si a causa dos próprios movimentos, mas também em
ser essa causa. Esta definição, que se aplica a todos os seres vivos, privilegia o homem porque a causa dos
movimentos, humanos é aquilo que o próprio homem escolhe como móbil, enquanto juiz e árbitro das circunstâncias
externas (De princ, III, 5). Considerações análogas ocorrem em De libero arbítrio de S. Agostinho (cf., p. ex., I, 12;
III, 3; III, 25). Em outro trecho ele diz: "Sente que a alma se movimenta por si só quem sente em si a vontade"
(Dediv. quaest., 83, 8). Alberto Magno dizia que era livre o homem que é causa de si e que não é coagido pelo poder
de outro (S. Th., II, 16, 1). E, para S. Tomás, "o livre-arbítrio é a causa do movimento porque pelo livre-arbítrio o
homem determina-se a agir". S. Tomás acrescenta que, para existir L., não é necessário que o homem seja a primeira
causa de si mesmo, como de fato não é, pois a primeira causa é Deus. Mas a Primeira Causa não impede a
autocausalidade do homem (Ibid., I, q. 83, a. 1; cf. Contra Gent., II, 48). A última escolástica manteve esse conceito
de L., aliás acentuando a indiferença da vontade com relação aos seus possíveis determinantes. Duns Scot afirma que
"a L. da nossa vontade consiste em poder decidir-se por atos opostos, seja depois, seja no mesmo instante" (Op. Ox, I,
d. 39, q. 5, n. 16).
LIBERDADE
607
LIBERDADE
Esta possibilidade de decidir-se por atos opostos expressa a perfeita indiferença da vontade com relação a todas as
motivações possíveis. Ockham, mesmo negando a possibilidade simultânea de atos opostos, também frisa a
indiferença absoluta da vontade: "Por L. entende-se o poder de, indiferente e contingentemente, propor coisas
diferentes, de tal forma que posso causar ou não o mesmo efeito, sem que haja diversidade alguma, a não ser nesse
poder" (Quodl, I, q. 16). Mas Ockham não julga que seja possível demonstrar que a vontade é livre nesse sentido. A
L. só pode ser conhecida por experiência, pois "o homem sente que, mesmo que a razão lhe dite alguma coisa, a
vontade pode querê-la ou não" (Ibid., I, q. 16). Buridan observava a esse respeito que a L. não consiste em poder
deixar de seguir o juízo do intelecto, porque, se o intelecto reconhecesse com evidência que dois bens são
perfeitamente iguais, não poderia decidir-se nem por nenhum dos dois; consiste, sim, em poder suspender ou impedir
o juízo do intelecto (In Eth., III, q. 1-4). E assim propunha as premissas do caso que se denominou O Asno de
Buridan (v.): este, por não ter L., morre de fome na mesma condição em que o homem pode suspender o juízo e fazer
arbitrariamente a escolha.
O conceito de autropraguia ou causa sui ocorre com freqüência na filosofia moderna e contemporânea. "A substância
livre" — diz Leibniz — "determina-se por si mesma, seguindo o motivo do bem que é percebido pela inteligência,
que a inclina sem necessitá-la: todas as condições da L. estão compreendidas nestas poucas palavras" (Théod., III, §
288). Este mesmo conceito levou Kant a admitir o caráter "numê-nico" da liberdade: "Se tivermos de admitir a L.
como propriedade de certas causas dos fenômenos, ela deve, em relação aos fenômenos como eventos, ter a faculdade
de iniciar por si (sponte) a série de seus efeitos, sem que a atividade da causa precise ter início e sem que seja
necessária outra causa que determine tal início" (Prol, § 53). A "faculdade de iniciar por si um evento" é exatamente
a causa sui do conceito tradicional de liberdade. Esta é também denominada, no mesmo sentido, "espontaneidade
absoluta", ou seja, atividade que não recebe outra determinação senão de si mesma {Crít. R. Pura, I, livro I, cap. III,
Elucidação crítica). Mas, mesmo como causa sui ou espontaneidade absoluta, "a causa livre, em seus estados, não
pode ser submetida a determinações de tempo,
não deve ser um fenômeno, deve ser uma coisa em si e só os seus efeitos devem ser julgados fenômenos" (Prol, §
53). Kant quis conciliar a L. humana, como poder de autodeterminação, com o determinismo natural que, para ele,
constitui a racionalidade da natureza; por isso considerou a L. como númeno, pois aquilo que, de um ponto de vista
(dos fenômenos), pode ser considerado necessidade, de outro ponto de vista (do númeno), pode ser considerado L.
Mas o conceito de L. não sofreu inovação alguma com esse artifício kantiano. Esse mesmo conceito é expresso por
Fichte: "A absoluta atividade também é denominada L. A L. é a representação sensível da auto-atividade"
(Sittenlehre, Intr., 7, em Werke, IV, p. 9).
Esse mesmo conceito está hoje presente em todas as formas de indeterminismo (v.). Nas formas espiritualistas do
indeterminismo (que são as mais difundidas), a autodeterminação é considerada uma experiência interior
fundamental, uma espécie de criação "interior"; torna-se a "autocriação do eu". Maine de Biran afirma: "A L. ou a
idéia de L., tomada em sua fonte real, nada mais é que o sentimento que temos de nossa atividade ou desse poder de
agir, de criar o esforço constitutivo do eu" (Essai sur les fondements de Ia psychologie, 1812, em CEuvres, ed.
Naville, I, p. 284). Concepção análoga pode ser encontrada em Mi-krókosmus de Lotze (I, pp. 283 ss.) e, com alguma
atenuação, em Nouvelle monadologie, de Renouvier (pp. 24 ss.). O espiritualismo francês, com Sécretan, Ravaisson,
Lachelier, Bou-troux, Hamelin, atém-se estritamente a esse mesmo conceito. "O conhecimento das leis das coisas" —
diz Boutroux — "permite-nos dominá-las e assim, em vez de prejudicar nossa L., o mecanismo torna-a eficaz."
Portanto, não somente as coisas internas, como queria Epicteto, mas também as externas dependem de nós (De 1'idée
de loi naturelle, 1895, pp. 133, 143). Desse ponto de vista, o motivo não é a causa necessitante da ação. humana: a
vontade dá preferência a um motivo mais que a outro, e o motivo mais forte não o é independentemente da vontade,
mas sim em virtude dela (La contingence de lois de Ia nature, 1874, p. 124). O conceito bergsoniano de L. outra
coisa não faz senão reexpor essa mesma tese. Bergson afirma que o conceito de L. por ele defendido situa-se entre a
noção de L. moral, isto é, da "independência da pessoa perante tudo o que não é ela mesma", e a noção de livrearbítrio,
LIBERDADE
608
LIBERDADE
segundo o qual aquilo que é livre "depende de si mesmo assim como um efeito depende da causa que o determina
necessariamente". Contra esta última concepção, Bergson objeta que os atos livres são imprevisíveis e que, portanto,
não se lhes pode aplicar a causalidade, segundo a qual causas iguais têm efeitos iguais. Por isso, a L. continua
indefinivel; e deve ser identificada com o processo da vida consciente, ou seja, com a duração real (Essais sur les
données immédiates de Ia conscience, 1899, pp. 131 ss.). Mas na realidade o conceito de livre-arbí-trio partia
precisamente da imprevisibilidade dos fatos humanos (os chamados "futuros contingentes") e da autocausalidade da
vontade. A doutrina bergsoniana nega a indiferença da vontade aos motivos, somente para sustentar que a vontade
cria ou constitui os motivos e confere-lhes a força determinante de que dispõem. Mas dessa forma a autodeterminação
continua sendo definição de liberdade; como tal permanece também no conceito (proposto por F. LOMBARDI, La
liberta dei volere e iindividuo, 1941, p. 192) de ato ou movimento que "se reproduz ou se produz continuamente",
levando consigo, nessa autoprodução, "todo o mundo em que atua". Não tem sentido diferente a doutrina de Sartre,
para quem a L. é a escolha que o homem faz de seu próprio ser e do mundo. "Mas exatamente por se tratar de uma
escolha, na medida em que é feita, essa escolha geralmente indica outras tantas como possíveis. A possibilidade
dessas outras escolhas não é explicitada nem proposta, mas é vivida no sentimento de injustificabilidade e expressa
na absurdidade da minha escolha, conseqüentemente do meu ser. Assim, minha L. devora a minha L. Sendo livre,
projeto o meu possível total, mas com isto proponho que sou livre e que posso aniquilar esse meu primeiro projeto e
relegá-lo ao passado" (L'être et le néant, p. 560). Mas uma escolha que não tem nada a escolher, que não é limitada
por determinadas condições, de escolha só tem o nome; na realidade, é uma autocriaçâo gratuita. A doutrina de Sartre
só faz levar ao extremo o antigo conceito de L. como autocausalidade.
Recorrem a este conceito tanto o indetermi-nismo quanto o determinismo. O que o determinismo nega é o mesmo que
o indetermi-nismo afirma: a possibilidade de uma causa sui. Vimos que o próprio Kant considerava-a impossível no
domínio dos fenômenos e a confiava ao
domínio do númeno: foi o que fez também Schopenhauer, que considerou válidas as razões apresentadas por Priestley
em sua Doutrina da necessidade filosófica (v. DETERMINISMO) e afirmou que a L. como autocausalidade é apenas da
vontade como força numênica ou metafísica, da vontad? como princípio cósmico (Die Welt, I, § 55). Em geral o
determinismo consiste em julgar universal o alcance do princípio de causalidade em sua força empírica e portanto em
negar a causalidade autônoma. Neste sentido, Claude Bernard afirmava a inércia dos corpos vivos tanto quanto dos
inorgânicos, que é a incapacidade de entrar em movimento por si mesmos: e nessa inércia percebia a condição para o
reconhecimento do determinismo absoluto (Intr ã Vétude de Ia medicine expérimenta-le, 1865, II, 8).
O equivalente político da concepção de L. como autocausalidade é a noção de L. como ausência de condições ou de
regras e recusa de obrigações; numa palavra, anarquia. Na maioria das vezes, esse conceito é utilizado como
instrumento de polêmica, para negar a própria L. Platão foi o primeiro a fazer isso quando pretendeu demonstrar que
da demasiada L. concedida pelo regime democrático nascem a tirania e a escravidão. De fato, a recusa constante de
limites e restrições "torna os cidadãos tão suscetíveis que, tão logo se lhes proponha algo que pareça ameaçar sua
liberdade, eles se me-lindram, rebelam-se e terminam rindo das leis escritas e não escritas, porque não querem de
forma alguma submeter-se a nenhum comando" (Rep., VIII, 563 d). A L. aqui é entendida (não por Platão, como
veremos mais adiante) como ausência de medida, recusa de normas. O ilimitado poder sobre todas as coisas, que,
para Hobbes, constitui a L. em estado natural (De eive, I, § 7), tem o mesmo significado. Filmer acreditava estar
expressando o significado da doutrina de Hobbes quando dizia: "A L. consiste em cada um fazer o que lhe aprouver,
em viver como quiser, sem estar vinculado a lei nenhuma" (Observations upon Mr. Hobbes's Leviathan, 1652, p. 55).
Mas talvez a melhor e mais coerente expressão dessa noção de L. seja o Único de Max Stiner: o indivíduo que não
tem causa fora de si, que é sua própria causa e causa de tudo. Nessa forma extrema a tese da L. anárquica raramente é
defendida: na maioria das vezes é pressuposta como termo de polêmica, reduzindo-se a ela (em boa ou má-fé) as
demais concepções de L. política.
LIBERDADE
609
LIBERDADE
2- A segunda concepção fundamental identifica L. com necessidade. Esta concepção tem estreito parentesco com a
primeira. O conceito de L. a que se refere é ainda o de causa sui; contudo, como tal, a L. é não atribuída à parte, mas
ao todo: não ao indivíduo, mas à ordem cósmica ou divina, à Substância, ao Absoluto, ao Estado. A origem dessa
concepção está nos estóicos, para os quais, como vimos, "a L. consiste na autodeterminação e portanto só o sábio é
livre" (DlÓG. L., VII, 121). Mas por que o sábio é livre? Porque só ele vive em conformidade com a natureza, só ele
se conforma à ordem do mundo, ao destino (DIÓG. L., VII, 88; STOBEO, Flor., VI, 19; CÍCERO, De fato, 17). A L. do
sábio coincide, portanto, com a necessidade da ordem cósmica. Crisipo, porém, procura fugir a essa conseqüência
distinguindo as causas perfeitas e principais das causas auxiliares e próximas; o destino age sobretudo através das
primeiras, mas entre as últimas está o assenti-mento que o homem dá às coisas e, conseqüentemente, sua ação. É
como acontece com o cilindro: basta dar um empurrãozinho para que ele role por um plano inclinado: graças à
natureza do cilindro e do plano, ele continuará rolando se for empurrado, mas para que isso aconteça é necessário o
empurrão. Da mesma forma, a ordem das.coisas é tal que, uma vez iniciadas, as ações continuam de determinado
modo, mas, para que sejam iniciadas, é necessário o assentimento do homem e esse assenti-mento permanece em
poder dele (CÍCERO, De fato, 18-19). Todavia para Crisipo também a L. é apenas adequação entre assentimento
humano e ordem cósmica: as causas auxiliares pertencem à ordem necessária do mundo tanto quanto as causas
principais, e o empurrão que faz o cilindro rolar pertence a essa ordem tanto quanto a forma do cilindro e o plano
sobre o qual ele rola. Desse ponto de vista, negar que o homem como tal é livre e afirmar que ele é livre enquanto
manifestação da autodeterminação cósmica ou divina são a mesma coisa. Tudo fica muito claro na formulação de
Spi-noza: "diz-se que é livre o que existe só pela necessidade de sua natureza e que é determinado a agir por si só
enquanto é necessário ou coagido aquilo que é induzido a existir e a agir por uma outra coisa, segundo uma razão
exata e determinada" (Et., I, def. 7). Nesse sentido, só Deus é livre, pois só Ele age com base nas leis de sua natureza
e sem ser obrigado por ninguém (Ibid., I, 17, corol. II), ao passo que o homem, como qualquer outra coisa, é determinado pela necessidade da natureza divina e pode julgar-se livre somente
enquanto ignora as causas de suas volições e de seus desejos (Ibid, I, ap.; II, 48). Contudo, poderá tornar-se livre se
for guiado pela razão (Ibid., IV, 66, scol.), se agir e pensar como parte da Substância Infinita e reconhecer em si a
necessidade universal dela (Ibid., V, VI, scol.). Em outros termos, o homem torna-se livre através do amor intelectual
por Deus (que é exatamente o conhecimento da necessidade divina): amor que é idêntico ao amor com que Deus se
ama (Ibid., V, 36, scol.). Nenhuma inovação foi introduzida nesse ponto de vista pela elaboração e ampliação feitas
pela filosofia romântica. Schelling afirma explicitamente a coincidência entre liberdade e necessidade: "O Absoluto
age por meio de cada inteligência, ou seja, sua ação é absoluta porquanto não é livre nem desprovida de L., mas as
duas coisas ao mesmo tempo: absolutamente livre e por isso também necessária" (System des transzendentalen
Idealismus, IV, E). Em Investigações filosóficas sobre a essência da L. humana (1809), Schelling transfere para
Deus, ou melhor, para a natureza ou fundamento de Deus, o ato com que o homem escolhe essa natureza ou
fundamento, pelo qual todas suas inclinações ou ações serão determinadas. A tendência a atribuir a L. ao Absoluto e a
identificá-la com a necessidade explicita-se assim como característica típica da concepção romântica. Hegel
contrapõe "o conceito abstrato de L.", isto é, a L. como exi gência ou possibilidade, à "L. concreta", que é a "L. real"
ou "a própria realidade" do espírito ou dos homens (Ene, § 482; Fil. do dir, § 33, Zusatz). Essa L. real, realidade
mesma do homem, é o Estado, que, exatamente por isso, é considerado "Deus real" (Fil. do dir., § 258, Zusatz). O
Estado é "a realidade da L. concreta" (Ibid., § 260). Isso significa que ele "é a realidade em que o indivíduo tem L. e a
usufrui, mas só quando o indivíduo é ciência, fé e vontade do universal. Assim, o Estado é o centro dos outros
aspectos concretos da vida: direito, arte, costumes, bem-estar. No Estado, a L. é realizada objetiva e positivamente".
Isto não significa que a vontade subjetiva do indivíduo se realize através da vontade universal, que seria, portanto, um
meio para ela; significa que a vontade universal se realiza através dos cidadãos, que, nesse aspecto, são seus
instrumentos. "O direito, a moral e o Estado, e somente eles, são
LIBERDADE
608
LIBERDADE
segundo o qual aquilo que é livre "depende de si mesmo assim como um efeito depende da causa que o determina
necessariamente". Contra esta última concepção, Bergson objeta que os atos livres são imprevisíveis e que, portanto,
não se lhes pode aplicar a causalidade, segundo a qual causas iguais têm efeitos iguais. Por isso, a L. continua
indefinível; e deve ser identificada com o processo da vida consciente, ou seja, com a duração real (Essais sur les
données immédiates de Ia conscience, 1899, pp- 131 ss.). Mas na realidade o conceito de livre-arbí-trio partia
precisamente da imprevisibilidade dos fatos humanos (os chamados "futuros contingentes") e da autocausalidade da
vontade. A doutrina bergsoniana nega a indiferença da vontade aos motivos, somente para sustentar que a vontade
cria ou constitui os motivos e confere-lhes a força determinante de que dispõem. Mas dessa forma a autodeterminação
continua sendo definição de liberdade; como tal permanece também no conceito (proposto por F. LOMBARDI, La
liberta dei volere e Vindividuo, 1941, p. 192) de ato ou movimento que "se reproduz ou se produz continuamente",
levando consigo, nessa autoprodução, "todo o mundo em que atua". Não tem sentido diferente a doutrina de Sartre,
para quem a L. é a escolha que o homem faz de seu próprio ser e do mundo. "Mas exatamente por se tratar de uma
escolha, na medida em que é feita, essa escolha geralmente indica outras tantas como possíveis. A possibilidade
dessas outras escolhas não é explicitada nem proposta, mas é vivida no sentimento de injustificabilidade e expressa
na absurdidade da minha escolha, conseqüentemente do meu ser. Assim, minha L. devora a minha L. Sendo livre,
projeto o meu possível total, mas com isto prononho que sou livre e que posso aniquilar esse meu primeiro projeto e
relegá-lo ao passado" (Vêtre et le néant, p. 560). Mas uma escolha que não tem nada a escolher, que não é limitada
por determinadas condições, de escolha só tem o nome; na realidade, é uma autocriação gratuita. A doutrina de Sartre
só faz levar ao extremo o antigo conceito de L. como autocausalidade.
Recorrem a este conceito tanto o indetermi-nismo quanto o determinismo. O que o determinismo nega é o mesmo que
o indetermi-nismo afirma: a possibilidade de uma causa sul Vimos que o próprio Kant considerava-a impossível no
domínio dos fenômenos e a confiava ao
domínio do númeno: foi o que fez também Schopenhauer, que considerou válidas as razões apresentadas por Priestley
em sua Doutrina da necessidade filosófica (v. DETERMINISMO) e afirmou que a L. como autocausalidade é apenas da
vontade como força numênica ou metafísica, da vontad: como princípio cósmico (Die Welt, I, § 55). Em geral o
determinismo consiste em julgar universal o alcance do princípio de causalidade em sua força empírica e portanto em
negar a causalidade autônoma. Neste sentido, Claude Bernard afirmava a inércia dos corpos vivos tanto quanto dos
inorgânicos, que é a incapacidade de entrar em movimento por si mesmos: e nessa inércia percebia a condição para o
reconhecimento do determinismo absoluto (Intr. à 1'étude de Ia medicine expérimenta-le, 1865, II, 8).
O equivalente político da concepção de L. como autocausalidade é a noção de L. como ausência de condições ou de
regras e recusa de obrigações; numa palavra, anarquia. Na maioria das vezes, esse conceito é utilizado como
instrumento de polêmica, para negar a própria L. Platão foi o primeiro a fazer isso quando pretendeu demonstrar que
da demasiada L. concedida pelo regime democrático nascem a tirania e a escravidão. De fato, a recusa constante de
limites e restrições "torna os cidadãos tão suscetíveis que, tão logo se lhes proponha algo que pareça ameaçar sua
liberdade, eles se me-lindram, rebelam-se e terminam rindo das leis escritas e não escritas, porque não querem de
forma alguma submeter-se a nenhum comando" (Rep., VIII, 563 d). A L. aqui é entendida (não por Platão, como
veremos mais adiante) como ausência de medida, recusa de normas. O ilimitado poder sobre todas as coisas, que,
para Hobbes, constitui a L. em estado natural (De eive, I, § 7), tem o mesmo significado. Filmer acreditava estar
expressando o significado da doutrina de Hobbes quando dizia: "A L. consiste em cada um fazer o que lhe aprouver,
em viver como quiser, sem estar vinculado a lei nenhuma" (Observations upon Mr. Hobbes's Leviathan, 1652, p. 55).
Mas talvez a melhor e mais coerente expressão dessa noção de L. seja o Único de Max Stiner: o indivíduo que não
tem causa fora de si, que é sua própria causa e causa de tudo. Nessa forma extrema a tese da L. anárquica raramente é
defendida: na maioria das vezes é pressuposta como termo de polêmica, reduzindo-se a ela (em boa ou má-fé) as
demais concepções de L. política.
LIBERDADE
609
LIBERDADE
2- A segunda concepção fundamental identifica L. com necessidade. Esta concepção tem estreito parentesco com a
primeira. O conceito de L. a que se refere é ainda o de causa sui; contudo, como tal, a L. é não atribuída à parte, mas
ao todo: não ao indivíduo, mas à ordem cósmica ou divina, à Substância, ao Absoluto, ao Estado. A origem dessa
concepção está nos estóicos, para os quais, como vimos, "a L. consiste na autodeterminação e portanto só o sábio é
livre" CDiÓG. L., VII, 121). Mas por que o sábio é livre? Porque só ele vive em conformidade com a natureza, só ele
se conforma à ordem do mundo, ao destino (DIÓG. L., VII, 88; STOBEO, Flor., VI, 19; CÍCERO, De fato, 17). A L. do
sábio coincide, portanto, com a necessidade da ordem cósmica. Crisipo, porém, procura fugir a essa conseqüência
distinguindo as causas perfeitas e principais das causas auxiliares e próximas; o destino age sobretudo através das
primeiras, mas entre as últimas está o assenti-mento que o homem dá às coisas e, conseqüentemente, sua ação. É
como acontece com o cilindro: basta dar um empurrâozinho para que ele role por um plano inclinado: graças à
natureza do cilindro e do plano, ele continuará rolando se for empurrado, mas para que isso aconteça é necessário o
empurrão. Da mesma forma, a ordem das. coisas é tal que, uma vez iniciadas, as ações continuam de determinado
modo, mas, para que sejam iniciadas, é necessário o assentimento do homem e esse assenti-mento permanece em
poder dele (CÍCERO, De fato, 18^19). Todavia para Crisipo também a L. é apenas adequação entre assentimento
humano e ordem cósmica: as causas auxiliares pertencem à ordem necessária do mundo tanto quanto as causas
principais, e o empurrão que faz o cilindro rolar pertence a essa ordem tanto quanto a forma do cilindro e o plano
sobre o qual ele rola. Desse ponto de vista, negar que o homem como tal é livre e afirmar que ele é livre enquanto
manifestação da autodeterminação cósmica ou divina são a mesma coisa. Tudo fica muito claro na formulação de
Spi-noza: "diz-se que é livre o que existe só pela necessidade de sua natureza e que é determinado a agir por si só
enquanto é necessário ou coagido aquilo que é induzido a existir e a agir por uma outra coisa, segundo uma razão
exata e determinada" {Et., I, def. 7). Nesse sentido, só Deus é livre, pois só Ele age com base nas leis de sua natureza
e sem ser obrigado por ninguém (Ibid., I, 17, corol. II), ao passo que o homem, como qualquer outra coisa, é determinado pela necessidade da natureza divina e pode julgar-se livre somente
enquanto ignora as causas de suas volições e de seus desejos (Ibid., I, ap.; II, 48). Contudo, poderá tornar-se livre se
for guiado pela razão (Ibid., IV, 66, scol.), se agir e pensar como parte da Substância Infinita e reconhecer em si a
necessidade universal dela (Ibid., V, VI, scol.). Em outros termos, o homem torna-se livre através do amor intelectual
por Deus (que é exatamente o conhecimento da necessidade divina): amor que é idêntico ao amor com que Deus se
ama (Ibid., V, 36, scol.). Nenhuma inovação foi introduzida nesse ponto de vista pela elaboração e ampliação feitas
pela filosofia romântica. Schelling afirma explicitamente a coincidência entre liberdade e necessidade: "O Absoluto
age por meio de cada inteligência, ou seja, sua ação é absoluta porquanto não é livre nem desprovida de L., mas as
duas coisas ao mesmo tempo: absolutamente livre e por isso também necessária" (System des transzendentalen
Idealismus, IV, E). Em Investigações filosóficas sobre a essência da L. humana (1809), Schelling transfere para
Deus, ou melhor, para a natureza ou fundamento de Deus, o ato com que o homem escolhe essa natureza ou
fundamento, pelo qual todas suas inclinações ou ações serão determinadas. A tendência a atribuir a L. ao Absoluto e a
identificá-la com a necessidade explicita-se assim como característica tipica da concepção romântica. Hegel
contrapõe "o conceito abstrato de L.", isto é, a L. como exigência ou possibilidade, à "L. concreta", que é a "L. real"
ou "a própria realidade" do espírito ou dos homens (Ene, § 482; Fil. do dir., § 33. Zusatz). Essa L. real, realidade
mesma do homem, é o Estado, que, exatamente por isso, é considerado "Deus real" (Fil. do dir., § 258, Zusatz). O
Estado é "a realidade da L. concreta" (Ibid., § 260). Isso significa que ele "é a realidade em que o indivíduo tem L. e a
usufrui, mas só quando o indivíduo é ciência, fé e vontade do universal. Assim, o Estado é o centro dos outros
aspectos concretos da vida: direito, arte, costumes, bem-estar. No Estado, a L. é realizada objetiva e positivamente".
Isto não significa que a vontade subjetiva do indivíduo se realize através da vontade universal, que seria, portanto, um
meio para ela; significa que a vontade universal se realiza através dos cidadãos, que, nesse aspecto, são seus
instrumentos. "O direito, a moral e o Estado, e somente eles, são
LIBERDADE
610
LIBERDADE
positiva realidade e satisfação da L. O arbítrio do indivíduo não é L. A L. que é limitada é o arbítrio referente ao
momento particular das necessidades" {Philosophie der Geschichte, ed. Lasson, I, p. 90). Essa coincidência entre L. e
necessidade, que leva a atribuir a L. apenas ao Absoluto ou à sua realização no mundo (o Estado), por um lado passou
a caracterizar todas as doutrinas de cunho romântico e por outro foi utilizada, fora do âmbito de tais doutrinas, na
defesa do absolutismo estatal e na recusa do liberalismo político. Foi aceita por Gentile e por Croce: o primeiro
identificando a L. com a necessidade dialética do Absoluto {Teoriagenerale dellospirito, XII, § 20), o segundo
identificando a L. com "a criatividade das forças que se denominam individuais e coincidem com a unidade do
Universal" {Storiografia e ídealità morale, p. 58). Mas também foi aceita por Martinetti, para quem a L. é
espontaneidade da razão, e a espontaneidade da razão é a própria necessidade, de tal forma que, em qualquer caso,
identificam-se L. e espontaneidade, espontaneidade e concatenação necessária {La liberta, 1928, p. 349). Com outra
aparência, essa doutrina retorna em algumas manifestações da filosofia contemporânea, como p. ex. no realismo de
Nicolai Hartmann e no existencialismo de Jaspers. Segundo Hartmann, a L. consiste no fato de que, em cada plano do
ser, acrescenta-se ao determinismo dos planos inferiores o determinismo daquele plano. Os planos, em outros termos,
são contingentes, um em relação ao outro, porquanto cada um tem uma forma específica de determinismo não
redutível à forma dos planos inferiores; a L. seria então o super-determinismo de um plano do ser em relação aos
outros. Hartmann diz: "A L. em sentido positivo não é um minus, mas um plus na determinação. O nexo causai não
permite um minus porque sua lei afirma que uma série de efeitos, uma vez em movimento, não pode ser detida de
modo algum. Mas admite um plus — se ele existir — porque sua lei não afirma que aos elementos de determinação
causai de um processo não se possam acrescentar outros elementos de determinação" {Ethik, p. 649). No plano do
espírito, esse plus de determinação é constituído pela teleologia própria do homem, que impõe aos processos causais
fins extraídos da esfera dos valores. Mas é óbvio que, nesse sentido, a L. outra coisa não é senão o acréscimo de um
determinismo "superior" aos
determinismos "inferiores": é portanto a autodeterminação dos planos, que se acrescenta à determinação externa. No
mesmo sentido Jaspers afirma a unidade de L. e necessidade, expressa na forma "posso porque devo" (no sentido da
necessidade de fato, Ich muss-. Phii, II, pp. 186, 195). Nesse caso a L., autodeterminação, pertence à situação
existencial total, cuja expressão é o eu. Continuamos no âmbito da concepção que identifica L. com autocausalidade
de uma totalidade metafísica (política, social, etc), ou seja, com a necessidade com que essa totalidade se realiza. Essa
doutrina por vezes foi defendida por filósofos ou escritores de tendências liberais, mas na realidade é a insígnia do
antiliberalismo moderno. De fato, no plano metafísico, reconhece como sujeito de L. apenas o ser, a substância, o
mundo; no plano político, apenas o Estado, a Igreja, a raça, o partido, etc; atribui à totalidade assim privilegiada um
poder de autocausalidade ou autocriação que é um outro poder igualmente absoluto de coerção sobre os indivíduos,
considerados manifestações ou partes dele.
3a Enquanto as duas primeiras concepções de L. possuem um núcleo conceituai comum, a terceira não recorre a esse
núcleo porque entende a L. como medida de possibilidade, portanto escolha motivada ou condicionada. Nesse
sentido, a L. não é autodeterminação absoluta e não é, portanto, um todo ou um nada, mas um problema aberto:
determinar a medida, a condição ou a modalidade de escolha que pode garanti-la. Livre, nesse sentido, não é quem é
causa sui ou quem se identifica com uma totalidade que é causa sui, mas quem possui, em determinado grau ou
medida, determinadas possibilidades. Platão foi o primeiro a enunciar o conceito segundo o qual a L. consiste na
"justa medida" {Leis, 693 e); ilustrou esse conceito como mito de Er. Segundo esse mito, as almas, antes de encarnar,
são levadas a escolher o modelo de vida a que posteriormente ficarão presas. "Para a virtude, anuncia a parca
Láquesis, não existem padrões: cada um terá mais ou menos, conforme a honre ou a negligencie. Cada um é autor de
sua escolha; a divindade está fora de questão" {Rep., X, 617 e). Mas o importante é que essa escolha, cujo autor é
cada indivíduo e cuja causalidade, portanto, não pode ser atribuída à divindade, é limitada, em um sentido, pelas
possibilidades objetivas, pelos modelos de vida disponíveis, e, em outro, pela motivação, pois — como afirma Platão
LIBERDADE
611
LIBERDADE
— "a maior parte das almas escolhe de acordo com os costumes da vida anterior" {Ibid., 620 a). A situação mítica
aqui ilustrada é de L. finita, de escolha entre possibilidades determinadas e condicionadas por motivos determinantes.
Semelhante L. é delimitada: ls pelo grau das possibilidades objetivas, sempre em número mais ou menos restrito; 2S
pela ordem dos motivos da escolha, que podem restringir ainda mais, até a unidade, a ordem das possibilidades
objetivas. Portanto, esse conceito de L. é uma forma de determinismo, ainda que não de necessarismo: admite a
determinação do homem por parte das condições a que sua atividade corresponde, sem admitir que a partir de tais
condições a escolha seja infalivelmente previsível.
Esse conceito de L. foi completamente esquecido na Antigüidade e na Idade Média devido ao predomínio do conceito
de L. como causa sui. Quando reapareceu, nos primórdios da Idade Moderna, assumiu, em oposição à noção de livrearbítrio, a forma de negação da L. de querer-e de afirmação da L. de fazer. Nessa forma é expressa por Hobbes. Este,
identificando a vontade com o apetite, afirma que não se pode não querer aquilo que se quer (não se pode não ter
fome quando se tem fome, não ter sede quando se tem sede, etc), mas que é possível fazer ou não fazer aquilo que se
quer (comer ou não comer quando se tem fome, etc). Existe, pois, uma L. de fazer, não uma L. de querer {De bom.,
II, § 2; De corp., 25, § 13).
Essa doutrina foi substancialmente aceita por Locke, que definia a L. como "o fato de se estar em condições de agir
ou de não agir segundo se escolha ou se queira" {Ensaio, II, 21, 27). Mas em Locke essa doutrina se complica e
confunde, pois por um lado ele distingue apetite de vontade, que julga constituída por um poder de escolha,
preferência ou inibição (suspensão do desejo, ibid., II, 21, 48), e por outro admite que tal escolha, preferência ou
inibição é necessariamente determinada pelo motivo (que inicialmente ele identifica com o desejo do bem e depois
com o mal-estar próprio do desejo, ibid., II, 21, 31). Portanto, é difícil saber como, desse ponto de vista, se poderia
falar em L. de fazer ou de não fazer, visto que a escolha ou a preferência dada a uma ou a outra dessas alternativas é
necessariamente determinada. De qualquer forma, a intenção da doutrina de Locke é clara: tende, por um lado,
a garantir o determinismo dos motivos, negando o livre-arbítrio como autocausalidade da vontade, e por outro a
garantir a L. do homem contra o determinismo rigoroso. Locke conseguiu expressar muito melhor esse conceito no
terreno político ao negar, em oposição a Filmer, que a L. consistisse em cada um fazer o que bem entendesse; e
afirmou.- "A L. natural do homem consiste em estar livre de poderes superiores sobre a terra, em não estar submetido
à vontade ou à autoridade legislativa de ninguém e em possuir como norma própria apenas a lei natural. A L. do
homem em sociedade consiste em não estar sujeito a outro poder legislativo além do estabelecido por consenso no
Estado, nem ao domínio de outra vontade ou à limitação de outra lei além da que esse poder legislativo tiver
estabelecido de acordo com a confiança nele depositada" {Two Treatises of Government, II, 4, 22). No Estado natural
a L. consiste na possibilidade de escolha limitada pela norma natural, que é uma norma de reciprocidade, segundo a
qual deve-se atribuir aos outros as mesmas possibilidades atribuídas a si mesmo {Ibid., II, 2, 4). Em sociedade, a L.
consiste na possibilidade de escolhas delimitadas por leis estabelecidas por um poder para isso designado pelo
consenso dos cidadãos. Em outros termos, a L. política supõe duas condições: Ia existência de normas que
circunscrevam as possibilidades de escolha dos cidadãos; 2- possibilidade de os próprios cidadãos fiscalizarem, em
determinada medida, o estabelecimento dessas normas. Desse ponto de vista, o problema da L. política é um
problema de medida: a medida na qual os cidadãos devem participar da fiscalização das leis e a medida na qual tais
leis devem restringir as possibilidades de escolha dos cidadãos. Esse sempre foi o problema do liberalismo clássico,
ou seja, de qualquer liberalismo autêntico, seja ele antigo ou moderno. Montesquieu repropôs a doutrina da L. política
de Locke em Vespritdes lois (1748, XI, 3-4). Hume e o Iluminismo retomaram a doutrina da L. filosófica. O primeiro
afirmava: "Por L. só podemos entender um poder de agir ou de não agir, segundo a determinação da vontade; isso
significa que, se decidirmos ficar parados, poderemos ficar, e se decidirmos andar, também poderemos andar " {Inq.
Cone. Underst, VIII, 1); ao mesmo tempo, ressaltava o determinismo dos motivos, sem o qual as leis e sanções
seriam inoperantes. O iluminismo, através de Voltaire, retomou essa
LIBERDADE
612
LIBERDADE
mesma doutrina: L. de indiferença é "uma expressão sem sentido", pois significaria que no homem há "um efeito sem
causa". Somos livres para fazer quando temos o poder de fazer {Dictionnaire philosophique, art. "Liberte"). Kant
utilizou o conceito de L. finita para definir a L. jurídica ou política: ela é "a faculdade de não obedecer a outras leis
externas a não ser as leis às quais eu possa dar meu assentimento" (Zum ewigen Frieden, II, art. 1, ne 1). A concepção
de determinismo não necessarista consolidou-se na orientação empirista. Stuart Mill mostrou que o fatalismo brota de
um conceito de necessidade que não se reduz ao de determinação. Ela significa apenas "uniformidade de ordem e
capacidade de previsão". Mas para os defensores da necessidade "é como se houvesse um vínculo mais forte entre as
volições e suas causas: como se, ao dizerem que a vontade é governada pelo equilíbrio dos motivos, estivessem
dizendo algo além da afirmação de que, conhecendo-se os motivos e nossa habitual suscetibilidade a eles, fosse
possível predizer a maneira como iremos agir" (.Logic, VI, 2, § 2). Dewey traduz essa doutrina para os termos do
pragmatismo, ou seja, do empirismo orientado para o futuro: "Às vezes se afirma que, se é possível demonstrar que a
deliberação determina a escolha e é determinada pelo caráter e pelas condições, é porque nào existe liberdade. É
como dizer que uma flor não pode produzir fruto porque provém da raiz e do caule. A questão não diz respeito aos
antecedentes da deliberação da escolha, mas às suas conseqüências. Qual é sua característica? Dar-nos o controle das
possibilidades futuras que se abrem para nós. Esse controle é o núcleo da nossa liberdade. Sem ele, somos
empurrados de trás, com ele caminhamos na luz" (Human Nature and Conduct, 1922, p. 311). A L. de que Heidegger
fala como "transcendência" e "projeção" do homem no mundo também é uma L. finita, porque condicionada e
limitada pelo mundo em que se projeta ( Vom Wesen des Grundes, 1949, III, trad. it., pp. 64 ss.).
Essa doutrina da L. consolidou-se e tornou-se mais clara e coerente quando, a partir da década de 40, a ciência
desistiu do ideal de causalidade necessária e de previsão infalível. O predomínio do conceito de condição sobre o de
causa, da explicação probabilista sobre a explicação necessarista, que se delineou na física atômica como efeito do
princípio de inde-terminaçâo (v. CAUSALIDADE; CONDIÇÃO), tornou
obviamente anacrônica a conservação do esquema necessarista para a explicação dos acontecimentos humanos. Ao
mesmo tempo, deixou de ter sentido a oposição entre ciência e consciência, entre a exigência de causalidade própria
da primeira e o testemunho de L. dada pela segunda. Por um lado, vimos que a consciência não dá demonstrações de
L. absoluta e que tampouco pode mostrar ser válida qualquer demonstração nesse sentido; por outro lado, vimos que
a ciência não exige a causalidade necessária que autorizaria a previsão infalível dos eventos, mas um determinismo
con-dicionante que autorize a previsão provável dos eventos. A conclusão é que o conceito de L. como autocausação
(que ainda aparece em Bergson e Sartre) é tão pouco sustentável quanto o conceito de determinismo como
necessidade. Correspondentemente, no plano político o conceito de L. como poder de fazer o que apraz e o conceito
de L. como poder absoluto da totalidade a que o homem pertence (Estado, Igreja, raça, partido, etc.) são igualmente
mistificadores. Hoje, assim como nos tempos em que a noção no mundo moderno foi formulada pela primeira vez, a
L. é uma questão de medida, de condições e de limites; e isso em qualquer campo, desde metafísico e psicológico ao
até econômico e político. Hoje se destaca o fato de que a L. humana é "situada, enquadrada no real, uma L. sob
condição, uma L. relativa" (GURVITCH, Détermismes sociaux et liberte humaine, 1955, p. 81). Expressa-se por vezes
esse conceito dizendo que a L. não é uma escolha, mas uma "possibilidade de escolha", ou seja, uma escolha que, se
feita, poderá ser sempre repetida em determinada situação (ABBAGNANO, Possibilita e liberta, 1956, passim). Dessa
forma, pode-se dizer que a L. está presente em todas as atividades humanas organizadas e eficazes, notadamente nos
procedimentos científicos cujas técnicas de verificação consistem exatamente em possibilidades de escolha no sentido
acima. Válido é o procedimento que pode ser eficazmente empregado por qualquer um, nas circunstâncias
apropriadas: é uma "possibilidade de escolha" sempre ao alcance de qualquer um que se encontre nas condições
oportunas. Analogamente, as L. políticas são possibilidades de escolha que asseguram aos cidadãos a possibilidade de
escolher sempre. Um tipo de governo não é livre simplesmente por ter sido escolhido pelos cidadãos, mas se, em
certos limites, per-
LIBERTARISMO
613
LIBERTISMO
mitir que os cidadãos exerçam contínua possibilidade de escolha, no sentido da possibilidade de mantê-lo, modificálo ou eliminá-lo. As chamadas "instituições estratégicas da L.", como a L. de pensamento, de consciência, de
imprensa, de reunião, etc, têm o objetivo de garantir aos cidadãos a possibilidade de escolha no domínio científico,
religioso, político, social, etc. Portanto, os problemas da L. no mundo moderno não podem ser resolvidos por
fórmulas simples e totalitárias (como seriam as sugeridas pelos conceitos anárquicos ou necessa-ristas), mas pelo
estudo dos limites e das condições que, num campo e numa situação determinada, podem tornar efetiva e eficaz a
possibilidade de escolha do homem.
LIBERTARISMO (in. Libertarianisni). O mesmo que anarquismo. Libertário (in. Libertarian; fr. Libertairê): o
mesmo que anárquico (v. ANARQUISMO).
LIBERTINISMO (fr. Libertinismé). Corrente anti-religiosa que se difundiu sobretudo em ambientes eruditos da
França e da Itália na primeira metade do séc. XVII; constitui a reação — em grande parte subterrânea — ao
predomínio político do catolicismo naquele período. Não tem idéias filosóficas bem determinadas, e a ela
pertenceram: católicos sinceramente ligados à Igreja, mas que achavam impossível aceitar integralmente sua estrutura
doutrinária, como Gassendi, Gaffarel, Boulliau, Launoy, Ma-rolles, Monconys; protestantes emancipados de qualquer
preocupação religiosa, como Diodati, Prioleau, Sorbière e Lapeyrère; e céticos declarados que se remetem a doutrinas
do paganismo clássico ou pelo menos à forma por elas assumida no humanismo renascentista, como Guyet, Luillier,
Bouchard, Naudé, Quillet, Trouiller, Bourdelot, Le Vayer. Portanto, a propósito do L., não é possível falar em corpo
doutrinai coerente, mas sim de certo número de temas comuns, que podem ser resumidos da seguinte forma:
ls Negação da validade das provas da existência de Deus e da possibilidade de entender e defender os dogmas
fundamentais do cristianismo.
2a Negação da moral eclesiástica e, em geral, da moral tradicional, e aceitação do prazer como guia ou ideal para a
conduta da vida. O significado da palavra libertino no uso corrente deriva exatamente desse aspecto.
3a Aceitação da doutrina da ordem necessária do mundo, na forma como havia sido elaborada e defendida pelos aristotélicos do Renascimento; por conseguinte: a) negação da liberdade humana; b) negação
da imortalidade da alma; c) negação da possibilidade do milagre, interpretado como fruto da imaginação ou como
fato natural fora do comum. Estes aspectos doutrinais ligam o L. ao aristotelismo do Renascimento.
4a Tese de que a religião é, em geral, um produto do embuste das classes sacerdotais.
5S Aceitação do princípio da "razão de Estado", isto é, do maquiavelismo político.
6a Destruição de crenças e práticas religiosas, sua ridicularização e, por vezes, sua tradução em imagens obscenas.
7a Fideísmo, que é a aceitação declarada, sincera ou não, das crenças tradicionais, em oposição às conclusões da
razão, segundo o princípio da "dupla verdade" do aristotelismo renascentista (e do averroísmo medieval).
8a Caráter aristocrático atribuído ao saber, em particular à reflexão filosófica, e limites impostos à sua difusão e ao
seu uso, para evitar o choque com os interesses do Estado e das instituições a ele ligadas.
Este último aspecto, mais que qualquer outro, marca a diferença radical entre L. e Ilu-minismo (v.), que consiste em
romper os freios da crítica racional, em praticá-la em todos os campos (portanto também no campo político, além do
religioso), na vontade de comunicar os resultados dela a todos os homens e de utilizá-los para a melhoria da vida
humana. Contudo não há dúvida de que o L. é um elo importante entre o espírito do Humanismo e o espírito do
Iluminismo. Seu melhor historiador, R. Pintard, assim resume seu pensamento sobre ele: "A se acreditar — como
tudo leva a crer — que o surto do espírito filosófico do fim do séc. XVTI é em grande parte continuação do
Renascimento do séc. XVI, também será preciso concluir que o L. triunfante dos Fontenelle e dos Bayle não teria
existido sem o L. militante dos Le Vayer, Gassendi e Naudé, que também foi o L. sofredor, combatido, embaraçado
por escrúpulos e temores, que só chegou a expressar-se renegando-se" (Le lihertinage érudit dans lapremière moitié
du XVLIe siècle, 1943, I, p. 576).
LIBERTISMO (fr. Libertisme). Este termo foi empregado por Bergson (em Revue de Métaph. et de Morale, 1900, p.
661) em lugar da expressão mais comum "Filosofia da liberdade" para indicar o espiritualismo francês do séc.
LffilDO
614
LIMITE
XIX, no qual se insere a própria doutrina de Bergson.
LIBIDO. Termo que, em Freud e nos psicanalistas, serviu para designar a tendência sexual em sua forma mais geral
e indeterminada. Freud diz: "Análoga à fome em geral, a L. designa a força com que o instinto sexual se manifesta,
assim como a fome designa a força com que se manifesta o instinto de absorção de alimentos" (Einführung in die
Psychoanalyse, cap. 21; trad. fr, p. 336). Nesse sentido, as primeiras manifestações da L. ligam-se a outras funções
vitais: no lactente, p. ex., o ato de sugar provoca um prazer diferente do prazer provocado pela absorção do alimento,
e esse prazer passa a ser buscado por si mesmo. Freud afirma que a zona buco-labial é "erógena" e considera que o
prazer propiciado pelo ato de sugar é sexual. Nesse sentido, a L. pode nada ter em comum com a esfera genital. Por
isso, Freud acha que nada se ganha ao chamar a L. de instinto, como fez Jung (Ibid., pp. 442 ss.; cf. C. G. JUNG,
Wandlungen und Symbole der Libi-do, 1925).
LICEU (gr. AÚKeiov). Esse foi o nome dado à escola de Aristóteles, ou Perípato, devido ao território em que estava
situada, consagrado a Apoio Lício. Depois da morte de Aristóteles, a escola foi dirigida por Teofrasto de Êreso, até a
morte deste (288 ou 286 a.C), que a orientou principalmente para a organização do trabalho científico e para as
investigações pessoais. Teofrasto foi sucedido por Estráton de Lâmpsaco, que a dirigiu por 18 anos; a seguir, a escola
continuou seu trabalho através de numerosos outros representantes dos quais nos chegaram poucas notícias e
fragmentos. No primeiro século antes de Cristo, Andrônico de Rodes publica as obras exotéricas de Aristóteles e dá
início a uma nova forma de atividade filosófica: o comentário aos textos do mestre. Nessa atividade salientou-se
especialmente Alexandre de Afrodísia, que viveu aproximadamente no ano 200 d.C. (cf. WEHRLI, Die Schule des
Aristóteles, Texte undKotnmentar, Basiléia, pp.1944 ss.).
LIMITAÇÃO (lat. Limitatio, in. Limitation; fr. Limitation; ai. Limitation, Begrenzung; it. Limitazioné). Na lógica do
séc. XVII, começou-se a chamar desse modo aquilo que na lógica medieval era chamado de restrição (restrictio, cf.
PEDRO HISPANO, Summ. log., 11.01): a redução de um enunciado a um significado mais restrito. Segundo Jungius:
"Diz-se que um enunciado sofre L. quando é substituído por outro
enunciado que declare que o predicado convém ao sujeito mediante uma de suas partes ou acidente, e não
imediatamente. P. ex.: 'o etíope é branco' é limitado por 'o etíope é branco nos dentes'" (Lógica hamburguensis, 1638,
II, 8, 8). Wolff expressa-se no mesmo sentido, mas faz a distinção entre proposição restritiva e limitada, porquanto a
L. é assumida ab intrínseco, isto é, no próprio sujeito, como no caso do enunciado sobre o etíope, ao passo que a
restrição é assumida ab extrinseco, como no enunciado "o ar é leve no que diz respeito aos fluidos" (Log., § 1106).
Kant deu o nome de L. à terceira categoria da qualidade, que é "a realidade unida à negação" (Crít. R. Pura, § 11) e
corresponde ao juízo infinito, proposição que afirma um predicado negativo (Ibid., § 9) (v. INFINITO, juízo).
Em todos estes casos a L. era considerada uma restrição aplicada ao sujeito da proposição. Para W. Hamilton,
entretanto, a restrição é aplicável ao predicado e tem o nome de L. somente em expressões como "A virtude é a única
nobreza" (Lectures on Logic, 2a ed., p. 262).
LIMITE (gr. 7tépaç; lat. Limes, in. Limit; fr. Limite-, ai. Grenze; it. Limite). Aristóteles distinguiu e enumerou
perfeitamente os diferentes significados desse termo (Met., V, 17, 1022 a 4 ss.), que são os seguintes:
ls O último ponto de uma coisa, ou seja, o primeiro ponto além do qual não existe parte alguma da coisa e aquém do
qual estão todas as partes dela. Hoje esse conceito é expresso dizendo-se que o L. é um ponto que não pode ser
atingido; ou que é uma grandeza tal que a diferença entre ela e os elementos da série infinita a que pertence é ou
permanece inferior a qualquer grandeza atribuível (cf. PEIRCE, Coll. Pap., 4.117; JORGENSEN, A Treatise of Formal
Logic, III, pp. 87 ss.).
2Q A forma de uma grandeza ou de uma coisa que possui grandeza.
3B O término: tanto o terminus ad quem, ou ponto de chegada, quanto, por vezes, o terminus a quo, ou ponto de
partida.
4Q A substância ou essência substancial de uma coisa, visto ser esse o L. de conhecimento da coisa, portanto da
própria coisa. Nesse sentido, L. significa condição. Para Aristóteles, a condição do conhecimento e do ser da coisa é a
substância ou essência necessária (v. ESSÊNCIA; SUBSTÂNCIA).
O primeiro significado do termo está ligado ao uso que Kant fez dessa palavra: "Nos
LÍNGUA
615
LINGUAGEM
seres extensos, L. sempre pressupõe um espaço que está além de certa superfície determinada e que a inclui em si; a
fronteira, porém, não precisa disso, mas é a negação pura que qualifica uma grandeza, porquanto não é uma totalidade
absoluta e perfeita. Ora, de algum modo nossa razão vê em torno de si um espaço para o conhecimento das coisas em
si, ainda que nunca possa ter conceitos determinados sobre elas e se limite puramente aos fenômenos" (Prol., § 57).
Neste sentido, Kant denominou conceito-limite o conceito de núme-no, que serve "para circunscrever as pretensões
da sensibilidade, sendo, pois, de emprego puramente negativo" (Crít. R. Pura; Anal. dos princ, cap. 3; cf. COISA EM
SI). O que possui L., nesse sentido, é finito no significado 4 do termo.
LÍNGUA (lat. Língua; in. Language, Ton-gue; fr. Langue; ai. Sprache; it. Lingud). Um conjunto organizado de
signos lingüísticos. A distinção entre L. e linguagem foi estabelecida por Saussure, que definiu a L. como "conjunto
dos costumes lingüísticos que permitem a um sujeito compreender e fazer-se compreender" (Cours de linguistique
gênérale, 1916, p. 114). Neste sentido, L., por um lado, é sistema ou estrutura (v.) e, por outro, supõe uma "massa
falante" que a constitui como realidade social. Podem-se distinguir duas espécies de L.: Ia históricas, cuja massa
falante é uma comunidade histórica: p. ex. italiano, inglês, francês, etc; 2 a artificiais, cuja massa falante é um grupo
que se distingue por uma competência específica; são as L. das técnicas específicas (às vezes chamadas
impropriamente de linguagens); p. ex.: L. matemática, L. jurídica, etc.
LINGUAGEM (gr. X070Ç; lat. Sermo; in. Language, Speech; fr. Language; ai. Sprache, it. Linguaggió). Em geral,
o uso de signos inter-subjetivos, que são os que possibilitam a comunicação. Por uso entende-se: Ia possibilidade de
escolha (instituição, mutação, correção) dos signos; 2° possibilidade de combinação de tais signos de maneiras
limitadas e repetíveis. Este segundo aspecto diz respeito às estruturas sintáticas da L., enquanto o primeiro se refere
ao dicionário da L. A moderna ciência da L. tem cada vez mais insistido (como veremos) na importância das
estruturas lingüísticas, ou seja, das possibilidades de combinações delimitadas pela L. Elementos como "Sócrates",
"homem", "é", "e", "todos", "não", etc, são todos palavras, isto é, signos intersubjetivos, mas só podem fazer parte de um discurso com uma função determinada: .só podem combinar-se com os outros signos em modos
limitados e reconhe-^ cíveis.
A L. distingue-se da língua, que é um conjunto particular organizado de signos intersubjetivos. A distinção entre L. e
língua foi estabelecida por Ferdinand de Saussure, que a definia da seguinte forma: "A língua é um produto social da
faculdade de L. e ao mesmo tempo um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o
exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em conjunto, a L. é multiforme e heteróclita; sobreposta a
domínios diversos — físico, fisiológico e psíquico — também pertence ao domínio individual e ao domínio social;
não se deixa classificar em categoria alguma de fatos humanos porque não se sabe como determinar a unidade"
(Cours de linguistique gênérale, 1916, p. 15). Eto ponto de vista geral ou filosófico, o problema daL, é o problema da
intersubjetividade ^\" dos signos, do fundamento desta intersubjetivi- ' dade. O problema da "origem" da L., discutido
nos sécs. XVII e XIX, é uma de suas formas; as duas soluções típicas são apenas dois modos de garantir a
intersubjetividade dos signos lingüísticos. Dizer que a L. tem origem em con- *,. venções significa simplesmente
que essiTTn^ tejsjjBjejMdade é fruto de um acordo, de um ç£nícato_entre homens, e dizer que a L. se ori- 'Z'-'
_gina__da natureza significa simplesmente que essa intersubjetividade é garantídapehi^elaçJxD entre o signo
lingüístico éã coisa ou com o estado subjetivo a que ele se refere. É possível distinguir quatro soluções fundamentais
para o <t, problema da intersjajbjetividade da L. e, portan- N to, quatro interpretações de L.: Ia L. como con- <
venção, 2a L. como natureza; 3a L. como esco- -lha; 4a L. como acaso. As três primeiras inter- 3 pretações já
haviam sido distinguidas e caracterizadas poí]Platãa\
As primeiras duas têm em comum a afirmação do caráter necessário da relação entre o signo lingüístico e seu objeto
(qualquer que seja). A tese convencionalista, ao afirmar a perfeita arbitrariedade de todos os usos lingüísticos,
portanto a impossibilidade de confrontá-los e corrigi-los, reconhece em todos a mesma validade. A tese do caráter
natural da L. é levada, por outro lado, a admitir as mesmas conclusões. Uma vez que todos os signos lingüísticos são
tais por natureza e cada um é suscitado ou produzido pelo objeto que expressa, todos são
LINGUAGEM
616
LINGUAGEM
igualmente válidos, e é impossível confrontá-los, modificá-los ou corrigi-los. Ambas as te_ses levam à conseqüência
de que é impossível di-zer o que não é, porque dizer o que não é.sig-nifica,Jão dizer. Megáricos e cínicos, que, na
filosofia grega dos tempos dêTIàtão, representavam as duas teses em questão, tinham em comum um pressuposto
fundamental extraído (como relata Aristóteles) do princípio segundo o qual "nada pode ser predicado de uma coisa
salvo seu próprio nome", princípio que não exprime a necessidade da relação entre o signo lingüístico e seu objeto
(Met., V, 29, 1024 b 33; para os megáricos, em particular Estílpon; cf. PLUTARCO, Ad Colot., 23, 1120 a). Será fácil
mostrar que essas características das duas doutrinas necessaristas da L. também são encontradas nas formas
assumidas por tais doutrinas no mundo moderno.
Ia A interpretação da L. como convenção teve origem com os eleatas. A inefabilidade do Ser (como necessário e
único) devia levá-los a ver nas palavras nada mais do que "etiquetas das coisas ilusórias", como diz Parmênides (Fr.
19, Diels). Esta concepção parece ser compartilhada por,Empédocles.(Fr. 8-9, Diels), mas foi só pemócrito jque a
justificou com argumentos empíricos/' Demócrito de fato fundamenta a tese da convencionatídácte em quatro
argumentos: homonímia, em virtude da qual coisas diferentes são designadas pelo mesmo nome; diversidade de
nomes para uma mesma coisa; possibilidade de mudar os nomes; e a falta de analogias na derivação dos nomes
(Fr. 26, Diels). Os sofistas, com Górgias, insistiam na diversidade entre os nomes e as coisas e na conseqüente
impossibilidade de se comunicar o conhecimento das coisas através_dos nomes. f "A L." — dizia Górgias — "não
manifesta as J coisas existentes, da mesma forma que uma I das coisas existentes não manifesta sua nature-'; za a
outra" {Fr. 3, 153, Diels). Já dissemos que Estílpon afirmava a tese da impossibilidade de uma coisa ser predicado de
outra, o que expressa a necessidade de referência do signo lingüístico ao objeto, ^platáq) aludia aos megá-' ricos
quando dizia: "Será que preferes a maneira como Hermógenes e muitos outros falam \ quando dizem que os nomes
são convenções e Y Ique são claros para aqueles que os estipularam i$-e conhecem as coisas às quais correspondem,
^\je que essa é a justeza dos nomes, de tal forma Ique não importa se a convenção é feita segundo o que já se tenha
estabelecido ou o contrá: rio, como p. ex. chamar de grande o que hoje chamamos de pequeno ou de pequeno o que hoje chamamos de
grande?" (Crat., 433 e.)
Este convencionalismo puro, que afirma a pura arbitrariedade da referência lingüística, desapareceu a partir de
Aristóteles e só. reaparece no pensamento contemporâneo. Aristóteles foi o primeiro a inserir entre o nome e o seu
designado a afeição da alma, a representação ou conceito mental (idéia ou palavra interior ou qualquer outra
denominação que venha a ter em seguida) que cinde e articula a relação -, entre o nome e o seu designado. A inserção
'v desse termo permite reconhecer, ao mesmo íf tempo, o convencionalismo da L. e a necessi-; dade dos seus
significados. Aristóteles de fato i afirma que "um nome é um vocábulo semânti-\ 5 co segundo convenção",
entendendo com "por í" convenção" que "nada é nome por natureza^ ^ mas apenas depois de se tornar;símbolo" (De
interpr., 2, 16 a 18; 26-28). Ás palavras, como sons vocais ou sinais escritos, não são as mesmas para todos; no
entanto, referem-se às "afeições da alma que são as mesmas para todos e l constituem imagens de objetos que são os
mes-iímos para todos" (Ibid., I, 16 a 3-8). Tem-se por-,-j tanto que: l2 os objetos são os mesmos para : todos; 2S as
afeições da alma, como imagens V; dos objetos, são as mesmas para todos; 3e as * palavras escritas ou faladas não
são as mesmas \para todos, Desta forma a relação_palavra-ima-gem mental é convenciõnalTao passo que a relação
imagem mentil-coisa é natunür7ÃprimèT:" ra pode mudar sem quèTmude a segunda, e é apenas a imutabilidade ou
necessidade da segunda que determina a estrutura geral da L., que depende da "união e separação" dos signos, da
forma como eles se unem e se separam, e não do convencionalismo dos sinais. Segundo Aristóteles, isso estabelece o
caráter privilegiado da L. apofântica, em que têm lugar as determinações de verdadeiro e falso, segundo a união ou a
separação dos signos reproduza ou não a união ou a separação das coisas. Aristóteles não nega que existam jiscut sos
não apofâniicos, como p.j;x._a^prece_(7&íc/., 4, 17 a 2), mas, privilegiando o discurso apo-fântico, faz dele a
verdadeira L., pela qual as outras se moldam mais ou menos ou a partir da qual devem ser julgadas. De fato, a poética
e a retórica, que se ocupam da L. não apofântica, são tratadas por Aristóteles em conexão com a analítica. Ora, a J...
apofântica nada mais tem de convencional: suas estruturas
LINGUAGEM
-c
617
LINGUAGEM
são naturais enecessárias porque são as mesmas HcTiir, que ela revela.
Esse convencionalismo aparente ou coxo que se pode combinar com a tese do caráter apofântico da L. é a forma
assumida na Idade Média e na Idade Moderna. O nominalismo medieval retoma exatamente nessa forma a
tesecórfvêncionalista. 03dTãm7~pTex., cTisííiv" gue os signõs^instituídos arbitrariamente para significar "vanãscoisas", ou seja, as palavras, dos signos naturais, que são os conceitos (Summa log., I, 14), e essa posição só faz
reproduzir substancialmente a de Aristóteles. É idêntica a posição de Hobbes, que, ao mesmo tempo em que insiste na
arbitrariedade do signo lingüístico, diz que ele é "uma nota com a qual se pode reVocar à alma um pensamento
semelhante a um pensamento passado" (De corp., 2, 4). Essa correspondência entre palavras e pensamentos é tomada
por loçke como definição da função sígnica da L.f^Às palavras que, por natureza, se ajustavam a esse objetivo foram
empregadas pelos homens como signos de suas idéias: não por alguma conexão natural que exista entre determinados
sons articulados e certas idéias, pois nesse caso haveria^uma só L. entre os homens, mas por uma imposição
"voluntária, mediante a qual determinada palavra é aceita arbitrariamente como marca de certa idéia" (Ensaio, III, 2,
1). A inserção do "signo natural", "pensamento" ou "idéia" entre a palavra e seu designado descaracteriza a tese
convencionalista e, como vimos, aproxima-a da tese oposta, chegando a confundi-las. Essa tese reduz-se de fato à
afirmação da arbitrariedade do signo lingüístico isolado, da palavra entendida como som, mas não se estende ao uso
propriamente dito das palavras (no qual consiste a L.), portanto ,às regras desse uso. Eqüivale a dizer, p. ex., que no
jogo de xadrez é indiferente chamar a torre de peão ou peão de torre, mas que é necessário que certa peça (peão ou
torre) seja usada de uma forma e que outra peça (torre ou peão) seja usada de outra maneira. A L. é o jogo de xadrez
que, nesse caso, é declarado necessário: o convencionalismo das palavras, ou seja, dos simples sons articulados, não
diminui essa necessidade.
Portanto, o restabelecimento da tese clássica do convencionalismo só ocorre com a eliminação de qualquer
intermediário entre o sinal lingüístico e seu designado; em outras palavras com a declaração de arbitrariedade, não
dos
sons isolados, mas do uso dos sons, ou seja, das regras que o limitam. Essa foi a posição de Wi^enstein, em sua
segimttãTorma (Philoso-'phische Untersuchungerí). Wittgenstein admitiu a arbitrariedade, portanto a equivalência,
dé~tcP dos os " jogos lingüísticos" em uso, admitindo que tais jogos podem ter caracteres e regras muito diferentes,
de tal modo que chamá-los em conjunto de "L." significa apenas que eles têm inter-relações diferentes (Philosophical
In-vestigations, I, 65). Desse ponto de vista, há um retorno das teses clássicas do convencionalismo; em primeiro
lugar, a impossibilidade de retificar a L., razão pela qual ela deve ser sempre declarada verdadeiraeperfeita^oUj õ> s
mo Wittgenstein prefere, em ordem. "Está claro que todo enunciado da nossa L. está em ordem assim como é. Isso
quer dizer que não estamos perseguindo um ideal como se os nossos enunciados ordinariamente vagos ainda não
tivessem atingido um sentido irrepreensível e como se uma L. perfeita ainda estivesse para ser construída. Por outro
lado, parece claro cpe p. onde_há_sentido deve Jiaver; ondemjDejfeita. Assim, deve haver ordem perfeita na mais
vaga das proposições" (Ibid., I, 98). Desse ponto de vista, o ideal lingüístico, a_línguaperfeita^éjirgo já existente no
uso. "OideaJ" — diz Wittgen- '^' stein — "deve ser encontrado na realidade. En- -i. quanto não virmos como se
encontra nela, não . > entenderemos a natureza desse deve. Achamos que deve estar na realidade porque achamos que
já o vimos" (Ibid., 101). Pode-se dizer que esse ponto de vista coincide com o de\Carnápl O "pjmdpjCMde^jolejânda'' ou "de. mnygncio,-nalidade", estabelecido por Carnap, expressa a perfeita equivalência dos
sistemas lingüísticos. "Em lógica" — afirma Carnap — "não existe moral. Cada um pode construir como quiser a sua
lógica, isto é, a sua forma de linguagem. Se quiser discutir conosco, deverá apenas indicar como quer fazê-lo e
apresentar regras sintáticas, em vez de argumentos filosóficos" (Logical Syntax ofLanguage, § 17). Desse ponto de
vista, a construção de uma L. ideal ou perfeita é feita com base naquilo que um certo tipo de L. é de fato. Carnap diz:
"Os fatos não determinam se o emprego de uma certa expressão está correto ou errado, mas apenas a freqüência com
que leva ao efeito para o qual tende e coisas desse gênero. Uma questão sobre o que está certo ou errado deve sempre
referir-se a um sistema de regras. A rigor, as regras que relacionaremos não são as regras da L. B, como
>■-«/
LINGUAGEM
618
LINGUAGEM
^
v
Ov
ela é de fato, mas constituem antes um sistema lingüístico em correspondência com B, que
denominaremos sistema semântico B-S. A L. B pertence ao mundo dos fatos (...), mas o siste_mafin^TstTcóJB-.S'é algo construído por nós;' tem todas as propriedades que estabelecemos por meio de
regras e somente elas. Todavia, não construímos B-S arbitrariamente^ maa Je.-'vãridb em consideração os
fatos de B. Portanto,, podemos formular a afirmação empírica de ~ que ali está, em certa medida, em
harmonia com o sistema B-S" (Foundations of Logic and Mathematics, I, 4). Por isso, segundo Carnap, o
sistema semântico B-S tem as seguintes propriedades: l2 constitui o critério com base no qual se pode
julgar sobre a correção ou não da L. B; 2- as regras de .B-S não são convencionais porque são escolhidas
com base nos dados de fato fornecidos por B. (Carnap, portanto, admite simultaneamente a tese do
convencionalismo das L. e a tese da naturalidade dos sistemas semânticos, isto é, das L. perfeitas.
2- A doutrina segundo a qual a L. existe "por natureza", e que a relação entre a L. e o seu objeto (seja qual
for) é estabelecida pela ação causai deste último, também se caracteriza pelo reconhecimento da
necessidade da relação semântica. Enquanto a doutrina anterior afirmava que a relação semântica é
sempre exata porque em qualquer caso é instituída arbitrariamente, a doutrina em exame afirma que é
sempre exata porque escapa ao arbítrio e é instituída pela ação causai do objeto. Pode-se dizer que_essa.
tese remonta a HeráclitcT XFr. 23, Díels; 114, Diels), mas foi exposta explicitamente pelos cínicos,
especialmente por AjuístÊne§, cujo ponto dê vista é expresso por Crátilo no diálogo homônimo de Platão:
"As coisas têm nomes por natureza e artífice de nomes não é quaisquer um, mas só quem olha para o
nome que por natureza é próprio de cada coisa e que é ícapaz de expressar sua espécie em letras e sílabas"
CCrat., 390 d-e). Sabemos outrossim que Antístenes definira a L. dizendo ser ela "aquilo que manifesta o
que era ou é" (DIÕG. L., VI, 1, 3), e que extraía dessa doutrina as mesmas conseqüências que os
megáricos, com Estílpon, extraíam da tese do convencionalismo: "é impossível contradizer ou mesmo
dizer o falso" (ARISTÓTELES, Met., V, 29, 1024 b 33). Esta forma de Antístenes é apenas uma das formas
que a doutrina em exame pode assumir e assumiu ao longo de sua história. Essas formas são distinguíveis
com base no tipo de objeto que se
£' toma como designado pela L. Todas as formas
dessa doutrina asseveram que a L. é apofântícà,
(
; ou seja, que de certa forma revela seu objeto;
I diferem ao determinar o tipo de objeto que a L.
revelaria de forma primordial ou privilegiada.
Assim, é possível distinguir: d) a teoria da interjeiçãa, tí) a teoria da onomatopéia; c) a teoria
da metáfora; d) a teoria da imagem lógica.
a) A teoria da interjeição, que Max Müller (Lectures on the Science of Language, 1861, cap. 9, trad. it.,
p. 363) chamou de teoria do pub-puh, foi exposta pela primeira vez por Epicuro: "As palavras não são em
princípio criadas por convenção, mas é a própria natureza humana que, influenciada por determinadas
emoções e visando a determinadas imagens, leva os homens a emitir o ar da forma apropriada a cada
emoção e imagem. As palavras são inicialmente diferentes devido à diversidade dos povos e dos lugares,
mas depois tornam-se •comuns, para que seus significados sejam menos ambíguos e mais rapidamente
compreensíveis" (DIÓG., L., X, 75-76). Lucrécio expressava mais sucintamente o mesmo conceito: "A
natureza obrigou os homens a emitir os vários sons da L., e a utilidade levou a dar a cada coisa o seu
nome" (De rer. nat., V, 1027-28). Em tempos modernos essa doutrina foi retomada por Condillac (Sur
Vorigine des connaissances humaines, 1746, 1, §§ 1 ss.) e exposta de forma mais brilhante por
Rousseau: "A primeira L. do homem, a L. mais universal e mais enérgica, a única da qual ele necessitava
antes que fosse preciso convencer homens reunidos, é o grito natural. Por ser arrancado por uma espécie
de instinto nas ocasiões prementes, para implorar socorro nos grandes perigos ou alívio nos males
violentos, esse grito não tinha grande utilidade na vida comum, em que reinam sentimentos mais
moderados. Quando as idéias dos homens começaram a estender-se e multiplicar-se, estabelecendo-se
comunicação mais estreita entre elas, quando foram buscados sinais mais numerosos e uma L. mais
ampla, multiplicaram-se as inflexões da voz e acrescentaram-se os gestos, que, por natureza, são mais
expressivos e cujo sentido depende menos de determinações anteriores" (De 1'inçgalité parmi les
bommes, I; cf. também o ensaio "Sobre a origem das línguas", em CEuvres, 1877, vol. I). Mas o problema
que se opõe a essa doutrina é o da passagem de uma língua constituída por gritos simples ou interjeições
para uma língua
LINGUAGEM
619
LINGUAGEM
J
objetiva, constituída por termos gerais ou abstratos. Mesmo no mundo moderno não faltou quem visse na interjeiçãò
a origem dos sons que, gradualmente purificados, se transformaram em verdadeira linguagem. Era o que pensava, p.
ex., O. Jespersen (Language, its Na-ture, Development and Origin, 1923, pp. 418 ss.); a mesma tese foi apresentada
com mais rigor por Grace de Laguna, que procurou definir melhor a passagem da interjeiçãò para a L. como um
processo de objetivação, graças ao qual as expressões emotivas vão sendo pouco a pouco substituídas por aspectos
percebidos das situações efetivas (Speech, its Function and Development, 1921, pp. 260 ss.). Mais difícil de
compreender é exatamente esse processo de objetivação e purificação dos gritos emotivos: mesmo porque até as
doutrinas que a eles recorrem evidenciaram e reconheceram explicitamente a diferença entre as palavras e as interjeições (que não se distinguem dos gritos animais), além do fato de as palavras se afirmarem em prejuízo das
interjeições.
b) A teoria da onomatopéia, que Max Müüer (Lectures on the Science of Language, 1861, cap. 9) denominou teoria
do bau-bau, afirma serem as raízes lingüísticas imitações dos sons jiaturais. Essa teoria era conhecida por Platão, que
a critica observando que, "neste caso, cJ. aqueles que imitam o balido das ovelhas, os £■ cantos dos gaios e as vozes
dos demais animais Y dariam nome aos animais cuja voz imitam" (Crat., 423 c). Essa teoria foi defendida por
\peTcIerj em Tratado sobre a origem da lingua-jgeni(\J12): ele considerou os sons naturais (p. ex., o balir de um
cordeiro) como os sinais que a alma utiliza para reconhecer o objeto em questão. "O balido, notado como sinal
distintivo, passa a ser o nome do cordeiro. O sinal compreendido, graças ao qual a alma se reflete claramente numa
idéia, é a palavra. E o que é a L. humana, senão o conjunto de tais palavras?" (Werke, ed. Suphan, V, pp. 36-37). A
principal objeção a essa doutrina foi levantada pelos glossologistas: não é verdade que a origem de todas as raízes
lingüísticas seja onomatopaica. Nem na formação dos nomes dos animais, em que se poderia presumir maior eficácia
do princípio onomatopaico, ele tem realmente função dominante. Contra ele encontramos ainda a objeção filosófica,
oposta por Platão, de que uma coisa é a imitação de um som e outra coisa é a imposição de um nome. Contudo, o
princípio da onomatopéia foi muitas vezes utilizado pe$
los glossologistas para explicar a formação das palavras originais nesta ou naquela língua e sua distribuição em
grupos distintos. O próprio Cassirer admite como primeira fase da expressão lingüística uma etapa mimética, na qual
"os sons parecem aproximar-se da impressão sen-sorial e reproduzir sua diversidade com a maior fidelidade possível"
(Phil. der symbolischem Formen, 1923, 1, cap. 2, § 2).
c) A terceira forma da doutrina da naturalidade da L. considera-a como metáfora. As teses características em que se
expressa essa doutrina são as seguintes: \- a L. não é imitação, mas criação (o que distingue esta teoria da
onomatopaica); 2g a criação lingüística não leva a conceitos ou a termos gerais, mas a imagens, que são sempre
individuais ou particulares; 3a o que a criação lingüística expressa não é um fato objetivo ou racional, mas subjetivo
ou sentimental; e este é propriamente o objeto da linguagem. Com tais características, essa teoria foi expressa pela
primeira vez por Viço, para quem "o primeiro falar" não foi "um falar segundo a natureza das coisas", mas "um falar
fantástico para substâncias animadas, na maior parte imaginadas divinas" (Scienza nuova, II, Da lógica poética). Os
primeiros poetas, segundo Viço, deram "os nomes às coisas a partir das idéias mais particulares e sensíveis, que são
as duas fontes, esta da metonímia e aquela da sinédoque" (Ibid., Corolários acerca dos tropos, 2). Conseqüentemente,
os primeiros homens conceberam a idéia das coisas "por caracteres fantásticos e mudos de substâncias animadas" e
entenderam-se "com atos ou gestos que tivessem relações naturais com as idéias (como, p. ex., ceifar três vezes ou
mostrar três espigas para significar três anos)". Segundo Viço, isso é facilmente observado na língua latina, "que
formou quase todas as palavras por transferências de naturezas, por propriedades naturais ou por efeitos sensíveis",
mas "geralmente a metáfora constitui o maior corpo das línguas em todas as nações" (Ibid., Corolários acerca dos
tropos, 2). Essa teoria é _expressa de modo bem mais imaginosa por - (Hamann} para quem a L., que é "o órgão e
oçxi-tério da razão", não é umã slrrTpTês'"coIê"çâo cíè signos, mas "o símbolo e a revelação da própria vida divina"
(Scpriften, II, 19, 207, 216). No séc. XDC a teoriajdajnejgfora, mesmo sem a postura metafísica ou teológica com que
aparece em Hamann, é a característica comum das doutrinas que foram chamadas do din-don, pelo caráter ressonante
da natureza humana. Assim, {ÇÃzx.
i
J v^J " V o
/AC/ÍV
LINGUAGEM
620
LINGUAGEM
Müller afirmava que a L. é o produto de uma "faculdade criativa que dá a cada impressão, na maneira como penetra
pela primeira vez no cérebro, uma expressão fonética", e que os fonemas assim criados são depois selecionados e
combinados naturalmente através do processo histórico de formação da L. {Lecture, cit., 9). O caráter metafórico da
L., consistindo no recurso a termos ambíguos ou equívocos, favorece (de acordo com esta teoria) a origem e a
formação do mito. Müller disse: "Na L. humana é impossível exprimir idéias abstratas a não ser metaforicamente, e
não é exagero afirmar que todo o dicionário da religião antiga era composto por metáforas (...), sendo pois uma fonte
contínua de equívocos, muitos dos quais consagrados na mitologia e na religião do mundo antigo" (Contributions on
the Science of Mythology, 1897, I, 68 ss.). Esta conexão da L. com o mito já fora feita por Viço, que, ademais, não
equiparara a formação do mito a uma doença da L. As doutrinas modernas do mito (v.) negam esta equiparação, mas
mantêm a conexão do mito com a L. Em sentido análogo, Croce estabeleceu a conexão da L. com a arte em geral.
Para ele, a L. tem natureza fantástica ou metafórica, estando, pois, mais estreitamente ligada à poesia do que à lógica.
"O homem" — afirma Croce — "fala a todo instante como o poeta, porque, assim como o poeta, exprime suas
impressões e seus sentimentos na forma que chamamos de conversação ou familiar, e que não está separada por um
abismo das outras formas que denominamos prosaicas, prosaico-poéticas, narrativas, épicas, dialogadas, dramáticas,
líricas, musicais, cantadas, e assim por diante" (Bre-viario di estética, 1913, II). Contudo, há um abismo existente (e
Croce afirma-o mais tarde) entre a expressão poética, que aplaca e transfigura o sentimento (sendo por isso um
conhecer), e os outros tipos de expressão (sentimental ou prosaica), que, estreitamente vinculados ao sentimento e à
idéia, não realizam a transfiguração própria da expressão autêntica e, portanto, nem podem chamar-se L. Para Croce,
são apenas "sons articulados" {Lapoesia, 1936, pp. 9 ss.). Essa conclusão, à qual Croce — não sem coerência —
levou a teoria em exame, mostra os limites dessa mesma teoria, que é incapaz de explicar a passagem da L. metáfora
para a L. conceituai, da L. que é grito, gesto ou outro "caráter poético" (segundo a expressão de Viço) para a L. que é
estrutura, organização e regra.
,•
d) A quarta forma é a da naturalidade da L., que a considera como expressão ou imagem
, da essência ou do ser das coisas. Essa doutrina
é bem antiga, pois sua primeira manifestação é
0
a teoria de Antístenes, segundo a qual "L. é
'; aquilo que manifesta o que era ou é" (DIÓG. L.,
VI, 1, 3). Os estóicos, por sua vez, jfirmaram_
que "falar significa pronunciar um som que sigv
híficã o"7iiBJêtõ-pensãac>w (SEXTOTWPTRÍCO, Adv. tnath., Vmr8üjrA~cãracterística dessa doutrina é que a atenção
não se volta tanto para signos ou palavras, mas para suas conexões sintáticas, para as regras de seu uso nas
proposições e nos raciocínios, portanto para as estruturas formais da L. A esta linha pertence propriamente a teoria
que denominamos de convencionalismo aparente ou coxo, segundo a qual os signos lingüísticos são escolhidos
arbitrariamente, mas seus modos de combinação não são arbitrários: são naturais e necessários porque correspondem
aos modos de combinação dos conceitos mentais, que, por sua vez, correspondem aos modos de combinação das
coisas. Essa teoria, desenvolvida por Aristóteles, foi reproduzida várias vezes pelo empirismo moderno e
contemporâneo (v. acima). Nesta forma, caracteriza-se pela inserção, entre o signo lingüístico e a coisa, do conceito
mental através do qual o signo lingüístico, em seus modos de combinação, passa a participar da necessidade objetiva
das coisas. Fundamento análogo tem a afirmação da naturalidade da L., feita por Fichte em Discursos á nação alemã
(1808), em que se afirma que "existe uma lei fundamental segundo a qual todo conceito assume um som através dos
órgãos; um som que é aquele e não outro" (IV, trad. it., Allason, p. 78), ou a afirmação de Hegel de que "a L. confere
às sensações, intui-ções ou representações uma segunda existência superior à existência imediata; uma existência
universal, que tem vigor no domínio da representação" {Ene, § 459).
Mas a tese da naturalidade da L. só foi retomada em sua forma rigorosa e, portanto, em seus princípios clássicos, pela
lógica matemática contemporânea. Esta de fato reafirmou o princípio da correspondência termo a termo entre os
signos lingüísticos e as coisas, princípio que os cínicos expressaram dizendo que a L. é aquilo que manifesta o que
uma coisa era ou é. Este princípio, que faz da L. a reprodução pietórica da realidade ou, em geral, do ser, foi
inicialmente defendido por Russell, mas sua formulação mais rigorosa está em Tractatus
LINGUAGEM
621
LINGUAGEM
logico-phílosophicus (1922) de Wittgenstein. O princípio era exposto por Russell da seguinte forma: "Em toda
proposição que podemos apreender (ou seja, não só aquelas cuja verdade ou falsidade podemos julgar, mas todas as
que pudermos imaginar), todos os constituintes são realmente entidades das quais temos conhecimento direto" ("On
Denoting", 1905, agora em Logic and Knowledge, 1956, p. 56; cf. Mysticism and Logic, 1918, pp. 219, 221; The
Problems of Philosophy, 1912, p. 91). Isso significa que a cada termo empregado nas proposições deve corresponder
um termo ou entidade objetiva da qual se tenha conhecimento direto (acquaintancé), ou que deve existir uma
correspondência termo a termo entre os elementos que entram na composição das proposições e as entidades de que
se tem conhecimento direto. Russell observa a propósito que "devemos atribuir um significado às palavras que
usamos se desejamos falar com algum significado e não por simples tagarelice, e o significado que atribuímos às
palavras deve ser algo do qual já tenhamos conhecimento" (Problems ofPhii, p. 91). Esta é simplesmente a reexposição da tese de Antistenes, segundo a qual falar significa dizer algo, mais precisamente algo que é, de tal forma que
não é possível dizer o que não é; acrescenta-se a isso que o que é, ou seja, as entidades correspondentes aos termos da
L., deve ser "diretamente conhecido". Russell baseava sua teoria da denotação nesse princípio: segundo ela, "quando
existe alguma coisa de que não temos conhecimento imediato, mas apenas uma definição com frases deno-tantes, as
proposições nas quais essa coisa é introduzida por meio de uma frase denotante não contêm realmente a coisa como
constituinte, mas os constituintes expressos pelas diversas palavras da frase denotante" ("On Denoting", Ibid., pp. 556). Assim, p. ex., como não temos experiência direta do espírito dos outros, se A é um desses espíritos, não sabemos
que "A possui esta e aquela propriedade", mas sabemos apenas que "Fulano de Tal tem um espírito com esta ou
aquela propriedade". Todavia, se pudesse haver uma L. ideal, ela deveria conter unicamente elementos constitutivos
últimos, de tal forma que nela "só haveria uma palavra, e não mais de uma, para cada objeto simples, e as coisas que
não fossem simples seriam expressas por uma combinação de palavras, cada uma das quais ali representaria uma
coisa simples" ("The Phil. of Logical Atomism", Logic
and Knowledge, pp. 197-98). Segundo Russell, a L. de Principia matbematica visa a ser a L. dessa espécie: nela só
existe sintaxe, sem vocabulário (Jbid., p. 198). E isso a equipara à linguagem proposta pelos doutos da Academia de
Lagado, de que fala Swift em Viagens de Gulli-ver: a proposta era abolir as palavras porque, "desde que as palavras
são apenas nomes para as coisas, seria mais cômodo as pessoas levarem consigo as coisas necessárias para expressar
os diversos assuntos sobre os quais pretendessem conversar". Por isso, aqueles sábios carregavam sacos repletos de
objetos e conversavam mostrando-se os objetos (Gulliver's Traveis, III, cap. 5).
O mesmo ideal foi expresso por Wittgenstein (primeira maneira) com fórmulas simples e precisas. Eis algumas: "O
nome significa o objeto: o objeto é o seu significado" (Tractatus, 3.203). "À configuração dos signos simples na
proposição corresponde a configuração dos objetos na situação" (Jbid., 3-21), "O nome é o representante do objeto na
proposição" ijbid., 5.22). Wittgenstein expressou com toda a clareza desejável o conceito de linguagem (que outro
não é senão "a totalidade das proposições", Lbid., 4.001) como representação pictórica do mundo. "A primeira vista"
— diz ele — "não parece que a proposição, assim como está, p. ex., impressa no papel, seja uma imagem da realidade
de que trata. Mas a notação musical, à primeira vista, tampouco parece uma imagem da música, assim como nossa
escritura fonética (em letras) não parece uma imagem da nossa L. falada. No entanto, esses símbolos demonstram ser
— inclusive no sentido comum do termo — imagens daquilo que representam" (Jbid., 4.001). Boa parte do
empirismo lógico e, em geral, da filosofia contemporânea compartilha ou compartilhou dessa doutrina da L. como
imagem lógica do mundo. A objeção fundamental a ela foi bem expressa por Max Black: "Não há motivo para a L.
'corresponder' ou 'assemelhar-se' ao 'mundo', assim como não há motivo para assemelhar-se ao mundo o telescópio
com que o astrônomo o estuda" (Language and Philosophy, V, 4; trad. it., p. 173).
É interessante constatar que no outro extremo da filosofia contemporânea, o metafísico ou ultrametafísico, tem-se
conceito análogo da linguagem. Heidegger certamente não admite a correspondência termo a termo entre os
elementos da L. e os elementos do ser, mas afirma com a mesma veemência de
LINGUAGEM
622
LINGUAGEM
Wittgenstein o caráter apofântico da L. em relação à totalidade do ser. Nesse sentido, denominou a L. de "casa do
ser". E acrescentou: "Falar em casa do ser não significa absolutamente transferir a imagem da casa para o ser; um dia,
partindo de um pensamento adequado da essência do ser, será possível chegar a compreender o que significam casa e
habitar ("Brief über den Humanismus", em Platos Lebre von der Wahrheit, 1947, p. 112). Em outros termos, a L. é a
revelação imediata do ser, e o homem tem acesso ao ser através da L.
3a A terceira doutrina fundamental da L. interpreta-a como um instrumento, como produto de escolhas repetidas e
repetíveis. Essa doutrina foi exposta pela primeira vez por Platão. Diante das duas teses opostas — convencionalidade e naturalidade da L. —, Platão evita decidir-se em favor de uma das duas. Em Crátilo afirma: "Gostaria que,
na medida do possível, os. nomes fossem semelhantes às coisas, mas temo que — como diz Hermógenes — essa
atração da semelhança nos leve para um terreno escorregadio e, assim, seja necessário lançar mão também de um
meio mais grosseiro, que é a convenção, para certificar-nos da exatidão dos nomes" (Crat., 435 c). Para Platão, os
nomes dos números, p. ex., dificilmente poderiam ser considerados naturais no sentido de serem semelhantes ao que
indicam. Mas se nem a convenção nem a natureza, ou seja, se nem a dessemelhança nem a semelhança entre a
palavra e a coisa constituem o significado, o que é então que o constitui? O uso. Platão diz: "Se o uso não é uma
convenção, seria melhor dizer que não é a semelhança a maneira como as palavras significam, mas antes o uso: este,
ao que parece, pode significar tanto por meio da semelhança quando da dessemelhança" (Crat., 435 a-b). Platão
expressou aqui uma tese fundamental da lingüística moderna: é somente o emprego que estabelece, ou melhor,
constitui o significado das palavras. Mas essa tese pressupõe outra, do caráter instrumental da L., que Platão
expressou ao dizer que a L. é um instrumento e que, como todo instrumento, deve ajustar-se ao seu objetivo (Crat,
387 a). Desse ponto de vista, o uso é a escolha repetida ou convalidada que levou a forjar determinado instrumento
lingüístico; e, assim como todos os outros instrumentos, os lingüísticos também podem resultar mais ou menos
perfeitos e adequados à sua finalidade. Justifica-se assim aquilo que, para Platão, é a
tese filosófica fundamental acerca da L.: a falibilidade da L., a possibilidade de dizer o que não é (Sof., 261 b). A
característica comum das duas doutrinas precedentes, como vimos, é a negação dessa tese. A tese do convencionalismo nega que a L. possa incluir o erro porque uma convenção só pode ter o mesmo valor de uma outra. A tese da
naturalidade nega que a L. possa incluir o erro porque deve reconhecer que a L. representa, de qualquer forma, aquilo
que é, estando portanto sempre no campo da verdade. Ambas as teses excluem que a L. possa ser julgada ou que o
juízo sobre a correção tenha sentido. Ao contrário, a tese da L. como operação, uso, escolha, inclui essa possibilidade,
pois que vê nela o produto de operações destinadas a constituir um instrumento eficaz e não considera infalível o
sucesso dessas operações. O fundamento objetivo dessa possibilidade é que "o discurso nasce da união recíproca das
espécies" (Sof, 259 d), e que as espécies não estão todas unidas nem todas desunidas, mas algumas podem juntar-se e
outras não. As possibilidades da L., portanto, são limitadas pelas possibilidades de combinação das espécies ou
formas do ser (Sof., 262 c).
Essa posição de Platão foi reproduzida por Leibniz: "Sei que se costuma dizer nas escolas e em todo lugar que os
significados das palavras são arbitrários (ex instituto), e é verdade que não são determinados por uma necessidade
natural, mas são por força de razões naturais, nas quais o acaso desempenha algum papel, e às vezes por razões
morais, nas quais se inclui a escolha" (Nouv. ess., III, 2, 1). Herder partia da mesma consideração preliminar e definia
como abstração a escolha que se faz de uma qualidade do objeto com a finalidade de dar-lhe um nome. "O homem
põe em ação a reflexão não só quando percebe vivida e claramente todas as qualidades de um objeto, mas também
quando pode reconhecer uma ou mais delas como qualidades distintivas. (...) E com que meios efetua tal
reconhecimento? Através da sua capacidade de abstração" (Werke, ed. Suphan, V, p. 35). Foi a partir dessa tradição
que Humboldt formulou a doutrina que depois exerceria tanta influência sobre a moderna ciência da L. Desse ponto
de vista, a formação dos instrumentos lingüísticos é a formação de conexões, de symploké (como dizia Platão);
portanto, a L. não é um complexo atomístico de palavras, mas é discurso organizado. Hum-
LINGUAGEM
623
LINGUAGEM
boldt expressava claramente este conceito: "Não podemos conceber que a L. tenha início na designação dos
objetos por meio de palavras e que proceda, num segundo momento, à organização dessas palavras. Na realidade, o
discurso não é composto por palavras que o precedem, mas, ao contrário, as palavras se originam do discurso"
("Einleitung zum Kawi-Werk", Werke, VII, 1, pp. 72 ss.). Portanto, a comunicação não se realiza a partir da palavra,
mas das frases, e só estas são os instrumentos particulares que formam a L. Qbid., pp. 169 ss.). Essas idéias
dominaram e continuam dominando a ciência da L. Encontram-se incorporadas nos conceitos utilizados por essa
ciência, como p. ex. o de fonema. Fonema é "a unidade mínima dotada de características sonoras distintivas"; é,
portanto, uma unidade de significado, não de som (BLOOMFIELD, Language, 1933, 5. 4). Cada língua escolhe seus
fonemas, mas essa escolha não pode ser qualificada de "casual" ou "arbitrária", nem de "natural" ou "necessária",
porque uma escolha condiciona ou limita as outras, e cada grupo ou série delas é condicionada pela exigência de
eficácia comunicati-va da L. Portanto, os fonemas podem ser reduzidos a tipos, que a ciência da L. se propõe
determinar. A determinação desses tipos fornece o fundamento das escülhas que constituem as estruturas
fundamentais da L. e assim explica, até certo ponto, essas estruturas, sem justificar sua perfeição ou sua
infalibilidade. Na lingüística contemporânea, a concepção de L. como instrumento é defendida principalmente pelos
funcionalistas, que consideram a L. como "instrumento de comunicação", através do qual a experiência humana se
analisa em monemas que têm um conteúdo semântico ou uma forma fônica: "esta, por sua vez, articula-se em
unidades distintas e sucessivas, os fonemas, cuja natureza e cujas relações variam de uma língua para outra"
(MARTINET, A Functional View of Language, 1962, cap. I).
4a A quarta concepção da L., que denominamos de acaso, na realidade é uma especificação da terceira, ou melhor, é
uma perspectiva de estudo aberta pela terceira concepção. Essa perspectiva é constituída pelo estudo estatístico da L.
Sabe-se que as ações individualmente mutáveis e imprevisíveis apresentam uniformidade e constância se
consideradas em grande número. Certamente não se pode prever se certa pessoa vai casar-se o ano que vem, mas é
possível prever com suficiente aproximação o número de pessoas que se casarão no próximo ano, em determinada
comunidade, com base em estatísticas dos últimos anos. Da mesma forma, podem ser estudadas as freqüências
estatísticas com que determinadas expressões ocorrem numa comunidade suficientemente ampla para que possam ser
fixadas certas constantes estatísticas da L. e tomá-las como base para o estudo das estruturas lingüísticas. Com
certeza tal pesquisa estatística não é indispensável para o estudo global da L. Também há outro método, de
observação sociológica, no qual o observador lingüístico, participando da vida de uma comunidade, pode descrever
os usos lingüísticos. Esse, aliás, é o método até agora mais adotado pelos glossologistas, que em raras ocasiões, quase
exclusivamente ao tratarem com obras literárias, recorreram ao método estatístico. A propósito, pode-se lembrar a
obra de Lu-toslawski sobre o estilo de Platão {The Origin and Growth of Plato's Logic, 1897), que conseguiu pôr em
bases novas e mais seguras a cronologia dos textos do filósofo. Mas hoje não faltam propostas para o uso sistemático
do método estatístico com vistas à solução de todos os problemas da lingüística estrutural. G. Herdan diz a propósito:
"Se considerarmos a língua como a soma dos signos lingüísticos mais a probabilidade de que eles se repitam no
discurso individual, portanto nos vários modos como o evento sígnico pode ocorrer em conjunto com as relativas
freqüências dos diferentes signos no uso efetivo, a concepção corresponderá a todas as exigências daquilo que se
chama população estatística de tais eventos, ou seu universo estatístico. Cada enunciado individual (parole, na
terminologia de Saussure) serve de amostra dessa população" (.Language as Choi-ce and Change, 1956, 1.3). Desse
ponto de vista, se examinarmos textos diferentes de uma mesma língua, descobriremos, por exemplo, que as
freqüências relativas com que determinado fonema foi empregado pelos escritores são mais ou menos as mesmas.
Isso autoriza a considerá-las como flutuações da probabilidade constante desse fonema naquela L. Isso significa que o
falante ou escritor obedece a leis aleatórias, e que só quando se consideram grandes massas de formas lingüísticas é
que se tem a impressão de determinação causai em seu uso. Em outros termos, aqui estaria ocorrendo o que acontece
na física, para a qual o determinismo
LINGUAGEM, ANÁLISE DA
624
LÓGICA
macroscópico é apenas o efeito de uma consideração em massa dos eventos microscópicos. Para os defensores dessa
concepção de L., portanto, aquilo que, do ponto de vista intuitivo, aparece na L. como relação de causa e efeito (a
determinação das escolhas lingüísticas), do ponto de vista quantitativo é apenas acaso. Assim, segundo essa teoria, as
diferenças entre os textos não são explicadas pela intenção dos falantes ou pelo determinismo causai, mas pelas leis
estatísticas aleatórias (HERDAN, op. cit., 1.4; C. E. SHANNON e W. WEAVER, The Mathematical Theo-ry of
Communication, Urbana, 1949).
Esse ponto de vista, por um lado, possibilitou as pesquisas da gramática gerativa, que é "um sistema de regras que,
de modo explícito e bem definido, atribuam descrições estruturais aos enunciados" (CHOMSKY, Aspects of Theory
ofSyntax, 1965, p. 8). Por outro lado, possibilitou o uso de modelos (v. MODELO) que algumas vezes são considerados
constituintes da própria realidade sistemática da L. (SAPIR, Lan-guage, 1921) e outras vezes constructos, ou seja,
estruturas hipotéticas oportunamente construídas (REVZIN, Models ofLanguage, 1966, § 2). V.
ESTRUTURAS; ESTRUTURALISMO.
LINGUAGEM, ANÁLISE DA. V. EMPIRISMO
LÓGICO.
LINGUAGEM FECHADA. V. LlNGUAGEMOBJETO.
LINGUAGEM FORMALIZADA. V. SISTEMA
LOGÍSTICO.
LINGUAGEM-OBJETO (in. Object-langua-gé). Esta noção surge em correspondência com a de metalinguagem
(v.) toda vez que uma linguagem é considerada "semanticamente fechada", por não conter, além de suas expressões,
os nomes dessas expressões ou termos (como "verdadeiro" e "falso") que a elas se refiram. Neste caso, é necessário
distinguir a linguagem da qual se fala, que é o assunto da discussão, e a linguagem com a qual se fala, com a qual
desejamos construir a definição de verdade para a primeira linguagem. Esta última é a metalinguagem, a primeira é a
L. A distinção entre L. e metalinguagem foi introduzida pelos lógicos poloneses por volta de 1919 e difundida por
Tarski (cf. "The Semantic Conception of Truth", 1944, em Readings in Philosophical Analysis, 1949, p. 60). Essa
distinção foi aceita por Car-nap (Foundations of Logic and Mathematics, 1939, § 3). Por vezes, todavia, a L. e a
metalinguagem coincidem, como p. ex. quando se fala em italiano sobre o italiano. A distinção
vale sobretudo para as linguagens formalizadas (v.).
LÍNGUA GESTUAL (in. Sign languagé). Com este termo entende-se a linguagem constituída por gestos; segundo
as chamadas teorias psicológicas da linguagem, constitui a primeira fase de todas as linguagens. Wundt distinguiu
duas espécies de gestos: indicativo e imítatívo. O gesto indicativo derivaria biologicamente do movimento de agarrar
(Die Sprache, Vólkspsy-chologie, I, 2a ed., p. 129). Também foram estudadas determinadas L. gestuais, como a dos
napolitanos de classe baixa, a dos monges trapistas (que fazem voto de silêncio), a dos índios da América e de alguns
grupos de surdos-mudos.
LÍRICO (in. Lyric; fr. Lyrique, ai. Lyrisch; it. Lírico). Adjetivo empregado por Croce para especificar a expressão
artística como expressão do sentimento: "O que confere coerência eu nidade à intuição é o sentimento: a intuição só é
intuição porque representa um sentimento e só pode surgir dele e sobre ele. (...) Ética e lírica, ou drama e lírica, são
divisões escolásticas do indivisível: a arte é sempre lírica, ou seja, expressão ética e dramática do sentimento"
(Breviá-rio di estética, 1912, em Nuovi saggi di estética, p. 28). Para Croce, o lirismo constitui o caráter subjetivo ou
romântico da arte.
LITIGIOSUS. Assim foi denominado o dilema de Protágoras e de seu aluno Evatlos (AULO GÉLIO, Noct. Att, V, 10)
(v. DILEMA). LIVRE-ARBÍTRIO. V. LIBERDADE. LÓGICA (in. Logic; fr. Logique; ai. Logik; it. Lógica). A
etimologia dessa palavra (de AÓ70Ç, que significa "palavra", "proposições", "oração", mas também "pensamento") é
tão equívoca quanto a noção que encerra. Em Aristóteles, cujo grupo de textos, reunidos no Organon, constitui o
primeiro estudo amplo dessa disciplina, falta a palavra para designá-la. No início de Analíticos, o trabalho mais
estritamente "lógico" dessa coleção, Aristóteles define, sem dar nome, a disciplina que se prepara para investigar
como ciência da demonstração e do saber demonstrativo (An. pr, I, 24 a 10 ss.), mas num texto não muito claro. Seus
objetos são relacionados na seqüência do trecho: a proposição (como enunciado apofântico, inserido num discurso
demonstrativo), seus termos (sujeito e predicado) e o silogismo. Aqui e em outros textos (principalmente em Tópicos
e Retórica), Aristóteles distingue dois tipos de discurso, dia-
LÓGICA
625
LÓGICA
lético e demonstrativo: o primeiro parte do problemático e do provável e termina necessariamente no provável; o
segundo parte do verdadeiro e termina no verdadeiro. Mas, à parte o valor cognitivo da premissa, adverte que,
formalmente, os dois discursos são idênticos: consistem sempre no silogismo e em suas estruturas típicas. O termo
Ào-yi^r) (subentendido %í%vr\) encontra-se nas obras dos estóicos para indicar a arte do discurso persuasivo em
geral: divide-se, portanto, em retórica e dialética, contendo esta última aquilo que será o objeto fundamental da L., a
doutrina do discurso demonstrativo e dos objetos a ele ligados (proposição, termos, silogismo, etc). É só nos
comentadores peripatéticos e platônicos de Aristóteles, ou nos textos dos ecléticos que a estes se referem (como
Cícero ou Galeno), todos influenciados pela terminologia dos estóicos, que o termo "L.", empregado estritamente
como sinônimo de "Dialética", é introduzido como nome da doutrina cujo cerne se encontrava em Analíticos de
Aristóteles, ou seja, a teoria do silogismo e da demonstração. Boécio dá o nome de "L." (também aqui alternado com
"Dialética") ao conjunto de doutrinas contidas no Organon de Aristóteles, ao qual se soma, como uma espécie de
introdução geral, a Isagoge de Porfírio. E assim, durante toda a Idade Média (pelo menos a partir do séc. XII), a
exposição, o estudo e o comentário da Isagoge de Portírio, seguida pelos livros do Organon (na ordem que se tornou
tradicional: Categorias, De interpretatione, Primeiros analíticos, Segundos analíticos, Tópicos, Refutação dos
sofistas), freqüentemente com os comentários e as traduções ou reduções de Boécio, constituem uma ars (uma das
"sete artes liberais") conhecida, indiferentemente, por Dialética ou Lógica. A diferença, introduzida durante o séc.
XIII, entre ars vetus e ars nova não tem muita relevância tratando-se de uma distinção meramente histórica e didática
entre os livros de Porfírio e de Aristóteles, de longa data conhecidos na tradução de Boécio (Isagoge, Categorias, De
interpretatione), e os livros que se tornaram conhecidos depois, com a difusão de novas traduções latinas do
Organon. Em síntese, o ensino da L. em fins da Idade Antiga e na Idade Média compreendia os seguintes assuntos: l fi
a teoria das quinque vocês ou predicáveis (gênero, espécie, diferença, próprio, acidente); 2- teoria das categorias ou
predicamentos (substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse,
ação, paixão); 3B doutrina das proposições e regras de conversação; 4a doutrina do silogismo categórico; 5° doutrina
do silogismo hipotético; 6S dialética: d) tópica; b) doutrina dos sofismas ou fallaciae. Estas podiam ser agrupadas em
três partes: doutrina dos termos, doutrina das proposições, doutrina do raciocínio (categórico ou hipotético, apodítico
ou dialético). A estas partes de origem aristotélica, ou (através de Boécio) estóica, o pensamento medieval
acrescentou algumas doutrinas que constituem uma contribuição original à tradição L. do Ocidente — doutrina da
designação e denotação (de proprietatibus terminorurri), doutrina dos signos lógicos e das proposições moleculares
(de syncategorematious), doutrina da implicação material (de consequentiis) — todas pertencentes à parte da L. que
hoje se denomina "semântica".
Para compreender as transformações havidas durante a Idade Média, não só na tradição doutrinária, mas também no
âmbito dos objetos incluídos no nome "L.", é necessário atentar para algumas considerações. Uma vez que
Aristóteles estava mais preocupado em criar a nova disciplina do que em fundamentá-la, e ainda mais preocupado em
criar suas doutrinas fundamentais para aplicá-las a problemas filosóficos "concretos" (principalmente à metafísica e à
ética) do que em desenvolvê-las e expô-las sistematicamente, a L. não só ficou sem nome próprio para designá-la,
como também permaneceu equívoca em termos de status como disciplina e pouco determinada em termos de
matéria subiecta. Quais são propriamente os objetos de que a L. se ocupa? Entidades reais, pensamentos ou formas
do discurso? Esse problema se apresenta já na Antigüidade tardia. Os universais (categorias, gêneros, espécies), que
parecem constituir propriamente os elementos nos quais se resolve o discurso lógico, são substâncias reais ou não?
Em Isagoge, Porfírio formula o problema, Boécio tenta uma solução que, todavia, gira em círculo e se mostra
insatisfatória; disso resultou a disputa medieval entre realistas (Bernardo de Chartres, Guilherme de Champeaux,
Anselmo de Aosta e outros), que afirmam a existência real dos universais e para os quais a L. é uma espécie de
ontologia, e os nominalistas (Roscelin, Abelardo e mais tarde Guilherme de Ockham), que negam a subsistência
ontológica dos universais. Discutindo a questão dos universais, através de um profundo comentário ao texto de
Boécio,
LÓGICA
626
LÓGICA
Abelardo é o primeiro a fixar um plano próprio da L.: esta é scientia sermocinalis, os termos da L. são sermones,
portanto palavras, discursos; não meros sons {flatus voeis, como parece ter sustentado Roscelin), mas palavras com
uma intenção (intentió) significativa, vale dizer destinadas a significar coisas, ou melhor, qualidades, dadas na
experiência. A partir de então, definem-se na L. medieval duas correntes ou métodos (viaé): a via antiqua (ou
antiquo-rutri), fiel à tradição realista, portanto de tendência ontológica, e a via moderna (ou moder-norurri), que
desenvolve uma L. "terminista", ou seja, puramente sermocinalis, em que os termos do discurso são considerados
como tais, independentemente de qualquer hipótese metafísica sobre a existência real ou não de seu objeto. Foi esse,
substancialmente, o ponto de vista que se firmou na L. a partir do séc. XIII e no qual se basearam os textos escolares
desta disciplina, usados até o início da Idade Moderna, como as Summulae logicales de Pedro Hispano (séc. XIII); a
partir daí difundiu-se definitivamente a convicção de que a questão dos universais pertencia mais à metafísica e à
gnosiologia do que à L., que permanece relativamente indiferente a eventuais respostas dadas a esse problema.
Contudo, impor-se-ia uma outra distinção, que em parte chegou até nossos dias, no que se refere ao objeto da L.; para
uns, fatos mentais (Duns Scot, mas também S. Tomás de Aquino e alguns nominalistas); para outros, não se trataria
propriamente de atos mentais, mas de formas estruturais intencionalmente dirigidas para a constituição de conteúdos
semânticos, e, como formas, independentes tanto de tais conteúdos quanto dos atos mentais em que tais conteúdos
são apreendidos (Buridan e seus continuadores dos sécs. XIV e XV; Alberto de Saxônia, Nicola de Au-trecourt,
Marsílio de Inghen e outros). Esta última posição, retomada por E. Husserl (e de maneira menos clara por B. Russell
e por L. Wittgenstein), determinará o atual renascimento da concepção da L. como formal pura.
Entrementes, propunha-se outro problema: a L. é ciência ou arte? Vale dizer: tratar-se-à de uma disciplina que, como
p. ex. a matemática, expõe relações objetivas subsistentes entre os seus objetos (p. ex., entre as premissas do
silogismo e a sua conclusão) ou uma técnica para obter discursos corretos e verdadeiros? Em geral, para os lógicos
medievais a L. é as duas
coisas; e, como arte, seria ao mesmo tempo um preceituário {Lógica docens) e um exercício ativo de discurso ou
discussão controlado por esses preceitos {Lógica utens). A reação humanista contra a Escolástica, no campo da L.,
leva à exaltação deste último aspecto e a uma áspera polêmica contra o formalismo tradicional (Coluccio Salutati,
Lorenzo Valia e outros). À L. "inglesa" (terminista), que, no ensino e no exercício escolar, perdia-se muitas vezes em
estéreis argúcias e ardis disputativos (como a antiga erística dos tempos de Platão e Aristóteles), é contraposta a L.retórica, na maioria das vezes de inspiração ciceroniana, como busca dos meios de persuasão pelo discurso e ao
mesmo tempo disciplina heurística para a procura das verdades no campo das coisas naturais e humanas (históricas e
éticas). Esse movimento de reforma da L. culmina no ramismo (de Petrus Ramus, ou seja, Pierre de Ia Ramée). Ao
lado dessa corrente deve-se lembrar outra, de inspiração peripatética, surgida em Pádua no séc. XVI, cujos expoentes
máximos foram Fracastório e Zabarella, que centralizaram suas indagações no problema da inferência indutiva, suas
dificuldades e seus pressupostos, ao qual o trabalho de Aristóteles apenas aludira. Também nestes lógicos (ainda que,
naturalmente, em formas menos drásticas que nos retores humanistas), o interesse pelas estruturas formais do
discurso dedutivo diminui muito em favor de uma concepção pragmática e metodológica da ciência da L. No início
do séc. XVII, Francis Bacon em certo sentido leva a cabo esse processo, tentando, com Novum Organum (cujo nome
é programático) uma reforma radical da L., concebida exclusivamente como metodologia científica geral. Descartada
quase por inteiro a tradição L. peripatético-escolástica (centrada na teoria formal do silogismo), a L. humanista (de
Ramus e outros) também destaca os aspectos mais propriamente metodológicos, com a finalidade de transformá-los
em "instrumento" para guiar e enquadrar a investigação científica. Com isso, a antiga noção de "L." muda
completamente. O desinteresse pelo formalismo lógico e, em seu lugar, o interesse pelos problemas gno-siológicos,
psicológicos e metodológicos de uma Lógica utens acentuam-se durante a Idade Moderna, de tal forma que, durante
os sécs. XVII, XVIII e XIX, L. passa a ser o nome de uma série heterogênea de disciplinas filosóficas, ensinadas nas
escolas, "matéria" cujos ma-
LÓGICA
627
LÓGICA
nuais expõem várias coisas diferentes: ao lado da silogística tradicional (freqüentemente reduzida a poucas noções e
mantida mais por razões de tradição do que por interesse real), encontram-se anotações metodológicas, esboços de
teoria do conhecimento, análises de determinados conceitos gerais, etc. Típica nesse aspecto é a Art depenser dos
mestres de Port-Royal, também conhecida pelo nome de Lógica de Port-Royal, que durante longo tempo foi o texto
mais importante dessa disciplina e o modelo adotado e compendiado com maior ou menor fidelidade pelos demais
tratados.
Todavia, o "renascimento" da geometria euclidiana, que teve início no séc. XVI e prosseguiu triunfalmente (pelo
menos no que diz respeito ao aspecto lógico-formal) até quase os nossos dias, repropõe, juntamente com o modelo do
"rigor" euclidiano, o problema de fixar as estruturas discursivas que constituem esse rigor e das quais este resulta.
Descartes (Regulae ad directionem ingenii, Discours de Ia mé-thodê) e depois Pascal (Esprit de géométrie e Art
depersuader) começam a extrapolar, em forma de regras metodológicas, alguns aspectos desse "rigor", remetendo-se
(mesmo em polêmica com a silogística tradicional) ao terreno de indagações das formas estruturais de uma
linguagem perfeita (aqui, a linguagem matemática) e repropondo, portanto, alguns problemas fundamentais de L.
formal, como o da definição (nominal e real) e o da validade da dedução a partir de axiomas. Simultaneamente,
Hobbes, partindo também do euclidianismo da nova ciência (galileana) da natureza, dava um passo decisivo rumo à
concepção da moderna L. formal pura. De fato, Hobbes introduz a profícua idéia do raciocínio como "cálculo
lógico", como combinação e transformação de símbolos segundo certas regras, que já em Hobbes se mostravam — e
depois cada vez mais — convencionais (seja qual for a maneira de se entender posteriormente esse
"convencionalismo"). Portanto, na história do pensamento, aparecia aquele convencionalismo que estava destinado a
ser o ponto de vista mais eficaz para isentar a L. de todos os pressupostos dogmáticos e metafísicos, para libertá-la
das contaminações psicologizantes (que continuarão a obstar seu desenvolvimento quase até nossos dias) e
organizá-la como disciplina das estruturas formais do discurso "rigoroso", segundo determinados modelos
ideolingüísticos. Contudo o ponto de vista convencionalista não estava destinado a agir imediatamente sobre o pensamento lógico moderno, que nos filósofos acima citados foi buscar sobretudo a
idéia do cálculo lógico baseado na distinção das idéias em simples e complexas e na analogia (meramente formal)
entre certas operações lógicas e certas operações aritméticas. Representando os termos com símbolos genéricos (p.
ex., letras do alfabeto: a, b, c,..., x, y, z; X, Y, Z; e semelhantes) e as operações lógicas com símbolos vários
(geralmente tomados de empréstimo à aritmética: +, x, =; etc.) é possível tentar desenvolver uma doutrina matemática
(formal) do discurso. Leibniz fez numerosas tentativas neste sentido, todas porém infrutíferas e por ele abandonadas;
outras tentativas desse tipo (analogamente infrutíferas) foram feitas pela própria escola leib-niziana, como p. ex. por
Lambert, Holland, Cas-tillon. Porém, mais do que nessas tentativas — talvez supervalorizadas pelos lógicos
matemáticos do nosso século —, a importância de Leibniz para o renascimento da L. após a crise desencadeada pelo
Humanismo está na idéia (amplamente desenvolvida pelos seus seguidores alemães do séc. XVIII, Lambert, Wolff,
Crusius) de uma "arquitetônica da razão" (não mais concebida psicologicamente, mas de tal maneira que prenunciava
o ponto de vista "transcendental" da filosofia posterior), explicitada nas formas e estruturas do discurso; essa
"arquitetônica" constituirá o objeto da L. A herança leibniziana foi recolhida por Kant, que, em Logik, distingue
nitidamente a L. da psicologia (com a qual os Iluministas tendiam a confundi-la) e da ontologia (com a qual alguns
leibnizianos, particularmente Crusius, tendiam a confundi-la), afirmando o caráter de doutrina formal pura: não do
discurso, mas do pensamento,donde as possibilidades de recaída numa espécie de psico-logismo transcendental,
inerentes ao kantismo. De fato, como se sabe, ao lado da L. formal pura, Kant coloca uma L. transcendental como
doutrina das funções puras da consciência; os idealistas, em particular Fichte e Hegel, ao acentuarem tal interpretação
psicologizante e transcendental, resolverão ambas as partes da L. kantiana na parte transcendental, interpretando
depois esta última como uma espécie de "metafísica da mente" ou do "pensamento". Desde então, em vastas zonas da
filosofia contemporânea, todas elas mais ou menos influenciadas pelo idealismo, o termo "L." perdeu inteiramente o
sentido tradicional para retornar à acepção iluminista de "filosofia do pensamen-
LÓGICA
628
LÓGICA
to" em geral. O fim do séc. XIX apresenta exatamente esse quadro. A L. é entendida como uma "teoria do
pensamento", portanto tratada com métodos naturalistas pelos positivistas (p. ex. Sigwart, Wundt e outros), e com
métodos metafísico-transcendentais pelos idealistas. Hus-serl (Logische Untersuchungen, I, 1900-1901) criticou
profundamente este ponto de vista e, retomando as idéias de um lógico boêmio esquecido, B. Bolzano (
Wissenschaftslehre, 1838), repropõe a idéia da L. formal pura como doutrina das proposições em si (em sua pura apofanticidade lógica, logo independentes dos atos psicológicos em que são pensadas e da realidade sobre a qual versam)
e da pura dedução de proposições a partir de outras proposições (em si). Já nessa primeira obra, porém ainda mais nas
seguintes (particularmente em Formate und transzendentale Logik, 1928), Husserl retoma a idéia da razão como
"razão formal", ou seja, pura arquitetônica do pensamento que se explicita historicamente na atividade científica, por
um lado, e na reflexão lógica, por outro.
O renascimento da L. formal pura, característica da época contemporânea, deveria ocorrer, porém, graças à retomada
e ao desenvolvimento — com idéias mais claras e maior independência em relação a doutrinas metafísicas — das
malogradas tentativas de Leibniz de construir a nossa disciplina na forma de cálculo simbólico. Esta obra foi iniciada
por um grupo de filósofos e matemáticos ingleses em meados do século passado. G. Bentham, W. Hamilton, A. De
Morgan empreenderam o esforço, historicamente decisivo, que viria a transformar a L. em disciplina matemática,
superando o obstáculo contra o qual se haviam chocado as tentativas de Leibniz: o fato de, na L. aristotélica, as
considerações quantitativas serem introduzidas apenas com relação ao sujeito da proposição, e não com relação ao
predicado. Deve-se sobretudo a Hamilton a chamada "quantificação do predicado", que é a análise das proposições
segundo formas que introduzem quantificadores ("todos", "algum") não só para o sujeito, mas também para o
predicado, interpretando, p. ex.. uma proposição do tipo "todos os homens são mortais" como "todos os homens são
alguns mortais". Na realidade, não se trata de mera "correção" à L. aristotélica (em que a omissão de quantificadores
para o predicado não era absolutamente casual), mas da introdução de um ponto de vista novo, puramente
extensional, para o qual os conceitos são considerados apenas como classes ou coleções de objetos, e as proposições
são interpretadas como inclusões (ou exclusões) totais ou parciais de classes em (ou de) classes (em "todos os homens
são mortais", "a classe 'homem' está incluída na classe 'mortal'"). Desse modo, a Analítica de Aristóteles
(compreendendo principalmente a teoria da conversão e a do silogismo) era transformada em — era substituída por
— uma espécie de cálculo das classes. Partindo desses estudos, uma série de lógicos e matemáticos ingleses (C.
Boole, Jevons, Venn, Whitehead) e outros (Schrõder, Poretsky, Cou-turat) criaram uma disciplina mais formalizada e
muito mais independente da L. tradicional, a Álgebra da Lógica, um cálculo ambivalente (ou seja, interpretável como
cálculo de classes e como cálculo de preposições) cuja forma exterior em tudo se assemelha à álgebra simbólica
comum, porém com algumas peculiaridades, como p. ex.: as equações só podem assumir os valores 1 ("universo de
discurso", ou "verdadeiro") ou 0 ("classe vazia", óu "falso"); a . a= ae a + a= a; etc. Essa álgebra da L. fornecerá os
conceitos básicos e muito material doutrinário à Lógica matemática, criada entre o fim do séc. XIX e o início do séc.
XX por G. Frege, G. Peano e B. Russell, que culmina em Principia mathematica de Russell e A. N. Whitehead, obra
publicada entre 1900 e 1913- Nela, a L. passava a ser constituída por duas disciplinas fundamentais: o cálculo
proposicional, segundo as operações principais de negação, disjunção ou afirmação alternativa, conjunção ou
afirmação simultânea, implicação material, e o cálculo das funções proposicionais (enunciados que contêm
variáveis); este último dá origem à consideração de enunciados gerais e enunciados particulares ou existenciais,
mediante os operadores "para cada x" e "existe pelo menos um .xtal que" (resp. 'Cr)', e '(3*)'.). Desta última doutrina
deriva a dos símbolos incompletos: descrições (como "o rei de França") e classes. O cálculo das classes, portanto, não
é mais uma doutrina fundamental da L., sendo derivável do cálculo das funções proposicionais: todavia, devido à sua
importância, muitos lógicos contemporâneos ainda o consideram um capítulo à parte (o mesmo ocorre com as
relações). Posteriormente, Wittgenstein, em Tractatus, enunciará uma espécie de segunda tese extensional para as
proposições: distinguindo proposições
LÓGICA
629
LÓGICA
atômicas (simples) de moleculares (complexas), afirmará que estas últimas dependem, para serem verdadeiras ou
falsas, da verdade ou da falsidade dos componentes atômicos somadas às regras semânticas das operações de
composição (p. ex., o enunciado "pou q" será verdadeiro se, e somente se, pelo menos p ou q for verdadeiro): donde a
formulação do cálculo proposi-cional com base em certos diagramas lógicos meramente combinatórios. Partindo
deles, no período entre as duas guerras mundiais, alguns lógicos (principalmente poloneses) tentaram elaborar lógicas
polivalentes em que outros enunciados além de 1 ("verdadeiro") e 0 ("falso") podem assumir valores intermediários.
Faltava ainda, em Principia, obra exclusivamente voltada para a fundação da aritmética dos números naturais, um
trabalho sobre a lógical mo-dal, ou seja, um cálculo de valores modais como "possível", "necessário", etc, que será
tentado posteriormente por lógicos como Lewis e Von Wright.
A L. matemática tinha sobretudo dois objetivos: ls constituir a disciplina matemática fundamental; todas as demais
matemáticas — segundo a tese logicista defendida por Frege e por Russell — seriam suas ramificações mais ou
menos, complexas, mas sempre com o mesmo material conceituai e nele reintegráveis; e 2 S constituir (de acordo com
o programa formalista de Peano, desenvolvido posteriormente por D. Hilbert) métodos de formulação rigorosa e de
controle lógico das disciplinas matemáticas propriamente ditas. A L. torna-se, assim, um instrumento de análise
filosófica. Graças a Russell e Wittgenstein, passa a constituir uma espécie de linguagem ideal ou perfeita, ou melhor,
o esquema geral (porque meramente simbólico) de semelhante linguagem, segundo o qual depois seriam construídas
linguagens (ou fragmentos de linguagens) científicas, nas quais deveriam ser traduzidos e, assim, analisados segundo
as estruturas lógicas dessa linguagem os enunciados de cada disciplina em exame. Sob esse aspecto, a L. simbólica de
Russell não está mais estreitamente ligada às matemáticas como tais: é a L. tout court, instrumento de análise
científica e geral. E também foi aplicada à análise filosófica pelo próprio Russell, por Wittgenstein, por Wisdom e em
seguida (com total abandono dos pressupostos metafísicos do atomismo lógico de Russell) pelos empiristas lógicos.
Mas o programa de Russell, centrado na noção de linguagem ideal, foi alvo de severas críticas, principalmente — mas não apenas — por parte dos "analistas do uso", de Oxford. Por outro lado, em outros
setores (p. ex., na escola alemã proveniente de Hilbert e de Scholze, e na escola polonesa de Lukasiewicz e Tarski)
prevaleceram os interesses matemáticos e o interesse pela própria L. como disciplina estritamente matemática. Essa é
a origem da cisão (por ora parcial) da L. numa série de disciplinas cada vez mais formalizadas e matematizadas, com
todos os complexos problemas inerentes à formalização de uma disciplina matemática fundamental (a
metamatemáticd), para a qual não se pode usar uma outra linguagem formali-zante sem cair num círculo: donde os
problemas enfrentados por Gõdel, Hermes, Tarski e em parte também por Carnap. Entretanto, na ex-escola de Viena
(atualmente escola de Chicago) e sob a influência de outras correntes (neopositivismo inglês, pragmatismo
americano), principalmente por obra de Morris, Carnap e Hempel, a L. recebeu orientação sobretudo analíticofilosófica, com tendência a tornar-se parte de uma disciplina bem mais ampla, a semiótica ou teoria geral dos signos
(cuja parte mais interessante é a teoria da linguagem), criada por Ch. W. Morris sob o duplo impulso da sintaxe lógica
de Carnap e da Lógica de De-wey. Com o abandono dos pressupostos cons-ciencialistas ou mentalistas, bem como
das veleidades metafísicas, a ciência do pensamento torna-se ciência da linguagem, que é um comportamento humano
típico e fundamental. A análise lógica torna-se análise lingüística, mas aquilo que a tradição considerava dimensão
"L." é somente uma das dimensões da linguagem, ou melhor, duas (segundo Morris e Carnap, numa distinção
amplamente aceita, mas hoje também muito controversa): a dimensão sintática, na qual os signos que compõem o
discurso (a linguagem) interligam-se segundo regras de formação e transformação (derivação) relativas à única forma
do próprio discurso; e a dimensão semântica, na qual o discurso e os enunciados que o compõem podem ser
verdadeiros ou falsos, ou seja, tratam de fatos e eventos; conseqüentemente — o que muitos filósofos, p. ex. os
fenomenistas, contestariam — as palavras que o compõem tratam de coisas e qualidades. Estes são os dois aspectos
fundamentais (L. matemática e L. formal analítica) em que se divide hoje a L.; contudo essa divisão não significa
separação em duas disciplinas diferentes, muito menos antitéticas, mas duas di-
LOGICISMO
630
LOGOS
reções diferentes da investigação lógica, movidas por dois tipos diferentes de interesse teórico.
G. P.
LOGICISMO (in. Logicism; fr. Logicisme; ai. Logicismus-, it. Logicismó). Com este nome costuma-se designar uma
corrente de pensamento lógico-matemático que floresceu no fim do séc. XLX e no início do séc. XX, e cujos
principais representantes foram R. Dedekind, G. Frege e B. Russell; no séc. XX, teve muitos seguidores, sobretudo
(mas não exclusivamente) no denominado "Círculo de Viena" (Carnap). Os pensadores dessa corrente sustentam que
a matemática (pura) é um ramo da lógica, ou seja, que todas as proposições das matemáticas puras (particularmente
da aritmética, portanto da análise) só podem ser enunciadas com o vocabulário e a sintaxe da lógica matemática, que
assim se torna a disciplina matemática por excelência. Com esta convicção, Dedekind, Frege e Russell realizaram
suas famosas análises do conceito de "número" (inteiro), exatamente para defini-lo apenas através de noções
(símbolos) da lógica matemática. Ao L. opõem-se o formalismoe o intuicionismo (v. MATEMÁTICA).
G.P.
LÓGICO (in. Logical; fr. Logique, ai. Logiscb; it. Lógico). 1. O mesmo que racional.
2. O que diz respeito a determinado tipo de lógica. Nesse sentido denomina-se hoje "verdade lógica" a verdade que
consiste na enun-ciação de uma tautologia, conforme o conceito da lógica como estudo das tautologias (v. LÓGICA;
RAZÃO).
LÓGICOS, PRINCÍPIOS. V. CONTRADIÇÃO, PRINCÍPIO DE; FUNDAMENTO; IDENTIDADE, PRINCÍPIO DE; TERCEIRO
EXCLUÍDO, PRINCÍPIO DO.
LOGÍSTICA (in. Logistic; fr. Logistique; ai. Logistik; it. Logística). Na Antigüidade (p. ex., nos fragmentos do
pitagórico Arquitas de Ta-rento) o termo "L." às vezes era empregado para indicar a aritmética pura. Leibniz
empregou esse termo como sinônimo de "cálculo lógico" ou "lógica matemática": com este significado de "lógica
simbólica" ou "matemática" foi proposto por Couturat e Lalande ao Congresso Internacional de Filosofia de Paris em
1904. Mas, depois de ter algum sucesso, o termo "L." passou a ser raramente empregado.
G. P.
LOGÍSTICO, SISTEMA. V. SISTEMA LOGÍSTICO.
LOGOS (gr. X070Ç; lat. Verbum). A razão enquanto 1Q substância ou causa do mundo; 2e pessoa divina.
ls A doutrina do L. como substância ou causa do mundo foi defendida pela primeira vez por Heráclito: "Os homens
são obtusos com relação ao ser do L., tanto antes quanto depois que ouviram falar dele; e não parecem conhecê-lo,
ainda que tudo aconteça segundo o L." (Fr. 1, Diels). O L. é concebido por Heráclito como sendo a própria lei
cósmica: "Todas as leis humanas alimentam-se de uma só lei divina: porque esta domina tudo o que quer, e basta para
tudo e prevalece a tudo" (Fr. 114, Diels). Esta concepção foi tomada pelos estói-cos, que viram na razão o "princípio
ativo" do mundo, que anima, organiza e guia seu princípio passivo, que é a matéria. "O princípio ativo" — diziam —
"é o L. que está na matéria, é Deus: ele é eterno e, através da matéria, é artífice de todas as coisas" (DiÓG. L., VII,
134). O L. assim entendido, como princípio formador do mundo, é identificado pelos estóicos com o destino (Lbid.,
VII, 149). No mesmo sentido, Plotino afirma: "O L. que age na matéria é um princípio ativo natural: não é
pensamento nem visão, mas potência capaz de modificar a matéria, potência que não conhece, mas age como o selo
que imprime sua forma ou como o objeto que reproduz o seu reflexo na água; assim como o círculo vem do centro,
também a potência vegetativa ou geradora recebe de outro lugar sua potência produtiva, isto é, da parte principal da
alma, a qual lhe comunica esta potência modificando a alma geradora que reside no todo" (Enn., II, 3, 17). Nesse
sentido, o L. é o próprio Intelecto Divino ordenador do mundo: "Da inteligência emana o L. e emana sempre,
enquanto o Intelecto está presente em todos os seres" (Lbid., III, 2, 2). Essa concepção serviu de modelo para todas as
formas do panteísmo moderno (v. DEUS).
2- A doutrina do L. como hipóstase ou pessoa divina encontra a primeira formulação em Fílon de Alexandria. Nessa
doutrina, o L. é um ente intermediário entre Deus e o mundo, o instrumento da criação divina. Diz Fílon: "A sombra
de Deus é o seu L.; servindo-se dele como instrumento, Deus criou o mundo. Essa sombra é quase a imagem derivada
e o modelo das outras coisas. Pois assim como Deus é o modelo dessa sua imagem ou sombra, que é o L., o L. é o
modelo das outras coisas" (Ali. leg., III, 31). No cristianismo, o L. é identificado com Cristo. O prólogo do Evangelho
de S. João, ao lado das funções que Fílon já atribuía ao L., acrescenta a determinação propriamente cristã:
LOGOS
631
LOUCURA
"O L. fez-se carne e viveu entre nós" (Joann., I, 14). Em sua elaboração da teologia cristã, os padres da Igreja
insistiram nos dois pontos seguintes: ls a perfeita paridade do L.-Filho com Deus-Pai; 2a a participação do gênero
humano no L., enquanto razão. Justino, p. ex., diz: "Apreendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que éoL, do
qual participa todo o gênero humano" (Apol. prima, 46). Contra os gnósticos seguidores de Valentino, para os quais o
L. é o último dos Eons, que, por estar mais próximo do mundo, destina-se a formá-lo, Irineu afirma a igualdade de
essência e dignidade entre Deus-pai eoL, e entre ambos e o Espírito Santo (Adv. haeres., II, 13, 8). Nesses conceitos
deveriam fundamentar-se as formulações dogmáticas do séc. IV, especialmente as decisões do Concilio de Nicéia
(325) sobre os dogmas fundamentais do Cristianismo: Trindade e Encarnação. Mas entrementes a noção de L.
continuou oscilando entre a interpretação de perfeita paridade entre L. com Deus e a que estabelece certa diferença
hierárquica entre as duas hipóstases. A doutrina de Orígenes, que foi o primeiro grande sistema de filosofia cristã
(séc. III), inclina-se para a segunda interpretação. Orígenes afirma que se pode dizer do L., mas não de Deus, que é o
ser dos seres, a substância das substâncias, a idéia das idéias: Deus está além de todas essas coisas (De princ, VI, 64).
Portanto, o L. é coeterno com o Pai, que tal não seria se não gerasse o filho, mas não é eterno no mesmo sentido.
Deus é a vida e o Filho recebe a vida do Pai. O Pai é Deus, o filho é Deus (em Joann., II, 1-2). Como já se disse, a
Igreja, em suas sessões conciliares, pronunciou-se contra essa interpretação, que ficou sendo o apanágio das tentativas
heréticas, várias vezes renovadas ao longo da história.
A doutrina do L. foi sempre religiosa. Os filósofos só recorreram a ela quando quiseram dar caráter religioso à sua
doutrina. Foi o que fez Fichte na segunda fase de seu pensamento. Na Introdução ã vida bem-aventurada (1806),
Fichte utiliza o prólogo ao Evangelho de S. João para demonstrar a concordância do seu idealismo com o
Cristianismo; portanto, reconhece no L. aquilo que ele chama de a Existência ou Revelação de Deus (além do qual
fica o Ser de Deus), ou seja, o Saber, o Eu, a Imagem, cujo fundamento é a vida divina (Werke, V, p. 475).
LOQUACIDADE (gr. tòolzoyia.; lat. Lo-quacitas; in. Loquacity, fr. Loquacité, ai. Red-seligkeit; it. Loquacitã).
Segundo Aristóteles, um dos caracteres das pessoas idosas, que estão mais interessadas no passado que no futuro (que
já lhes promete pouco); por isso, gostam de falar para rememorá-lo (Ret., II, 13, 1390 a 6).
LOUCURA (gr. |a.opía; lat. Stultitia; in. Madness; fr. Folie; ai. Wahn; it. Pazzid). 1. O que Platão chamava de boa
L., que não é doença ou perdição, foi interpretada de dois modos diferentes: Ia como inspiração ou dom divino; 2S
como amor à vida e tendência a vivê-la em sua simplicidade.
Ia O primeiro significado encontra-se em Fedro, onde Platão afirma que "os maiores bens nos são ofertados através
de uma L. que é um dom divino" (Fed., 244 a). Essa L. manifesta-se em quatro formas: a) L. profética, base da
adivinhação, arte de predizer o futuro; b) L. purificadora, que permite afastar os males por meio de purificações e de
iniciações no presente e no futuro; c) L. poética, que é inspirada pelas musas (Ibid., 244a, 245a); d) L. amorosa, a
forma superior, à qual o homem é predisposto pela lembrança da beleza ideal, despertada nele pela beleza das coisas
do mundo (Ibid., 249e). Obviamente, as três primeiras formas de L. têm inspiração divina e são atribuíveis ao
entusiasmo (v.). O amor, entretanto, é L. em sentido diferente, como aspiração ao ser autêntico, despertada por sua
manifestação ''mais amável e mais evidente", que é a beleza. Ora, este já é o segundo significado de L.
2S No segundo significado, a L. é de fato amor à vida em sua simplicidade, contraposta à sabedoria artificiosa e
sombria, bem como à ciência de quem sabe tudo menos viver e amar. O Elogio da loucura (Stultiae laus, 1509). de
Erasmo de Roterdã, é a mais famosa defesa desse segundo significado do termo. Eis como Erasmo traça o retrato do
sábio estóico: "Ele é surdo à voz dos sentidos, não sente emoção nenhuma, o amor e a piedade não impressionam seu
coração duro como diamante, nada lhe escapa, nunca deixa de duvidar, sua visão é de lince, tudo pesa com a máxima
exatidão, nada perdoa; encontra em si mesmo sua felicidade, julga-se o único rico da terra, o único sábio, o único rei,
o único liberto: numa palavra, julga-se o todo; e o mais interessante é que ele é o único a julgar-se assim". Ora,
pergunta-se
LUGAR
632
LUGARES
Erasmo, quem não preferiria a este sábio "um homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que,
conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer a eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente
com a esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim que não se
considerasse alheio a tudo o que pertence à humanidade?" (El, 30). A L. de que fala Erasmo é a simplicidade da vida,
que se satisfaz nutrindo ilusões e esperanças; ou, no campo da religião, é a fé e a caridade contrapostas às cerimônias
exteriores, aos ritos mecanizados e à hipocrisia dos grandes banquetes (Ibid., 54). Essa forma de L. nada tem,
obviamente, com a inspiração divina, mas é humana, laica, e por isso seu elogio é um dos documentos mais
significativos do Renascimento.
2. O mesmo que psicose (v.).
LUGAR (gr. TÓJIOÇ; lat. Locus; in. Place; fr. Lieu; ai. Ort; it. Luogó). Situação de um corpo no espaço. Há duas
doutrinas do L.: Ia de Aristóteles, para quem o L. é o limite que circunda o corpo, sendo portanto uma realidade
autônoma; 2- moderna, para a qual o L. é certa relação de um corpo com os outros.
Ia Segundo Aristóteles, o L. é "o primeiro limite imóvel que encerra um corpo" (Fís., IV, 4, 212 a 20); em outros
termos, é aquilo que abarca ou circunda imediatamente o corpo. Nesse sentido, diz-se que o corpo está no ar porque o
ar circunda o corpo e está em contato imediato com ele. Essa concepção persistiu durante toda a filosofia medieval e
também é repetida substancialmente pelos críticos da física aristotélica, como p. ex. Ockham (Summulae in
librosphys., IV, 20; Quodl, I, 4). Com base nessa concepção, existem "lugares naturais", nos quais um corpo
naturalmente está ou aos quais volta quando deles é afastado: "Uma coisa" — afirma Aristóteles — "move-se
naturalmente ou não naturalmente, e os dois movimentos são determinados pelos lugares próprios ou pelos lugares
estranhos. O L. no qual uma coisa permanece ou para o qual se movimenta não por natureza deve ser o L. natural de
alguma outra coisa, como demonstra a experiência" (De cael, I, 7, 276 a 11). Toda a física aristotélica está baseada
neste teorema (v. FÍSICA).
2a A teoria aristotélica dos lugares era alvo da crítica acerba de Galilei, em Dialoghi dei massimi sistemi (1632,
Giornata seconda). Alguns anos depois, Descartes expressaria com
toda a clareza o conceito de L. que emergia da nova postura da ciência: "As palavras 'L.' e 'espaço' nada significam de
realmente diferente dos corpos que afirmamos estarem em algum lugar, e indicam apenas seu tamanho e forma, e
como estão situados entre os outros corpos. Para determinar essa situação, é necessário referir-se a outros corpos que
consideramos imóveis, mas, como tais corpos podem ser diferentes, podemos dizer que uma mesma coisa, ao mesmo
tempo, muda e não muda de L." (Princ. phil, II, 13). E Descartes cita o exemplo do homem que está sentado num
barco que se afasta da margem: o L. desse homem não muda em relação ao barco, mas muda em relação à margem.
Com essas observações, que exprimem a relatividade do movimento (relatividade de Galileu), chega-se ao conceito
moderno de L. como relação entre um corpo e outro, tomado como referência.
LUGARES (gr. Tórcoi; lat. Loci; in. Topics, fr. Lieux; ai. Õrter, it. Luoght). Segundo Aristóteles, são os objetos dos
raciocínios dialéticos e retóricos, "assuntos comuns à ética, à política, à física e a muitas outras disciplinas, como p.
ex. o argumento do mais e do menos" (Ret., I, 2, 1358 a 10). Estes seriam os L.-comuns. Mas existem também,
segundo Aristóteles, L. especiais ou próprios, que são os artigos constituídos por proposições pertencentes, p. ex., à
física, mas nos quais é impossível fundar proposições concernentes à ética, ou reciprocamente. Os L.-comuns não
têm objeto específico, por isso não aumentam o conhecimento das coisas; os L.-próprios, entretanto, especialmente se
utilizam proposições oportunamente escolhidas, contribuem para o conhecimento das ciências especiais (Ret., I, 2,
1358 a 21). Os retores latinos salientaram a importância desse tipo de estudo, sobretudo dos L.-comuns, para a arte
oratória, pois não aumentam o saber, mas são instrumentos de persuasão (CÍCERO, Top, 2, 7; De oral, II, 36, 152;
QUIN-TILIANO, Inst., V, 10, 20). Através das obras lógicas de Boécio (De diff. topicis, I; P. L, 64B, col. 1174), essa
noção passou para a lógica medieval. Pedro Hispano define os L. como "a sede de um argumento ou daquilo de que
se extrai um argumento conveniente à questão proposta" (Summ. log., 5. 06).
Como se disse, a parte da lógica que estuda os L. é a Tópica. Para Cícero, era a parte inventiva da lógica, a que
excogita os argumentos úteis ao convencimento, mais do que ao juízo
LUIIANA,ARTE
633
LUZ1
sobre sua validade. E repreendeu os estóicos por haverem cultivado somente a dialética, ne--gligenciando a Tópica
(Top, 2, 6). Mas, na realidade, Aristóteles não alude à capacidade inventiva da Tópica, entendendo-a mais como um
estudo voltado a reunir sob um número restrito de tópicos (que são exatamente os L) os argumentos que estejam
presentes em várias ciências ou em várias partes de uma mesma ciência. De qualquer forma, a crença no caráter
inventivo da Tópica passou para a tradição (através de BOÉCIO, Dediff. top., I; P. L., 64s, col. 1173); aliás, quando se
começou a reconhecer o caráter improdutivo da lógica âristotélica, a ela foi contraposta a importância da Tópica
como arte de invenção. Foi o que fizeram Pedro Ramus (Dialecticae institutiones, 1543) e Viço (De antiquissima
italorum sapientia 1710), que considerou a Tópica como a arte do engenho, que é a faculdade da invenção. Ainda, em
lógica hamburgensis (1638), de Jungius, há um vasto estudo sobre os L. lógicos, sob o titulo de Dialética (livro V).
Mas a Lógica de Port-Royal (1662) já afirmava a escassa utilidade do estudo dos Tópicos. Arnauld disse: "Para
formar os homens numa eloqüência judiciosa e sólida, seria útil ensinar-lhes a calar mais que a falar, ou seja, a
suprimir e eliminar os pensamentos baixos, comuns e falsos mais que a produzir, como fazem; um amontoado
confuso de raciocínios bons e maus, com os quais se enchem livros e discursos" (Log., cap. 17). O estudo dos L.
desse gênero serve, portanto, apenas para reconhecê-los e evitá-los. A Lógica de Port-Royal enumerava três espécies
deles: gramaticais, lógicos e metafísicos (Lbid., cap. 18). Posteriormente, o estudo dos L. deixou de fazer parte
integrante da lógica. Kant generaliza o conceito de lugar lógico entendendo por ele "qualquer conceito, qualquer
título sob o qual se agrupem muitos conhecimentos", e fala de uma "Tópica transcendental", cujo objeto é "a
determinação do lugar que cabe a cada conceito na sensibilidade ou no conceito puro, segundo a diversidade do seu
uso" (Crít. R. Pura, Anal. dos princ, Nota às anfibolias dos conceitos da reflexão). Nesse sentido, a Tópica coincide
com a "doutrina dos elementos" da Crítica da Razão Pura.
LULIANA, ARTE (lat. Ars lulliana; in. Lullic art; fr. Art lullien; ai. Lullische Kunsi). Ars magna de Raimundo
Lúlio (1235-1315), ciência universal que ensina a combinar os termos para a descoberta sintética dos princípios das
ciências.
Diferentemente da lógica âristotélica, a ars magna pretende ser um procedimento inventivo que não se limita a
resolver as verdades conhecidas, mas passa à descoberta de novas. A noção dessa arte, que no Renascimento teve
seguidores entusiastas, entre os quais Agripa, Bovillo e Bruno, foi retomada por Leibniz, que a denominou
Característica Geral (v. CARACTERÍSTICA).
LUTA PELA VIDA. V. SELEÇÃO NATURAL.
LUZ1 (gr. (péyyoç; lat. Lumen-, in. Light; fr. Lumière-, ai. Licht; it. Lume). Critério diretivo do pensamento e da
conduta do homem, comparado à L. procedente do alto ou de fora. Para Aristóteles, a ação do intelecto ativo sobre a
alma humana era comparável à L. que põe em ato as cores que no escuro estão somente em potência (De an., III, 5,
430 a 15). Os estóicos falavam da faculdade sensível e da representação cataléptica como de uma "L. natural":
"Como uma L. natural para o reconhecimento das verdades, foram-nos dadas a faculdade sensível e a representação
gerada através dela" (SEXTO EMPÍRICO, Adv. math., VII, 259). E Cícero dizia: "A natureza deu-nos minúsculas
centelhas que nós, estragados pelos maus costumes e pelas falsas opiniões, apagamos, levando ao total
desaparecimento da L. natural" (Tusc, III, 1, 2). Plotino fala do Bem como "L. que ilumina o intelecto" (Enn., VI, 7,
24). Mas foi só com S. Agostinho que a noção de L. tornou-se fundamental, difundindo-se através de sua obra e
permanecendo viva na tradição ocidental. S. Agostinho atribui aos estóicos o mérito de ter visto em Deus "a L. das
mentes" (De civ. Dei, VIII, 7). Essa L. é a condição para o verdadeiro conhecimento e para a comunicação de
verdades. A luz da verdade que, partindo de Deus, ilumina diretamente a alma e a guia é o conceito central da
filosofia agostiniana. "Mesmo os ignorantes" — diz S. Agostinho — "quando bem interrogados, respondem
corretamente acerca de algumas disciplinas, pois neles está presente, na medida em que podem recebê-la, a L. da
razão eterna, na qual vêem as verdades imutáveis" (Retractiones, I, 4, 4). Isso significa que o funcionamento natural
do intelecto humano exige a presença da L. divina e que, para o homem, o conhecimento da verdade é a visão da
verdade em Deus, possível graças à direta iluminação divina. Nos primórdios da Escolástica essa doutrina foi
reproduzida por Scotus Erigena (Dedivis. nat., II, 23), mas nas suas fases posteriores passou a ser um dos maiores
LUZ1
634
LUZ2
pontos de divergência entre a corrente agosti-niana e a aristotélica. Essa divergência é tipicamente expressa pelas
posições de S. Boa-ventura e de S. Tomás. S. Boaventura refere-se às palavras de Agostinho, "que, com letras claras e
razões, demonstra que a mente, em seu conhecimento certo, deve ser dirigida por regras imutáveis e eternas; não
através de uma de suas disposições (habitus), mas diretamente por essas regras, que estão acima dela, na Verdade
eterna" (De sciencia Christi, q. 4). S. Tomás admite que "tudo aquilo que se sabe com certeza deriva da L. da razão
que, por obra divina, é inata interiormente no homem" (De ver., q. 11, a. 1, ad 13). Mas interpreta aristote-licamente
essa L. como o conhecimento inato dos primeiros princípios indemonstráveis "conhecidos graças à L. do intelecto
agente" (Contra Gent., III, 46). Em outros termos, o conhecimento humano da verdade não é visão em Deus, ou
iluminação direta por parte de Deus: é o uso de uma "forma" que Deus comunicou à mente humana e que constitui,
portanto, a "L. natural" dela (S. Tb., I, q. 106, a. 1). Dessa L. natural S. Tomás distingue a L. da glória (lumen
gloriaé), que torna a criatura racional "deifor-me", capaz de ver a essência divina; nega que a L. da glória possa ser
uma disposição natural do homem (Ibid., I q. 12, a. 5); diz o mesmo sobre o lumengratiae, a graça justificante (Ibid.,
I, q. 106, a. 1).
O significado do conceito de L. em Agostinho, que é de iluminação contínua por parte de Deus, conserva-se nas
doutrinas de inspiração agostiniana no mundo moderno e contemporâneo. Para elas, o conhecimento é uma "visão em
Deus": Malebranche (Recberche de Ia vérité, III, 2, 6), Rosmini (Nuovo saggio, § 396) e Gioberti (Introd. alio studio
delia JiL, II, p. 175). Por outro lado, de acordo com a segunda interpretação, a L. natural acaba perdendo qualquer
conexão teológica. O título que Descartes deu a um diálogo inacabado, que deveria sintetizar sua filosofia, demonstra
o modo como ele entendia essa noção: "Busca da verdade com a L. natural que, por si só, sem o auxílio da religião e
da filosofia, determina as opiniões que um homem honesto deve ter sobre todas as coisas que possam ocupar seu
pensamento, L. que penetra até os segredos das ciências mais curiosas." Assim entendida, a L. natural é o "bom senso
ou razão" que, nas primeiras linhas do Discurso do método, é considerada "a coisa mais bem distribuída do mundo";
sobre ela se diz, em Princípios de filosofia (I, 30): "A faculdade de conhecer, que nos foi dada e que nós
denominamos L. natural, só percebe objetos verdadeiros, porquanto os apercebe, ou seja, conhece-os clara e
distintamente." Leibniz, por sua vez, afirma que "a L. natural supõe um conhecimento distinto" (Nouv. ess., I, 1, 21) e
Wolff entendia por "L. da alma" a "clareza das percepções" (Psychol. empírica, § 35). Nestes empregos, essa palavra
não tem mais nada do significado tradicional, de L. que, proveniente de fora ou do alto, penetre na mente humana
para guiá-la. A L. natural aqui é somente a clareza do pensamento humano. Ao falar da máxima "É preciso seguir a
alegria e evitar a tristeza", Leibniz afirma: "Trata-se de um princípio inato, mas que não faz parte da L. natural, pois
não fica sendo conhecido de maneira luminosa" (Nouv. ess., I, 2, 1). O significado que a expressão "as L." assumiu no
período iluminista é esclarecido por Leibniz. As L. são a clareza da crítica racional aplicada a todos os campos
possíveis do saber e usada como critério diretivo do pensamento e da conduta do homem.
LUZ2 (lat. Lux, in. Light; fr. Lumière, ai. Licht; it. Lucé). Para certa tradição filosófica, cuja origem remota e provável
estaria na religião persa que adorou Mitra como "Espírito da L." (cf. CUMONT, Oriental Religions in Roman Paganism; trad. in., p. 155), a L. é uma realidade privilegiada de natureza incorpórea, via de comunicação entre as regiões
superiores do mundo e do homem. As características mais evidentes dessa doutrina são as seguintes: Ia a L. é uma
realidade superior privilegiada: é Deus ou de Deus; 2a a L. é incorpórea e serve de ligação entre o mundo incorpóreo
e o mundo cor-póreo; 3â a L. é a forma geral (essência ou natureza) das coisas corpóreas. As primeiras duas teses são
de caráter religioso e de claríssima origem oriental. A terceira é propriamente filosófica e caracteriza o agostinismo
medieval.
Na filosofia ocidental, a metafísica da L. é introduzida por Parmênides: "E como se diz que todas as coisas são L. e
noite, e como L. e noite estão presentes nisto e naquilo, segundo suas possibilidades, o todo é pleno de L. e ao mesmo
tempo de invisível treva; L. e trevas são iguais, pois nenhuma prevalece sobre a outra" (Pr. 9)- A substancialização da
L. é freqüente em Enéadas de Plotino, em que às vezes não é fácil distinguir a L. como metáfora da L. como
substância (p. ex., Enn., V, 3, 9; IV, 3, 17). Apa-
LUZ2
635
LUZ2
rece com toda clareza nas especulações dos gnósticos, de direta proveniência maniqueísta: "Antes que o universo
visível tivesse origem subsistiam dois princípios supremos: um bom e o outro perverso. A morada do primeiro, Pai de
Grandeza, era na região da L. Ele multiplicava-se em cinco hipóstases: Intelecto, Razão, Pensamento, Reflexão,
Vontade" (BuoNAiun, Fram-menti gnosticí, 1923, p. 55). Num dos livros da Cabala, o Zohar, a L. é entendida como
substância primitiva que às vezes aparece como céu, portanto como elemento no qual os outros se dissolverão no fim
dos tempos (cf. SF.ROUYA, LaKabbale, Paris, 1957, pp. 346 ss.). Essa doutrina passou para a filosofia hebraica da
Idade Média e, dela, para a escolástica cristã. Nesta, foi característica da corrente agostiniana, defendida
especialmente pelos franciscanos. No séc. XIII, Roberto Grosseteste afirmava que todos os corpos têm uma forma
comum que se une à matéria-prima antes de sua especificação nos vários elementos. Esta forma primeira é a L. "A
L." — diz ele — "difunde-se por si em todas as direções, de tal modo que de um ponto luminoso é imediatamente
gerada uma esfera de L. tão grande quanto se queira, a menos que encontre o obstáculo de algum corpo opaco. Por
outro lado, a corporeidade é aquilo que tem por conseqüência necessária a extensão da matéria nas três dimensões"
(De inchoatione formarum, ed. Baur, 51-52). Roberto identificava assim a difusão instantânea da L. em todas as
direções com a tridimensionalidade do espaço, portanto L. com espaço. Quase nos mesmos termos Bonaventura de
Bagnorea afirmava que a L. não é um corpo, mas a forma de todos os corpos: "A L. é a forma substancial de todo
corpo natural". Todos os corpos dela participam em maior ou menor grau; segundo essa participação têm maior ou
menor dignidade e valor na hierarquia dos seres. Ela é o princípio
da formação geral dos corpos; a sua formação especial é devida à superveniência de outras formas, elementares ou
mistas (In Sent, II, d. 13 d. 2 q. 1-2). Na segunda metade do mesmo séc. XIII a Perspectiva de Witel expõe idéias
muito semelhantes. "A ação divina expande-se no mundo através da L. As substâncias inferiores recebem das
substâncias superiores a L. proveniente da fonte da divina bondade; em geral o ser de cada coisa provém do ser
divino, toda intelegibilidade provém do intelecto divino e toda vitalidade, da vida divina. O princípio, o meio e o fim
de todas essas influências é a L. divina, pela qual, através da qual e para a qual todas as coisas estão dispostas"
(Perspectiva, ed. Baeumker, pp. 127-28). A óptica, que estuda as leis da difusão da L., constitui inteiramente a física,
porquanto todo o mundo físico é determinado pela difusão da L. (Ibid., p. 131). A última manifestação dessa física ou
metafísica da L. talvez seja o projeto de Descartes de descrever o mundo do ponto de vista da L. "Assim como os
pintores, não podendo representar no quadro todas as diversas faces de um corpo, escolhem uma das faces principais
que voltam para a L. e, deixando as outras na sombra, permitem que delas apareça só o que se pode ver. também eu,
temendo não poder pôr no meu discurso [no projetado livro sobre o Mundo, que depois não publicou] tudo que tinha
em mente, projetei expor amplamente apenas aquilo que pensava sobre a L. Depois, na ocasião, projetei acrescentar
algo sobre o sol e as estrelas fixas, porque é dessas fontes que ela deriva quase inteiramente; sobre os céus, porque a
transmitem; sobre os planetas, os cometas e a terra, porque a refletem; em particular sobre todos os corpos que estão
na terra, porque são coloridos, transparentes ou luminosos; por fim, sobre o homem, porque é seu espectador"
(Discours, V).
M
MACROCOSMO. V. MICROCOSMO.
MÃE (gr. HTÍxrip). Segundo Platão, a mãe do universo é a matéria amorfa, assim como o pai é o modelo eterno
segundo o qual o Demiurgo o cria. "Essa mãe e receptora de tudo, de tudo o que de visível e sensível é criado, não
deve ser chamada de terra, nem de ar, nem de fogo, nem de água, nem de outra coisa que destas nasça ou da qual
estas nasçam; é uma espécie invisível e amorfa, capaz de tudo acolher, partícipe do inteligível e difícil de se
conceber" {Tím., 51 a-b).
MAGIA (gr. uor/ncTi té^vri; lat. Magia; in. Magie, fr. Magie, ai. Magie, it. Magia). Ciência que pretende dominar as
forças naturais com os mesmos procedimentos com que se sujeitam os seres animados. O pressuposto fundamental da
M. é, portanto, o animisma, sua melhor definição, dada por Reinach, é de "estratégia do animismo" {Mythes, cultes et
religions, II, Intr., p. XV). Instrumentos dessa estratégia são: encantamentos, exorcismos, filtros e talismãs, por meio
dos quais o mago se comunica com as forças naturais ou celestiais ou infernais, convencendo-as a obedecer-lhe. O
caráter violento ou matreiro das operações com que se produz a obediência das forças naturais é outra característica
da M., estratégia de assalto, que quer conquistar de vez, do contrário da estratégia da ciência moderna, que tende à
conquista gradativa da natureza, sem lançar mão de meios violentos ou sub-reptícios.
A M. é de origem oriental e difundiu-se no Ocidente no período greco-romano (cf. F. CUMONT, Oriental Religions in
Roman Paga-nism, cap. VII). Circulou mais ou menos ocultamente durante a Idade Média e voltou a agir às claras
durante o Renascimento, período em que muitas vezes foi considerada complemento da filosofia natural, ou seja,
como a parte desta
que possibilita agir sobre a natureza e dominá-la. Era assim considerada por Pico delia Mirandola {De hominis
dignitate, fl. 136 v.) e por todos os naturalistas do Renascimento. Johannes Reu-chlin, Cornélio Agripa, Teofrasto
Paracelso, Gerolamo Fracastoro, Gerolamo Cardano, Gio-vambattista delia Porta, todos visam a eliminar o caráter
diabólico atribuído durante a Idade Média à M., transformando-a na parte prática da filosofia. Delia Porta distinguiu
nitidamente a M. diabólica, que se vale das ações dos espíritos imundos, da M. natural, que não ultrapassa os limites
das causas naturais e cuja prática parece maravilhosa apenas porque seus procedimentos permanecem ocultos {Magia
natu-ralis, 1558,1, 1). Essa distinção foi repetida por Campanella, que também distinguia uma M. divina que opera
por virtude da graça divina, como a de Moisés e dos outros profetas {Del senso delle cose e delia magia., 1604, IV,
12). A respeito da M. no Renascimento, cf. GARIN, Medioevo e Rinascimento, 1954, cap. III.
Com o progresso da ciência, elimina-se o pressuposto da M., que é animismo, retirando-se as bases da estratégia de
assalto em que ela consistia. Francis Bacon, apesar de ser o maior herdeiro dessa exigência prática que a M.
representava, compara-a às novelas de cavalaria do ciclo do rei Artur, considerando-a proveniente da metafísica que
indaga as formas, ao passo que da física, que é a investigação das causas eficientes e materiais, nasce a mecânica
como ciência prática {De augm. scient., III, 5). Portanto, no mundo moderno a M. desapareceu completamente dos
horizontes da ciência e da filosofia. No que concerne a esta última, constitui exceção a obra de No-valis, que no
período romântico defendeu um 'idealismo mágico', segundo o qual boa parte das atividades humanas mais comuns é
M.
MAGNANIMIDADE
637
MAIS-VAIIA
Novalis diz: 'O uso ativo dos órgãos nada mais é que pensamento mágico, taumatúrgico, ou uso arbitrário do mundo
dos corpos; de fato, a vontade outra coisa não é senão magia, enérgica capacidade de pensamento" (Fragmente, §
1731). E exprimia assim o princípio de seu idealismo mágico: "O maior mago seria aquele que soubesse também
encantar-se a tal ponto que suas próprias magias lhe parecessem fenômenos alheios e autônomos. E não poderia ser
esse o nosso caso?" (Ibid., § 1744).
Alheia ao mundo da filosofia e da ciência, a M. permanece como uma das categorias inter-pretativas da sociologia e
da psicologia. Sobre a função da M. no homem primitivo, Mali-nowski assim se expressa: "A M. fornece ao homem
primitivo um número de atos e de crenças rituais já feitos, uma técnica mental e prática definida que serve para
superar os obstáculos perigosos em cada empreendimento importante e em cada situação crítica. (...) Sua função é
ritualizar o otimismo do homem, reforçar sua fé na vitória da esperança sobre o medo" (Magic Science and Religion,
ed. Anchor Book, p. 90). Mas a atitude primitiva não se encontra só no homem primitivo: o homem civilizado nela
reincide em determinadas circunstâncias, que vão desde a falta de técnicas aptas a enfrentar situações difíceis até a
incapacidade de descobrir como utilizar essas técnicas. Crenças mágicas são, portanto, freqüentes na vida diária,
ainda que muitas vezes não confessadas. Não sem razão, Sartre chamou de comportamento mágico a reação emotiva
patológica que às vezes é a base de distúrbios mentais (v. EMOÇÀO). Além disso, para Jung, a origem da M. é a idéia
de uma energia universal, latente no inconsciente de todo o gênero humano e identificada com a idéia de Deus
(Psicologia do inconsciente, 1942, cap. 5). Lévi-Strauss fez uma analogia entre a terapêutica mágica e a psicanálise
(v.) porque, através da conscientização dos conflitos internos do paciente, ambas possibilitam uma experiência
específica na qual os conflitos podem desenvolver-se e manifestar-se livremente (Antbro-pologie structurale, 1958,
pp. 217 ss.).
MAGNANIMIDADE (gr. \i£jako\\roxía; lat. Magnanimitas, in. Magnanimity, fr. Magnani-mitéai. Grossmuth; it.
Magnanimita). Segundo Aristóteles, a virtude que consiste em desejar grandes honras e em ser digno delas.
Aristóteles dá muito relevo a essa virtude, porquanto ela acompanha e "engrandece" todas as
outras: "Quem é digno de pequenas coisas e se considera digno delas é moderado, mas não magnânimo; a M. é
inseparável da grandeza, assim como a beleza é inseparável de um corpo grande, já que os corpos pequenos serão
graciosos e proporcionais, mas não belos" (Et. nic, IV, 3, 1123 b 7). A insistência nessa virtude é o sinal da
persistência em Aristóteles da ética aristocrática arcaica (cf. JAEGER, Pai-déia, I; cap. I; trad. it., I, pp. 43 ss.). Para
Descartes, M. é o mesmo que generosidade; identifica-se com a virtude de avaliar-se de acordo com seu próprio valor
e não sentir ciúme ou inveja (Pass. de Vâme, arts. 156-61).
MAIÊUTICA (gr. umetmxn xé^vn; in. Maieutics; fr. Maieutique-, ai. Mãeutik; it. Maieuticd). Arte da parteira; em
Teeteto de Platão, Sócrates compara seus ensinamentos a essa arte, porquanto consistem em dar à luz conhecimentos
que se formam na mente de seus discípulos: "Tenho isso em comum com as parteiras: sou estéril de sabedoria; e
aquilo que há anos muitos censuram em mim, que interrogo os outros, mas nunca respondo por mim porque não
tenho pensamentos sábios a expor, é censura justa" (Teet, 15c).
MAIORIA DAS VEZES, NA (gr. èni TÒ KOXV; in. Mostly, ai. Zumeist; it. Perlopiü). Esta expressão é empregada
por Aristóteles para indicar o que acontece de modo uniforme e constante, mas nem sempre nem necessariamente;
acidental é o que não acontece sempre nem na maioria das vezes (Met., VI, 2, 1026 b 30). O que é sempre ou
necessariamente constitui objeto das ciências teóricas; o que é na maioria das vezes constitui objeto das ciências
praxi-poiéticas; o acidental não pode ser objeto de ciência. Heidegger empregou essa expressão para indicar o
conjunto dos modos de ser que constituem a "medianidade" (Sein und Zeit, § 9). V. MEDIANIDADE.
MAIS-VAIIA (in. Surplus value, fr. Plus-va-lue, ai. Mehrwert; it. Plusvaloré). Um dos conceitos fundamentais da
economia de Marx. Uma vez que o valor nasce do trabalho e outra coisa não é senão trabalho materializado, se o
empresário retribuísse ao assalariado o valor total produzido pelo seu trabalho, não existiria o fenômeno puramente
capitalista do dinheiro que gera dinheiro. Mas como o empresário não retribui ao assalariado aquilo que corresponde
ao valor por ele produzido, mas apenas o custo da sua força de trabalho (o suficiente para produzi-la, o mínimo vital),
temos o fenômeno da
MAIS-VIDA, MAIS-QUE-VIDA
638
MAL
M., que é a parte do valor produzido pelo trabalho assalariado da qual o capitalista se apodera (cf. Das Kapital, I, seç.
3).
MAIS-VIDA, MAIS-QUE-VIDA (ai. Mehr-Leben, Mehr-als-Leberi). Expressões cunhadas por G. Simmel para
indicar, respectivamente, o processo da vida e as formas às quais ele dá lugar. Como "M.-vida", a vida é o processo
que supera continuamente os limites que impõe a si mesma. Como "M.-que-vida", a vida é o conjunto das formas
finitas que emergem do processo vital e a ele se contrapõem (Lebens-anschauung, 1918, pp. 22-23).
MAL (gr. xò KOCKÓV; lat. Malun; in. Evil; fr. Mal, ai. Bõse, it. Male). Este termo tem uma variedade de significados
tão extensa quanto a do termo bem (v.), do qual é correlativo. Do ponto de vista filosófico, entretanto, é possível
resumir essa variedade em duas interpretações fundamentais dadas a essa noção ao longo da história da filosofia: Ia
noção metafísica do M., segundo a qual este é d) o nâo-ser, ou b) uma dualidade no ser; 2- noção subjetivista,
segundo a qual o M. é o objeto de aptidão negativa ou de um juízo negativo.
I- A concepção metafísica do M. consiste em considerá-lo como o não-ser diante do ser, que é o bem, ou em
considerá-lo como uma dualidade do ser, como uma dissensão ou um conflito interno do próprio ser.
a) A concepção do M. como não aparece nos estóicos e é claramente formulada pelos neoplatônicos. Por
considerarem que a existência dos males condiciona a dos bens, de tal modo que, p. ex., não haveria justiça se não
houvesse ofensas, não haveria trabalho se não houvesse indolência, não haveria verdade se não houvesse mentira, etc,
os estóicos, em particular Crisipo, achavam que os chamados males não são realmente males, porque necessários à
ordem e à economia do universo (AULO GÉLIO, Noct. Att., 1). Marco Aurélio exprimia perfeitamente este ponto de
vista dizendo: "Toda vez que arrancas uma partícula qualquer da ordem e da continuidade do inverso a integridade do
todo fica mutilada e comprometida. (...) E realmente extirpas, na medida do teu poder, alguma coisa do universo toda
vez que te queixas do que aconteceu; em um certo sentido, em assim fazendo, estás condenando à morte o universo
inteiro em teu desejo" (Ric, V, 8). Uma vez que não se pode amar uma coisa e considerá-la má, o ponto de vista
estóico eqüivale a considerar bom tudo o que existe e
a reduzir o M. ao não-ser. Essa redução torna-se explícita no neoplatonismo. Plotino diz: "Se tais são os entes e se tal
é o que está além dos entes [isto é, Deus], então o M. não existe nem naqueles nem neste, já que tanto um quanto o
outro são bem. Conclui-se, portanto, que, se existir, existe no que não é, e que é uma espécie de nâo-ser, encontrandose, pois, nas coisas mescladas de não-ser ou partícipes do não-ser" (Enn., I, 8, 3). Nesse sentido, Plotino identifica o
M. com a matéria: a matéria é o não-ser. "O M. não consiste na deficiência parcial, mas na deficiência total: o que
carece parcialmente de bem não é mau e pode até ser perfeito em seu gênero. Mas quando há deficiência total, como
na matéria, tem-se o verdadeiro M., que não tem parte alguma de bem. A matéria não tem sequer o ser que lhe
possibilitaria participar do bem: pode-se dizer que ela é apenas em sentido equívoco; na verdade, a matéria é o
próprio não-ser" (Ibid., I, 8, 5).
A identificação do M. com o não-ser torna-se tradicional na filosofia cristã. É retomada por Clemente de
Alexandria.(Strom., IV, 13), por Orígenes (Deprinc, I, 109) e por S. Agostinho, que a difunde no mundo ocidental. S.
Agostinho diz.- "Nenhuma natureza é M., e esse nome indica apenas a privação do bem" (De civ. Dei, XI, 22).
Portanto, "todas as coisas são boas, e o M. não é substância porque se fosse substância seria bem" (Conf, VII, 12).
Boécio afirmava: "O mal é nada, porque não o pode fazer Aquele que pode todas as coisas" (Pbil. cons., III, 12). A
Escolástica é igualmente unânime nesse aspecto. S. Anselmo reiterou a doutrina do M. como não-ser nos mesmos
termos de S. Agostinho (De casu diaboli, 12-16). Com Maimônides, a escolástica hebraica repete a mesma tese (Guia
dos perplexos, III, 10), na escolástica cristã, é repetida por agostinianos, como Alexandre de Hales (S. Th., I, q. 18, 9),
por aristotélicos, como Alberto Magno (S. Th., I, q. 27, 1), e por S. Tomás. Este último diz: "Uma vez que bem é tudo
o que é apetecível e uma vez que a cada natureza apetece seu ser e sua perfeição, cumpre dizer que o ser e a perfeição
de qualquer natureza são essencialmente bem. Portanto, não pode acontecer que 'M.' signifique algum ser, alguma
forma ou natureza; conclui-se, pois, significa apenas a ausência do bem" (S. Th., I, q. 48, a. 1) O verbo ser pode
referir-se ao M. somente no sentido "da verdade da proposição", como quando se diz que "a cegueira é do olho",
sentido que não implica
MAL
639
MAL
de modo algum a realidade (entitas rei) (Ibid., I, q. 48, a 2).
Após as observações cépticas de Pierre Bayle sobre a compatibilidade do M. (em todas as suas formas) com a
onipotência divina e com a perfeição do universo, a teodicéia de Leibniz está fundamentada na doutrina tradicional do
M. como negação do bem. "Os platônicos, S. Agostinho e os escolásticos", diz Leibniz, "tiveram razão em dizer que
Deus é a causa material do M., que consiste em sua parte positiva, e não da forma dele, que consiste na privação,
assim como se pode dizer que a corrente é a causa material do atraso na velocidade de um barco, sem ser a causa da
forma do próprio atraso, ou seja, dos limites desta velocidade" (Théod., I, 30). Essas considerações de Leibniz
fundamentaram todas as tentativas ulteriores de teodicéia (v.). Por outro lado, a nulidade do M. continuou sendo a
tese adotada pelas doutrinas que identificam o ser com o bem ou, em termos modernos, com a racionalidade ou o
dever-ser; isso acontece em Hegel, para quem o M., entendido como vontade malévola, é "a nulidade absoluta" dessa
vontade (Ene, § 512). Do ponto de vista dos idealismos absolutos, como o de Hegel e de sua escola, apresenta-se
novamente o problema tradicional da teodicéia: o da possibilidade do M.; a única solução disponível é ainda a
tradicional: a nulidade do M. Gentile dizia: "Não é erro e verdade, mas erro na verdade, como seu conteúdo que se
resolve na forma; nem M. e bem, mas M. do qual o bem se nutre no seu absoluto formalismo" (Teoria generale dello
spirito, XVI, 10). Croce por sua vez afirmava: "O M., quando real, não existe senão no bem, que se lhe opõe e o
vence; portanto, não existe como fato positivo: quando, porém, existe como fato positivo, já não é um M., mas um
bem (e por sua vez tem como sombra o M., contra o qual luta e vence)" (Fil. delia pratica, 1909, p. 139). Nâo-ser,
nulidade ou irrealidade do M. é tese redescoberta toda vez que, de qualquer forma, se propõe a identidade entre ser e
bem.
b) A segunda concepção metafísica do M. considera-o como um conflito interno do ser, como a luta entre dois
princípios. Segundo essa concepção, o domínio do ser divide-se em dois campos opostos, dominados por dois
princípios antagônicos. O modelo dessa concepção é a religião persa, de Zarathustra ou Zoroastro, que contrapunha à
divindade (Ahura Mazda
ou Ormazd) uma antidivindade (Ahrimarí), que é o princípio do M. (cf. PETTAZZONI, La religione di Zaratustra,
Bolonha, 1921; Du-CHESNE-GUILLEMIN, Ormazd et Ahriman, Paris, 1953). Essa doutrina constitui uma solução
extremamente simples para o problema do M., pois, ao mesmo em que limita o poder das divindades, não trai o
monoteísmo porque concebe a potência limitante como antidivindade. Segundo essa solução, o M. é real tanto quanto
o bem, e, como tal, tem causa própria, antitética à do bem. Essa doutrina evita a redução do M. ao nada, tão pouco
convincente para o homem comum, e decorre do mesmo tipo de justificação de que lança mão a negação metafísica
da realidade do M. O dualismo persa retornou no culto de Mitra: personagem que, segundo relato de Plutarco,
ocupava posição intermediária entre o domínio da luz, pertencente a Ahura Mazda, e o domínio das trevas,
pertencente a Ahriman (De Iside et Osiride, 46-47; cf. F. CUMONT, The Mysteries of Mithra, cap. I). Retomou
também, com algumas atenuações, em algumas seitas gnósticas dos primeiros séculos da era vulgar, especialmente na
de Basílides (cf. BUONAIUTI, Frammentignostici, 1923, pp-42 ss.), bem como na seita dos maniqueus, contra os quais
S. Agostinho assenta uma de suas principais polêmicas (v. MANIQUEÍSMO). Mas a filosofia nunca aceitou essa solução
para o problema do M. na forma simples como foi originariamente formulada pela religião persa; nunca admitiu a
separação dos dois princípios. Quando aceitou essa solução, modificou-a no sentido de incluir ambos os princípios
em Deus, considerando o princípio do bem e o do M. unidos em Deus, justamente em virtude de seu conflito. No séc.
XVII, Jacob Bõhme, insistindo na presença, em todos os aspectos da realidade, de dois princípios em luta, que são o
bem e o M., atribuía a causa dessa luta à presença em Deus dos dois princípios antagonistas, que ele indicava com
vários nomes: espírito e natureza, amor e ira, ser e fundamento, etc. Em Deus, esses dois princípios estariam
fortemente ligados, numa espécie de luta amorosa. Bõhme dizia: "A divindade não repousa tranqüila, mas suas
potências trabalham sem trégua e lutam amorosamente; movem-se e combatem: como acontece com duas criaturas
que brincam uma com a outra, com amor abraçam-se e estreitam-se; ora uma é vencida, ora a outra, mas o vencedor
logo se detém e deixa que a outra retome seu jogo" (Aurora oder dieMorgenrõte
MAL
640
MA1THUSIANISMO
im Aufgang, 1634, cap. XI, § 49). Em outras palavras, o dualismo do bem e do M. está em Deus mesmo e nele os dois
princípios travam um combate "amoroso", no qual nenhum é definitivamente derrotado. A subcorrente do
pensamento filosófico chamada teosofia (v.) sempre adotou essa solução para o problema do M.: no período
romântico, retornou em Indagações sobre a essência da liberdade humana (1809), de Schelling, em que este
sustentava, assim como Bõhme, que em Deus está não só o ser, mas, como fundamento desse ser, há um substrato ou
natureza que se distingue dele e é um anseio obscuro, um desejo inconsciente de ser, de sair da escuridão e alcançar a
luz divina (Werke, 1, VIII, p. 359). No entanto, Schelling afirmava que, estando esses dois princípios estreitamente
unidos em Deus, não há nele distinção entre bem e M.; com a separação desses princípios no homem, nasce a
possibilidade do bem e do M., e de seu conflito (Ibid., p. 364). Ainda em tempos relativamente recentes, em relação
mais direta com a religião persa, solução semelhante para esse problema foi proposta por G. T. Fechner, que admitia
haver em Deus a mesma dualidade entre vontade racional e instintos obscuros encontrada no homem (Zend Avesta, 5ed., 1922, pp. 244-45). É possível entrever soluções análogas, porém menos explicitas, em algumas formas de espiritualismo e na psicanálise (v.), mas trata-se, muitas vezes, de soluções de caráter religioso ou teosófico, que
dificilmente podem ser consideradas explicações filosóficas propriamente ditas.
2- A segunda concepção fundamental do M. não o considera realidade ou irrealidade, mas objeto negativo do desejo
ou, em geral, do juízo de valores. Essa concepção é admitida por todos os que defendem a chamada teoria subjetivista
do bem. Hobbes, Spinoza e Locke compartilham essa teoria (para os relativos textos, v. BEM), à qual Kant deu forma
mais geral. Segundo Kant, "os únicos objetos da razão prática são o bem e o M. Pelo primeiro entende-se um objeto
necessário da faculdade de desejar; pelo segundo, um objeto necessário da faculdade de repelir; mas ambos somente
segundo o princípio da razão" (Crít. R. Prática, cap. 2). Kant insistia sobretudo em retirar as determinações de bem e
M. (em alemão, Gut e Bósé) "da esfera da faculdade inferior de desejar", à qual pertencem o agradável e o doloroso
(em alemão, Wohl e Übel). "O que devemos chamar de bem" — dizia ele — "é o objeto da faculdade de desejar
segundo o juízo dos homens dotados de razão; o M. deve ser objeto de aversão aos olhos de todos, de tal modo que
para tais juízos, além dos sentidos, também há necessidade da razão" (Ibid.). Contudo Kant concordava com a teoria
subjetivista, ao julgar que o bem e o M. não podem ser determinados independentemente da faculdade de desejar do
homem, o que significa que eles não são realidade ou irrealidade por si mesmos. A filosofia moderna e
contemporânea compartilha essa visão. Para ela, M. é simplesmente um des-valor, objeto de um juízo negativo de
valor, e implica, portanto, referência à regra ou norma na qual se fundamenta o juízo de valor (v. VALOR). Assim, p.
ex., o terremoto é um M. quando destrói vidas humanas ou fontes de subsistência e bem-estar humano, mas não é um
M. quando não provoca esse tipo de destruição, pois nesse caso não contraria o desejo ou a exigência humana de
sobrevivência e bem-estar. Seja qual for o ponto de vista de que se considere essa exigência, ela se expressa em
regras ou normas que podem entrar em conflito com acontecimentos naturais ou com comportamentos humanos.
Esses acontecimentos ou comportamentos são chamados de males, com base nesse conflito, e não porque tenham um
status metafísico especial.
Era desse ponto de vista que Kant interpretava o "M. radical" da natureza humana como um princípio que alicerça o
comportamento de todos os seres racionais finitos: afastar-se, ocasionalmente, da lei moral (Religion, I, 3). Esse
princípio nada mais expressa que a possibilidade de transgredir as normas morais próprias do homem, definindo-se,
então, o M. radical como a possibilidade geral de desvalor na conduta do homem.
MAL RADICAL. V MAL
MALTHUSIANISMO (in. Malthusianism; fr. Malthusianisme, ai. Malthusianismus; it. Malthusianesirno). 1.
Doutrina econômica de Thomas Robert Malthus (1766-1834), exposta em Ensaio sobre a população (1798), que
parte do princípio de que a população e os meios de subsistência crescem em proporções diferentes, passando-se a
considerar os meios para evitar o desequilíbrio entre ambos. Malthus baseava-se no desenvolvimento da América do
Norte, observando que ali a população tendia a crescer em progressão geométrica, duplicando
MANEIRISMO
641
MAQUIAVELISMO
a cada vinte e cinco anos, enquanto os meios de subsistência tendiam a crescer em progressão aritmética. Segundo
Malthus, o desequilíbrio assim determinado provoca a intervenção dos meios repressivos (miséria, vício e outros
flagelos sociais) que dizimam a população, e não há outra maneira de evitar a ação de tais meios a não ser
substituindo-os por meios preventivos, que consistem no controle da natalidade. Para Malthus, portanto, o único
remédio para os males sociais seria a abstenção de casar-se por parte das pessoas que não estejam em condições de
prover ao sustento dos filhos, recomendando-se ao mesmo tempo "a conduta estritamente moral durante esse período
de abstenção". Essa doutrina propôs um problema que continua vivo e atual na sociedade contemporânea, levando-se
em conta os enormes índices de crescimento da população mundial.
2. Em geral, a teoria e a prática do controle voluntário da natalidade.
MANEIRISMO (in. Manner, fr. Manière, ai. Manier, it. Manierà). A partir do séc. XVIII essa palavra foi usada para
designar uma forma menor de expressão artística, produto da busca malsucedida de originalidade. Kant diz "O M. é
uma espécie de contrafação, que consiste em imitar a originalidade e, portanto, em afastar-se o máximo possível dos
imitadores, sem, porém, possuir o talento de ser exemplar por si mesmo. (...) O precioso, o rebuscado e afetado que
querem distinguir-se do comum mas carecem de talento lembram os modos de quem se escuta ou se movimenta
como se estivesse em cena" {Crít. do Juízo, § 49). No mesmo sentido, Hegel definia o M. como a forma de arte em
que o artista, em vez de conservar a "objetividade" da arte, procura absorvê-la em sua individualidade "particular e
acidental", con-trapondo-a, portanto, à originalidade, que é a "verdadeira objetividade" da obra de arte {Vor-lesungen
über die Âsthetik, ed. Glockner, I, pp. 391 ss.).
MANIFESTAÇÃO (in. Manifestation; fr. Manifestation-, ai. Manifestation-, it. Manifesta-zionè). O mesmo que
expressão, revelação ou fenômeno (v.), no sentido positivo deste último termo.
MANIQUEÍSMO (in. Manicheism; fr. Ma-nichéisme, ai. Manichâismus; it. Manicheismo). Doutrina do sacerdote
persa Mani (lat. Mani-chaeus), que viveu no séc. III e proclamou-se o Paracleto, aquele que devia conduzir a doutrina cristã à perfeição. O M. é uma mistura imaginosa de elementos gnósticos, cristãos e orientais, sobre as bases do
dualismo da religião de Zoroastro. Admite dois princípios: um do bem, ou princípio da luz, e outro do mal, ou
princípio das trevas. No homem, esses dois princípios são representados por duas almas: a cor-pórea, que é a do mal,
e a luminosa, que é a do bem. Pode-se chegar ao predomínio da alma luminosa através de uma ascese particular, que
consiste em três selos: abstenção de alimentar-se de carne e de manter conversas impuras {signaculum oris);
abstenção da propriedade e do trabalho {signaculum manus); abster-se do casamento e do concubinato {signaculum
sinus). O M. foi muito difundido no Oriente e no Ocidente; aqui durou até o séc. VII. O grande adversário do M. foi
S. Agostinho, que dedicou grande número de obras à sua refutação. Cf. H. C. PUECH, Le manichéisme. son fondateur,
sa doctrine, Paris, 1949.
MÂNTICA (gr. [iavuKÍi téxvr|; in. Mantic, fr. Mantique, ai. Mantica-, it. Mantica). Visão antecipada ou ciência das
coisas futuras. É assim que Cícero define a M. {Dedivin., I, 1), ao citar e discutir o modo como essa ciência era
entendida pelos estóicos. Para estes, a M. fundamenta-se na ordem necessária do mundo, no destino: ao se interpretar
essa ordem é possível antecipar os acontecimentos que ela determina. "Os estóicos" — diz Cícero — "afirmam que só
o sábio pode ser adivinho." Crisipo define a M. com estas palavras: "faculdade de conhecer, ver e explicar os sinais
por meio dos quais os Deuses manifestam sua vontade aos homens" {De divin., II, 63, 130).
MAQUIAVELISMO (in. Machiavelianism, fr. Machiavélisme, ai. Machiavelismus; it. Ma-chiavellismo). Doutrina
política de Maquiavel ou o princípio no qual ela é convencionalmente resumida.
A doutrina política do M. tem explicitamente o objetivo de indicar o caminho por meio do qual as comunidades
políticas em geral (e a italiana em particular) podem renovar-se conservando-se, ou conservar-se renovando-se. Tal
caminho é o retorno aos princípios, conforme a concepção que o Renascimento (v.) tem da renovação do homem em
todos os campos. O retorno aos princípios de uma comunidade política supõe duas condições: Ia que suas origens
históricas sejam claramente reconhecidas, o que só pode ser feito por meio de uma investigação histórica objetiva; 2que sejam reconhecidas, em sua
MAQUIAVELISMO
642
MATEMÁTICA
verdade afetiva, as condições a partir das quais ou através das quais o retorno deve ser realizado. A objetividade
historiográfica e o realismo político constituem, assim, os dois pontos básicos do M. original. Graças a este segundo
aspecto, Maquiavel foi considerado fundador da ciência empírica da política, ou seja, disciplina empírica que estuda
as regras da arte de governar sem outra preocupação além da eficácia dessas regras. Constituem parte integrante da
doutrina de Maquiavel o conceito de acaso, que com sua imprevisibilidade é sempre condição da atividade política, e
o conceito conexo do empenho político, em virtude do qual os homens "nunca devem entregar-se", no sentido de que
não devem desesperar nem renunciar à ação, mas participar ativamente dos acontecimentos, pois o resultado deles,
dada a presença do acaso, nunca é predeterminado. (Sobre a doutrina de Maquiavel e suas interpretações, v. G.
SASSO, N. M., storia dei suo pensiero político, Nápoles, 1958.)
Por M. entende-se também o princípio no qual, a partir do séc. XVII, a doutrina de Maquiavel passou a ser
convencionalmente resumida: de que "o fim justifica os meios". Tal máxima, porém, não foi formulada por
Maquiavel, que não considera o Estado como fim absoluto e não o julga dotado de existência superior à do indivíduo
(no sentido atribuído, p. ex., por HEGEL, Fil. do dir, § 337). Além disso, Maquiavel tinha grande simpatia pela
honestidade e pela lealdade na vida civil e política; portanto, admirava os Estados regidos por essas virtudes, como p.
ex. o dos romanos e dos suíços. Entretanto, como dissemos, seu objetivo era formular regras eficazes de governo,
tendo como base a experiência política antiga e nova, considerando que essa eficácia era independente do caráter
moral ou imoral das regras. Por outro lado, percebeu que a moral e a religião podem ser — como às vezes são —
forças políticas que, como todas as outras, condicionam a atividade política e seu êxito; percebeu também que às
vezes isso não acontece e que a ação política se mostra eficaz mesmo quando exercida em sentido contrário ao das
leis da moral. Como essa era a realidade mais freqüente nas sociedades de seu tempo (especialmente a italiana e a
francesa) — que ele chama de "corruptas" — e como Maquiavel tem sobretudo em vista a aplicação de suas regras
políticas à sociedade italiana para a constituição de um Estado unificado, explica-se sua insistência em certos
preceitos imorais de conduta política, o que acabou sendo mal expresso ou generalizado na máxima de que "o fim
justifica os meios". Esta, na realidade, foi a máxima da moral jesuíta: Hegel cita-a na forma dada pelo padre jesuíta
Busenbaum (1602-68): "Quando o fim é lícito, os meios também são lícitos" (Medulla theologíae moralis, IV, 3, 2), e
justifica-a do ponto de vista formal (como expressão tautológi-ca) e substancial (como "consciência indeterminada da
dialética do elemento positivo") (Fil. do dir., § 140, d); cf., sobre oM., F. MEINECKE, Die Idee der Staatsrãson in der
neueren Geschichte, 1925; trad. in., Machiavellianism, 1957).
MARXISMO. V. COMUNISMO, MATERIALISMO DIALÉTICO, MATERIALISMO HISTÓRICO.
MATEMA (gr. u.á0rma). Tudo o que é objeto de aprendizagem. Nesse sentido, Platão diz que a idéia do bem é "o
maior M." (Rep., VI, 505 a). Para Sexto Empírico, M. implicava, além da coisa apreendida, quem a aprende e o modo
de aprender (Adv. math., I, 9), entendendo por "matemáticos" todos os cultores de ciências, além dos filósofos. Kant
restringiu essa palavra, designando com ela as proposições da matemática que são obtidas por meio da "cons-tmçâo
de conceitos" (Crít. R. Pura, II, cap. 1, seç. 1). A palavra mais próxima ao uso clássico desse termo é disciplina (v.):
ciência aprendida ou ensinada.
MATEMÁTICA (gr. Moc8riLtaTiKií; lat. Mathe-matica-, in. Mathematics; fr. Mathématique, ai. Mathematik, it.
Matemática). As definições filosóficas de M. por um lado expressam orientações diferentes da investigação nessa
área e, por outro, modos diferentes de justificar a validade e a função da M. no conjunto das ciências. Podem ser
distinguidas quatro definições fundamentais: Ia M. como ciência da quantidade: 2- M. como ciência das relações; 3M. como ciência do possível; 4a M. como ciência das construções possíveis.
1- "Ciência da quantidade" foi a primeira definição filosófica da M. Essa definição foi claramente formulada por
Aristóteles, mas já estava implícita nas considerações de Platão sobre a aritmética e a geometria, que tendiam
sobretudo a evidenciar a diferença entre as grandezas percebidas pelos sentidos e as grandezas ideais, que são objeto
da M. (Rep., VII, 525-27). Aristóteles dizia: "O matemático constrói sua teoria por meio da abstração; prescinde de
todas as qualidades sensíveis, como peso e leve-
MATEMÁTICA
643
MATEMÁTICA
za, dureza e seu contrário, calor e frio, e das outras qualidades opostas, limitando-se a considerar apenas a quantidade
e a continuidade, ora em uma só dimensão, ora em duas, ora em três, bem como os caracteres dessas entidades, na
medida em que são quantitativas e continua-tivas, deixando de lado qualquer outro aspecto delas. Conseqüentemente,
estuda as posições relativas e o que é inerente a elas: comensu-rabilidade ou incomensurabilidade e proporções"
{Mel, XI, 3,1601 a 28; cf. Fís., II, 193 b 25). Esse conceito de M. persistiu por muito tempo e só no século passado
começou a parecer insuficiente para exprimir todos os aspectos desse campo de estudos. O próprio Kant traduzia-o
para a linguagem de sua filosofia. Para ele, a M. distinguia-se da filosofia porque, enquanto esta procede por meio de
conceitos, a M. procede por meio da construção de conceitos; mas a construção de conceitos só é possível em M.
com base na intuição aprioriáo espaço, que é a forma da quantidade em geral. E diz: "Quem pensou distinguir a
filosofia da M. dizendo que esta tem como objeto apenas a quantidade tomou o efeito pela causa. A forma do
conhecimento da M. é a causa de ela poder referir-se unicamente a quantidades. Na verdade, só o conceito de
quantidade pode ser construído, ou seja, exposto apriori nu intuição do espaço" {Crít. R. Pura, Dout; do mét., cap. I,
seç. 1). O conceito de M. como construção — portanto, de algum modo como intuição — retornou na M.
contemporânea (v. mais adiante, n. 4). Mas o conceito de M. como ciência da quantidade foi repetido numerosas
vezes pelos filósofos. As longas e fantásticas disquisições de Hegel sobre os conceitos fundamentais da M., na grande
Lógica, baseiam-se nele (Wissenschaft der Logik, 1,1, seç. II). E mesmo muito mais tarde, Croce referia-se
destemidamente a esse conceito: "As M. fornecem conceitos abstratos que possibilitam o juízo numérico; constróem
os instrumentos para contar e calcular e para realizar aquela espécie de falsa síntese apriori, que é a numeração dos
objetos individuais" {Lógica, 1920, p. 238).
2- A segunda concepção fundamental da M. considera-a como ciência das relações, portanto estreitamente ligada à
lógica ou parte desta. Os antecedentes dessa concepção podem ser encontrados em Descartes, que afirmava: "Embora
as ciências comumente chamadas de matemáticas tenham objetos diferentes, estão de acordo quanto a considerarem
apenas as diversas relações ou proporções neles encontradas" (Discours, II). O conceito leibniziano de ars combinatoria (v.) ou M.
universal sem dúvida pode ser considerado o início do conceito da M. como lógica, mas não impedia que o próprio
Leibniz aderisse ainda ao conceito tradicional de M. como arte da quantidade (De arte combinatoria, 1666,
Proemium, 7, em Op, ed. Erdmann, p. 8). Obviamente, a estreita conexão da M. com a lógica começou a evidenciarse como característica da M. só quando a lógica assumiu a forma de cálculo matemático. Segundo Boole, uma vez
que "as últimas leis da lógica têm forma matemática", a apresentação da lógica em forma de cálculo não é arbitrária,
mas representa algo que decorre das próprias leis do pensamento (Laws of Thought, 1854, cap. I, § 10). Os estudos de
Dedekind sobre os fundamentos da aritmética (Was sind un sollen die Zahlen?, 1887) seguem a mesma ordem de
idéias. Mas quem mais contribuiu para inscrever a M. no domínio da lógica foi Frege e sua polêmica contra o
psicologismo. Em um ensaio de 1884, Frege mostrava a importância do conceito de relação para a definição do
número natural; dizia: "O conceito de relação pertence — tanto quanto o conceito simples — ao campo da lógica
pura. Aqui não interessa o conteúdo especial da relação, mas exclusivamente sua forma lógica. Se algo pode ser
afirmado sobre ela, a verdade desse algo é analítica e reconhecida apriori" (Eine logish-mathematische Untersuchung
überden Begriff der Zahl, 1884, § 70, trad. it., em Aritmética e lógica, p. 139).
A partir daí, pode-se considerar consolidada a conexão da M. com a lógica através da teoria das relações; essa
conexão foi constantemente pressuposta nas definições de M. Todavia mesmo as definições que têm esse fundamento
em comum foram formuladas de modos diferentes. A formulação mais óbvia de uma definição deste tipo é a que
considera a M. como "teoria das relações". Poincaré expunha essa definição na forma geral, afirmando: "A ciência é
um sistema de relações. Só nas relações deve-se buscar objetividade, e seria vão buscá-la nos seres isolados" (La
valeur de lascience, 1905, p. 266). Esse conceito foi adotado por Russell, que via a coincidência entre M. e lógica
justamente no âmbito da teoria das relações e julgava que o tema comum das duas ciências era a forma dos
enunciados, definida como "aquilo que permanece invariável quan-
MATEMÁTICA
644
MATEMÁTICA
do todos os componentes do enunciado são substituídos por outros", ou seja, quando o enunciado se transforma em
pura relação (Intr. to Mathematical Philosophy, 1918, cap. XVIII).
Por outro lado, Peirce, mesmo admitindo a conexão entre M. e lógica, procurara distinguir ambas, afirmando que,
enquanto a M. é a ciência que infere conclusões necessárias, a lógica é a ciência do modo de inferir conclusões
necessárias. "O lógico não está muito preocupado com esta ou aquela hipótese ou com suas conseqüências exceto
quando isso pode lançar luzes sobre a natureza do raciocínio. O matemático interessa-se muito pelos métodos
eficientes de raciocinar, visando à sua possível extensão para novos problemas, mas, enquanto matemático, não se
preocupa em analisar as panes de seu método cuja correção é dada como óbvia" {Coll. Pap., 4.239). Essa distinção,
porém, baseava-se na noção de lógica como ciência categórica e normativa (Ibid., 4.240), o que não fez carreira na
lógica contemporânea, cujo caráter convencional se acentuou cada vez mais (v. CONVENCIONALISMO; LÓGICA).
Portanto, a melhor definição de M., desse ponto de vista, é dada por Wittgenstein: "A M. é um método lógico. As
proposições da M. são equações, portanto pseudoproposições. A proposição matemática não exprime pensamento
algum. De fato, nunca precisamos de proposições matemáticas na vida, mas as empregamos apenas com o fim de, a
partir de proposições que não pertencem à M., tirar conclusões que se expressam em proposições que tampouco lhe
pertencem" (Tractatus, 1922,6.2; 6.21; 6.211). As equações da M. correspondem às tautologias da lógica {Ibid., 6.22)
e, como estas, nada dizem. Ponto de vista análogo foi expresso por Carnap: "Os cálculos constituem um gênero
particular de cálculos lógicos, distinguindo-se deles pela maior complexidade. Os cálculos geométricos são um
gênero particular de cálculos físicos" (Founda-tions of Logic and Mathematics, 1939, § 13).
Esta é a melhor formulação da tese do logicismo(v.). Segundo esse ponto de vista, em primeiro lugar deve-se
construir uma lógica exata, para em seguida dela extrair a M., do seguinte modo: Ia definindo todos os conceitos da
M. (vale dizer, da aritmética, da álgebra e da análise) em termos de conceitos de lógica; 2 S deduzindo todos os
teoremas da M. a partir dessas definições e por meio dos princípios da própria lógica (inclusive os axiomas de
infinidade e de escolha) (cf. C. G. HEMPEL, "On the
Nature of Mathematical Truth", 1925, em Rea-dings in the Philosophy of Science, 1953, p. 59).
5- A terceira concepção fundamental de M. pertence à corrente formalista e pode ser assim expressa: a M. é "a
ciência do possível", onde por possível se entende aquilo que não implica contradição (v. POSSÍVEL, 1). Desse ponto
de vista, a M. não é parte da lógica e não a pressupõe. Do modo como foi concebida por Hilbert e Bernays
{Grundlagen der Mathe-matik, I, 1934; II, 1939), a M. pode ser construída como simples cálculo, sem exigir
interpretação alguma. Toma-se, então, um sistema axiomático (v. AXIOMATIZAÇÃO), no qual: 1B todos os conceitos
básicos e todas as relações básicas devem ser completamente enumerados, integrando-se neles, por meio de definição,
quaisquer conceitos ulteriores; 2S os axiomas devem ser completamente enumerados e destes deduzidos todos os
outros enunciados em conformidade com as relações básicas. Nesse sistema, a demonstração matemática é um
procedimento puramente mecânico de inferência de fórmulas, mas ao mesmo tempo acrescenta-se à M. formal uma
metamatemãtica constituída por raciocínios não formais em torno da M. "Desse modo" — disse Hilbert — "realizase, por meio de trocas contínuas, o desenvolvimento da totalidade da ciência matemática, de duas maneiras: inferindo
dos axiomas novas fórmulas demonstráveis por meio de deduções formais e acrescentando novos axiomas e a prova
de não-contradição, por meio de raciocínios que tenham conteúdo." A M. constitui, então, um sistema perfeitamente
autônomo, ou seja, não pressupõe um limite ou um guia fora de si mesma e desenvolve-se em todas as direções
possíveis, entendendo-se por direções possíveis as que não levem a contradições.
Portanto, é essencial para esse conceito da M. a possibilidade de determinar a possibilidade (não-contradição) dos
sistemas axiomáticos. Mas foi justamente essa possibilidade que o teorema descoberto por Gõdel em 1931 pôs em
dúvida: segundo ele, não é possível demonstrar a não-contradição de um sistema S com os meios (axiomas,
definições, regras de dedução, etc.) pertencentes ao mesmo sistema S; pata efetuar tal demonstração, é preciso
recorrer a um sistema Si, mais rico em meios lógicos que S ("Über formal unentscheidbare Sãtze der Principia
Mathematica und ver-wandter Systeme", em MonatschriftefürMathe-matik und Physik, 1931, pp. 173-98). Esse
MATEMÁTICA
645
MATEOSIOLOGIA
teorema de Gõdel teve grande ressonância na M. moderna. Até agora foi possível demonstrar a não-contradição de
algumas partes da M., como p. ex. da aritimética (demostrado por Gentzen em 1936), mas não se avançou muito
nessa direção; por isso, a "ciência do possível" hoje acredita que sua missão mais difícil é mostrar a "possibilidade"
de suas partes. Quanto à possibilidade da M. como sistema único e total, obviamente foi excluída pela formulação do
teorema de Gõdel, que também mostrou os limites da axiomática ao demonstrar que nenhum sistema axiomático
contém "todos" os axiomas possíveis e que, portanto, novos princípios de prova podem ser continuamente
descobertos. Outra conseqüência do teorema de Gõdel é uma limitação das capacidades das máquinas calculadoras,
cuja construção foi enormemente facilitada pelo conceito forma-lista da M. De fato, pode-se construir uma máquina
para resolver determinado problema, mas não uma máquina que seja capaz de resolver todos os problemas (cf. E.
NAGEL-G. R. NEWMANN, GôdeVs Proof, 1958, pp. 98 ss.).
4a Segundo a quarta concepção fundamental, a M. é a ciência que tem por objeto a possibilidade de construção.
Trata-se, como se vê, da noção kantiana da M. como "construção de conceitos"; por isso, essa corrente comumente é
chamada de intuicionismo, mas seus precedentes podem ser percebidos na polêmica antiformalista de Poincaré, na
obra de Kronec-ker (Überden Zahlbegriff, 1887), na tendência empirista de alguns matemáticos franceses (Borel,
Lebegue, Bayre), no filósofo vienense F. Kaufmann, e em outros. Segundo Brouwer, que é um dos principais
representantes do intuicionismo, a M. identifica-se com a parte exata do pensamento humano e por isso não
pressupõe ciência alguma, nem a lógica, mas exige uma intuição que permita apreender a evidência dos conceitos e
das conclusões. Portanto, não se deve chegar às conclusões a partir de regras fixas contidas num sistema formalizado,
mas cada conclusão deve ser diretamente verificada com base em sua própria evidência. Desse ponto de vista, o
procedimento de demonstração matemática não tem em vista a dedução lógica, mas a construção de um sistema
matemático. Brouwer insiste no fato de que, mesmo no caso de uma demonstração de impossibilidade através da
evidência de uma contradição, o uso do princípio de contradição é apenas aparente: na realidade, trata-se
da afirmação de que uma construção matemática, que deveria satisfazer a certas condições, não é realizável (cf. A.
HEYTING, Mathematische Grundlagenforschung. Intuitionismus undBe-weistheorie, 1934 [trad. fr., 1955], I, 5,1). Na
esteira de Brouwer, Heyting demostrou que, apesar de o princípio de contradição poder ser utilizado, o mesmo não
acontece com o princípio do terceiro excluído (v.) (Dieformalen Regeln der intuitionistischen Logik, in L. B. Preusz.
Akad. Wiss., 1930).
O intuicionismo, apesar de definir a M. como a ciência das construções possíveis, não recorre, como Kant, à intuição
a priori do espaço, nem a forma alguma de intuição empírica ou mística. A construção de que o intuicionismo fala é
conceituai e não se refere a fatos empíricos. Heyting resumiu desta forma o ponto de vista de Brouwer: l s a M. pura é
uma criação livre do espírito e não tem relação alguma com os fatos de experiência; 2 S a simples constatação de um
fato de experiências sempre contém a identificação de um sistema matemático; 3S o método da ciência da natureza
consiste em reunir os sistemas matemáticos contidos nas experiências isoladas em um sistema puramente matemático
construído com este fim (cf. HEYTING, op. cit., IV, 3).
Se considerarmos essas conclusões, veremos que a distinção entre formalismo e intuicionismo (entre a terceira e a
quarta concepção da M.) não é tão radical quanto poderia parecer. Em primeiro lugar, a construção que os
intuicionistas vêem como objeto do procedimento matemático é formal e sua possibilidade é determinada por regras
formais. Por outro lado, os limites do formalismo evidenciados pelo teorema de Gõdel ressaltam o valor de algumas
exigências apresentadas pelo conceito intuicionista da matemática. E já que é difícil ignorar a importância do aspecto
lingüístico da M., que serviu de base para o logicismo, o pensamento matemático contemporâneo é dominado por
certo ecletismo (cf. p. ex. E. W. BETH, Les fondements logiques des mathématiques, 2a ed., 1955). Entretanto, do
ponto de vista filosófico, vale dizer, do ponto de vista dos conceitos básicos e das orientações gerais de estudo, as
diferenças nas definições enunciadas neste verbete continuam sendo importantes.
MATEOSIOLOGIA (fr. Mathéosiologié). Termo empregado por Ampère para indicar a ciência que deveria ter por
objeto, "por um lado, as leis
MATÉRIA1
646
MATÉRIA2
a serem obedecidas no estudo ou no ensino dos conhecimentos humanos e, por outro lado, a classificação natural
desses conhecimentos" (Essai sur Ia philosophie des sciences, 1834, p. 31).
MATÉRIA1. Em sentido gnosiológico v. FORMA, 2.
MATÉRIA2 (gr. vkr\; lat. Matéria; in. Matter, fr. Matière, ai. Materie, it. Matéria). Um dos princípios que
constituem a realidade natural, isto é, os corpos. São as seguintes as principais definições dadas da M.: Ia M. como
sujeito; 2a M. como potência; 3a M. como extensão; 4- M. como força; 5a M. como lei; 6a M. como massa; 7~ M.
como densidade de campo. As quatro primeiras definições são filosóficas; as três últimas, científicas.
Ia Em Platão e Aristóteles a definição de M. como sujeito alterna-se com a de M. como potência. Segundo esse
conceito, M. é receptividade ou passividade; nesse sentido, Platão chama-a de mãe das coisas naturais, já que ela
"acolhe em si todas as coisas sem nunca assumir forma alguma que se assemelhe às coisas, pois é como a cera que
recebe a marca" (Tim., 50 b-d). Nesse sentido, M. é o material bruto, amorfo, passivo e receptivo, do qual as coisas
naturais são compostas. Aristóteles chama esse material de sujeito (ÚKOKeí^evov): "Chamo de M. o sujeito primeiro
de uma coisa, a partir do qual a coisa não é gerada acidentalmente" (Fís., I, 9, 192 a 31). Como sujeito, a M. é "aquilo
que permanece através das mudanças opostas; assim, p. ex., no movimento o móvel permanece o mesmo, apesar de
estar ora aqui, ora lá; na mudança quantitativa permanece o mesmo aquilo que se torna menor ou maior; e na
mudança qualitativa permanece o mesmo aquilo que uma vez está com boa saúde e outra vez não" (Mel, VIII, 1, 1042
a 27). Em seu aspecto de sujeiío, a M. é desprovida de forma, é indeterminada, portanto incognoscível por si mesma
(Jbid., VII, 11, 1037 a 27; VII, 10, 1036 a 8): características estas eminentes na "M. primeira", que não é a que
constitui o material (p. ex., o bronze ou a madeira) de que uma coisa é feita, mas que é o sujeito comum,
incognoscível, de todos os materiais (Ibid., IX, 7, 1049 a 18 ss.). O conceito de M. como sujeito passivo foi retomado
pelos es-tóicos, que a designaram precisamente por esse seu caráter (DIÓG. L., VII, 134). Em virtude dessa
passividade, que dispõe a M. a receber a ação criadora da Razão Divina (que é o princípio ativo), os estóicos chamaram a M. de "substância primeira"
(DIÓG. L., VII, 150; cf. SÊNECA, Ep., 65, 2). Plotino só fez levar ao extremo essa concepção de M. ao afirmar que ela
não é "alma intelecto, vida, forma, razão, limite (já que é ausência de limite), nem potência (pois o que poderia
criar?). Desprovida como é de todos os caracteres, nem sequer é possível atribuir-lhe o ser, no sentido, p. ex., em que
se diz que existe movimento ou repouso; ela é realmente o não-ser, uma imagem ilusória da massa corpórea e uma
aspiração à existência" (Enn., III, 6, 7). Esse conceito da M. foi constantemente empregado com fins teológicos. Na
patrística, foi repetido por Orígenes (Contra Cels., III, 41; Deprinc, II, 1) e por S. Agostinho. Este considera a M.,
segundo o conceito clássico, como "absolutamente informe e desprovida de qualidade", estando "próxima do nada",
conquanto existente na medida em que é dotada da capacidade de ser formada (Conf., XII, 8; De natura boni, 18). S.
Tomás, por sua vez, nega que a M. seja "potência operante" (S. Th., I, q. 44, ad. 3e) e insiste em sua imperfeição
incompletitude ou relativamente à forma (Ibid., I, q. 4, a. 1). Mesmo atribuindo à M. certa realidade atual e negando,
pois, que ela seja um "quase-nada" ou pura "possibilidade de ser", a escolástica agos-tiniana não renova o conceito de
M. Duns Scot, p. ex., atribui certa realidade (entitas) à M., mas, apesar disso, considera-a "receptiva de todas as
formas substanciais e acidentais", segundo o conceito aristotélico (Op. Ox., II, d. 12, q. 1, n. 11), e nega-lhe potência
ativa ao negar que nela estejam presentes razões seminais (Ibid., d. 18, q. 1, n. 3). Desse ponto de vista, a passividade
ou receptividade continua sendo característica fundamental da M., à qual recorreram alguns naturalistas do
Renascimento, como p. ex. Paracelso (Meteor., 72) e Telésio. Este último considerou a M. como a "massa corpórea"
destinada a sofrer a ação das duas "naturezas agentes", o calor e o frio (De rer. nat, I, 4). Essa concepção foi
compartilhada por Locke, para quem a M. é "morta e inativa" (Ensaio, IV, 10, 10), concepção esta freqüente ainda
hoje na filosofia e no pensamento comum. Está presente, p. ex., em Bergson, para quem a M. é cessação potencial do
movimento da vida, definindo-se pela "inércia", em contraposição ao que é "vivo" (Évol. créatr, 8a ed., 1911, pp. 216
ss.).
MATÉRIA2
647
MATÉRIA2
2a Em Platão e Aristóteles o conceito de M. como potência mescla-se ao conceito de M. como sujeito. Platão diz que
a M. "nunca perde a potência" (Tim., 50 b). Aristóteles identifica a M. com a potência: "Todas as coisas produzidas,
seja pela natureza, seja pela arte, têm M., pois a possibilidade que cada uma tem de ser ou não ser é a M. de cada
uma" (Met., VII, 7, 1032 a 20). Mas, segundo Aristóteles, a potência não é apenas essa possibilidade pura de ser ou
não ser; é uma potência operante e ativa; "Uma casa existe potencialmente se nada houver em seu material que a
impeça de tornar-se casa e se nada mais houver que deva ser acrescentado, retirado ou mudado. (...) E as coisas que
têm em si próprias o princípio de sua gênese existirão por si mesmas quando nada de externo o impedir" (Met, IX, 7,
1049 a 9 ss.). Essa auto-suficiência da potência para produzir, graças à qual a M. não é apenas material bruto, mas
capacidade efetiva de produção, exprime um conceito que não é mais de M. como passividade ou receptividade.
Como potência operante, a M. não é um princípio necessariamente corpóreo. Plotino, que, como se viu, reduz a M. ao
não-ser, por outro lado identifica-a, como potência, com o infinito (Enn., II, 4, 15), e, ao lado da M. sensível, admite
uma M. inteligível que permanece sempre idêntica a si mesma e possui todas as formas, de tal modo que lhe falta a
razão de transformar-se (Ibid., II, 4, 3)-Nessa doutrina encontra-se a origem da tradição que insiste na atividade da
M.: tradição que passa por Scotus Erigena (De divis. nat, III, 14) e encontra nova fase na doutrina de Avicebrón (Ibn
Gabirol) sobre a composição hilomórfica universal. Segundo Avicebrón, as coisas espirituais também são compostas
por M. e forma, e a M. identifica-se com a primeira das categorias aristotélicas, sendo substância porque "sustenta" as
outras nove categorias (Fons vitae, II, 6). Foi só com base no caráter ativo ou inativo da M. que David de Dinant
pôde identificar Deus com M. (ALBERTO MAGNO, 5. Th., I, 4, q. 20; S. TOMÁS, S. Th., I, q. 4, a. 8). Contudo, a M.
mantém o caráter de atividade mesmo na escolástica agostiniana, que simultaneamente insistia em atribuir-lhe
realidade positiva, detectando sua presença também nos seres espirituais, segundo o conceito de Avicebrón. S.
Boaventura diz: "A razão seminal é a potência ativa ínsita à M., e essa potência ativa é a essência da forma, visto que
a partir dela gera-se a forma através do procedimento da natureza que nada produz a partir do nada" (In Sent, II, d. 18, a. 1, q. 3)- Esse conceito de M. foi transmitido
ao Renascimento por Nicolau de Cusa, que a considera como "possibilidade indeterminada", na qual existem,
contraídas, todas as coisas do universo. "A disposição da possibilidade" — dizia N. de Cusa — "tem de ser contracta,
e não absoluta, uma vez que, se a terra, o sol e as outras coisas não estivessem ocultas na M. como possibilidades
contractas, não haveria razão para passarem ao ato, em vez de não passarem" (De docta ignor., II, 8). Em outras
palavras, é só por estarem presentes em estado contraído na M. que determinadas possibilidades vêm à tona com a
criação. É nesse conceito que Giordano Bruno basearia seu conceito de M. como princípio ativo e criador da
natureza: "Para ser realmente tudo o que pode ser, essa M. tem todas as medidas, todas as espécies de configurações e
dimensões, e porque as tem todas não tem nenhuma, pois é preciso que aquilo que é tantas e diversas coisas não seja
nenhuma delas em particular." Nesse sentido, M. coincide com forma (De Ia causa, IV).
3a O conceito de M. como extensão foi defendido por Descartes: "A natureza da M. ou dos corpos em geral não
consiste em ser uma coisa dura, pesada, colorida ou capaz de afetar nossos sentidos de qualquer outro modo, mas
apenas em ser uma substância extensa, em comprimento, largura e profundidade" (Princ. phil., II, 4). Esse conceito
tem grande aceitação no séc. XVII. Hobbes, p. ex., identifica a M. primeira dos aristotélicos com o corpo em geral,
ou seja, com o "corpo considerado sem levar em conta qualquer acidente, exceto a grandeza ou extensão e a
capacidade de receber formas e acidentes" (Decorp., VIII, 24). O mesmo conceito de corpo em geral como M. é
aceito por Spinoza, que também o identifica com a extensão (Et, II, def. 1).
Há motivos para acreditar que essa definição de M. esteja implícita na hipótese atomista. Como se sabe, o termo "M."
aparece pela primeira vez em Aristóteles com significado filosófico, mas o próprio Aristóteles fala, referindo-se a
Demócrito, do "corpo comum de todas as coisas", e afirma que, segundo Demócrito, as partes de tal corpo diferem
em grandeza e configuração (Fís., III, 4, 203 a 33-203 b 1). Ora, "grandeza e configuração" nada mais são que
extensão. Em outro trecho, Aristóteles enumera três diferenças entre os átomos: configuração,
MATÉRIA2
648
MATÉRIA2
ordem e posição (Met., I, 4, 985 b 15), mas configuração, ordem e posição nada mais são que extensão. Extensão
também é a configuração à qual, segundo Epicuro, se reduzem todas as qualidades do átomo (DIÓG. L., X, 54).
Assim, a hipótese atomista implica o conceito de M. como extensão, o que foi ressaltado por Guilheme de Ockham
no séc. XIV: "É impossível haver M. sem extensão porque não é possível haver M. que não tenha as partes distantes
umas das outras; por isso, ainda que as partes da M. possam unir-se, como se unem as partes da água e do ar, não
podem estar no mesmo lugar" (Summ. phys., I, 19; Quodl, IV, q. 23). 4a O conceito de M. como força ou energia é
defendido pela primeira vez pelos platônicos de Cambrídge, no séc. XVII, sendo depois aceito por Leibniz e por
muitos filósofos do séc. XVIII. Segundo Cudworth, a M. é uma natureza plástica, uma força viva que é emanação
direta de Deus (The True Intellectual System of the Universe, I, 1, 3). H. More, assim como Descartes, reduz a M. a
extensão, mas identifica a extensão com o espírito, resolvendo-a em partículas indivisíveis que ele chama de manadas
físicas e que nada mais têm de material {Enchi-ridion metaphysicum, I, 8, 8; I, 9, 3). Essas considerações metafísicas
ganharam significado mais preciso em Newton e Leibniz. Newton julgava impossível admitir que "a M. fosse isenta
de qualquer tenacidade e atrito de partes, bem como de comunicação de movimento"; considerava, portanto, que ela
tivesse estreitíssima relação com as "forças" ou "princípios" que se manifestam na experiência {Optickis, 1704, III, 1.
q. 31)- Para Leibniz, a M., além da extensão, é constituída por uma força passiva de resistência, que é a
impenetrabilidade ou antitipia (v.) {Op., ed. Erdmann, pp. 157, 463, 466. 691). A mesma doutrina foi aceita por
Wolff, que definia a M. como "um ente extenso provido de força de inércia", e acreditava que ela possuísse força
ativa por si {Cosm., §§ 141-42). Essa interpretação da M. tornou-se um dos temas comuns do Iluminismo e da
polêmica dos ilu-ministas contra Descartes. Diderot dizia: "Não sei em que sentido os filósofos supuseram que a M. é
indiferente ao movimento e ao repouso. É certo, porém, que todos os corpos gravitam uns sobre os outros „jue todas
as partículas dos corpos gravitam :mas sobre as outras, que neste universo tuüo está em translação ou in nisu, ou em
translação e in nisu ao mesmo tempo" {Príncipes phil. surla matière et le mouvement,
em CEuvr.phil., ed. Vernière, p. 393). Essa concepção também foi aceita por Kant que dizia: "A M. enche um espaço,
não através de sua existência pura, mas por meio de uma força motriz particular": a força repulsiva de todas as suas
partes {Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, II, Lehrsatz, 2, 3). O conceito romântico de M. como
força ou atividade, expresso por Schelling, p. ex., é apenas uma ampliação dessa doutrina. Segundo Schelling, as três
dimensões da M. são determinadas pelas três forças que a constituem: força expansiva, força atrativa e uma terceira
força sintética, que correspondem, em sua natureza, ao magnetismo, à eletricidade e ao quimismo, respectivamente
{System der transzendentalen Idealismus, III, cap. II, Dedução da matéria; trad. it., pp. 109 ss.). Mais genericamente,
Schopenhauer identificava M. com atividade {Die Welt, I, § 4). No domínio científico, esse ponto de vista foi
realizado como energismo (v.). G. Ostwald sustentou, no fim do século passado, que o conceito de M. era
perfeitamente inútil para a ciência da natureza, propondo a sua substituição pelo conceito de energia {Die
Überwindung des wissenschaftlichen Mate-rialismus, 1895).
5a Embora não se possa chamar de conceito de M. a redução de M. a percepções ou idéias, proposta por Berkeley,
porque isso é simplesmente negá-la, é possível aceitar a definição dada por Mach, de que a M. é uma "conexão
determinada de elementos sensíveis em conformidade com uma lei" {Analyse der Ernpfin-dungen, XIV, 14). Essa
definição não tende, de fato, a negar a matéria ou a reduzi-la a elementos subjetivos e psíquicos, mas a substituir a
rigidez e inércia tradicionalmente atribuídas à M. pela estabilidade relativa de uma lei. Nesta definição, o conceito
fundamental é de lei, entendida como expressão de uma conexão constante. A M. seria precisamente a conexão
constante na qual se apresentam agrupados os elementos últimos das coisas, ou seja, as sensações.
6a Os usos anteriores são todos de natureza filosófica, apesar de algumas vezes terem sido propostos ou sustentados
por cientistas. No domínio da ciência, mais precisamente da mecânica, a noção de M. se identifica com a de massa
(definida pelo segundo princípio da dinâmica como relação entre a força e a aceleração imprimida). A massa pode ser
entendida como massa inercial ou como peso. O princí-
MATERIAUSMO
649
MATERIALISMO
pio da "conservação da M.", que a ciência do séc. XIX considerava como um de seus pilares, ao lado do princípio da
"conservação da energia", refere-se à M. entendida como peso, uma vez que seu significado específico foi-lhe dado
somente pelas célebres experiências com as quais Lavoisier demonstrou (1772) que nas reações químicas (entre as
quais a combustão) o peso do composto é a soma dos pesos dos componentes.
1- Na ciência contemporânea, o conceito de M. tende a ser reduzido ao de densidade de campo. "Uma vez
reconhecida a equivalência entre massa e energia, a divisão entre M. e campo parece artificiosa e não claramente
definida. Não poderíamos então renunciar ao conceito de M. e edificar uma física do campo puro? O que impressiona
nossos sentidos como M. na realidade é uma grande concentração de energia em espaço relativamente limitado.
Portanto, parece lícito equiparar a M. a regiões espaciais nas quais o campo é extremamente forte" (EINSTEIN-INFELD,
TheEvolution ofPhysics, cap. III; trad. it., p. 253). Esta tendência da física contemporânea não pode ser confundida
com o energismo, porque não implica a redução da M. à energia, mas a redução dos conceitos de M. e de energia ao
de campo (v.).
MATERIAUSMO (in. Materialism; fr. Ma-térialisme, ai. Materialismus, it. Materialismó). Este termo foi usado
pela primeira vez por Robert Boyle em sua obra de 1674 intitulada The Excellence and Grounds ofthe Mechanical
Philosophy (cf. EUCKEN, Geistige Strómungen der Gegenwart, 5a ed., 1916, p. 168). Esse termo designa, em geral,
toda doutrina que atribua causalidade apenas à matéria. Em todas as suas formas historicamente identificáveis (em
que esse termo não seja empregado com fins polêmicos), o M. consiste em afirmar que a única causa das coisas é a
matéria. A antiga definição de Wolff, segundo a qual são materialistas "os filósofos que admitem apenas a existência
dos entes materiais, ou seja, dos corpos" (Psychol. rationalis, § 33), não é suficiente para apontar as formas históricas
do M., porque levaria a incluir nessa corrente doutrinas que a repudiam (v. mais adiante). A partir daí é possível
distinguir: ls o M. metafísico ou cosmológico, que se identifica com o atomismo filosófico; 2- o M. metodológico,
segundo o qual a única explicação possível dos fenômenos é a que recorre aos corpos e aos seus movimentos; 3S o M. pratico, que reconhece no prazer o único guia da vida; 4S o M. psicofísico, para o qual os
fenômenos psíquicos são causados estritamente por fenômenos fisiológicos. Estas são as formas historicamente
reconhecíveis do M., além das formas conhecidas como M. dialético e M. histórico (v.), considerados à parte. Não se
pode aceitar, porém, como historicamente legítimo o significado que Berkeley atribui ao termo, entendendo por
materialistas todos aqueles que de qualquer maneira reconheçam a existência da matéria {Principies of Human
Knowledge, § 74), porque nesse sentido Aristóteles e os aristotélicos também seriam materialistas; tampouco é
possível chamar os estóicos de materialistas, ainda que, para eles, tudo o que existe na natureza é corpo (DIÓG. L.,
VII, 1, 56; PLUTARCO, De Com. Not5, uma vez que admitiam um princípio racional divino como causa do mundo; por
motivos análogos, não se pode julgar que Tertuliano seja materialista por ter afirmado que "tudo o que existe é corpo"
(Dean., 7; De carne Christi, 11).
I2 O M. cosmológico é caracterizado pelas seguintes teses: a) caráter originário ou inde-rivável da matéria, que
precede todos os outros seres e é causa deles (portanto, não é M. a doutrina de Gassendi, para quem os átomos que
constituem o universo foram criados por Deus); tí) estrutura atômica da matéria; c) presença na matéria, portanto nos
átomos, de uma força capaz de pô-los em movimento e de levá-los a se combinarem de tal modo que dão origem às
coisas (Demócrito admitia que os átomos se movem por conta própria desde a eternidade [ARISTÓTELES, Pis., VIII, 1,
252 a 32], e esse pressuposto permaneceu em todas as formas do atomismo; a última forma histórica assumida pelo
M., difundida nos últimos decênios do séc. XIX pelo biólogo alemão Emst Haeckel, admitia até mesmo que os
átomos fossem dotados de vida e sensibilidade, além de movimento [Die Weltrãtsel, 18991); d) negação do finalismo
do universo e, em geral, de qualquer ordem que não consista na simples distribuição das partes materiais no espaço;
é) redução dos poderes espirituais humanos à sensibilidade, ou seja, sensacionismo (sob esse aspecto, na Antigüidade
o M. é representado pelas doutrinas de Demócrito e de Epicuro; na Idade Moderna, pelas doutrinas de alguns
iluministas e de numerosos positivistas do séc. XLX).
2a O M. metodológico foi defendido primeiramente por Hobbes; sua tese fundamental con-
MATERIAUSMO
650
MATERIAUSMO
siste em julgar que a noção de matéria, ou seja, de corpo e de movimento, é o único instrumento disponível para a
explicação dos fenômenos. Hobbes afirmava de fato que o conhecimento de uma coisa é sempre conhecimento de sua
gênese, e que a gênese é movimento. Portanto, todo conhecimento é conhecimento do movimento, e movimento
implica corpo. Por isso, chamou De corpore (1655) o seu tratado de filosofia primeira. Desse ponto de vista, a
explicação materialista também é a única possível para as coisas que dizem respeito ao espírito e às coisas espirituais.
Assim, Hobbes objetava a Descartes: "O que diremos se o raciocínio não passar de um conjunto e uma conexão de
nomes por meio da palavra 'é? Segue-se dessa tese que, por meio da razão, não podemos concluir nada que diga
respeito à natureza das coisas, mas somente algo que diga respeito a seus apelativos; vale dizer: com ela vemos
apenas se os nomes das coisas se agrupam bem ou mal, segundo as convenções que estabelecemos arbitrariamente
para os seus significados. Se assim for, como pode perfeitamente ser, o raciocínio dependerá dos nomes, os nomes
dependerão da imaginação e a imaginação talvez (isto segundo a minha opinião) dependa do movimento dos órgãos
do corpo, e assim o espírito nada mais será que um movimento em certas partes do corpo orgânico" (III, Objections,
4). Portanto, segundo Hobbes, o corpo é o único objeto possível do saber humano, e a filosofia divide-se em duas
partes, a filosofia natural e a filosofia civil, segundo estude o corpo natural (a natureza) ou o corpo artificial (a
sociedade) {De corp., I, 9).
Recentemente, o M. metodológico foi defendido pelos filósofos do círculo de Viena, especialmente por Carnap, mas
em sentido diferente do de Hobbes e referindo-se à linguagem: tal M. é a exigência de traduzir para os termos da
linguagem física os dados protocolares, a fim de construir com eles uma linguagem inter-subjetiva. Esse M.
identifica-se, portanto, com ofisicalismo(v.) e não implica nenhuma afirmação sobre a existência da matéria (cf.
Erkennt-nis, 1931, p. 477), nem a dedutibilidade das leis biológicas e psicológicas a partir das leis físicas. Sem
dúvida, segundo esse ponto de vista, a unificação das leis da ciência é meta da própria ciência, mas não se pode
excluir nem prever que essa meta seja alcançada (CARNAP, Logical Foundations of the Unity of Science, 1938, p. 61).
3S Em seu significado prático ou moral, o M. é termo que pertence mais à linguagem comum do que à filosófica.
Fala-se de "época materialista", de "tendências materialistas" ou do "materialismo" de grupos ou classes, para indicar
a tendência ao conforto ou, mais precisamente, uma ética que adote o prazer como único guia do comportamento. O
termo filosófico para isso é hedonismo (v.); este muitas vezes é acompanhado pelo M., mas não necessariamente. A
ética de Epicuro e dos materialistas do séc. XIX é hedonista, mas não a ética de Demócrito. Por outro lado, o
hedonismo pode estar presente em filosofias não materialistas; foi aceito, p. ex., pelos cirenaicos e pelos empiristas
do séc. XVIII. Em sua forma extrema, porém, o hedonismo constituiu uma manifestação característica do M.
psicofísico sete-centista, que, desse ponto de vista, foi uma continuação do libertinismo (v.). A obra de HELVÉTIUS,
De 1'esprit(17'58), é particularmente significativa a esse respeito porque contém uma exaltação indiscriminada do
prazer, assim como outra obra de alguns anos antes, Vartde jouir ou Vécole de Ia volupté (1751), de LA METTRIE.
4S O M. psicofísico consiste em afirmar que a atividade espiritual humana é efeito estrito da matéria, ou seja, do
organismo, do sistema nervoso ou do cérebro. Essa tese apresentou-se sob diversas formas nos sécs. XVIII e XIX;
uma delas é a concepção do homem-máquina. Essa expressão foi usada pelo francês La Mettrie, como título de uma
obra sua famosa (1748), mas o conceito também é expresso na obra de DAVTO HARTLEY, Observa-tions ofMan
(1749), e na de JOSEPH PRIESTLEY, Disquisitions Relating to Matter and Spirit (1777). O Système de Ia nature, de
Holbach, talvez seja a melhor expressão desse ponto de vista; segundo ele, todas as faculdades humanas são modos
de ser e de agir que resultam do organismo físico do homem, que, por sua vez, é determinado pela máquina do
universo. Uma forma mais restrita e específica desse M. está presente na obra do médico francês PIERRE CABANIS,
Rapports du physique et du moral de 1'homme (1802), para quem as atividades psíquicas provêm do sistema nervoso.
Em meados do séc. XIX, essa dependência causai dos poderes espirituais humanos em relação ao sistema nervoso
pareceu a muitos filósofos e cientistas um fato estabelecido. O M. daquela época parte desse pressuposto. Numa obra
de 1854,
MATERIALISMO DIALÉTICO
651
MATERIALISMO DIALÉTICO
Kõhler-glaube und Wissenschaft, o naturalista Karl Vogt afirmava que "o pensamento está para o cérebro assim como
a bílis está para o fígado ou a urina para os rins", afirmação que ia ao encontro de outra, feita pelo historiador e
literato francês Hyppolite Taine, de que "o vício e a virtude são produzidos como o vitríolo ou o açúcar, e cada dado
complexo nasce do encontro de outros dados mais simples, dos quais depende" (Histoire de Ia littérature anglaise,
1863, Intr.). Outra forma mais atenuada ou, se quisermos, mais "nobre" da mesma doutrina diz que a consciência é o
epifenômeno dos processos nervosos, no sentido que, enquanto é produzida por eles, não reage sobre eles mais do que
a sombra reage sobre o objeto que a produz (Huxley, Clifford, Ribot). Em História doM.
(GeschichtedesMaterialismus, 1866), de F. A. Lange, a exposição do M. está centrada precisamente na sua forma
psicofísica, na qual ele vê um salutar lembrete contra a pretensão de estender o saber humano além de certos limites.
Segundo Lange, o M. renasce sempre que o homem esquece esses limites e pretende dar valor objetivo a construções
metafísicas que só têm valor de fantasia.
Tanto em sua forma metafísica quanto na psicofísica, o M. da metade do séc. XIX tem caráter romântico, pois não se
limita a ser uma tese filosófica dotada de maiores ou menores possibilidades de confirmação, mas pretende ser
doutrina de vida, destinada a vencer a religião e a suplantá-la. Essa pretensão confere a tais doutrinas um tom
violentamente polêmico e profético, transformado a "Ciência" na nova tábua da verdade absoluta. Essa atitude
recebeu o nome de cientificismo (v.) e constitui a vanguarda romântica da ciência do séc. XIX; o M. foi seu credo.
Mas esse credo foi em parte destruído pela própria ciência, em virtude da crise de sua concepção mecanicista nos
últimos decênios do séc. XIX.
MATERIALISMO DIALÉTICO (in. Dialec-tical materialism, fr. Matérialisme dialectique, ai. Dialektischer
Materialismus-, it. Materia-lismo dialetticó). Entende-se por essa expressão a filosofia oficial do comunismo
enquanto teoria dialética da realidade (natural e histórica). Mais que de materialismo (v.), trata-se na realidade de um
dialetismo naturalista, cujos princípios foram propostos por Marx (v. DIALÉTICA), desenvolvidos por Engels e depois,
mais ou menos servilmente, seguidos pelos filósofos do mundo comunista, que são os únicos seguidores dessa filosofia. Segundo Engels, Hegel reco- f nheceu perfeitamente as leis da dialética, mas considerou-as "puras
leis do pensamento", já que não foram extraídas da natureza e da história, mas "concedidas a estas do alto, como leis
do pensamento". Porém, "se invertermos as coisas, tudo se tornará simples: as leis da dialética que, na filosofia
idealista, parecem extremamente misteriosas, tornam-se logo simples e claras como o sol" (Anti-Dühring, pref.).
Segundo Engels, são três as leis: \- lei da conversão da quantidade em qualidade e vice-versa; 2a lei da
interpenetração dos opostos; 3a lei da negação da negação. A primeira significa que na natureza as variações
qualitativas só podem ser obtidas somando-se ou subtraindo-se matéria ou movimento, ou seja, por meio de variações
quantitativas. A segunda lei garante a unidade e a continuidade da mudança incessante da natureza. A terceira
significa que cada síntese é por sua vez a tese de uma nova antítese que dará lugar a uma nova síntese (ENGELS,
Dialektik derNatur, passim). Segundo Engels, esse conjunto de leis determina a evolução necessária — e
necessariamente progressiva — do mundo natural. A evolução histórica continua, com as mesmas leis, a evolução
natural. O sentido global do processo é otimista. A organização da produção segundo um plano, como se realizará na
sociedade comunista, destina-se a elevar os homens acima do mundo animal, em termos sociais, tanto quanto o uso
de instrumentos de produção o elevou em termos de espécie. Como se vê, o M. dialético de Engels nada mais é que a
teoria da evolução (que nos tempos de Engels festejava seus primeiros triunfos), interpretada em termos de fórmulas
dialéticas hegelianas, com prognósticos extremamente otimistas.
Costuma-se considerar que o materialismo histórico e o materialismo metafísico são partes integrantes do M.
dialético. Sobre o primeiro, v. capítulo à parte. Quanto ao segundo, foi mais enfatizado por Lênin e pelos comunistas
russos do que Marx e Engels. Lênin assim resumia as teses do materialismo: "Ia Há coisas que existem
independentemente de nossa consciência, independentemente de nossas sensações, fora de nós. 2 a Não existe e não
pode existir diferença alguma de princípio entre o fenômeno e a coisa em si. A única diferença efetiva é a que existe
entre o que é conhecido e o que ainda não o é. 3 a Sobre a teoria do conhecimento, como em todos os outros campos
da ciência,
MATERIA1ISMO HISTÓRICO
652
MATERIAIJSMO HISTÓRICO
deve-se raciocinar sempre dialeticamente, ou seja, nunca supor que nosso conhecimento seja invariável e acabado,
mas analisar o processo graças ao qual o conhecimento nasce da ignorância ou o conhecimento vago e incompleto
torna-se mais justo e preciso" iMaterialismus und Empiriokrítizismus, 1909; trad. it., p. 75). Como se vê, tampouco
essas teses expressam uma concepção materialista, mas constituem uma reivindicação do realismo gno-siológico.
MATERIALISMO HISTÓRICO (in. Histo-rical materialism; fr. Matérialisme historique, ai.
HistorischerMaterialismus; it. Materialismo storicd). Com este nome Engels designou o cânon de interpretação
histórica proposta por Marx, mais precisamente o que consiste em atribuir aos fatores econômicos (técnicas de
trabalho e de produção, relações de trabalho e de produção) peso preponderante na determinação dos acontecimentos
históricos. O pressuposto desse cânon é o ponto de vista antropológico defendido por Marx, segundo o qual a
personalidade humana é constituída intrin-secamente (em sua própria natureza) por relações de trabalho e de
produção de que o homem participa para prover às suas necessidades. A "consciência" do homem (suas crenças
religiosas, morais, políticas, etc.) é resultado dessas relações, e não seu pressuposto. Esse ponto de vista foi defendido
por Marx sobretudo na obra Ideologia alemã {Deutsche Ideologie, 1845-46). Em vista disso, a tese do M. histórico é
de que as formas assumidas pela sociedade ao longo de sua história dependem das relações econômicas
predominantes em certas fases dela. Marx diz: "Em sua vida produtiva em sociedade, os homens participam de
determinadas relações necessárias e independentes de sua vontade: relações de produção que correspondem a certa
fase de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. Esse conjunto de relações de produção constitui a
estrutura econômica da sociedade, que é a base real sobre a qual se erige uma superestrutura jurídica e política e à
qual correspondem determinadas formas sociais de consciência. (...) Portanto, o modo de produção da vida material
em geral condiciona o processo da vida social, política e espiritual" {Zur Kritik derpolitischen Òkonomie, 1859, Pref.;
trad. it., p. 17). Marx elaborou essa teoria sobretudo em oposição ao ponto de vista de Hegel, para quem é a
consciência que determina o ser social do homem;
para Marx, pelo contrário, é o ser social do homem que determina a sua consciência.
Contudo, não se deve achar que Marx fosse partidário fatalismo econômico, segundo o qual as condições econômicas
necessariamente levariam o homem a determinadas formas de vida social. Nessas relações econômicas, que
dependem de técnicas de trabalho, produção, troca, etc, o homem é elemento ativo e con-dicionante. Portanto, a
condicionalidade que a estrutura econômica exerce sobre as superes-truturas sociais é — pelo menos em parte — uma
autocondicionalidade do homem em relação a si próprio (Deutsche Ideologie, I, C; trad. it., pp. 69 ss.). Engels falou
em seguida da "inversão da práxis histórica", ou seja, de uma reação de oposição da consciência humana à ação das
condições materiais sobre ela. Mas do ponto de vista de Marx essa inversão não é necessária, visto não ser a
superestrutura que reage à estrutura, mas o homem que, intervindo com suas técnicas para mudar ou para melhorar a
estrutura econômica, se autocondiciona por meio dela.
O M. histórico chamou a atenção dos historiadores para um cânon interpretativo ao qual muitas vezes é indispensável
recorrer para explicar acontecimentos e instituições histó-rico-sociais. A ele de fato recorrem, em maior ou menor
grau, historiadores de todos os campos de atividade humana, porquanto algumas vezes o caminho aberto por esse tipo
de explicação histórica é o único possível. No entanto, nem sempre é o único possível. Hoje a tendência é interpretar
o M. histórico como uma possibilidade explicativa, à qual se recorre em circunstâncias apropriadas, e não como um
princípio dogmático (sobretudo na forma proposta por Engels). Em outras palavras, afirmar que acontecimentos ou
situações histórico-sociais sempre devem ser explicados pelo determinismo dos fatores econômicos é tese tão
dogmática quanto qualquer outra que quisesse excluir absolutamente e em todos os casos o determinismo de tais
fatores. O historiador, diante de uma situação, deve verificar o peso relativo dos fatores determinantes, estabelecendoo caso a caso, considerando as situações particulares, e não decidindo de antemão e em definitivo. Isento dessa
postura dogmática, o M. histórico representa, para a técnica de explicação historio-gráfica, uma das possibilidades
mais fecundas e um novo grau de liberdade à escolha historio-gráfica (v. HISTORIOGRAFIA).
MATHESIS UNIVERSALIS
653
MECANICISMO
MATHESIS UNIVERSALIS. Foi assim que Leibniz (Op., ed. Erdmann, p. 8) chamou a arte combinatória ou
característica universal (v.). Husserl retomou esse termo para designar a lógica formal ou pura como "ciência
eidética do objeto em geral", que ele assim caracteriza: "Objeto é para ela tudo e cada coisa; portanto podem ser
constituídas as verdades infinitamente múltiplas que se distribuem nas inúmeras disciplinas da mathesis. Estas
últimas, por outro lado, remetem a um pequeno patrimônio de verdades imediatas ou fundamentais, que nas
disciplinas puramente lógicas funcionam como axiomas" (Ideen, I, § 10; Logische Untersuchungen, I, último cap.).
MATRIMÔNIO. V. CASAMENTO.
MATRIZES, MÉTODO DAS (in. Method of matrices; fr. Méthode des matrices, it. Método delle matrici). Método
de construção de tábuas de verdade (v. TÁBUA); consiste na enumeração sistemática das possibilidades de verdades
para certo número de proposições simples, ou seja, na enumeração das combinações possíveis dos valores de verdade
dessas proposições. Para uma proposição há duas possibilidades (verdadeira ou falsa); para duas, quatro; em geral,
para n proposições, 2" possibilidades de verdades. Esse método foi introduzido por Peirce numa obra de 1885 (Coll.
Pap., 4.359-403), desenvolvido por Schrõder (Álgebra der Logik, 1890) e empregado pelos lógicos poloneses,
especialmente Lukasiewicz, para construção das lógicas polivalentes (que admitem o valor possível, além de
verdadeiro e falso) (cf. TARSKI, Logic, Semantics, Metamathematics, 1956, cap. IV), sendo hoje adotado por grande
número de lógicos matemáticos (cf., p. ex., BETH, Les fondements logiques des mathéma-tiques, 1955, § 34).
Esse método era conhecido na Antigüidade; Fílon de Mégara utilizou-o em sua análise das proposições condicionais,
afirmando que tais proposições serão verdadeiras nos seguintes casos: 1) se o antecedente e o conseqüente forem
verdadeiros; 2) se o antecedente for falso e o conseqüente verdadeiro; 3) se o antecedente e o conseqüente forem
falsos; e que serão falsas quando o antecedente é verdadeiro e o conseqüente é falso (SEXTO EMPÍRICO, Adv. math., I,
309). V. CONDICIONAL; IMPLICAÇÃO.
O método de matrizes geralmente serve para reconhecer se uma proposição do cálculo proposicional é verdadeira; por
isso, pode ser enumerada entre as leis do cálculo (TARSKI,
Introduction to Logic, § 13; CHURCH, Introduc-tion to Mathematical Logic, I, § 15).
MÁXIMA (lat. Máxima propositio; in. Maxim; fr. Maxime, ai. Maxime, it. Massimd). Este termo tem dois
significados diferentes: Ia proposição evidente; 2S regra de conduta.
ls O significado de proposição evidente é o mais antigo e se encontra estabelecido a propósito da teoria dos lugares
lógicos. Boécio chamou de "proposição máxima" a proposição indemonstrável mas evidente (In top. Cicer., I; De
diff. topicis, II; em P. L., 64s, col. 1151, 1185), e esse significado permaneceu na lógica medieval. "A proposição
máxima" — diz Pedro Hispano — "é a proposição mais conhecida ou mais primitiva possível, como, p. ex., 'O todo é
maior que sua parte'" (Summ. log., 5.07). Mais tarde, acentuou-se algumas vezes o caráter de probabilidade da
máxima: por máxima Jungius entende "um enunciado universal maximamen-te provável" (Log. hamburgensis, 1638,
V, 3, 5). Nesse significado, que é sinônimo de axioma, essa palavra era utilizada por Locke (Ensaio, IV, 12, 1) e por
Leibniz (Nouv. ess., IV, 126). Agora não é usada, tendo sido substituída pelo termo axioma.
2- Foram os moralistas franceses da segunda metade do séc. XVII os primeiros a empregar esse termo para designar
uma regra moral. La Rochefoucauld intitulou sua coletânea de pensamentos Réflexions ou sentences et ma-ximes
morales, (1665); Kant aceitou este uso, entendendo por M. uma regra de comportamento em geral. Distinguia a M.,
como "princípio subjetivo da vontade", da lei, que é o princípio objetivo, universal de conduta. O indivíduo pode
assumir como M. a lei, outra regra ou mesmo afastar-se da lei (GrundlegungzurMet. derSitten, I, 1, nota; Crít. R.
Prática, § 1, Def.; Religion, I, Obs.). Este segundo significado é o único que ficou.
MECANICISMO (in. Mechanism; fr. Mé-canisme, ai. Mecanismus; it. Meccanicismó). Toda doutrina que recorra à
explicação meca-nicista. Entende-se por explicação mecanicista a que utiliza exclusivamente o movimento dos
corpos, entendido no sentido restrito de movimento espacial. Nesse sentido, é mecanicista a teoria da natureza que
não admite outra explicação possível para os fatos naturais, seja qual for o domínio a que eles pertençam, além
daquela que os interpreta como movimentos ou combinações de movimentos de corpos no espaço. O M. pode ser
considerado: 1Q uma
MECANICISMO
654
MECANICISMO
concepção filosófica do mundo; 2- um método ou princípio diretivo da pesquisa científica.
le Como concepção filosófica do mundo, o M. apresentou-se desde a Antigüidade como atomismo (v.). A concepção
do mundo como sistema de corpos em movimento, como uma grande máquina, é típica do atomismo antigo. O
materialismo dos sécs. XVIII e XIX retomou essa concepção, que tem as seguintes caracte-rísticas: d) negação de
qualquer ordem fina-lista; a polêmica entre M. e finalismo começou a partir de séc. XVII, quando o M. se firmou
com o surgimento da ciência moderna; atualmente muitas vezes o termo M. é interpretado apenas como negação do
finalismo (v.); b) determinismo rigoroso, representado pelo conceito de causalidade necessária infiltrada em todos os
fenômenos da natureza; hoje é con-siderada como não-mecanicista qualquer concepção do mundo que negue o
determinismo rigoroso.
As duas características acima são tipicamente expressas pela filosofia de Hobbes, que constitui um dos melhores
exemplos de M. filosófico (v. MATERIALISMO). Por outro lado, a visão mais perspicaz que as filosofias antimecanicistas do séc. XIX assumiram perante o M. foi expressa por Lotze, em Microcosmo (1856): "a tarefa que cabe ao M.
na ordenação do universo é universal, sem exceções no que se refere à extensão, mas absolutamente secundário no
que se refere à importância" (Mikrokosmus, I, Intr.; trad. it., p. 10); ou, em outros termos, o M. não passa de
instrumento utilizado pelo Princípio Racional ou Divino do universo para cumprir seus objetivos. Na filosofia
espiritualista contemporânea, esse ponto de vista mesclou-se à crítica ab extrinseco dos princípios científicos do M. A
partir das últimas décadas do séc. XIX, o M. como concepção filosófica geral deixou de ter seguidores pelos motivos
a seguir expostos.
2e O M. científico pode ser considerado: d) na física; b) nas outras ciências.
a) Na física, o M. consiste na tese de que todos os fenômenos da natureza devem ser explicados pelas leis da
mecânica, e que, portanto, a própria mecânica deve ter um status privilegiado entre as outras ciências, porquanto lhes
fornece os princípios explicativos. Ora, a mecânica como ciência é criação relativamente recente. Arquimedes
conhecia os elementos da estática, que é a parte da mecânica que trata do equilíbrio das forças, mas a dinâmica, que é
o
estudo dos movimentos dos corpos sob a ação das forças, era desconhecida dos antigos e foi inaugurada por Galilei e
Newton. Depois, o princípio de D'Alembert unificou a estática e a dinâmica, mostrando que um problema de
dinâmica pode ser transformado num problema de equilíbrio de forças, portanto de estática, tomando em
consideração forças fictícias chamadas "forças inerciais"; assim, p. ex., a órbita de um planeta em torno do sol pode
ser interpretada como equilíbrio entre a força de gravi-tação e uma força centrífuga igual e oposta. Com essa
concepção, a mecânica estava de algum modo concluída em termos de teoremas fundamentais, e a partir de então
sofreu transformações conceituais e lingüísticas que visavam a torná-la mais coerente e simples. Desse ponto de vista,
pode-se dizer que em meados do séc. XIX teve início uma segunda fase do desenvolvimento da mecânica, graças
sobretudo a Hamilton, com a substituição da idéia de força pela idéia de energia. A primeira fase da mecânica foi
caracterizada pela tentativa de explicar os fenômenos naturais reduzindo-os a inúmeras ações à distância entre os
átomos da matéria. A segunda fase inspira-se na importância adquirida pelo princípio de conservação da energia
(enunciado por Helmholtz em 1847) e pela expressão das leis fundamentais da mecânica, em termos de energia
cinética e potencial. Uma terceira fase foi iniciada quase no fim do séc. XIX por Hertz, que procurou reduzir a
dinâmica à cinemática admitindo como fundamental a lei do princípio mínimo: cada sistema livre persiste em seu
estado de repouso e de movimento uniforme pelo caminho mais curto.
O M. em física é relativamente independente dessas mudanças da mecânica. Como já foi dito, a característica das
teorias meca-nicistas em física é utilizar exclusivamente as grandezas próprias da mecânica (força, massa, energia,
etc). Podemos distinguir: a teoria mecanicista da descontinuidade e a teoria me-canicista do contínuo.
A teoria mecanicista do descontínuo é a teoria atômica utilizada para explicar, além da luz (teoria corpuscular), vários
fenômenos; físicos como a adesão, a coesão, a capilaridade; deu lugar à teoria cinética dos gases e às primeiras
teorias dos fenômenos elétricos. As teorias mecanicistas fundamentadas na continuidade só foram possíveis com a
descoberta de instrumentos de cálculo diferencial mais complexos;
MECANICISMO
655
MEDIAÇÃO
seu exemplar é a hipótese de Fresnel sobre o éter elástico como meio de propagação das ondas luminosas. Ambas as
teorias foram eliminadas da física pela teoria do campo (v.), em virtude da qual os conceitos da mecânica deixaram
de ter validade como princípios explicativos gerais da física. Simultaneamente, a outra característica fundamental do
M., o determinismo rigoroso ou necessarista, foi eliminada em virtude da consolidação da teoria quântica (v.
CAUSALIDADE). Einstein e Infeld dizem a respeito: "As leis da física quântica não governam o comportamento de
objetos particulares no tempo, mas as variações da probabilidade no tempo" (The Evolution of Physic, IV; trad. it., p.
298). Com essa transformação, a física saiu de sua fase mecanicista e constituiu-se como ciência da previsão provável
(v. FÍSICA).
b) O M. não foi apenas um princípio diretivo da física: a partir do séc. XVIII também foi o princípio diretivo de todas
as outras ciências naturais, inclusive da biologia, da psicologia e da sociologia. Obviamente, fora da física, o M. teve
um caráter bem menos rigoroso: nem para a explicação dos fenômenos biológicos, psicológicos ou sociológicos mais
simples chegou-se à exatidão quantitativa dos modelos mecânicos empregados para explicar, p. ex., o fenômeno da
capilaridade ou o da interferência da luz. Fora da física, portanto, o M. foi uma aspiração genérica, uma tese filosófica
ou, na melhor das hipóteses, uma exigência genérica de método, mais que instrumento efetivo de explicação. Como
instrumento de polêmica, defendeu a necessidade causai contra o finalismo; em termos positivos, afirmou em todos
os campos a exigência da análise quantitativa. Afora isso, as teses do M. nos vários campos da ciência são
reducionistas: em biologia, consiste em reduzir as leis biológicas a leis físico-químicas; em psicologia, consiste em
reduzir as leis psicológicas a leis biológicas; em sociologia, consiste em reduzir as leis sociológicas a leis biológicas e
psicológicas. A utilidade dessas tendências reducionistas foi desvencilhar o campo das respectivas ciências de
estruturas conceituais antiquadas, de pressupostos metafísicos ou teológicos que estorvavam a pesquisa ou até mesmo
a bloqueavam. Contudo, a ciência do séc. XX, sobretudo a partir do terceiro decênio, abandonou a postura
reducionista e, portanto, o M., sem voltar às posições às quais o M. se opunha. A biologia, p. ex., abandonou
o pressuposto de que os fenômenos vitais são regidos apenas por leis físico-químicas, mas não admitiu qualquer
forma de vitalismo (v. EVOLUÇÃO; VITALISMO). Pode-se dizer, portanto, que o M. foi abandonado, mas é preciso
acrescentar que com ele também foram abandonadas as tendências conceptuais às quais ele se contrapunha e cuja
correção representava.
MEDIAÇÃO (in. Mediation; fr. Médiation-, ai. Vermittelung; it. Mediazionè). Função que relaciona dois termos ou
dois objetos em geral. Essa função foi identificada: 1Q no termo médio no silogismo; 2a nas provas na demonstração;
3S na reflexão; 4S nos demônios na religião.
ls Segundo Aristóteles, o silogismo é determinado pela função mediadora do termo médio, que contém um termo e é
contido pelo outro termo (An. pr., I, 4, 25 b 35) (v. SILOGISMO).
22 Segundo a Lógica de Port-Royal, a M. é indispensável em qualquer raciocínio. "Quando apenas a consideração de
duas idéias não é suficiente para se julgar se o que se deve fazer é afirmar ou negar uma idéia com a outra, é preciso
recorrer a uma terceira idéia, simples ou complexa, e esta terceira idéia chama-se intermediária" (ARNAULD, Log., III,
1). Locke dizia: "As idéias intermediárias, que servem para demonstrar a concordância entre outras duas, são
chamadas de provas; quando, com esse meio, percebe-se com clareza ou evidência a concordância ou discordância,
elas são chamadas de demonstração" (Ensaio, IV, 2, 3). No mesmo sentido D'Alembert afirmava: "Toda a lógica se
reduz a uma regra muito simples: para confrontar dois ou mais objetos distantes uns dos outros utilizamos objetos
intermediários. O mesmo acontece quando queremos confrontar duas ou mais idéias; a arte do raciocínio nada mais é
que o desenvolvimento desse princípio e as conseqüências dele resultantes" (CEuvres, ed. Condorcet, 1853, p. 224).
3e Segundo Hegel, a M. é a reflexão em geral (Werke, ed. Glockner, II, p. 25; IV, p. 553, etc): "Um conteúdo pode ser
conhecido como verdade só quando não é mediado por outro, quando não é finito, quando, portanto, medeia-se
consigo mesmo, sendo, assim, o todo em um, M. e relação imediata consigo mesmo." Em outras palavras, a reflexão
exclui não só a imediação, que é a intuição abstrata, o saber imediato, mas também a "relação abstrata", a M. de um
conceito com um conceito diferente (as
MEDIADOR PLÁSTICO
656
MEIO1
provas de Locke), que Hegel considera típica (e com razão) do século do Iluminismo {Ene, § 74).
4S Na Antigüidade, aos demônios cabia uma função mediadora entre os deuses e os homens. O Demiurgo de Platão
encarrega as divindades inferiores ou demônios de criar as gerações mortais e completar a obra da criação (Tim., 41
a-c). Plotino diz que os demônios são eternos, em relação a nós, servindo de "intermediários entre os deuses e nossa
espécie" {Enn., III, 5, 6). Mitra era concebido como mediador, mais precisamente como mediador entre a divindade
inatingível das esferas etéreas e o gênero humano (CUMONT, The Mysteries of Mithra, pp. 127 ss.). Enfim, segundo a
doutrina cristã, "somente a Cristo compete ser mediador de modo simples e perfeito", enquanto anjos e sarcerdotes
são instrumentos de M. (S. TOMÁS, 5. Th., III, q. 26 a 1).
MEDIADOR PLÁSTICO (fr. Médiateur plastiqué). Assim foi chamada por alguns filósofos do séc. XIX a
"natureza plástica" de que falava Cudworth como éctipo (v.), que é intermediário entre Deus e o mundo {The True
Intellectual System ofthe Universe, I, 1, 3). Essa expressão é usada por Laromiguière {Leçons dephil, 1815-18, II, 9) e
por Galluppi {Lezioni di lógica e metafísica, 1832-1836, II, p. 273).
MEDIANIDADE (ai. Durchschnittlichkeit). Segundo Heidegger, aquilo que o homem é em média, em sua existência
quotidiana e indiferente: determinação fundamental da existência, de que a análise existencial deve partir {Sein und
Zeit, § 9).
MEDIDA (gr. uirpov; lat. Mensura; in. Measure, fr. Mesure, ai. Mass, it. Misurd). Já Platão havia dividido a arte da
M. em duas partes, situando na primeira as artes "que medem o número, o comprimento, a altura, a largura e a
velocidade em relação a seus contrários" e na segunda "as artes que medem a relação ao justo meio, ao conveniente,
ao oportuno, ao obrigatório, enfim às determinações que estão no meio entre dois extremos" {Pol, 284 e).
Conseqüentemente pode-se entender por medida:
1B Relação entre uma grandeza e a unidade. A este propósito Aristóteles observava que a unidade pode ser entendida
de dois modos: como unidade convencional ou aparente e como unidade absolutamente indivisível {Met., X, 1, 1053
a 22), e, nesse sentido, reconhecia as condições da M. na homogeneidade entre
aquilo que se mede e aquilo com que se mede {Ibid, X, 1, 1053 a 22).
2Q Critério ou o cânon daquilo que é verdadeiro ou bem. Nesse sentido, Cleóbulo, um dos Sete Sábios, dizia: "O
melhor é a M." (DIÓG. L., I, 93). Platão via na justa M. a ordem e a harmonia das coisas {Fil, 24 c-d) e para
Aristóteles o meio (v.) era o cânon da virtude ética. No mesmo sentido essa palavra foi usada por Protágoras, em seu
famoso princípio de que o homem é a M. das coisas, e por Aristóteles, quando via no homem virtuoso "o cânon e a
M. das coisas" {Et. níc, III, 4, 1113 a 33). Nesse sentido, a M. é um dos conceitos fundamentais da cultura clássica
grega.
MEDITAÇÃO. V. MISTICISMO.
MEDO. V. EMOÇÃO.
MEGARISMO (in. Megarism; fr. Mégaris-me, ai. Megarismus; it. Megarismo). Escola socrática de Mégara,
fundada no séc. V a.C. por Euclides (não confundir com o matemático Eucli-des, que viveu e ensinou em Alexandria
quase um século mais tarde). Outros representantes dessa escola são Eubulides de Mileto, Diodoro Cronos e Estílpon,
que ensinou em Atenas mais ou menos em 320 a.C. Sua característica é unir o ensinamento de Sócrates à doutrina
eleata. Para Euclides, o bem é um só, a Unidade, chamada por vários nomes: Sabedoria, Deus, Intelecto, etc.
Portanto, assim como os eleatas, os megáricos contestavam a realidade do movimento, da mudança e da
multiplicidade. Para isso, adotavam vários argumentos de natureza sofistica, como o do sorites (v.) ou do calvo, bem
como acatavam a negação da possibilidade formulada por Diodoro Cronos (para esta última, v. POSSIBILIDADE).
Alguns desses argumentos foram retomados pelos estóicos, nos raciocínios "ambíguos" ou "conversíveis", depois
chamados de dilemas (v.) e hoje chamados de paradoxos ou antinomias (v.).
MEIO1 (gr. ueoÓTnç; lat. Medietas; in. Mean; fr. Milieu; ai. Mittel; it. Medieta). Justo meio, meio-termo, entre os
extremos, que, segundo Aristóteles, pode ser definido em relação às coisas ou em relação a nós: "Se cada ciência
cumpre bem o seu papel quando visa ao justo meio e orienta suas obras para ele (donde se costuma dizer que nas boas
obras nada se tem a tirar nem a acrescentar, porquanto o excesso e a falta arruinam o bom, enquanto o justo meio o
salva), se os bons artistas trabalham com vistas a esse meio-termo, a virtude, que,
MEIO2
657
MEMÓRIA
assim como a natureza, é mais acurada e melhor que qualquer arte, deverá tender precisamente para o justo meio"
{Et. nic, II, 6, 1106 b ■ 8). Contudo, o justo meio é definição apenas da virtude ética (v.) ou moral, porque só ela diz
respeito a paixões ou ações suscetíveis de excesso ou deficiência (cf. também S. TOMÁS, S. Th., I, II, q. 59, a. 1) (v.
VIRTUDE).
MEIO2 (in. Means; fr. Moyen; ai. Mittel; it. Mezzó). 1. Tudo o que possibilita alcançar um fim, cumprir um objetivo
ou realizar um projeto. Sobre a relação entre M. e fim, v. VALOR.
2. Ambiente, especialmente o biológico. Nesse sentido, essa palavra corresponde ao francês milieu, que começou a
ser usada com esse significado em meados do século passado (v. AMBIENTE).
MELANCOLIA (gr. LléÀaç X°^A; in. Melan-cholia-, fr. Mélancolie, ai. Melancbolie, it. Me-lanconid).
Propriamente, humor negro (v. TEMPERAMENTO). Em linguagem comum, tristeza sem motivo.
MELIORISMO (in. Meliorism- fr. Mélio-risme, ai. Meliorismus; it. Megliorismó). Palavra recente, usada sobretudo
pelos escritores anglo-saxões para indicar uma visão de mundo que não é pessimista nem otimista, mas guiada pela
esperança do melhor e pela vontade de realizá-lo.
MEMÓRIA (gr. Livr|u.r|; lat. Memória-, in. Memory, fr. Mémoire, ai. Gedáchtnis; it. Memória). Possibilidade de
dispor dos conhecimentos passados. Por conhecimentos passados é preciso entender os conhecimentos que, de
qualquer modo, já estiveram disponíveis, e não já simplesmente conhecimentos do passado. O conhecimento do
passado também pode ter formação nova: p. ex., dispomos agora de informações acerca do passado de nosso planeta
ou de nosso universo que não são recordações. Conhecimento passado também não é simplesmente marca, vestígio,
pois estas são coisas presentes, não passadas. A tristeza ou a imperfeição física causadas por um acidente não são a
M. desse acidente, apesar de serem vestígios dele, ao passo que a recordação pode estar disponível e pronta, sem
precisar da ajuda de nenhum vestígio, como no caso da fórmula para o matemático e, em geral, das lembranças
decorrentes da formação ou de hábitos profissionais.
A M. parece ser constituída por duas condições ou momentos distintos: Ia conservação ou
persistência de conhecimentos passados que, por serem passados, não estão mais à vista: é a retentiva; 2possibilidade de evocar, quando necessário, o conhecimento passado e de torná-lo atual ou presente: é propriamente a
recordação. Esses dois momentos já foram dis-tinguidos por Platão, que os chamou respectivamente de "conservação
de sensações" e "remi-niscência" CF//., 34 a-c), e por Aristóteles, que utiliza esses mesmos termos. Aristóteles
também propõe claramente o problema decorrente da conservação da representação como marca (impressão) de um
conhecimento passado: "Se em nós permanecer algo semelhante a uma marca ou a uma pintura, como pode a
percepção dessa marca ser M. de alguma outra coisa e não apenas de si? De fato, quem lembra vê apenas a marca e só
dela tem sensação; como pode então lembrar o que não está presente?" (DeMem., 1, 450 b 17). A resposta de
Aristóteles a essa questão é que a marca na alma é como um quadro que pode ser considerado por si ou pelo objeto
que representa. E diz: "Assim como um animal pintado num quadro é animal e imagem, sendo ao mesmo tempo
ambas as coisas, ainda que o ser dessas coisas não seja o mesmo, podendo ele ser considerado como animal ou como
imagem, também a imagem mnemônica que está em nós deve ser considerada como objeto por si mesmo e, ao
mesmo tempo, como representação de alguma outra coisa" (Jbid., 450 b 21). Segundo Aristóteles, a explicação do
processo da M., tanto como retentiva quanto como recordação, é inteiramente física: a retentiva e a produção de
impressão decorrem de um movimento, assim como de um movimento decorre a lembrança/recordação. Contudo, a
recordação, ao contrário da retentiva, é uma espécie de dedução (silogismo), pois "quem recorda deduz que já
escutou ou percebeu aquilo de que se lembra; isso é uma espécie de busca" ilbid., 453 a 11). Portanto, a recordação é
própria apenas dos homens. Com isso, Aristóteles evidenciava outra característica fundamental da M. como
recordação: seu caráter ativo de deliberação ou de escolha. A análise platônico-aristotélica da M. trouxe à baila os
seguintes aspectos: d) distinção entre retentiva e recordação; b) o reconhecimento do caráter ativo ou voluntário da
recordação, diante do caráter natural ou passivo da retentiva; c) base física da recordação como conservação de
movimento ou movimento conservado. Pode-se dizer que esses aspectos não mudaram ao
MEMÓRIA
*
658
MEMÓRIA
longo da história desse conceito. Todavia, as doutrinas posteriores podem ser subdivididas em dois grupos, segundo o
ponto de partida para a interpretação da M.: M. como retentiva ou conservação ou M. como recordação.
A) A psicologia antiga ressaltou aspecto de M. como conservação, persistência, de conhecimentos adquiridos. O
modo místico como Plotino trata o assunto, além de negar a base física da M. e considerar o corpo mais como
obstáculo do que como ajuda (Enn., IV, 3, 26), afirma a proporção entre M. e força ou persistência de conservação:
"Se a imagem persiste na ausência do objeto, já há M, mesmo que persista por pouco; se persiste por pouco, a M. é
curta; se dura mais, a M. aumenta porque a força da imaginação é maior; e, se dificilmente falha, a M. é indestrutível"
(Ibid., IV, 3, 29). De maneira análoga, a lista feita por S. Agostinho dos "milagres" da M. baseia-se no conceito de M.
como receptáculo dos conhecimentos ou, segundo sua expressão, "ventre da alma" (Conf., X, 14). Esse é também o
conceito dos filósofos medievais. S. Tomás dá-lhe o nome de "tesouro e local de conservação das espécies" (S. Th., I,
q. 29, a. 7), repetindo um lugar-comum da filosofia medieval. Isso eqüivalia a insistir na M. como retentiva.
Mas as concepções modernas e contemporâneas também vêem a M. como conservação; retomando a concepção
agostiniana do tempo como distensio animi ou duração de consciência, vêem na M. a conservação integral do espírito
por parte de si próprio, ou seja, a persistência nele de todas as suas ações e afeições, de todas as suas manifestações
ou modos de ser. Essa concepção já foi exposta por Leibniz, que concebia a M. como conservação integral sob forma
de virtualidade ou de "pequenas percepções" das idéias que não têm mais forma de pensamentos ou de "apercepções";
donde observar, em oposição a Locke: "Se as idéias não fossem mais que formas ou modos de pensamentos,
cessariam com eles; contudo o Sr. mesmo reconheceu que elas são os objetos internos dos pensamentos e que, como
tais, podem subsistir. Surpreende-me que possa, então, subestimar essas potências ou faculdades puras, deixando-as,
ao que parece, sob os cuidados dos filósofos da escola" (Nouv. ess., II, 10, 2). Em virtualidade ou faculdade pode e
deve conservar-se integralmente todo ato ou manifestação do espírito, já que o espírito é justamente essa autoconservação. Tal é a concepção de M. por parte da filosofia espiritualista ou consciencialista. A
melhor exposição dessa concepção encontra-se em Bergson (Matéria e M., 1896), que a contrapôs à concepção de M.
baseada na recordação. Bergson disse: "A M. não consiste na regressão do presente para o passado, mas, ao contrário,
no progresso do passado ao presente. É no passado que nós nos situamos de chofre. Partimos de um estado virtual,
que pouco a pouco, através de uma série de planos de consciência diferentes, vamos conduzindo até o termo em que
ele se materializa em apercepção atual, ou seja, até o ponto em que se transforma em estado presente e agente, enfim,
até o plano extremo de nossa consciência sobre o qual se desenha nosso corpo. A recordação pura consiste nesse
estado virtual" (Matière et mémoire, 1- ed., p. 245). A M. pura (ou recordação pura) é a corrente de consciência em
que tudo é conservado no estado de virtualidade. A limitação da lembrança efetiva não pertence à M., mas à
recordação atual, que Bergson identifica com a percepção e que é uma escolha realizada na M. pura, para as
exigências da ação. Portanto, as lesões cerebrais não afetam a M. propriamente dita, mas apenas a reminiscência das
lembranças na percepção, ou seja, o mecanismo pelo qual a M. se insere no corpo e transforma-se em ação. Essa
teoria, que Bergson apoiava na análise dos distúrbios das funções mnemônicas, caracteriza-se por dois pontos
fundamentais: 1Q distinção entre M. pura e recordação, entenden-do-se por M. pura a conservação integral,
independente de qualquer circunstância, do espírito por parte do espírito; ora, é evidente que essa M. nada tem a ver
com a memória observável; 2S negação de qualquer base fisiológica para a M. pura e limitação da base fisiológica ao
fenômeno da percepção. Essa negação tampouco é confirmada por fatos; seu precedente histórico é a teoria de
Plotino. A partir de Descartes (Princ. phil, IV, 196), a base fisiológica da M. não é negada. A mesma conservação
integral do espírito por parte do espírito é a "corrente da consciência", de que fala Husserl, pois ele também recorre ao
conceito empregado por Leibniz e Bergson, de virtualidade ou potencialidade como marca da M. Husserl diz: "As
coisas podem ser viven-ciadas não só na apercepção, mas também na recordação e nas representações afins à
recordação. (...) A essência dessas vivências per-
MEMÓRIA
"659
MENTALIDADE
tence a importante modificação que, do modo de atualidade, transporta a consciência para o modo de inatualidade, e
vice-versa. Num caso, a vivência é consciência explícita de seu objeto; em outro, é consciência implícita, apenas
potencial" (Ideen, I, § 35). O pressuposto é sempre o da total conservação do conteúdo da consciência: o fenômeno da
recordação é ligado à passagem do conteúdo do estado atual para o potencial, ou vice-versa.
B) Pertencem a um segundo grupo as teorias da M. cujo ponto de partida é o fenômeno da recordação. Hobbes, p. ex.,
definiu a M. como "a sensação de já ter sentido" (De corp., 25, 1), o que significa defini-la em relação ao ato de se
reconhecer, naquilo que se percebe, o que já se percebeu outra vez. A partir desse ponto de vista, Wolff definiu a M.
como "faculdade de reconhecer as idéias reproduzidas e as coisas por elas representadas" (Psychol. rationalis, § 278):
conceito que também se encontra em Baum-garten (Met, § 579). Desse ponto de vista, tende-se algumas vezes a
reconhecer o caráter ativo da M., ou seja, a função da vontade ou da escolha deliberada ao evocar as recordações.
Loke dizia: "Nessa evocação das idéias depositadas na M., o espírito não é puramente passivo porque a representação
destes quadros adormecidos às vezes depende da vontade" (Ensaio, II, 10, 7). Kant ressaltava igualmente esse caráter
ativo: "A M. difere da simples imaginação reprodutiva porque, podendo reproduzir voluntariamentea representação
precedente, a alma não está à mercê dela" (Antr., I, § 34). A esse mesmo grupo de doutrinas pertencem: d) as que
interpretam a M. como inteligência; b) as que interpretam a M. como mecanismo associativo.
d) Hegel interpretou a M. como inteligência ou pensamento (sempre em seu aspecto de recordação), vendo nela "o
modo extrínseco, o momento unilateral da existência do pensamento". E nota que a língua alemã confere à M. "a
elevada posição de parentesco imediato com o pensamento" (Ene, § 464). Segundo Hegel, a M. é o pensamento
exteriorizado, pensamento que acredita encontrar algo de externo, a coisa que é lembrada ou recordada, mas que na
realidade encontra-se a si mesmo, porque a coisa lembrada ou recordada também é pensamento. Por isso, Hegel diz
que, "como M., o espírito torna-se, em si mesmo, algo de externo, de tal modo que o que é seu aparece como algo que
é encontrado" (Ibid., § 463). Aqui a M.
é interpretada sobretudo como recordação; é evidente o parentesco dessa doutrina com as espiritualistas ou
consciencialistas: a identificação da M. com o pensamento tem o mesmo sentido da unificação da M. com a
consciência ou com sua duração.
b~) O conceito de M. como mecanismo associativo foi expresso pela primeira vez por Spinoza do seguinte modo: "A
M. nada mais é que certa concatenação de idéias que implicam a natureza das coisas que estão fora do corpo humano;
essa concatenação se produz na mente segundo a ordem e a concatenação das afeições do corpo humano". Spinoza
faz a distinção entre a concatenação da M. e a das idéias, "que ocorre segundo a ordem do intelecto, igual em todos os
homens" (Et, II, 18, schol.). Não há dúvida, portanto, de que Spinoza fazia alusão a um mecanismo associativo
semelhante ao que mais tarde foi teorizado por Hume: "É evidente que existe um princípio de conexão entre os
diversos pensamentos ou idéias do espírito e que, ao surgirem na M. ou na imaginação, apresentam-se
sucessivamente com certo grau de método e regularidade" (Inq. Cone. Underst, III). Como se sabe, Hume enunciava
três leis de associação: semelhança, contigüida-de e causalidade; mas só as duas primeiras foram empregadas pela
psicologia associa-cionista para explicar os fenômenos psíquicos (v.
ASSOCIACIONISMO).
Grande parte da psicologia moderna baseou-se na hipótese associacionista ao estudar os fenômenos da M., até que a
psicanálise, por um lado, e a gestalt, por outro, mostrassem a importância dos interesses e das atitudes vo-litivas na
recordação, bem como a importância de toda a personalidade no reconhecimento do já visto. O estudo experimental
da M. confirmou as palavras de Nietzsche: "Fiz isto — diz-me a memória. Não posso ter feito,— sustenta meu
orgulho, que é inexorável. Finalmente, quem cede é a M." (Jenseit von Gut undBõse, 1886, § 68). Assim, as análises
psicológicas modernas continuam girando em torno do fato da recordação, mais do que em torno da retentiva, que
continua sendo preferida pelas teorias filosóficas da memória.
MENÇÃO. V. Uso.
MENDELISMO. V. GENÉTICA.
MENTALIDADE (in. Mentality, fr. Menta-lité, ai. Mentalitdt; it. Mentalitã). 1. Termo empregado pelos sociólogos
para indicar atitudes, disposições e comportamentos insti-
MENTAUSMO
6m
METAFÍSICA
tucionalizados em um grupo e capazes de caracterizá-lo. P. ex.: "M. dos primitivos", "M. burguesa", etc.
2. Spaventa chamou "M. pura" o pensamento reflexo ou consciente, que, para ele, deve acompanhar também as
primeiras categorias da lógica hegeliana (ser e essência) {Scritti filo-sofici, 1901, passim).
MENTAUSMO (in. Mentalism). Vocábulo usado na maioria das vezes por escritores filosóficos anglo-saxões para
indicar coisas bem diferentes: ou como sinônimo de "subjetivis-mo" e "idealismo subjetivo" (do tipo de Ber-keley) ou
como sinônimo de psicologismo (v.), ou seja, a tendência combatida pela Lógica hodiema,«mas ainda tenazmente
persistente, de considerar as formas, as figuras e as estruturas da Lógica como formações, representações e operações
mentais (psicológicas), e de considerar as regras da Lógica como "leis do pensamento". Nos textos dos seguidores da
metodologia operativista e dos pragmáticos (p. ex., Dewey), "M." é usado em acepção ligeiramente diferente, para
designar a tendência empi-rista a interpretar a experiência e os conceitos empíricos como meros "estados mentais",
desprezando os aspectos objetivos (fisiológicos, operativo-manuais, lingüísticos, históricos, etc).
G. P. MENTE (lat. Mens). 1. O mesmo que intelecto (v.).
2. O mesmo que espírito: conjunto das funções superiores da alma, intelecto e vontade (v. ESPÍRITO).
3. O mesmo que doutrina. Nesse sentido, diz-se (ou melhor, dizia-se, porque esse significado é antiquado) "M. de
Aristóteles" para designar a doutrina de Aristóteles sobre um assunto qualquer.
MENTIRA (gr. yeüôoç; lat. Mendacium; in. Lie, fr. Mensonge, ai. Lüge; it. Menzogna). Aristóteles distingue duas
espécies fundamentais de M., ajactância, que consiste em exagerar a verdade, e a ironia (v.), que consiste em
diminuí-la. Estas são M. que não dizem respeito às relações de negócios nem à justiça; nesses casos não se trata de
simples M., mas de vícios mais graves (fraude, traição, etc.) {Et. nic, IV, 7, 1127 a 13). S. Tomás deu minuciosa
classificação da M. do ponto de vista da moral teológica (5. Th., II, 2, q. 110).
MENTIROSO (gr. vi/euôÓLtevoç; lat. Men-tiens; in. Liar, fr. Menteur, ai. Lügner it. Men-titoré). Um dos
argumentos que os antigos
chamavam de ambíguos ou conversíveis e os modernos chamam de antinomias ou paradoxos: consiste em afirmar
que se mente; assim, quando se diz a verdade, mente-se, e quando se mente, diz-se a verdade. A conclusão é
impossível. Atribuído a Eubúlides de Mégara (DIÓG. L., II, 108), esse argumento é encontrado em muitos escritores
antigos (ARISTÓTELES, El. sof, 25, 180 b 2; CÍCERO, Acad., II, 95; De divin., II, 4; AULO GÉLIO, Noct. Att., 18, 2).
Retomado no último período da Escolástica, esse argumento ainda é discutido pela lógica como uma das antinomias
lógicas (v. ANTINOMIAS).
MÉRITO (lat. Meritum; in. Merit; fr. Mérite, ai. Verdienst; it. Mérito). Título para obter aprovação, recompensa ou
prêmio. Diz-se não só de pessoas, mas também de obras, como p. ex. "o M. deste livro é...". O M. é diferente da
virtude e do valor moral, constituindo a avaliação da virtude ou do valor moral, com fins de recompensa, ainda que
apenas uma aprovação.
MESOLOGIA. V. ECOLOGIA.
METABASE (gr. LiETápocaiç eiç aÀAo yévoç). Passagem, legítima ou não, para outro assunto ou para outro campo.
Aristóteles diz: "Não podemos ultrapassar o corpo e ir para outro gênero como passamos do comprimento para a
superfície e desta para o corpo" {De cael, I, 1, 268 b 1). Quintiliano considera essa passagem como figura retórica
{Inst. or., IX, 3, 25).
METABIOLOGIAGn. Metabiology, fr. Méta-biologie; ai. Metabiologie; it. Metabiologid). Especulações metafísicas
a partir de fenômenos biológicos. Ou então: a análise da estrutura lingüistico-conceitual da biologia.
METACRÍTICA (ai. Metakritik). Este termo aparece como título de duas obras alemãs dedicadas à crítica do
kantismo: na obra de HAMANN, Metacrítica do purismo da razão (1788), e na de HERDER, M. da crítica da razão pura
(1799). Esse termo significa "crítica da crítica".
METAFÍSICA (gr. xà Ltexà Tà (ptiaiKá; lat. Metaphysica; in. Methaphysik, fr. Métaphysique, ai. Metaphysik, it.
Metafísica). Ciência primeira, por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências, e como princípio um princípio
que condiciona a validade de todos os outros. Por essa pretensão de prioridade (que a define), a M. pressupõe uma
situação cultural determinada, em que o saber já se organizou e dividiu em diversas ciências, relativamente
independentes e capazes de exigir a determinação de suas inter-relações e sua integração com
METAFÍSICA
661
METAFÍSICA
base num fundamento comum. Essa era precisamente a situação que se verificava em Atenas em meados do séc. IV
a.C. graças à obra de Platão e de seus discípulos, que contribuíram poderosamente para o desenvolvimento da
matemática, da física, da ética e da política. O próprio nome dessa ciência, que costuma ser atribuído ao lugar que
coube ao textos relativos de Aristóteles na coletânea de Andronico de Rodes (séc. I a.C), mas que Jaeger atribui a um
peripatético anterior a Andronico (Aristóteles; trad. it., p. 517), presta-se a expressar bem a sua natureza, porquanto
ela vai além da física, que é a primeira das ciências particulares, para chegar ao fundamento comum em que todas se
baseiam e determinar o lugar que cabe a cada uma na hierarquia do saber; isso explica, senão a origem, pelo menos o
sucesso que esse nome teve.
Platão apresentou a exigência da formação dessa ciência suprema depois de esclarecer a natureza das ciências
particulares que constituem o currículo do filósofo: aritmética, geometria, astronomia e música: "Penso que, se o
estudo de todas essas ciências que arrolamos for feito de tal modo que nos leve a entender seus pontos comuns e seu
parentesco, perce-bendo-se as razões pelas quais estão intimamente interligadas, o seu desenvolvimento nos levará ao
objetivo que temos em mira e nosso trabalho não será debalde; caso contrário, será" (Rep., 531 c-d). Nessa ciência
das ciências, Platão reconhecia a dialética (v.), cuja tarefa fundamental seria criticar e joeirar as hipóteses que cada
ciência adota como fundamento, mas que "não ousam tocar porque não estão em condições de explicá-las" (Rep., 533
c).
A semelhante filosofia Aristóteles dava o nome de "filosofia primeira" ou "ciência que estamos procurando" e
apresentava seu projeto nos treze problemas enumerados no terceiro (B) livro da Metafísica.
Esses problemas versam todos, direta ou indiretamente, sobre as relações entre as ciências e seus objetos ou
princípios relativos: sobre a possibilidade de uma ciência que estude todas as causas (996 a 18) ou todos os princípios
primeiros (996 a 26) ou todas as substâncias (997 a 15) ou também as substâncias eseus atributos (997 a 25) e as
substâncias não sensíveis (997 a 34) e sobre outros problemas (como os das partes que constituem todas as coisas, da
possível diversidade de natureza entre os princípios, da unidade do ser, etc), todos
situados na zona de intersecção e de encontro das disciplinas científicas particulares e de interesse comum para elas.
Portanto, a M., como foi entendida e projetada por Aristóteles, é a ciência primeira no sentido de fornecer a todas as
outras o fundamento comum, ou seja, o objeto a que todas elas se referem e os princípios dos quais todas dependem.
A M. implica, assim, uma enciclopédia das ciências, um inventário completo e exaustivo de todas as ciências, em
suas relações de coordenação e subordinação, nas tarefas e nos limites atribuídos a cada uma, de modo definitivo (v.
ENCICLOPÉDIA). A M. apresentou-se ao longo da história sob três formas fundamentais diferentes: Ia como teologia; 2a
como ontologia; 3a como gnosiologia. A caracterização hoje corrente de M. como "ciência daquilo que está além da
experiência" pode referir-se apenas à primeira dessas formas históricas, ou seja, à M. teológica; trata-se também de
uma caracterização imperfeita, porquanto leva em conta uma característica subordinada, por isso inconstante, dessa
metafísica.
1* O conceito de M. como teologia consiste em reconhecer como objeto da M. o ser mais elevado e perfeito, do qual
provêm todos os outros seres e coisas do mundo. O privilégio de prioridade atribuído à M. decorre, neste caso, do
caráter privilegiado do ser que é seu objeto: é o ser superior a todos e do qual todos os outros provêm.
Na obra de Aristóteles esse conceito mescla-se com o outro, de M. como ontologia, que é a ciência do ser enquanto
ser. Isso é expresso da seguinte forma por Aristóteles: "Se há algo de eterno, imóvel e separado, o conhecimento
disso deve pertencer a uma ciência teorética. porém certamente não à física (que se ocupa das coisas em movimento),
nem à matemática, mas sim a uma ciência que está antes de ambas. (...) Somente a ciência primeira tem por objeto as
coisas separadas e imóveis. Embora todas as causas primeiras sejam eternas, essas coisas são eternas de modo
especial porque são as causas daquilo a que, do divino, temos acesso. Conseqüentemente, há três ciências teoréticas:
matemática, física e teologia; já que o divino está em todos os lugares, está especialmente na natureza mais elevada, e
a ciência mais elevada deve ter por objeto o ser mais elevado. (...) Se não existissem outras substâncias além das
físicas, a física seria a ciência primeira; mas se há uma substância imóvel, esta
r
METAFÍSICA
662
METAFÍSICA
será a substância primeira e sua filosofia, a ciência primeira e, enquanto primeira, também a mais
universal porque será a teoria do ser enquanto ser e daquilo que o ser enquanto ser é ou implica" (Met, VI,
1, 1026 a 10). Esta última frase permite ver como Aristóteles entrelaça o conceito de M. como ontologia
ao conceito de M. como teologia. Este último, porém, é completamente diferente do outro. Com base
nisso, o objeto da M. é propriamente o divino, e a prioridade da M. consiste na prioridade que o ser divino
tem sobre todas as outras formas ou modos de ser. Desse ponto de vista, as ciências se hierarquizam
segundo a excelência ou perfeição de seus respectivos objetos é medida confrontando-os com o ser
divino. Esse fora o critério adotado por Platão na ordenação das ciências, privilegiando a ciência que tem
por objeto "aquilo que é ótimo e excelente", ou seja, a própria perfeição (Fed., 97 d), e hie-rarquizando
todas as outras tomando essa como referência (Rep., VII, 525 a ss.). Contudo, essa concepção relegava
todas as ciências diferentes da M. a um nível de irremediável inferioridade, e o objeto que alcançava não
era justificar as outras ciências, fundamentando sua validade e enobrecendo sua investigação, mas
desvalorizá-las com o confronto com a ciência primeira e com o caráter sublime de seu objeto.
Provavelmente esse foi o motivo por que, a certa altura, Aristóteles começou a insistir no outro conceito
da M. como ontologia, mesmo sem nunca renegar ou abandonar o primeiro. Entretanto, a M. teológica
reaparece sempre que se estabelece a correspondência entre um ser primeiro e perfeito e uma ciência
igualmente primeira e perfeita. É teológica, portanto, a M. de Plotino, que, às ciências que têm o sensível
por objeto, contrapõe as que têm por objeto o inteligível, ou seja, a realidade suprema: "Entre as ciências
que estão na alma racional, algumas têm por objeto as coisas sensíveis, se é que podem ser chamadas
ciências, já que melhor lhes caberia o nome de opiniões; elas vêm depois das coisas e são imagens delas.
As outras, as verdadeiras ciências, têm por objeto o inteligível, chegam à alma provindas do intelecto
divino e nada têm de sensível" (Enn., V, 9,7). Essa bipartição da realidade em um domínio superior e
privilegiado e outro inferior e derivado é o pressuposto característico da M. teológica, que pretende ter
como objeto a realidade primária e privilegiada. É M. teológica, portanto, a doutrina de Spinoza,
porquanto seu
objeto é a ordem necessária do mundo, vale dizer, Deus (Et, II, 46-47). É também M. teológica a filosofia
de Hegel, que afirma ter Deus como objeto: "A filosofia tem objetos em comum com a religião porque o
objeto de ambas é a Verdade, no sentido altíssimo da palavra, porquanto Deus e somente Deus é a
Verdade" (Ene, § 1). Portanto, diante da filosofia todas as outras ciências ficam em condição de
inferioridade: seu objeto é o finito, o irreal, ao passo que o objeto da filosofia é Deus, o infinito. Hegel
diz: "As ciências particulares, a exemplo da filosofia, têm como elementos conhecimento e pensamento,
mas ocupam-se dos objetos finitos e do mundo dos fenômenos. O conjunto de conhecimentos relativos a
essa matéria está, de per si, excluído da filosofia, com a qual não condizem nem esse conteúdo nem sua
forma" (Geschichte der Philosophie, Einleitung, B, 2, a; trad. it., I, p. 69). É evidente que, não obstante os
protestos antimetafísicos, explícitos a filosofia do espírito de Croce também é uma M. teológica, pois tem
por objeto a História eterna do Espírito Universal: realidade sublime, diante da qual os objetos de todas as
outras ciências são rebaixados à posição de aparências particulares ou de acidentalidade empírica (Teoria
estória delia storiografia, 1917; La storia como pen-siero e come azione, 1938). Finalmente, é M.
teológica a filosofia de Bergson, que pretende "prescindir dos símbolos" e entrar diretamente em contato
com uma realidade privilegiada, de natureza divina, que é a corrente da consciência ("Introduction à Ia
métaphysique", em La penséeetle mouvant, 3a ed., 1934, pp. 206 ss.), e que como tal se contrapõe à
ciência, chamada de simples "auxiliar da ação" (Lbid., p. 158). Todas as formas de espiritualismo ou
consciencialismo tendem, mais ou menos claramente, para uma metafísica teológica dessa espécie.
2- A segunda concepção fundamental é a da M. como ontologia ou doutrina que estuda os caracteres
fundamentais do ser: os que todo ser tem e não pode deixar de ter. As principais proposições da M.
ontológica são as seguintes: Ia Existem determinações necessárias do ser, ou seja, determinações que
nenhuma forma ou maneira de ser pode deixar de ter. 2 a Tais determinações estão presentes em todas as
formas e modos de ser particulares. 3a Existem ciências que têm por objeto um modo de ser particular,
isolado em virtude de princípios cabíveis. 4a Deve existir uma
METAFÍSICA
663
METAFÍSICA
ciência que tenha por objeto as determinações necessárias do ser, estas também reconhecíveis em virtude de um
princípio cabível. 5a Essa ciência precede todas as outras e é, por isso, ciência primeira, porquanto seu objeto está
implícito nos objetos de todas as outras ciências e porquanto, conseqüentemente, seu princípio condiciona a validade
de todos os outros princípios. A M. expressa nessas proposições via de regra implica: d) determinada teoria da
essência, mais precisamente da essência necessária (v. ESSÊNCIA); b) determinada teoria do ser predicativo, mais
precisamente da inerência (v. SER, 1); c) determinada teoria do ser existencial, mais precisamente da necessidade (v.
SER, 2).
As proposições acima expressam a forma mais madura que a M. assumiu na obra de Aristóteles, precisamente nos
livros VII, VIII, LX de Metafísica, ou seja, M. como teoria da substância, entendendo-se por substância "aquilo que
um ser não pode não ser", a essência necessária ou a necessidade de ser (v. SUBSTÂNCIA). Nesse sentido, o princípio
da M. é o de contradição, porque só ele permite delimitar e reconhecer o ser substancial. Aristóteles disse: "Quem
nega esse princípio destrói completamente a substância e a essência necessária, pois é obrigado a dizer que tudo é
acidental e que não há algo como ser homem ou ser animal. Se de fato há algo como ser homem, isto não será ser
não-homem ou não ser homem, mas estas serão negações daquele. Um só é o significado do ser, e este é a substância
dele. Indicar a substância de uma coisa nada mais é que indicar o ser próprio dela" {Mel, IV, 4, 1007 a 21). Desse
ponto de vista, a substância é objeto da M. por constituir o princípio de explicação de todas as coisas existentes.
Aristóteles diz: "A substância de cada coisa é a causa primeira do ser dessa coisa. Algumas coisas não são
substâncias, mas as que são substâncias são naturais e postas pela natureza, estando, pois, claro que a substância é a
própria natureza e que não é elemento, mas princípio" (Ibid., VII, 17, 1041 b 27). A substância nesse sentido não é
uma realidade privilegiada ou sublime, que confira dignidade superior à ciência que a tem como objeto. Enquanto
substâncias, Deus e o intelecto (como diz ARISTÓTELES, Et. nic, I, 6, 1096 a 24), ou mesmo Deus e um talo de capim
(como se poderia dizer), têm o mesmo valor, e as ciências que os tomam como objeto têm a mesma dignidade. Em
uma passagem
famosa de Partes dos animais, Aristóteles reconheceu, explicitamente, a mesma dignidade em todas as ciências que
tenham a substância como objeto: "As substâncias inferiores, por serem mais acessíveis ao conhecimento, acabam
tendo vantagem no campo científico, e por estarem mais próximas de nós e mais em conformidade com nossa
natureza, a ciência delas acaba sendo equivalente à filosofia que tem por objeto as coisas divinas. (...) De fato, mesmo
no caso das menos favorecidas do ponto de vista da aparência sensível, a natureza que as produziu proporciona
alegrias indizíveis a quem sabe compreender suas causas e é filósofo por natureza" (Depart. an., I, 5, 645 a 1). É
óbvio que, desse ponto de vista, a prioridade da M. não consiste na excelência de seu objeto (como no caso da M.
teológica), mas no fato de que a M., por ter a substância objeto específico, permite entender os objetos de todas as
ciências tanto em seus caracteres comuns e fundamentais quanto em seus caracteres específicos: sem a substância e,
p. ex., sem o ser e a unidade que lhe pertencem, "todas as coisas seriam destruídas, já que cada coisa é e é uma"
(Met., XI, 1, 1059 b 31). Em outras palavras: toda ciência, como tal, é o estudo da substância em qualquer de suas
determinações; p. ex.: em movimento, a física; como quantidade, a matemática. A M. é a teoria da substância
enquanto tal.
Desse ponto de vista, a prioridade da M. sobre as outras ciências é lógica, não de valor. Trata-se de uma prioridade
lógica decorrente da prioridade ontológica de seu objeto específico. Consiste no fato de todas as outras ciências
pressuporem a M. do mesmo modo como todas as determinações da substância pressupõem a substância; ora, a
reforma feita por S. Tomás na M. aristotélica, no séc. XIII, visa a restringir a superioridade lógica da M. Segundo S.
Tomás, a M. como teoria da substância não inclui Deus entre seus objetos possíveis, porquanto Deus não é substância
(5. Th., I, q. 1, a. 5, ad Ia). A identidade entre essência e existência em Deus distingue nitidamente o ser de Deus do
ser das criaturas, nas quais essência e existência são separáveis (Ibid., I, q. 3, a. 4). Portanto, a determinação dos
caracteres substanciais do ser em geral não diz respeito a Deus, mas apenas às coisas criadas ou finitas. Com isso, a
M. perde a prioridade em favor da teologia, considerada como ciência autônoma, originária, cujos princípios são
ditados direta-
METAFÍSICA
664
METAFÍSICA
mente por Deus. "E assim a teologia nada recebe das outras ciências, como se estas fossem superiores a
ela, mas delas tira proveito, em sendo elas inferiores ancilares, assim como as ciências arquitetônicas
tiram proveito de outras que lhe propiciam os materiais e assim como a ciência civil tira proveito da
militar" (Ibid., I, q. 1, a. 5, ad 2Q). Com a negação do caráter analógico do ser, realizada por Duns Scot,
volta-se a reconhecer a prioridade da M. Duns Scot define a M. como "a ciência primeira do saber
primeiro", isto é, do ser (In Met., VII, q. 4, n. 3). Segundo ele, o ser que é objeto da M. é o ser comum-,
comum a todas as criaturas e a Deus, embora não se trate de um gênero, que teria extensão restrita
demais. A comunidade do ser compreende todo o domínio do inteligível: a ciência do ser, a M., é,
portanto, a ciência primeira e mais extensa (Op. Ox., I, d. 3, q. 3, a. 2, n. 14). A característica desse ponto
de vista de Scot é fazer a distinção nítida entre a prioridade de valor, que pertence à teologia, e a
prioridade lógica, que pertence à M.
Essa distinção manteve-se ao longo da história ulterior da M. ontológica. No séc. XVII, tal M. começou a
ser designada pelo nome de ontologia, que aparece em Schediasma histo-ricum (1655), de Jacobus
Thomasius (pai de Cristiano), e é justificada por Clauberg do seguinte modo: "Assim como se chama de
teo-sofia ou teologia a ciência que trata de Deus, não parece impróprio que se chame de onto-sofia ou
ontologia a ciência que verse sobre o ente em geral, e não sobre este ou aquele ente designado por um
nome especial ou distinto dos outros por certa propriedade" (Op. Phil, 1691,1, p. 281). Uma ontologia
assim entendida, nitidamente distinta da teologia, não implicava nenhum antagonismo, franco ou
disfarçado, contra os dados da experiência. Ao contrário, essa ontologia começa a ser considerada como a
exposição organizada e sistemática dos caracteres fundamentais do ser que a experiência revela de modo
repetido ou constante. Esse é o conceito de Wolff, que conferiu a essa disciplina a força sistemática que
lhe garantiu sucesso por algum tempo. Segundo Wolff, o pensamento comum já possui de forma confusa
as noções que a ontologia expõe de forma distinta e sistemática, ou seja, existe uma "ontologia .natural"
constituída das "confusas noções onto-lógicas vulgares". Esta pode ser definida como "o conjunto de
noções confusas, correspondentes aos termos abstratos com que expressamos
os juízos gerais sobre o ser e adquiridas com o uso comum das faculdades da mente" (Ont., § 21). Essa
ontologia natural, que os escolásti-cos completaram sem tomar menos confusa, distingue-se da ontologia
artificial ou científica, assim como a lógica se distingue dos procedimentos naturais do intelecto (Ibid., §
23; Log, § 11). Não é um simples dicionário filosófico, mas uma ciência demonstrativa, cujo objeto é
constituído pelas determinações que pertencem a todos os entes, seja de modo absoluto, seja sob
determinadas condições (Ont, § 25). Assim, graças a Wolff, introduzia-se no organismo tradicional da M.
ontológica uma exigência descritiva e empirista que tendia a eliminar o conflito entre apriorismo dedutivo
da M. e experiência. Com base nessa mesma exigência, Wolff faz a distinção entre psicologia empírica,
"na qual, a partir da experiência, estabelecem-se princípios que expliquem as causas do que pode
acontecer na alma humana" (Log., Disc. prel., § 111), e psicologia reacional, que é a "ciência de todas as
coisas possíveis na alma humana" (Ibid., § 58). Por outro lado, Wolff fazia a distinção entre ontologia e as
três disciplinas M. especiais: teologia, psicologia e física (da qual faz parte a cosmologia), cujos objetos
respectivos seriam Deus, a alma humana e as coisas naturais (Ibid., §§ 55-59).
A ontologia wolffiana possibilitava a interpretação empírica dessa ciência, razão pela qual ela foi algumas
vezes defendida pelos próprios iluministas. D'Alembert, p. ex., dizia: "Visto que tanto os seres espirituais
quanto os materiais têm propriedades gerais em comum, como existência, possibilidade, duração, é certo
que esse ramo da filosofia, no qual todos os outros ramos haurem em parte seus princípios, seja
denominado ontologia, ou seja, ciência do ser ou M. geral" (Discourspréliminaire, § 7, em CEuvres, ed.
Condorcet, p. 115). Neste sentido, D'Alembert defende uma nova M., "que seja criada mais para nós, que
fique mais próxima e presa à terra, uma M. cujas aplicações se estendam às ciências naturais e aos
diversos ramos da matemática. De fato, em sentido estrito não há ciência que não tenha sua M., se com
isso entendermos os princípios gerais sobre os quais se constrói determinada doutrina, que são, por assim
dizer, os germes de todas as verdades particulares" (Éclaircissement, § 16). Foi em sentido muito próximo
que Crusius (Ent-wurf der notwendigen Vernunftwahrheiten, 1745, § D e Lambert (Architetonik, 1771, §
43)
METAFÍSICA
665
METAFÍSICA
entenderam a ontologia. Com uma renúncia mais radical ao caráter sistemático da ciência, ainda hoje é defendida
uma ontologia descritiva ou "denotativa" que, ao mesmo tempo em que se limite "a observar e a registrar os traços da
existência", também leve em consideração o instrumento dessa observação: a reflexão humana e as condições que a
solicitam (DEWEY, Experience and Nature, and Historical Expe-ríence, 1958, cap. 5).
3a O terceiro conceito de M. como gnosiolo-gia é expresso por Kant. Na verdade, a origem desse conceito deve ser
identificada na noção de filosofia primeira de Bacon: "Uma ciência universal, que seja mãe de todas as outras e que,
no progresso das doutrinas, constitua a parte comum do caminho, antes que as sendas se separem e se desunam."
Segundo Bacon, tal ciência deveria ser "o receptáculo dos axiomas que não pertençam às ciências particulares, mas
sejam comuns a numerosas ciências" (De augm. scient., III, 1). Esse conceito de filosofia primeira tem uma história,
que é a do conceito positivista da filosofia, que tem em comum com o conceito kantiano de M. a maior ênfase nos
princípios dos que nos objetos da ciência. Segundo Kant, M. é o estudo da formas ou princípios cognitivos que, por
serem constituintes da razão humana — aliás de toda razão finita em geral —, condicionam todo saber e toda ciência,
e de cujo exame, portanto, é possível extrair os princípios gerais de cada ciência. Kant expunha esse conceito da M.
nas últimas páginas de Crítica da Razão Pura, mais precisamente no capítulo sobre a arquitetura. Kant diz que a M.
pode ser entendida de duas formas: como a segunda parte da "filosofia da razão pura", ou seja, como "sistema da
razão pura (ciência), conhecimento filosófico total (seja verdadeiro, seja aparente) que deriva da razão pura em
conexão sistemática" (e, nesse sentido, dela é alijada a parte preliminar ou propedêutica da filosofia da razão pura,
que é a crítica), ou então pode ser entendida como a filosofia totalda razão pura, incluindo a crítica. É neste segundo
sentido que Kant chamava a M. de ontologia no documento de 1793, com o qual respondia a ao tema proposto pela
Academia de Berlim: "Quais são os progressos reais da M. desde o tempo de Leibniz e Wolff?". Ontologia, M. e
crítica coincidem do seguinte ponto de vista: "A crítica e só a crítica" — dizia Kant em Prvlegômenos— "contém o
plano bem verificado e provado de uma M. científica, bem
como o material necessário a realizá-lo. Por qualquer outro caminho ou meio, ela é impossível" (Prol., A, 190).
Assim, como M. "científica" ou "crítica", a M. kantiana contrapunha-se à M. dogmática tradicional, que Kant
submetia à crítica nas três partes distinguidas por Wolff: teologia, psicologia e cosmologia. Mas nem na dialética
transcendental, nem em outro lugar, Kant criticou a primeira parte fundamental da M wolffiana, que é a ontologia. Na
realidade, o conceito fundamental de ontologia continuava válido para Kant, com a correção do caráter crítico ou
gnosiológico desta, ou seja, com a passagem do significado realista para o significado subjetivista da disciplina em
questão. Segundo Kant, da M. crítica ou onto-lógica fazem parte a M. da natureza e a M. dos costumes. A M. da
natureza compreende "todos os princípios racionais puros decorrentes de simples conceitos (portanto, com exclusão
da matemática) da ciência teórica de todas as coisas". A M. dos costumes compreende "os princípios que determinam
a priori e tornam necessário o fazer ou o não fazer", sendo, portanto, a "moral pura" (Crít. R. Pura, Doutr. do método,
cap. 3).
A característica da M. kantiana é sua pretensão de ser "uma ciência de conceitos puros", ou seja, uma ciência que
abarque os conhecimentos que podem ser obtidos independentemente da experiência, com base nas estruturas
racionais da mente humana. Desse ponto de vista, sua continuação histórica na filosofia contemporânea é a ontologia
fenomenológica de Husserl. Diferentemente de Kant, Husserl não considera os princípios muito gerais que seriam
constituintes da razão em geral, mas os princípios que constituem o fundamento de determinados campos do saber, de
uma ciência ou de um grupo de ciências, chamados, portanto, de materiais. Husserl diz.-"Cada objeto empírico
concreto insere-se com sua essência material em uma espécie material superior, em uma região de objetos empíricos.
À essência regional corresponde uma ciência eidétíca regional ou, como podemos dizer também, uma ontologia
regional." Portanto, "toda ciência de dados de fato ou de experiência tem seus fundamentos teóricos essenciais em
ontologias regionais. (...) Assim, p. ex., a todas as disciplinas naturalistas corresponde a ciência eidética da natureza
física em geral (a ontologia da natureza), porquanto à natureza factícia corresponde um eidos puramente
METAFÍSICA
666
METAFÍSICA
apreensível, a 'essência' da natureza em geral, juntamente com uma massa infinita de relações essenciais". {Ideen, I, §
9)- A afirmação do caráter "material" (determinado ou específico) dos princípios ontológicos, que sempre se referem
a determinado gênero de essências ou campo do saber, leva Husserl a estabelecer o caráter "regional" da ontologia.
De seu ponto de vista, a ontologia geral ou formal nada mais é que a lógica pura, que é "a ciência eidética do objeto
em geral" Ubid., § 10) (v. MATHESIS UNIVERSALIS). NO entanto, N. Hartmann, que tem em comum com Husserl o
pressuposto fenomenológico, retornou à ontologia geral. Para ele, o objeto da ontologia é o ente, não o ser, já que o
ser é unicamente "aquilo que há de comum em cada ente". O ser e o ente distinguem-se como a verdade e o
verdadeiro, a realidade e o real, e assim por diante: há muitas coisas verdadeiras, mas o ser da verdade é um só.
Analogamente, o ser do ente é um só, ainda que o ente possa ser vário e as diferenciações do ser pertençam ao
desenvolvimento da ontologia, e não a seu início, que versa sobre aquilo que é comum universal (Grundlegung der
Ontologie, 1935, p. 42). A postura francamente realista da ontologia de Hartmann parece aproximá-la da tradicional,
especialmente de Wolff, mas na realidade o que para Hartmann constitui o objeto da ontologia é o modo como o ser é
dado Ubid., p. 48) à experiência fenomenológica: de tal forma que sua ontologia é parte integrante da corrente
fenomenológica. A essa mesma corrente pertence a ontologia de Heidegger, entendida só como a determinação do
sentido do ser a partir do ser do ente que faz as perguntas e dá as respostas: o homem. Heidegger reafirma o caráter
primário ou privilegiado da ontologia. "O problema do ser tende não só à determinação das condições apriori da
possibilidade das ciências que estudam o ente enquanto ente, e que portanto, ao fazê-lo, sempre já se movem numa
compreensão do ser, mas também à determinação das condições de possibilidade das ontologias que precedem e
fundam as ciências ônticas [isto é, empíricas]" (Sein undZeit, § 3). Todas as doutrinas às quais nos referimos até
agora (exceto as de Dewey e Randall) admitem o pressuposto em torno do qual a M. tradicionalmente girou, situando,
portanto, nos limites do conceito de M. Tal presssuposto é o caráter necessário e primário da M.: necessário por ter
como objeto o objeto necessário de todas as outras ciências; primário porque, como tal, é fundamento de todas as ciências. O que resta da M. na filosofia
contemporânea — e não resta como mera sobrevivência, mas como parte viva da investigação — não possui mais
estes caracteres tradicionais. A M. está de fato presente e atuante na filosofia contemporânea sob a forma de dois
problemas conexos: Ia a questão do significado ou dos significados de existência na linguagem das diversas ciências;
2Q a questão das relações entre as diversas ciências e das investigações sobre objetos que incidem nos pontos de
intersecção ou de encontro entre elas.
ls Com relação ao primeiro problema, fala-se hoje explicitamente de ontologia no sentido de compromisso em usar o
verbo ser e seus sinônimos em determinado sentido. Quine, p. ex., diz: "Nossa aceitação de uma ontologia é
semelhante, em princípio, à nossa aceitação de uma teoria científica, de um sistema de física: adotamos, no mínimo
por sermos dotados de razão, o esquema conceituai mais simples no qual os fragmentos desorganizados da
experiência bruta possam ser adaptados e distribuídos. Nossa ontologia estará determinada uma vez que tenhamos
fixado o esquema conceituai total em que se adapte a ciência em seu sentido mais amplo; as considerações que
determinam a construção racional de uma parte qualquer desse esquema conceituai (p. ex., a parte biológica ou física)
não são diferentes, em termos de espécie, das considerações que determinam a construção racional de todo o
esquema" (From a Logical Point of View, pp. 16-17). Embora objetando ao uso da palavra "ontologia", que pareceria
fazer referência a convicções metafísicas, quando na realidade se trata de uma decisão tão prática quanto "a escolha
de um instrumento", Carnap confirmou substancialmente o ponto de vista de Quine {Meaning and Necessity, § 10); é
nesse sentido que se fala freqüentemente em ontologia na lógica e na metodologia contemporânea.
29 Com relação ao segundo problema, a sucessora da M. tradicional é a metodologia, que habitualmente discute os
problemas das relações entre as ciências particulares e as questões decorrentes das interferências marginais entre as
próprias ciências. Certamente a metodologia não herdou a pretensão de criar uma enciclopédia das ciências que
defina, de uma vez por todas, as tarefas e as limitações de cada uma delas; por isso, não reivindica a dignidade de
METÁFORA
667
METAMORAL
julgar as ciências e reinar sobre elas. Trata-se mais de organizar continuamente o universo conceituai do modo mais
simples e cômodo: que favoreça a comunicação contínua entre as ciências sem atentar contra a indispensável
autonomia de cada uma delas. Com este objetivo, cumpre problematizar, em cada fase da pesquisa científica, as
relações entre as diversas disciplinas ou as diversas correntes de pesquisa, tanto em favor do desenvolvimento das
disciplinas particulares, quando em favor do uso que delas o homem pode ou deve fazer, ou seja, da filosofia.
METÁFORA (gr. u.era<popá; in. Metaphor, fr. Métaphore; ai. Metapher, it. Metáfora). Transfe-rência de
significado. Aristóteles diz: "A M. consiste em dar a uma coisa um nome que pertence a outra coisa: transferência que
pode realizar-se do gênero para a espécie, da espécie para o gênero, de uma espécie para outra ou com base numa
analogia" (Poet., 21, 1457 b 7). A noção de M. algumas vezes foi empregada para determinar a natureza da
linguagem em geral (v. LINGUAGEM). Como instrumento lingüístico, hoje sua definição não é diferente da definição
de Aristóteles. Quanto à M. mítica dos povos primitivos, que é substancialmente a identificação da expressão
metafórica com o objeto, cf. CASSIRER, Language and Myth, 1946.
METAGEOMETRIA (in. Metageometry, fr. Métagéometrie, ai. Metageometria; it. Métageo-metria). Geometria
não euclidiana, ou seja, qualquer geometria que parta de axiomas diferentes dos de Euclides (v. GEOMETRIA).
META-HISTÓRICO. Indicam-se com este termo os valores eternos que a história tende a realizar e que
constituiriam sua estrutura ou plano providencial que a rege (v. HISTÓRIA).
METALEVGUAGEM (in. Metalanguage, fr. Métalanguage, it. Metalinguaggió). Quando D. Hilbert introduziu a
concepção de matemática como sistema meramente sintático-dedutivo (sistema arbitrário de símbolos no qual, dados
certos axiomas fundamentais e certas regras operacionais, procede-se por meios meramente simbólicos, ou seja,
operando com as fórmulas que constituem os axiomas e segundo as regras operacionais dadas, à inferência das
"conseqüências", independentemente dos possíveis ou eventuais significados extra-simbóli-cos, intuitivos ou outros
desses mevnos símbolos), colocou-se o problema de verificar a não-contradição dos sistemas de axiomas das
disciplinas matemáticas assim formalizadas, bem como de verificar a correção das inferên-cias (deduções). Visto que,
segundo conhecido teorema (de Gõdel), não se pode provar a não-contradição de um sistema matemático formalizado
dentro desse mesmo sistema, D. Hilbert e sua escola recorreram à criação de sistemas particulares para a verificação
dos sistemas simbólicos (ou seja, de cada disciplina da matemática: álgebra, geometria, etc). Tais sistemas de
verificação foram denominados metama-temãticos. Por analogia, ou melhor, por extensão do termo, os lógicos
poloneses e Camap chamaram de M. qualquer sistema lingüístico (p. ex., a linguagem da Lógica, da gramática, etc.)
que não conduza a denotata extralin-güísticos, mas que, semanticamente, conduza a símbolos e fatos lingüísticos, e
de metalin-güística qualquer expressão não que fale de coisas (reais ou ideais), mas de palavras ou discursos (p. ex.:
"'Mário' é um nome próprio de pessoa, masculino e singular"; "'aceleração' é um termo da Física"). A distinção entre
linguagem e M. assume grande importância na análise filosófica neopositivista, sendo um dos fundamentos da crítica
à metafísica especulativa, na qual expressões metalingüísticas são sistematicamente confundidas com expressões
lingüísticas (v. LINGUAGEM-OBJETO).
G. P.
METALÓGICO (in. Metalogical; fr. Métalo-gique, ai. Metalogisch; it. Metalogicó). 1. A partir de Carnap
(Logische Syntax der Sprache, 1934; trad. in., 1937, § 2), este termo passou a ter o mesmo significado de "sintático":
caracteriza o estudo sistemático das regras formais de uma língua (v. SINTAXE).
2. Schopenhauer chamou de metalógica a verdade dos quatro princípios do pensamento: Identidade, Contradição,
Terceiro Excluído e Razão Suficiente (Über die vierfache Wurzel des Satzen von zureichenden Grunde, 1813, §33).
3. Metalogicon é o título de uma obra de João de Salisbury (séc. XII): significaria "defesa da lógica".
METAMATEMÁTICO (in. Metamathema-tic, fr. Métamathématique, ai. Metamathema-tisch; it. Metamatematicó).
O mesmo que sintático ou metalógico. No sentido de Hilbert, teoria da prova, ou seja, formalização da prova
matemática por meio de um sistema logístico (v. PROVA).
METAMORAL (in. Metamoral; fr. Méta-morale, it. Metamoralé). Estudo dos fundamen-
METAPSÍQUICA
668
MÉTODO
tos da moral. Ou então: estudo das estruturas lógico-lingüísticas da moral.
METAPSÍQUICA (in. Psychical research; fr. Métapsychique, ai. Parapsychologie, Metapsy-chik, it. Metapschicd).
Exame, sem preconceitos e com visão científica, das faculdades humanas, reais ou imaginárias, que são inexplicáveis
com base nas hipóteses geralmente conhecidas. Esta é, pelo menos, a definição dessa ciência por parte de seus
seguidores mais sérios. Os fenômenos que ela investiga situam-se em duas categorias fundamentais: os chamados
fenômenos mentais, que consistem em informações adquiridas por meios supra-normais, ou fenômenos de percepção
extra-sensotial, e os fenômenos físicos ou prodígios, como p. ex. objetos que flutuam no ar, batidas, ruídos, etc. A M.
procura estabelecer a realidade desses fenômenos e apresentar as hipóteses cabíveis para sua explicação (cf. D. J.
WEST, Psychical Research Today, Londres, 1954).
METEMPÍRICO (in. Metempirical; fr. Mé-tempírique, ai. Metempirisch; it. Metempiricó). O que está além dos
limites da experiência possível (LEWES, Problems of Life and Mind, 1874, I, p. 17).
METEMPSICOSE (in. Metempsychosis; fr. Métempsychose, ai. Metempsychose it. Metem-psicosi). Crença na
transmigração da alma de corpo em corpo. Essa crença é muito antiga e de origem oriental, mas o termo só aparece
nos escritores dos primórdios da era cristã. Plotino às vezes usa o termo metensomatose (Enn., II, 9, 6, 13), que seria
mais exato. A crença, difundida pelas seitas órficas e pelos pitagóricos, foi aceita por Empédocles (Fr. 115, 117,
119), por Platão {Tim., 49 ss.; Rep., X, 6l4 ss.), por Plotino, pelos neoplatônicos e pelo gnóstico Basilides
(BUONAIUTI, Prammenti gnostici, pp. 63 ss.). Cf. E. ROHDE, Psyche, 1890-94; trad. it., Bari, 1916.
METENSOMATOSE. V. METEMPSICOSE. METÉXIS (gr. LtéOeÇiç). Participação. Essa palavra foi usada por
Platão para indicar um dos modos possíveis de relação entre as coisas sensíveis e as idéias iParm., 132 d). Os outros
modos em que Platão concebeu essa mesma relação são: mimese ou imitação (Rep., 597 a; Tim., 50 c) e presença da
idéia nas coisas (Fed., 100 d). Esse termo foi usado nessa forma por Gioberti, em Protologia, para designar o ciclo de
retorno do mundo a Deus, que culmina numa renovação final, ou palingeriesia (Prot., II, p. 107). Gioberti usa esse
mesmo termo (assim como o termo mimese, com o qual indica o afastamento do mundo de Deus) para caracterizar um termo de vários
pares de coisas ou entes do mundo: p. ex., o corpo é a mimese, a alma é a M.; a fêmea é a mimese, o macho é a M.,
etc. (Ibid., p. 319).
METÓDICA. Assim é chamada algumas vezes a doutrina do método pedagógico: p. ex., RAYNERI, Primi principi di
metódica (1850); ROSMINI, Del principio supremo delia metódica (1857), etc.
MÉTODO (gr. uieoôoç; lat. Methodus; in. Method; fr. Méthode, ai. Methode, it. Método). Este termo tem dois
significados fundamentais: 1Q qualquer pesquisa ou orientação de pesquisa; 2- uma técnica particular de pesquisa. No
primeiro significado, não se distingue de "investigação" ou "doutrina". O segundo significado é mais restrito e indica
um procedimento de investigação organizado, repetível e autocorrigível, que garanta a obtenção de resultados
válidos. Ao primeiro significado referem-se expressões como "M. hegeliano", "M. dialético", etc, ou mesmo "M.
geométrico", "M. experimental", etc. Ao segundo significado referem-se expressões como "M. silogístico", "M.
residual" e, em geral, os que designam procedimentos específicos de investigação e verificação. Tanto Platão (Sof,
218 d; Fed., 270 c) quanto Aristóteles (Pol, 1289 a 26; Et. nic, 1129 a 6) empregam esse termo em ambos os
significados; no moderno e contemporâneo, prevalece o segundo. Contudo, é preciso observar que não há doutrina ou
teoria, quer científica quer filosófica, que não possa ser considerada sob o aspecto de sua ordem de procedimentos,
sendo, pois, chamada de M. O próprio Descartes, p. ex., expôs o mesmo conteúdo do Discurso do método na forma
de Meditações metafísicas e de Princípios de filosofia: o que por um lado era M., por outro era doutrina. De modo
geral, não há doutrina que não possa ser considerada e chamada de M., se encarada como ordem ou procedimento de
pesquisa. Portanto, a classificação dos M. filosóficos e científicos sem dúvida seria uma classificação das respectivas
doutrinas. Quanto às doutrinas que com mais freqüência ou razão são chamadas de M., v. os capítulos respectivos:
ANÁLISE; AXIOMATIZAÇÃO; CONCOMITÂNCIA; CONCORDÂNCIA; DEDUÇÃO; DIALÉTICA;
DIFERENÇA; DEMONSTRAÇÃO; INDUÇÃO; PROVA; RESÍDUOS; SILOGISMO; SÍNTESE; bem como os
verbetes dedicados a cada disciplina: FILOSOFIA; FÍ-
METODOLOGIA
669
MICROCOSMO
SICA; GEOMETRIA; LÓGICA; MATEMÁTICA; CIÊNCIA, etc.
METODOLOGIA (in. Methodology, fr. Mé-thodologie, ai. Methodologye, Methodenlehre, it. Metodologia). Com
este termo podem ser designadas quatro coisas diferentes: Ia lógica ou parte da lógica que estuda os métodos; 2a
lógica transcendental aplicada; 3a conjunto de procedimentos metódicos de uma ou mais ciências; 4 a a análise
filosófica de tais procedimentos.
Ia A lógica foi interpretada como M. na fase pós-cartesiana. Segundo a Lógica de Port-Royal, "a lógica é a arte de
bem conduzir a própria razão no conhecimento das coisas, tanto para instruir-se quanto para instruir aos outros". No
mesmo sentido, Wolff definia a lógica como "a ciência de dirigir a faculdade cognoscitiva no conhecimento da
verdade" {Log., § 1). Esse conceito de lógica pode ser encontrado também na definição de Stuart MUI, como "ciência
das operações do intelecto que servem para a avaliação da prova" {Logic, Intr., § 7). Por outro lado, a M. também foi
considerada uma parte da lógica. Pedro Ramus dividia a lógica em quatro partes: doutrina do conceito, do juízo, do
raciocínio e do método (Dialecticae institutiones, 1543); essa divisão, aceita pela Lógica de Port-Royal, tornou-se
tradicional e foi constantemente adotada pela lógica filosófica do séc. XIX (v. para todos BENNO ERDMANN, Logick,
1892,1, § 7). Apartir de Wolff (Log., §§ 505 ss.), a_jd_outrina do método foi freç|üejite^rii£nte_£haínada de lógica
prática,
2- A M. foi entendida por Kant como lógica transcendental aplicada ou "prática". Constitui a segunda parte principal
da Crítica da Razão Pura, cujo objetivo é "determinar as condições formais de um sistema completo da razão pura";
compreende uma disciplina, um cânon, uma arquitetura e, finalmente, uma história da razão pura. O próprio Kant
confronta essa parte de sua obra com a lógica formal aplicada ou prática: "Do ponto de vista transcendental, faremos
o que se procurou fazer nas escolas com o nome de lógica prática em relação ao uso do intelecto em geral, mas que se
fez mal, porque, não se limitando a um modo especial de conhecimento intelectual (p. ex., o puro), nem a certos
objetos, a lógica geral nada mais pode fazer senão propor títulos de métodos possíveis e de expressões técnicas" (Crít.
R. Pura, Doutr. transe, do método, Intr.).
3a Com o nome de M. hoje é freqüentemente indicado o conjunto de procedimentos técnicos de averiguação ou
verificação à disposição de determinada disciplina ou grupo de disciplinas. Nesse sentido fala-se, p. ex., de "M. das
ciências naturais" ou de "M. historiográfica". Nesse aspecto, a M. é elaborada no interior de uma disciplina científica
ou de um grupo de disciplinas e não tem outro objetivo além de garantir às disciplinas em questão o uso cada vez
mais eficaz das técnicas de procedimento de que dispõem.
4a Por outro lado, em estreita conexão com o sentido acima, a M. vem-se constituindo como disciplina filosófica
relativamente autônoma e destinada à análise das técnicas de investigação empregadas em uma ou mais ciências.
Nesse sentido, não são objetos da M. os "métodos" das ciências, ou seja, as classificações amplas e aproximativas
(análise, síntese, indução, dedução, experimentação, etc), nas quais se inserem as técnicas da pesquisa científica, mas
tão-somente essas técnicas, consideradas em suas estruturas específicas e nas condições que possibilitam o seu uso.
Tais técnicas compreedem, obviamente, qualquer procedimento lingüístico ou operacional, qualquer conceito e
qualquer instrumento que uma ou mais disciplinas utilizem na aquisição e na verificação de seus resultados. Nesse
sentido, a M. é sucessora d) da metafísica, porque a ela cabem os problemas que concernem às relações entre as
ciências e as zonas de interferência (e algumas vezes de conflito) entre ciências diferentes; b) da gnosiologia,
porquanto substitui a consideração do "conhecimento", entendido como forma global da atividade humana ou do
Espírito em geral, pela consideração dos procedimentos cognoscitivos utilizados por um ou mais campos da
investigação científica. Essa M. chama-se também "crítica das ciências". Embora o trabalho realizado por ela nessa
direção e iniciado nas primeiras décadas do séc. XX já seja considerável, está faltando até agora uma determinação
precisa da tarefa e das orientações dessa disciplina. Cf. todavia autores vários, Fondamenti logici delia scienza,
Turim, 1947; id., Saggi di critica deUe scienze, Turim, 1950: ambos org. pelo Centro di Studi Metodologia di Torino.
MICROCOSMO (gr. uucpòç KÓa|ioç; lat. Microcosmus-, in. Microcosm; fr. Microcosme, ai. Mikrokosmos; it.
Microcosmo). A correspondência entre o macrocosmo, que é o mun-
MICROCOSMO
670
MILAGRE
do, e o M., que é o animal e por vezes o homem, é tema filosófico antigo, que nasceu da tendência a interpretar todo o
universo com fundamento no universo menor, que é o homem para si mesmo. Aristóteles expunha da seguinte
maneira esse princípio de interpretação, a propósito da possibilidade do movimento autônomo: "Se isso é possível no
animal, o que pode impedir que aconteça no mundo também? Se ocorre no M., pode acontecer também no cosmo
grande; e, se ocorre no cosmo, pode acontecer também no infinito, se é possível que o infinito se mova e esteja em
repouso em sua totalidade." (Fís., VIII, 2, 252 b 25). Ora, essa é a objeção que Aristóteles faz a si mesmo, refutando-a
ao negar a possibilidade de movimento autônomo do universo e ao admitir, por isso, o primeiro motor. A
correspondência entre M. e macrocosmo não é, pois, um princípio adotado por Aristóteles. Mas já em sua época era
um princípio antigo, visto fundamentar a cosmogonia dos órficos, mais precisamente a doutrina de que o mundo
nasceu de um ovo: e nasceu de um ovo porque é animal (cf. A. OLIVIERI, Civiltà greca nell Itália meridionale,
Nápoles, 1931, pp. 23 ss.). Platão mesmo chamou o mundo de "grande animal" (Tini., 30 b), provido de alma e
inteligência, assumindo, assim, como realidade literal uma correspondência metodológica; esse foi o sentido
atribuído, depois dele, por estóicos, neopitagóricos e, em geral, por todos os que insistiram no caráter animado do
universo.
A correspondência entre M. e macrocosmo foi um dos temas preferidos da literatura mágica. A magia pretende
dominar o mundo natural encantando-o ou domesticando-o como se faz com um animal; seu pressuposto é
exatamente de que o mundo é um animal e de que todos os seus aspectos são controláveis com procedimentos que se
dirigem a eles como a atividades vivas. A correspondência M.-macrocosmo foi, portanto, um dos temas obrigatórios
da magia renascentista. Cornélio Agripa afirmava que o homem reúne em si tudo o que está disseminado nas coisas, e
que isso lhe permite conhecer a força que mantém o mundo integrado e utilizá-la para realizar ações miraculosas (De
occultaphilosophia, I, 33). Observações análogas repetem-se em todos os escritores renascentistas que admitem a
magia (p. ex., CAMPANELLA, De sensu rerum, I, 10). Paracelso baseava toda a ciência médica na correspondência
entre macrocosmo e M.; por
isso, exigia que ela se fundamentasse em todas as ciências que estudam a natureza do universo, quais sejam: teologia,
filosofia, astronomia e alquimia (Dephilosophia occulta, II, p. 289). Quando a ciência deixou de lado o princípio
antropomórfico na interpretação da natureza, a correspondência entre M. e macrocosmo deixou de ser um guia útil de
pesquisa e passou a ter aspecto de preconceito. Lotze, que deu o título de M. à sua obra fundamental, só admite essa
correspondência na forma do condicionamento que o mundo exerce sobre o homem, procurando reduzir o alcance
desse termo a limites estreitíssimos (Mikrokosmus, VI, K, 1; trad. it., II, pp. 312 ss.).
MILAGRE (gr. tépaç; lat. Miraculwn; in. Miracle, fr. Miracle, ai. Wunderit. Miracoló). Fato excepcional ou
inexplicável, considerado como sinal ou manifestação de uma vontade divina. Esta era a noção de M. na Antigüidade
clássica (p. ex., Ilíada, II, 234; Odisséia, III, 173; XII, 394, etc.) e a que predominou na Idade Média, sendo assim
expressa por S. Tomás: "No M. podem ser notadas duas coisas: uma é o que acontece, que é certamente algo que
excede a faculdade da natureza, e neste sentido os M. são chamados de potências (virtudes); a segunda é a razão pela
qual os M. acontecem, ou seja, a manifestação de algo de sobrenatural; neste sentido, os M. são chamados
comumente de sinais, enquanto são chamados de portentos pela sua excelência e de prodígios porque mostram algo
de distante" (S. Th., II, 2, q. 178, a. 1, ad 3a).
Quando se começou a insistir na ordem necessária da natureza — como ocorreu com o averroísmo medieval, com o
aristotelismo renascentista e, principalmente, com a primeira afirmação da ciência moderna —, o M. começou a ser
considerado "exceção" a essa ordem, portanto negado como tal ou reduzido a acontecimento incomum, mas concorde
com a ordem natural. No livro Sugli incantesimi, Pomponazzi, p. ex., negava que os M. fossem acontecimentos
contrários à natureza e estranhos à ordem do mundo, admitindo-os apenas como fatos insólitos e raríssimos, que não
acontencem segundo o ritmo habitual da natureza, mas a intervalos muito longos; esses fatos, porém pertencem à
ordem natural, pela qual são determinados (De incantationibus, 12). Spinoza, por sua vez, afirmava que, "contra a
natureza ou acima da natureza, M. não passa de absurdo, e que, na Sagrada Escritura, só é
MILENARISMO
671
MISTICISMO
possível entender por M. a obra da natureza que supera a inteligência dos homens ou que acredita superar" (
Tractatus theologico-politicus, cap. 6). Para Spinoza, Deus era mais bem conhecido graças à ordem e à necessidade
da natureza do que por pretensos M. Mas Hume, que parte de uma concepção completamente diferente, também nega
a possibilidade do M.: "O M. é uma violação das leis da natureza, e, como essas leis foram estabelecidas por uma
experiência fixa e inalterável, a prova contra o M., extraída da própria natureza do fato, é tão completa quanto se pode
imaginar que o seja um argumento extraído da experiência" (Inq. Cone. Underst., X, 1). Todas as limitações que o
conceito de lei natural sofreu a partir de Hume não facilitaram a noção de M. do ponto de vista da ciência e da
filosofia.
Mas talvez se trate de uma noção que, do ponto de vista religioso, não oferece menor dificuldade. Kierkegaard diz:
No fundo, usar toda a sagacidade (como faz Lessing ao publicar os Fragmentos de Wolfenbüttelri) na comprovação
do absurdo e da inverossimilhança do M. para depois concluir a partir do fato de ser inverossímil: ergo, não é M.
(mas seria mesmo M. se fosse verossímil?), é tão insensato quanto (e é esta a sabedoria da especulação) esforçar-se
por compreender o M. ou por torná-lo compreensível, concluindo finalmente: ergo, é um M. Um M. compreensível
não é mais um M. Não, o M. continua sendo o que é: artigo de fé" (Diário, X1, A, 373). Desse ponto de vista
obviamente ruem as objeções contra o M., mas ele deixa de ser, a qualquer título, objeto da pesquisa científica e
filosófica. MILENARISMO. V. QUILIASMO. MIMANSA. Um dos grandes sistemas filosóficos da índia antiga, cuja
fundação é atribuída a Jaimini. É substancialmente uma interpretação da doutrina dos vedantas (v.) e pretende ser
uma técnica de libertação. Opõe-se ao conceito de Deus criador e admite a realidade da matéria e das almas (cf. G.
Tucci, Storia delia filosofia indiana, 1957, pp. 127 ss.). MIMESE. V. METÉXIS.
MINIMUM. Assim chamou Lucrécio o átomo (De rer. nat., I, 620). Nicolau de Cusa insistia sobre a coincidência do
máximo e do mínimo em Deus (De docta ignor., I, 4) e Giordano Bruno usou a palavra no sentido de Cusa (De
minimo triplici et mensura, I, 7) (v. ÁTOMO). MISOLOGIA (gr. u,iooA,oyía; in. Misology, fr. Misologie, ai.
Misologie, it. Misologiá). Termo
criado por Platão para indicar o ódio aos raciocínios. Segundo Platão, "a M. nasce da mesma forma que a
misantropia". Assim como a misantropia nasce de se ter confiado em alguém sem discernimento, a M. nasce de se ter
acreditado, sem possuir a arte do raciocínio, na verdade de raciocínios que depois se mostraram falsos (Fed., 89 d-90
b). Segundo Kant, a M. nasce quando se confia à razão a tarefa de obter "a fruição da vida e a felicidade", tarefa para
a qual ela não está apta, uma vez que seu destino, como faculdade prática, é conduzir à moralidade (Grundlegung der
Metaphysik der Sitten, I). Segundo Hegel, o saber imediato é uma forma de M. (Ene, § 11).
MISTÉRIO (gr. nwcrjpiov; lat. Mysterium; in. Mystery, fr. Mystère, ai. Mysterium; it. Mis-teró). No sentido em que
a palavra começou a ser usada pelos escritores herméticos da Antigüidade (p. ex., Corpus hermeticum, I, 16),
significa uma verdade revelada por Deus, que deve permanecer secreta. No Cristianismo, essa palavra passou a
indicar algo incompreensível ou cujo significado é obscuro ou oculto. Nesse sentido, Jacob Bõhme designava Deus
como Mysterium magnum (título de uma de suas obras de 1623). A palavra é usada pelos modernos:
ls no sentido de verdade de fé indemons-trável, portanto em certo sentido incompreensível: p. ex., "os M. da Trindade
e da Encar-nação";
2B no sentido de problema considerado insolúvel ou cuja solução se atribui ao domínio religioso ou místico: p. ex., "o
M. do ser"; ainda hoje não faltam filósofos que, como Spencer (First Princ, § 14), acham que o M. é o domínio da
religião;
3Q no sentido de qualquer problema cuja solução seja difícil ou não imediata; neste sentido, um problema policial
também é um mistério.
MISTICISMO (in. Mysticism; fr. Mysticisme, ai. Mysticismus, it. Misticismo). Toda doutrina que admita a
comunicação direta entre o homem e Deus. A palavra mística começou a ser usada nesse sentido nas obras de
Dionísio, o Aeropagita, pertencentes à segunda metade do séc. V e inspiradas no neoplatônico Proclo. Em tais obras é
acentuado o caráter místico do neoplatonismo original, que é a doutrina de Plotino. Para isso, insiste-se na
impossibilidade de chegar até Deus ou de realizar qualquer comunicação com ele através dos procedimentos comuns
do saber humano, de cujo ponto de
MISTICISMO
672
MISTICISMO
vista só se pode definir Deus negativamente (teologia negativa). Por outro lado, insiste-se também numa relação
originária, íntima e pessoal entre o homem e Deus, em virtude da qual o homem pode retornar a Deus e unir-se
finalmente a ele num ato supremo. Este é o êxtase, que Dionísio considera a deificação do homem.
Esse é o esquema de toda doutrina mística, e foi extraído pelo pseudo-Dionísio dos textos neoplatônicos; contém
muitos vestígios das crenças orientais, às quais deviam boa parte de sua inspiração. O M. medieval colocou-se
algumas vezes como alternativa que excluía o caminho da busca racional: esse foi o caso de Bernad de Clairvaux
(séc. XII), em quem a defesa da via mística é acompanhada pela polêmica contra a filosofia e, em geral, o uso da
razão. Outras vezes a via mística e a da especulação escolástica são admitidas e reconhecidas, como fizeram Hugo e
Ricardo de S. Vítor, também no séc. XII. O M. conserva os mesmos caracteres em S. Bonaventura, que cultiva
igualmente a especulação filosófica e a mística. Por outro lado, a grande corrente do M. especulativo alemão do séc.
XIV (Mestre Eckhart, Tauler, Suso e outros) opõe-se também a qualquer tentativa de empregar a razão no campo da
religião, mas sua característica é ser uma especulação sobre a fé, considerada como via de comunicação direta entre o
homem e Deus. Não pertencem ao domínio da filosofia, mas sim ao domínio do M., os místicos práticos do
Cristianismo, como Santa Teresa, Santa Catarina de Siena, S. Francisco, Joana D'Arc e outros (cf. H. DELACROIX,
Étude d'histoire et de psychologie du mysticisme, Paris, 1908; J. H. LEUBA, The Psychology qf Religious Mysticism,
1925).
A prática mística consiste essencialmente em definir os graus progressivos da ascensão do homem até Deus, em
ilustrar com metáforas o estado de êxtase e em procurar promover essa ascensão com discursos edificantes. Os graus
da ascensão mística são habitualmente três: pensamento (cogitatió), que tem por objeto as imagens provenientes do
exterior e destina-se a considerar as marcas de Deus nas coisas; a meditação (meditatió), que é o recolhimento da
alma em si mesma e que tem por objeto a imagem de Deus; e a contemplação (contemplatió), que visa a Deus
mesmo. Esses graus estão ilustrados e subdivididos de vários modos pelos místicos, que habitualmente dividem cada
um desses graus em outros
dois, enumerando assim, no êxtase, sete graus de ascensão, P. ex., segundo Bonaventura, o pensamento pode
considerar as coisas em sua ordem objetiva (I grau) ou na apreensão que a alma humana tem delas (II grau). A
meditação pode contemplar a imagem de Deus nos pode-res naturais da alma (memória, intelecto e vontade [III
grau]) ou ainda nos poderes que a alma conquista graças às três virtudes teologais (IV grau). A contemplação pode
considerar Deus em seu primeiro atributo, ou seja, em seu ser (V grau), ou ainda em sua máxima potência, que é o
bem (VI grau) (Itinerarium mentis in Deum, 1259). Para todos os místicos, acima de todos os graus está o êxtase'(v.),
ou excessus mentis, definido às vezes como "douta ignorância" (v.) e, em todos os caso, considerado como a
"deificação do homem", ou seja, a sua união com Deus.
Do ponto de vista filosófico-religioso, é importante a apreciação de Kierkegaard sobre o misticismo: o místico é
"aquele que se escolhe em isolamento completo", ou seja, isolado do mundo e dos contatos humanos (Aut Aut, em
Werke, II, p. 215), mas, assim agindo, comete certa indiscrição em relação a Deus. Isso porque, em primeiro lugar,
desdenha a existência, a realidade na qual Deus o colocou, e, em segundo lugar, degrada Deus e a si mesmo.
"Degrada-se porque é sempre degradação ser essencialmente diferente dos outros graças a simples acidentalidade, e
degrada Deus porque faz dele um ídolo e de si mesmo um favorito em sua corte" (Ibid., Werke, II, p. 219).
Na filosofia contemporânea o M. foi defendido por Bergson, que nele viu a "religião dinâmica", a religião que
continua o elã criador da vida e tende a criar formas de vida mais perfeitas para o homem. "O amor místico" — diz
Bergson — "identifica-se com o amor de Deus por sua obra, amor que criou todas as coisas e é capaz de revelar a
quem souber interrogá-lo o mistério da criação. É composto de essência mais metafísica que moral. Com a ajuda de
Deus, ele gostaria de aperfeiçoar a criação da espécie humana e fazer da humanidade o que logo teria sido possível, se
tivesse podido constituir-se definitivamente sem a ajuda do homem." Em outras palavras, é ao elã místico que se pode
atribuir o restabelecimento da "função essencial do universo, que é uma máquina destinada a criar divindades" (Deux
sources; trad. it., pp. 256, 349). Essa interpretação do M., feita
MISTIFICAÇÃO
673
MITO
por Bergson, não se diferencia do panteísmo comum (v.).
MISTIFICAÇÃO (in. Mystification-, fr. Mystification, ai. Mystification; it. Mistificazioné). Interpretação de um
conceito de modo obscuro, falaz ou tendencioso. Marx, p. ex., dizia: "A M. que a dialética sofre nas mãos de Hegel
não exclui em absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor de maneira ampla e consciente as formas gerais do
movimento da dialética" {Correspondência Marx-Engels; trad. it., V, p. 28). Segundo Marx, a dialética de Hegel era
"mistificada" porque interpretada do ponto de vista idealista, e não materialista. De maneira análoga, chama-se de M.
o conceito de liberdade segundo o qual ela coincide com necessidade, o que, implicitamente, nega a liberdade, etc.
MITO (gr. uú8oç; lat. Mythus; in. Myth; fr. Mythe, ai. Mythos). Além da acepção geral de "narrativa", na qual essa
palavra é usada, p. ex., na Poética (1,1451 b 24) de Aristóteles, do ponto de vista histórico é possível distinguir três
significados do termo: 1B M. como forma atenuada de intelectualidade; 2 e M. como forma autônoma de pensamento
ou de vida; 3S M. como instrumento de estudo social.
Ia Na Antigüidade clássica, o M. é considerado um produto inferior ou deformado da atividade intelectual. A ele era
atribuída, no máximo, "verossimilhança", enquanto a "verdade" pertencia aos produtos genuínos do intelecto. Esse foi
o ponto de vista de Platão e de Aristóteles. Platão contrapõe o M. à verdade ou à narrativa verdadeira {Górg., 523 a),
mas ao mesmo tempo atribui-lhe verossimilhança, o que, em certos campos, é a única validade a que o discurso
humano pode aspirar {Tim., 29 d) e, em outros, expressa o que de melhor e mais verdadeiro se pode encontrar {Górg.,
527 a). Também para Platão o M. constitui a "via humana mais curta" para a persuasão; em conjunto, seu domínio é
representado pela zona que fica além do círculo estrito do pensamento racional, na qual só é lícito aventurar-se com
suposições verossímeis. Substancialmente, Aristóteles assume a mesma atitude em relação ao M.: este às vezes é
oposto à verdade {Hist. An., VIII, 12, 597 a 7), mas outras vezes é a forma aproxima-tiva e imperfeita que a verdade
assume, quando, p. ex., explica-se "a razão de uma coisa em forma de M." {Ibid., VI, 35, 580 a 18). A esse conceito
de M. como verdade imperfeita ou diminuída freqüentemente se une a atribuição de
validade moral ou religiosa ao M. O que o M. diz — supõe-se — não é demonstrável nem claramente concebível,
mas sempre é claro o seu significado moral ou religioso, ou seja o que ele ensina sobre a conduta do homem em
relação aos outros homens ou em relação à divindade. Assim, a respeito dos M. morais expostos em Górgias, Platão
diz: "Talvez estas coisas pareçam M. de mulheres velhas e as considerareis com desprezo. E não seria descabido
desprezá-las se, com a investigação, pudéssemos encontrar outras coisas melhores e mais verdadeiras. Mas vós
também, tu, Pólos e Górgias, que sois os gregos mais sábios de nossos dias, não conseguis demonstrar que convém
viver outra vida que não esta" {Górg., 527 a-b). Analogamente, atribui-se significado religioso ao M. sempre que,
com esse nome, são designadas determinadas crenças, como p. ex. quando se diz "M. cosmogônico", "M. soteriológico", ou "M. escatológico", etc. Na linguagem comum prevalece essa acepção do significado em sua forma
extrema, ou seja, como de crença dotada de validade mínima e de pouca verossimilhança; nesse sentido, chama-se de
mítico o que é inatingível ou contrário aos critérios do bom senso comum, como p. ex. "perfeição mítica".
A essa esfera de interpretação do M. pertencem as chamadas teorias naturalistas, que prevaleceram no séc. XIX na
Alemanha. Segundo elas, o M. é produto da mesma atitude teórica ou contemplativa que dará origem à ciência;
consiste em tomar determinado fenômeno natural como chave para a explicação de todos os outros fenômenos. Os
fenômenos astronômicos, os meteorológicos e outros foram invocados com esse fim. Mais recentemente, outra escola
sociológica viu no M. sobretudo a lembrança dos acontecimentos passados. Em ambos os casos essas "explicações
naturalistas" do M. nada mais fazem que reduzi-lo a uma forma imperfeita de atividade intelectual.
2a para a segunda concepção de M., este é uma forma autônoma de pensamento e de vida. Nesse sentido, a validade e
a função do M. não são secundárias e subordinadas em relação ao conhecimento racional, mas originárias e primárias,
situando-se num plano diferente do plano do intelecto, mas dotado de igual dignidade. Foi Viço o primeiro a
expressar esse conceito de M.: "As fábulas, ao nascerem, eram narrações verdadeiras e graves (donde ter a fábula sido
definida como vera
MITO
674
MITO
narratió) que no mais das vezes nasceram obscenas, e por isso depois se tornaram impróprias, a seguir alteradas,
então inverossímeis, adiante obscuras, daí escandalosas, e finalmente incríveis, que são as sete fontes da dificuldade
das fábulas" (Sc. n., II, Pruove filos, per Ia discoverta dei vero Omero, IV). Portanto, a verdade do M. não é uma
verdade intelectual corrompida ou degenerada, mas uma verdade autêntica, embora com forma diferente da verdade
intelectual, com forma fantástica ou poética: "Os caracteres poéticos nos quais consiste a essência das fábulas
nasceram, por necessidade natural, da incapacidade de extrair as formas e as propriedades dos assuntos; por
conseguinte, devia ser maneira de pensar de povos inteiros que tivessem sido postos em tal necessidade natural, que é
nos tempos de sua maior barbárie" (Ibid., VI). Desse ponto de vista "os poetas devem ter sido os primeiros
historiadores das nações" (Ibid., X), e os caracteres poéticos contêm significados históricos que, nos primeiros
tempos, foram transmitidos de cor pelos povos (lbid., IX).
O Romantismo adotou esse conceito de M. e o ampliou em uma metafísica teológica. A Filosofia da mitologiaàe
Schelling vê no M., considerado como religião natural do gênero humano, uma das fases da auto-revelação do
Absoluto. O M. faz parte integrante do processo de teofania; este nada tem a ver com a natureza, ou melhor, tem a ver
com ela só indiretamente, e na medida em que a natureza é revelação de Deus. O M. é uma fase da teo-gonia que está
além e acima da natureza porque é a manifestação de Deus como consciência da natureza ou relação desta com o éu
(Werke, II, I, pp. 216 ss.). Fora dessas especulações, típicas do idealismo romântico, a doutrina do M. como forma
autônoma de expressão e de vida encontrou ampla acolhida na filosofia e na sociologia contemporâneas. Na filosofia,
a melhor expressão desta interpretação do M. é o segundo volume de Filosofia das formas simbólicas (1925), de
Cassirer, no qual a característica do pensamento mítico é avistada na distinção malograda ou imperfeita entre símbolo
e objeto do símbolo, ou seja, na compreensão falha ou imperfeita do símbolo como tal. Cassirer diz: "O M. surge
espiritualmente acima do mundo das coisas, mas, nas figuras e nas imagens com que ele substitui este mundo, vê
outra forma de materialidade e de ligação com as coisas" (Philosophie der
symbolischen Formen, II, 1925; trad. in., 1955, p. 24).
Mais tarde, em Ensaio sobre o homem, Cassirer viu o caráter distintivo do M. em seu fundamento emotivo. "O
substrato real do M. não é de pensamento, mas de sentimento. O M. e a religião primitiva não são por certo de todo
incoerentes, não são totalmente desprovidos de senso ou razão. Mas sua coerência provém muito mais da unidade
sentimental que de regras lógicas. Essa unidade é um dos impulsos mais fortes e mais profundos do pensamento
primitivo" (Essay on Man, cap. 7; trad. it., pp. 124-25). Contudo, essa concepção também pertence ao tipo de
interpretação para a qual o M. é uma forma espiritual autônoma em relação ao intelecto.
Também é desse tipo a interpretação sociológica, para a qual o M. é produto de uma mentalidade pré-lógica. Esta foi
a tese dos sociólogos franceses Durkheim e Lévy-Bruhl. O primeiro afirmou que o verdadeiro modelo do M. não é a
natureza, mas a sociedade, e que, em todos os casos, ele é a projeção da vida social do homem: projeção que reflete as
características fundamentais dessa vida social (Les formes élémentaires de sa vie religieuse, 1912). O segundo definiu
o pensamento mítico como pensamento pré-lógico, no sentido que este prescindiria completamente da ordem
necessária que, para o pensamento lógico, constitui a natureza, e veria a própria natureza como 'uma rede de
participações e de exclu-sões místicas, na qual nada valem a lei de contradição e as outras leis do pensamento lógico"
(La mentalité primitive, 1922; L'âme primitive, 1928).
3S A terceira concepção de M. consiste na moderna teoria sociológica que se pode atribuir principalmente a Fraser
(The Golden Bough, 1911-15) e a Malinowski. Este último vê no M. a justificação retrospectiva dos elementos
fundamentais que constituem a cultura de um grupo. "O M. não é uma simples narrativa, nem uma forma de ciência,
nem um ramo de arte ou de história, nem uma narração explicativa. Cumpre uma função suigeneris, intimamente
ligada à natureza da tradição, à continuidade da cultura, à relação entre maturidade e juventude e à atitude humana em
relação ao passado. A função do M. é, em resumo, reforçar a tradição e dar-lhe maior valor e prestígio, vinculando-a
à mais elevada, melhor e mais sobrenatural realidade dos acontecimentos ini-
MITO
675
MOBIL
ciais." Nesse sentido, o M. não se limita ao mundo ou à mentalidade dos primitivos. É indispensável a qualquer
cultura. "Cada mudança histórica cria sua mitologia, que, no entanto, tem relação indireta com o fato histórico. O M.
é acompanhamento constante da fé viva, que precisa de milagres, do status sociológico, que pede precedentes, da
norma moral, que exige sanção" ("Myth in Primitive Psychology", 1926, in Magic, Science and Religion, 1955, p.
146). Por outro lado, Lévi-Strauss estudou a estrutura (v.) do M. nas sociedades primitivas, analisando alguns em
seus elementos mais simples (mitemas) e estudando suas combinações possíveis, que explicam também as
semelhanças e diferenças entre M. vigentes em grupos humanos diversos (Anthropologie structurale, 1958, cap. XI).
Além disso, mostrou que o M. não é uma narrativa histórica, mas a representação generalizada de fatos que recorrem
com uniformidade na vida dos homens: nascimento e morte, luta contra a fome e as forças da natureza, derrota e
vitória, relacionamento entre os sexos. Por isso, o M. nunca reproduz a situação real, mas opõe-se a ela, no sentido de
que a representação é embelezada, corrigida e aperfeiçoada, expressando assim as aspirações a que a situação real dá
origem. Para caracterizar a relação entre o M. e a realidade que o inspira é adotada a palavra dialética (v.) ("The
Story of Asdiwal", em The Structural Study ofMyth and Totemism, Leach, 1969, pp. 29 ss.). Outros autores preferem
falar em retroalimentação (feedback), visto que o M. reage sobre a situação que o provocou, tendendo a modificar o
universo social do qual surgiu; este, uma vez modificado, provoca uma resposta no campo do M., e assim por diante
(DOUGLAS, no mesmo volume, pp. 57 ss.). Em todos os casos, o M. apresenta-se como "filosofia nativa", segundo a
expressão de Lévi-Strauss, que é a forma como o grupo social expressa sua própria atitude em relação ao mundo ou
como procura resolver o problema da sua existência. Desse ponto de vista, o M. não é definido segundo determinada
forma do espírito, como p. ex. o intelecto ou o sentimento, o que acontece nas duas interpretações precedentes, mas
em relação à função que desempenha nas sociedades humanas: função que pode ser esclarecida e descrita com base
em fatos observáveis. A desvalorização do M., presente na primeira concepção, e a sua supervalorização, presente na
segunda, não têm lugar nesse terceiro ponto de vista, o que certamente é uma vantagem. Outra vantagem é que ele explica a função exercida pelo M.
nas sociedades mais avançadas e as características díspares que ele pode assumir nessas sociedades; nelas, podem
constituir M. não só narrativas fabulosas, históricas ou pseudo-históricas, mas também figuras humanas (heróis,
líderes, etc), conceitos e noções abstratas (nação, liberdade, pátria, proletariado), ou projetos de ação que nunca se
realizarão (a "greve geral" de que falava Sorel como M. do proletariado; cf. Réfléxions sur Ia violence, 1906). A
disparidade de conteúdo do M. demonstra a impossibilidade de relacioná-lo, com base em seu teor, com esta ou
aquela forma espiritual, indicando que, ao contrário, é preciso estudá-lo em relação à função que exerce na sociedade
humana.
MITO DA CAVERNA. V. CAVERNA.
MITOLÓGICO (ai. Mythologisctí). Na obra de Rudolf Bultmann este termo recebeu um significado especial,
importante para a interpretação que esse autor faz do Cristianismo: "M. é a forma de representação em que aquilo que
não é mundano, que é divino, é representado como mundano, humano, o além como o aquém, em que, p. ex., a
transcendência de Deus é pensada como distância espacial. Em conseqüência dessa representação, o culto é entendido
como uma ação na qual os meios materiais transmitem forças imateriais." Nesse sentido, é óbvio que a palavra mito
não tem o sentido moderno, "em que não significa nada mais do que ideologia" (Kerygma und Mythos, I, 1951, p. 22,
n. 2). Cf. MIEGGE, 1'Evangelo e ti mito, Milão, 1956.
MNEMÔNICA, MNEMOTÉCNICA (lat. Ars memoriae, in. Mnemonics-, fr. Mnémonique, ai. Mnemonik,
Mnemotechnik, it. Mnemonica, Mnemotecnica). A arte de cultivar a memória. Trata-se de uma arte antiquíssima, que
Cícero atribui a Simonides (De or., II, 86, 351). Essa arte foi cultivada pelos sofistas; Hípias vangloriava-se de ser
seu mestre (Hípias menor, 368 d; Hípias maior, 286 a). O gosto por essa arte ressurgiu no Renascimento e foi
cultivada especialmente por Giordano Bruno, que lhe dedicou um grupo de obras (De umbris idearum, 1582; Ars
memoriae, 1582; Cantus circaeus, 1582; Triginta sigillorum explicatio, 1583, etc.) (v. CLAVIS UNIVERSALIS). A
psicologia contemporânea voltou a tratar desse assunto com meios experimentais.
MÓBIL. V. MOTIVO.
MOBILISMO
676
MODALIDADE
MOBILISMO (fr. Mobilismê). A palavra é moderna (cf. CHIDE, Le mobilismê moderne, 1908); é pouco usada em
italiano e em francês, mas serve para exprimir a atitude filosófica daqueles que Platão chamava de "fluentes" ijeet.,
181 a), para quem tudo muda e nada está parado: como faziam na Antigüidade os seguidores de Heráclito e como
fazem, na filosofia moderna, os filósofos do devir,
MODA (in. Fashion; fr. Mode, ai. Mode, it. Moda). Kant interpretou a M. como uma forma de imitação baseada na
vaidade, porquanto "ninguém quer parecer inferior aos outros, mesmo nas coisas que não têm utilidade alguma".
Desse ponto de vista, "estar na M. é questão de gosto; quem está fora de M. e adere a um uso passado é chamado de
antiquado; quem não dá valor ao fato de estar fora de M. é um excêntrico"; Kant diz que "é melhor ser louco na M. do
que fora dela", e que a M. só é realmente louca quando sacrifica a utilidade ou mesmo o dever em favor da vaidade
(Antr., I, § 71). Na realidade, hoje essa análise de Kant não é mais suficiente, pois se sabe que a M. infiltra-se em
todos os fenômenos culturais, inclusive nos filosóficos. Na Idade Moderna foram M. o cartesianismo, o iluminismo, o
newto-nismo, o darwinismo, o positivismo, o idealismo, o neo-idealismo, o pragmatismo, etc: doutrinas todas que
tiveram importância decisiva na história da cultura. Por outro lado, foram M. também movimentos culturais que
pouco ou nenhum vestígio deixaram. Pode-se dizer que a função da M. é introduzir nas atitudes institucionais de um
grupo ou, mais particularmente, em suas crenças, por meio de rápida comunicação e assimilação, atitudes ou crenças
novas que, sem a M., teriam grande dificuldade para sobreviver e impor-se. Esta função específica, graças à qual a M.
age como uma espécie de controle que limita ou enfraquece os controles da tradição, torna inútil a exaltação ou o
desdém em relação à M.
MODAL (in. Modal; fr. Modale, ai. Modal; it. Modalé). Este termo designa a proposição na qual a cópula recebe
uma determinação complementar qualquer. Para as proposições M., v. MODALIDADE.
MODAL, LEI (ai. Modales Grundgesetz). Foi assim que Hartmann chamou a redução de todas as modalidades do
ser (possibilidade e necessidade) à efetividade, isto é, ao ser de fato (Mõglichkeit und Wirklichkeit, 1938, p. 71) (v.
NECESSIDADE).
MODALIDADE (lat. Modalitas; in. Moda-lity, fr. Modalité, ai. Modalitãt; it. Modalita). Diferenças de predicação,
ou seja, diferenças que podem ser produzidas pela referência de um predicado ao sujeito da proposição. Tais
diferenças foram reconhecidas pela primeira vez por Aristóteles, de acordo com seu conceito do ser predicativo (v.
SER, I), que é a inerência. Ele diz que "uma coisa é inerir, outras coisas são inerir necessariamente e poder inerir, pois
muitas coisas inerem, mas não necessariamente, outras não inerem nem necessária nem simplesmente, mas podem
inerir" (.An. pr., I, 8, 29 b 29). Desse modo, Aristóteles distingue: Ia inerência pura e simples do predicado ao sujeito;
2S inerência necessária; 3B inerência possível. Posteriormente, os comentadores de Aristóteles deram o nome de
modos à segunda e à terceira formas de predicação, e de "proposições modais" às proposições necessárias e possíveis
(AMMONIO, Deinterpr., f. 171 b; BoÉCio, De interpr., II, V, P. L., 64s, col. 582). Na Idade Média, deu-se o nome de
proposição de inesse ou depuro inesse à proposição hoje conhecida como assertórica, e de modais às proposições
necessárias ou possíveis (ABELARDO, Dialect., II, p. 100; PEDRO HISPANO, Summ. log., 1.31). Na Lógica (1638) de
Jungius dá-se o nome de "enunciaçâo pura" à proposição assertórica, e de "enunciaçâo modificada ou modal" à
proposição necessária ou possível. O mesmo uso foi adotado pela Lógica de Port-Royal (I, 80, e por Wolff (Log., §
69). Pode-se dizer, portanto, que Kant nada mais fazia que reexpor esta longa tradição ao afirmar: "A M. dos juízos é
uma função particular deles, que tem o seguinte caráter distintivo: não contribui em nada para o conteúdo do juízo (já
que, além da quantidade, da qualidade e da relação, nada mais há que forme o conteúdo do juízo), mas afeta apenas o
valor da cópula em relação ao pensamento em geral. Juízos problemáticos são aqueles em que se admite a afirmação
ou a negação como simplesmente possível (arbitrário); assertóricos são os juízos em que a afirmação ou a negação
tem valor de realidade (verdade); são apodíticos os juízos em que a afirmação ou a negação tem valor de necessidade"
(Crít. R. Pura, § 9, 4).
Na lógica contemporânea o desenvolvimento da M. não foi levado a um grau suficiente de clareza conceptual e de
elaboração analítica. Isto porque a lógica contemporânea molda-se pela matemática, que praticamente ignora, ou
pode ignorar, o uso das M. Não é de surpreen-
MODALIDADE
677
MODALIDADE
der, portanto, que tenha sido exposta a tese da extensionalidade (v.), que eqüivale à eliminação das M. dos
enunciados. Contudo essa tese não impediu que seus próprios defensores tentassem uma interpretação das M. Russell
afirmou que as M. não são propriedades das proposições, mas das funçõesproposicionais (v.).-assim, seria necessária
a função proposicional "Se x é homem, x é mortal", que é sempre verdadeira; seria possível a função "xé homem",
que algumas vezes é verdadeira; e seria impossível a função "xé unicorno", que nunca é verdadeira ("The Philosophy
of Logical Atomism", 1918, cap. V, em Logic andKnowledge, pp. 230 ss.). Mas essa interpretação de Russell
eqüivale simplesmente à inversão paradoxal das M., porquanto o sentido modal da expressão "Se xé homem, x é
mortal" não é a necessidade, mas a possibilidade, pois ela na verdade significa "x podeser mortal". Outra sugestão de
Russell (op. cit., p. 231) é a identificação de necessário com analítico, com afirmações do tipo "xé x". Carnap, por sua
vez, ateve-se a essa interpretação quando tentou construir a M. com base no conceito de necessidade lógica,
analiticidade, e definiu possibilidade como a negação de tal necessidade (Meaning and Necessity, 1957, § 39). É fácil
notar que essa interpretação eqüivale à negação pura e simples das M. e não pode valer como lógica delas. Por outro
lado, Quine mostrou as dificuldades inerentes às abordagens das M. que se baseiam na quantificação, como a de
Carnap {From a Logical Point of View, VIII, 4).
A respeito da distinção das M. ou, como se diz hoje, dos valores modais das proposições, a tábua de valores mais
antiga e autorizada é a apresentada por Aristóteles, em De interpre-tatione, que compreende seis valores.- verdadeiro,
falso; possível, impossível; necessário, contingente (De int., 12, 21 b). Essa lógica com seis valores não foi alterada
na Idade Média (cf., p. ex., PEDRO HISPANO, Summ. log., 1.30), sendo desenvolvida e defendida também pelos lógicos
contemporâneos, como p. ex. LEWIS (A Survey of Symbolic Logic, 1918). Algumas vezes, os valores modais foram
reduzidos a cinco, com a identificação de possibilidade e contingência (p. ex., O. BECKER, "Zur Logik der
Modalitãten", em Jahrfür Phil. und Phãnom. Forsbchung, 1930, pp. 496-548). Lukasiewicz e Tarski construíram uma
lógica com três M.: verdadeiro, falso e possível (cf. os artigos em Comptes Reunds des Séances de Ia Société des
Sciences et Lettres de Varsovie, 1930, pp. 30,50, 176). Carnap aceitou as seis M. da tradição aristotélica (Meaning
and Necessity, % 39).
O conceito de M. não está bem claro nessas doutrinas da lógica contemporânea. Assim indicaremos apenas as
confusões mais freqüentes: Ia tentativa de reduzir os enunciados modais a enunciados quantitativos; 2a tentativa de
reduzir a M. a valor de verdade da proposição; 3a tentativa de tornar as M. predicados umas das outras.
Ia A primeira tentativa consiste em estabelecer a correspondência entre enunciados universais e proposições possíveis.
Assim, "todos os homens morrem" seria equivalente a "os homens devem morrer", e "alguns homens são artistas"
seria equivalente a "os homens podem ser artistas". Essas transcrições sem dúvida são insuficientes, pois nem a
proposição necessária nem a possível expressam fatos como as correspondentes proposições universais e particulares
(cf. A. PAP, Semantics and Necessary Truth, 1958, p. 368); ademais, a proposição possível tem significado
distributivo ("todo homem pode ser artista"), que estaria excluído da proposição particular correspondente. Mas
também é evidente que nenhuma transcrição desse gênero é possível para proposições modais do tipo "x pode ser",
que no entanto ocorrem em todos os ramos da ciência sempre que se trate de hipóteses, previsões, probabilidades,
antecipações, etc.
2a A segunda confusão consiste em alinhar a M. entre os valores de verdade das proposições; essa confusão está
presente mesmo nas chamadas lógicas das M. Ora, os valores de verdade das proposições (verdadeiro, falso,
provável, indeterminado, etc.) pertencem a um nível diferente do nível da M., que é uma determinação da predicação,
ou seja, da relação entre sujeito e predicado da proposição. Os valores de verdade pertencem à esfera de referência
semântica das proposições; as M. pertencem à estrutura de relações das proposições. Indicam, portanto, se tal
estrutura pode ser ou não diferente do que é, se o conteúdo de um enunciado (seu significado) pode ser ou não
diferente daquilo que o enunciado expressa. As M. fundamentais são, então, duas e apenas duas: pos-sibilidadee
necessidade, com seus opostos não-possibilidadee impossibilidade. Elas modificam os valores de verdade das
proposições no sentido de limitá-los ou estendê-los, mas não devem ser confundidas com tais valores: a pre-
MODALISMO
678
MODERNISMO
dicação recíproca supõe, aliás, a diversidade dos níveis, e pode-se dizer "necessariamente verdadeiro" ou
"possivelmente verdadeiro" precisamente porque possibilidade e verdade, verdade e necessidade pertencem a duas
esferas diversas e não são excludentes entre si.
3g A terceira confusão é inerente à tentativa de predicação recíproca das M. Essa tentativa é tão contraditória quanto a
de predicação recíproca entre os valores de quantidade ou de verdade das proposições. A tese fundamental desse
ponto de vista é a do caráter alternativo das M. Mas essa tese foi em geral desconhecida ou ignorada pelos lógicos da
M. a partir de Aristóteles. Este último realmente cuidou da predicação recíproca das M. e afirmou, p. ex., que o que é
necessário também deve ser possível, uma vez que não se pode dizer que é impossível (De int., 13, 22b 11). Mas essa
afirmação ou leva a considerar o necessário como possível, ou seja, como não necessário, ou leva a dividir em dois o
conceito de possível (que é o caminho seguido por Aristóteles), com o reconhecimento de uma espécie de possível
que se identifica com o necessário (v. POSSÍVEL). Por outro lado, a afirmação recíproca (que Aristóteles ilustrou com
o famoso exemplo da batalha naval), de que o possível é necessário no sentido de que necessariamente há um
possível (p. ex., necessariamente amanhã haverá ou não uma batalha naval), eqüivale a tornar necessária a
indeterminação e a negar o possível como tal. De fato, "É necessário que x seja possível" significa que xdeve manterse indeterminado sem nunca realizar-se; mas nesse caso x não é um possível. Essas antinomias ou paradoxos surgem
do desconhecimento do caráter exclusivo das diferenças modais, em virtude do qual elas são alternativas
inconciliáveis. Por outro lado, os valores de verdade podem ser predicados das M.; há um possível verdadeiro, como
p. ex. "o homem pode ser branco", e um possível falso, como "o homem pode ser retângulo". E pode haver uma
necessidade verdadeira e uma necessidade falsa, que é o absurdo. Esses reparos exigiriam desenvolvimentos
analíticos adequados. Para mais observações, v. NECESSÁRIO; POSSÍVEL.
MODALISMO (in. Modalism; fr. Modalis-me, ai. Modalismus-, it. Modalismó). Esse nome é dado à interpretação
da Trindade cristã que consiste em ver nas três pessoas divinas três modos ou manifestações da substância divina
única. Essa interpretação sempre foi condenada como herética pela Igreja cristã, que insistiu na igualdade e na distinção das pessoas divinas. No séc. III, o M. foi
sustentado por Sabélio; viu-se também uma espécie de M. na doutrina de Scotus Erigena e de Abelardo; este último
foi criticado por S. BERNARDO (De erroribus Abe-lardi, 3, 8). Outro nome dado à mesma heresia é monarquismo (v.).
MODELO (in. Model; fr. Modele, ai. Modell; it. Modelló). 1. Uma das espécies fundamentais de conceitos
científicos (v. CONCEITO), mais precisamente o que consiste na disposição caracterizada pela ordem dos elementos de
que se compõe, e não pela natureza desses elementos. Por isso, dois M. são idênticos se a relação de suas ordens
puder ser expressa como correspondência biunívoca, ou seja, tal que a um termo de um corresponda um, e apenas
um, do outro, e que a cada relação de ordem entre os elementos de um corresponda idêntica relação entre os
elementos correspondentes do outro. O cálculo numérico ordinário é o melhor exemplo de correspondência
biunívoca: se, de um lado, houver cinco livros e, de outro, cinco lápis, essas duas séries de objetos podem ser
alinhadas na mesma ordem ou os objetos podem ser colocados um sobre o outro. Do mesmo modo, a série dos
números inteiros tem correspondência biunívoca com os números pares, e assim por diante. Para ser útil, um M. deve
ter as seguintes características: 1) simplicidade, para que seja possível sua definição exata; 2) possibilidade de ser
expresso por meio de parâmetros suscetíveis de tratamento matemático; 3) semelhança ou analogia com a realidade
que se destina a explicar.
Os M. mecânicos pareciam indispensáveis à ciência do séc. XIX, mas hoje diferentes disciplinas utilizam M.
puramente teóricos: economia (que utiliza jogos), psicologia, biologia, antroplogia (cf. HEMPEL, Aspects of Scientific
Explanation, 1965, p. 445 e nota 28). Lévi-Strauss considerou a estrutura (v.) como um M. desse gênero, para a
explicação dos fatos sociais (Anthropologiestructurale, 1958, cap. XV).
2. O mesmo que arquétipo (v.).
MODERNISMO (in. Modernism; fr. Moder-nisme, ai. Modernismus; it. Modernismo). Tentativa de reforma católica
que teve alguma difusão na Itália e na França na última década do séc. XLX e na primeira do séc. XX; foi condenado
pelo papa Pio X com a encíclica Pascendi de 8 de setembro de 1907. Essa tentativa inspirou-se nas exigências da
filosofia da ação (v.),
MODERNISMO
679
MODO
nela haurindo o significado que deve ser atribuído aos conceitos fundamentais da religião: Deus, revelação, dogma,
graça, etc. O M. inspira-se principalmente nas idéias de Ollé Lapru-ne e de Blondel, que permaneceram alheios ao
movimento, e conta com os nomes de Laber-thonnière, Loisy e Le Roy. Na Itália, assumiu especialmente a forma de
crítica bíblica (Salva-tore Minocchi, Ernesto Buonaiuti) e de crítica política (Romolo Murri), enquanto o debate
filosófico limitava-se a reproduzir, com escassa originalidade, as idéias do M. francês. Os pontos básicos podem ser
expostos assim:
ls Deus revela-se imediatamente (sem intermediários) à consciência do homem. Laber-thonnière diz: "Se o homem
deseja possuir Deus e ser Deus, é porque Deus já se deu a ele. E assim que podem ser e são encontradas na natureza
as exigências do sobrenatural" (Essais dephilosophie religieuse, 1903, p. 171). Esse princípio diminuía ou anulava a
distância entre os domínios da natureza e da graça, bem como entre o homem e Deus, fazendo de Deus o princípio
metafísico da consciência humana. Tal é o fundamento do chamado "método da imanência", que pretende encontrar
Deus e o sobrenatural na consciência do homem.
2e Deus é sobretudo um princípio de ação, e a experiência religiosa é sobretudo uma experiência prática. Esse ponto,
que também deriva estritamente da Ação (1893) de Blondel, eqüivale a considerar que religião e moral são
coincidentes. Essa é uma das teses fundamentais de Loisy (La religion, 1917, p. 69).
3fi Os dogmas nada mais são que a expressão simbólica e imperfeita — porque relativa às condições históricas do
tempo em que se constituem — da verdadeira revelação, que é a revelação feita por Deus mesmo à consciência do
homem. Esse foi o ponto de vista que Loisy defendeu na mais famosa obra do M., L 'Évangile et 1'église (1902).
49 Os instrumentos de investigação filológica devem ser aplicados sem limitações à Bíblia; isso significa que ela deve
ser considerada e estudada como um documento histórico da humanidade, ainda que de caráter excepcional e
fundamental. Esta foi a convicção tanto de Loisy quanto daqueles que, na Itália, aceitaram o ponto de vista do M.
sobre esse assunto, especialmente Buonaiuti.
5B No campo da política, o Cristianismo não pode conduzir à defesa dos privilégios do clero ou de outros grupos
sociais, mas apenas ao
progresso e à ascensão do povo, cuja vida na história é a manifestação da vida divina. Tais foram as idéias políticas
defendidas principalmente por Romolo Murri. Cf. E. BUONAIUTI, Le modernisme catholique, 1927, J. RTVIÈRE, Lemodernisme dans 1'église, 1929; GARIN, Cronache di filosofia italiana, 1943-55, 1956.
MODERNO (lat. Modernus, in. Modem; fr. Modeme, ai. Modem; it. Moderno). Este adjetivo, que foi introduzido
pelo latim pós-clássico e significa literalmente "atual" (de modo = agora), foi empregado pela Escolástica a partir do
séc. XIII para indicar a nova lógica terminista, designada como via moderna em comparação com a via antiqua da
lógica aristotélica. Esse termo também designou o nominalismo, que está intimamente ligado à lógica terminista.
Walter Burleigh diz: "Embora o universal não tenha existência fora da alma, como dizem os modernos, etc."
(Expositio superartem veterem, Venetiis, 1485, f. 59 r; PRANTL, Geschichte der Logik, III, pp. 255, 299, etc).
No sentido histórico em que essa palavra é hoje empregada habitualmente, em que se fala de "filosofia moderna"
neste dicionário, indica o período da história ocidental que começa depois do Renascimento, a partir do séc. XVII. Do
período M. costuma-se distinguir freqüentemente o "contemporâneo", que compreende os últimos decênios.
MODERNOS. V. ANTIGOS.
MODIFICAÇÃO REPRODUTIVA (ai Re-produktive Modifikatiori). Assim Husserl chamou as representações das
coisas e das vivências que já nos foram dadas uma vez em suas modalidades peculiares (Ideen, I, § 44).
MODO (gr. xpórcoç; lat. Modus; in. Mode, fr. Mode, ai. Modus; it. Modo). Com este termo foram designadas:
1B As diversas formas do ser predicativo (v. MODALIDADE).
2S As determinações não necessárias (ou não incluídas na definição de uma coisa). O M. já era entendido pela lógica
medieval nesse sentido (cf., p. ex., PEDRO HISPANO, Summ. log., 1.28). Foi retomado por Descartes, que entendeu por
M. as qualidades secundárias mutáveis das substâncias e as contrapôs aos atributos, que constituem as qualidades
permanentes ou necessárias. Descartes diz: "Já que não devo conceber em Deus variedade ou mudança alguma, digo
que nele não há M. ou qualidades, mas atributos; também nas coisas criadas, o que nelas encontra sempre constante,
MODUS PONENS e MODUS TOLLENS
680
MÔNADA
como a existência e a duração da coisa que existe e dura, chamo de atributo, e não M. ou qualidade" (Princ. phil., I,
56). Esse conceito foi repetido por Spinoza (Et., I, def. 5) e por Wolff, que diz: "O que não repugna às determinações
essenciais, mas não é determinado por elas, chama-se M." (Ont., § 148). Por outro lado, a Lógica de Port-Royal não
distinguia o M. do atributo ou da qualidade, definindo-o como "aquilo que, sendo concebido na coisa de tal forma que
não pode subsistir sem ela, determina-a a ser de certa maneira e a ser denominada correspondentemente" (I, 2). Dessa
definição, Locke aceitava a afirmação de que o M. não pode subsistir independentemente da substância e, assim,
definia M. como "as idéias complexas que, embora compostas, não contêm em si a suposição de subsistirem por si
próprias, mas são consideradas dependências ou afecções das substâncias, tal como são as expressas pelas palavras
'triângulo', 'gratidão', 'homicídio', etc." (Ensaio, II, 12, 4).
Faz parte desse mesmo conceito o significado que Spinoza atribui ao termo, entendendo-o como "aquilo que está em
outra coisa e cujo conceito se forma por meio dessa outra coisa" (Et., I, 8, scol. 2). No entanto, segundo Spinoza, o M.
deriva necessariamente da natureza divina e portanto se distingue do atributo pela sua particularidade, e não pela
ausência de necessidade: M. são as coisas e os pensamentos particulares que expressam os atributos de Deus,
pensamento e extensão (Ibid., I, 25 scol.; II, 1).
3Q Formas, espécies, aspectos, determinações particulares de um objeto qualquer. Esse significado é o mais geral e
comum, sendo também o menos preciso.
4° Especificação das figuras do silogismo, segundo a qualidade e a quantidade das premissas (v. FIGURA;
SILOGISMO).
MODUS PONENS e MODUS TOLLENS. Na lógica do séc. XVII, foram assim chamados os dois modos do
silogismo hipotético: o primeiro, posto o antecedente, põe o conseqüente (se A é, é B; mas A é, portanto é B), e o
segundo, retirado o conseqüente, retira o antecedente (se A é, é B; mas A não é, portanto não é B) (JUNGIUS, Lógica,
1638, III, 17, 10-11; WOLFF, Log., §§ 409-10).
MOLECULAR, PROPOSIÇÃO (in. Molecular proposition; fr. Proposition moléculaire, ai. Molekular Satz; it.
Proposizione moleco-laré). Termo que entrou em uso com o Trac-tatus de Wittgenstein; correspondente à propositio hypothetica da Lógica de Boécio e dos escolásticos: é uma proposição formada por uma ou mais proposições
atômicas (v.) ligadas por certas constantes lógicas, como "não", "e", "ou", "implica" ("se..., ...") (negação, conjunção,
disjunção, implicação) e outras. Na lógica de Russell as proposições funcionais correspondem às proposições
moleculares.
G. P.
MOLINISMO. V. GRAÇA.
MOMENTO (in. Moment; fr. Moment; ai. Moment; it. Momento). 1. Conceito mecânico: ação instantânea de uma
força sobre um corpo. É assim que Kant define o M. (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Nota
sobre a mecânica; Crit. R. Pura, Anal. dos princ, B, ao final).
2. Conceito temporal: parte mínima de tempo, desprovida de sucessão (cf. LOCKE, Ensaio, II, 14, 10).
3. Conceito dialético: fase ou determinação do devir dialético: p. ex., possibilidade e aci-dentalidade são "os M. da
realidade" (HEGEL, Ene, § 145); a condição, a coisa e a atividade são "os três M. da necessidade" (HEGEL, ibid., §
148); o ser e o nada são "os M. do devir" (HEGEL, Wissenschaft derLogik, I, I, seç. I, cap. I, C, nota 2; trad. it., vol. I,
pp. 87 ss.), etc. Esse conceito de M. como fase dialética é o mais comum na filosofia contemporânea.
4. Conceito lógico: fase ou estágio de uma demonstração ou de um raciocínio qualquer.
MÔNADA (lat. Monas; in. Monad; fr. Mo-nade, ai. Monade, it. Monadé). Por ter significado diferente de Unidade
(v.), esse termo designa uma unidade real inextensa, portanto espiritual. Giordano Bruno foi o primeiro a empregar
esse termo nesse sentido, concebendo a M. como o minimum, como unidade indivisível que constitui o elemento de
todas as coisas (Deminimo, 1591; De Monade, 159D- O termo foi retomado no mesmo sentido pelos neo-platônicos
ingleses, especialmente por H. More, que elaborou o conceito das "M. físicas", inextensas, portanto espirituais, como
componentes da natureza (Enchiridion Metaphy-sicum, 1679, I, 9, 3). A partir de 1696, Leibniz lançou mão desse
termo para designar a substância espiritual enquanto componente simples do universo. Segundo Leibniz, a M. é um
átomo espiritual, uma substância desprovida de partes e de extensão, portanto indivisível. Como tal, não pode
desagregar-se e é eterna; só Deus pode criá-la ou anulá-la. Cada M. é diferente das outras, pois não existem na nature-
MONADOLOGIA
681
MONOGENISMO
za dois seres perfeitamente iguais (v. IDENTIDADE DOS INDISCERNÍVEIS). Toda M. constitui um ponto de vista sobre o
mundo, sendo, portanto, todo o mundo de determinado ponto de vista (Monad., 1714, § 57). As atividades
fundamentais da M. são a percepção e a apetição, mas as M. têm infinitos graus de clareza e distinção: as providas de
memória constituem as almas dos animais, e as providas de razão constituem os espíritos humanos. Mas a matéria
também é constituída por M., ao menos a matéria segunda, já que a matéria primeira é a simples potência passiva ou
força inercial {Op., ed. Gerhardt, III, pp. 260-61). A totalidade das M. é o universo. Deus é "a unidade primitiva ou
substância simples originária; todas as M., criadas ou derivadas, são suas produções e nascem, por assim dizer, por
fulguração contínua da divindade, de momento em momento" {Monad., § 47).
As características dessa doutrina de Leibniz reaparecem sempre que os filósofos recorrem ao conceito de M., e estão
substancialmente presentes nas doutrinas metafísicas do espiritualismo contemporâneo. Atente-se para o sabor
leibniziano do seguinte trecho de Husserl: "A constituição do mundo objetivo comporta essencialmente uma
harmonia de M., mais precisamente uma constituição harmoniosa particular em cada M. e, por conseguinte, uma
gênese que se realiza harmoniosamente nas M. particulares" {Cart Med., § 49) (v. ESPIRITUALISMO).
MONADOLOGIA (in. Monadology, fr. Mo-nadologie, ai. Monadologie, it. Monadologid). Este termo serviu a
Leibniz de título à breve exposição de seu sistema, composta a pedido do príncipe Eugênio de Savóia, em 1714. O
termo permaneceu para designar a doutrina das mônadas. Kant intitulou M.physica um escrito de 1756. E o termo
desde aquela época ocorre freqüentemente (cf. p. ex. RENOUVIER e PRAT, Nouvelle monadologie, 1899).
MONARCÔMACO (in. Monarchomachist; fr. Monarchomachiste, ai. Monarchomache, it. Monarcomacd). Foram
assim chamados no séc. XVII os seguidores do direito natural que combatiam o absolutismo monárquico. O nome
ocorre pela primeira vez no título da obra do católico escocês GUILHERME BARKLAY, De regno et regalipotestate
adversus Buchananum, Bru-tum, Boucherium, et reliquos monarchomachos, Paris, 1600.
MONARQUIA, V. GOVERNO, FORMAS DE.
MONARQUISMO. V. MODAUSMO.
MONÂSTICO. Viço chamou de filósofos Aí. ou solitários os estóicos e os epicuristas, porquanto "querem o
amortecimento dos sentidos" e "negam a providência: aqueles deixando-se arrastar pelo destino, estes entregando-se
ao acaso, e os segundos opinando que as almas humanas morrem com os corpos". Aos filósofos M. Viço contrapôs os
filósofos políticos, especialmente os platônicos, que convém com os legisladores em admitir a providência e a
imortalidade, além da moderação das paixões {Scienza nuova, 1744, Degnità V).
MONERGISMO. V. SINERGISMO.
MONISMO (in. Monism; fr. Monisme, ai. Monismus; it. Monismó). Wolff chamava de "monistas" os filósofos "que
admitem um único gênero de substância" {Psychol. rationalis, § 32), compreendendo nessa categoria tanto os
materialistas quanto os idealistas. Porém, conquanto algumas vezes tenha sido usado para designar estes últimos ou
pelo menos algum aspecto de sua doutrina, esse termo foi constantemente monopolizado pelos materialistas; quando
usado sem adjetivo, designa o materialismo. Isso se deve provavelmente ao fato de ter sido adotado por um dos mais
populares autores de obras materialistas, o biólogo Ernst Haeckel {Der Monismus ais Band zwischen Keligion und
Wissenschaft, 1893). Nesse sentido, o termo foi empregado no nome da Associação Monística Alemã {Deutsche
Monistenbund), fundada em 1906 por Haeckel e por Ostwald, bem como no título de uma das mais antigas revistas
filosóficas americanas, TheMonist, fundada em 1890 por Paul Carus.
MONOFILETISMO (in. Monophyletism; fr. Monophylétisme, ai. Monophyletismus; it. Mo-nofiletismó). Doutrina
para a qual todas as espécies vivas derivam de um único ramo originário. A doutrina contrária chama-se polifiletismo.
MONOFISISMO (in. Monophysism; fr. Mo-nophysisme, ai. Monophysismus; it. Mono-fisismo). Interpretação
herética do dogma cristão da Encarnação: o Verbo ou Cristo teria uma só natureza, a divina. Essa interpretação foi
sustentada no séc. V por Eutíquio, em oposição ao nestorianismo{v.), que sustentava a heresia oposta; foi condenado
pelo Concilio de Calce-dônia, de 451.
MONOGENISMO (in. Monogenism; fr. Mo-nogénisme, ai. Monogenismus-, it. Monogenis-
MONOPSIQUISMO
682
MORALIDADE
mo). Doutrina para a qual todas as raças humanas vivas descendem de um único ramo. A doutrina contrária chama-se
poligenismo.
MONOPSIQUISMO (in. Monopsychism; fr. Monopsychisme, ai. Monopsychismus-, it. Mono-psichismó). Doutrina
averroísta da unidade da alma intelectiva em todos os homens. V. INTELECTO ATTVO.
MONOSSELOGISMO (in. Monosyllogism; fr. Monosyllogisme, ai. Monosyllogismus; it. Mono-sillogismó).
Raciocínio constituído por um só silogismo, assim chamado em oposição a po-lissilogismo (v.).
MONOTEÍSMO (in. Monotheism, fr. Mono-théisme, ai. Monotheismus; it. Monoteismó). Doutrina da unicidade de
Deus. V. DEUS, 3a, b.
MONOTELISMO (in. Monotheletism- fr. Monothélétisme, ai. Monotheletismus). Interpretação herética do dogma
da Encarnação, segundo a qual existe em Cristo uma única vontade, a divina, que constitui o traço de união das duas
naturezas que há nele, a divina e a humana. Essa heresia foi sustentada pelo patriarca de Constantinopla, Sérgio, no
séc. VI e condenada pelo VI Concilio ecumênico em 680.
MONTANISMO (in. Montanism; fr. Monta-nisme, ai. Montanismus, it. Montanismó). Seita religiosa cristã do séc.
II, assim chamada pelo nome de seu fundador Montano, ex-sacerdote de Cibele. Montano pretendia transferir para o
Cristianismo o culto entusiástico de sua seita de proveniência: os montanistas viviam em contínua agitação à espera
da eminente volta do Cristo. Tertuliano pertenceu por algum tempo a essa seita.
MONTÃO, ARGUMENTO DO (gr. acopeÍTnç Kóyoc,; lat. Acervalis ratiocinatio; in. Soriete, fr. Sorite, ai. Sorites;
it. Argomento deWacervó). Com esse nome faz-se referência a duas argumentações, uma de Zenão de Eléia, outra de
Eubúlides de Mégara. O argumento de Zenão de Eléia dirige-se contra a fidedignidade do conhecimento sensível e,
em particular, do ouvido: se um alqueire de trigo faz barulho ao cair, cada grão e cada partícula de grão deveria
produzir um som ao cair, o que não ocorre (Diels, A 29). O argumento de Eubúlides, conhecido também como sorites
(v.) de ccopóç = monte, consiste em perguntar quantos grãos de trigo são necessários para formar um monte; bastaria
só um grão? Bastariam dois?, etc. Como é impossível determinar em que ponto começa um monte, aduz-se esse
argumento contra a pluralidade
das coisas (CÍCERO, Acad, II, 28, 92 ss.; 16, 49; DIÓG. L., VII, 82). O mesmo argumento foi às vezes expresso de
outra forma sob o nome de argumento do calvo (cf. DIÓG. L., II, 108) e consiste em perguntar se um homem se torna
calvo quando ser lhe arranca um fio de cabelo. E quando lhe arrancam dois? E assim por diante.
MONUMENTAL, HISTÓRIA. V. ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA.
MORAL1 (lat. Moralia; in. Morais; fr. Mo-rale, ai. Moral; it. Moralè). 1. O mesmo que Ética.
2. Objeto da ética, conduta dirigida ou disciplinada por normas, conjunto dos mores. Neste significado, a palavra é
usada nas seguintes expressões: "M. dos primitivos", "M. contemporânea", etc.
MORAL2 (gr.r|f>iKÓÇ; lat. Moralis; in. Moral; fr. Moral; ai. Moral; it. Moralè). Este adjetivo tem, em primeiro
lugar, os dois significados correspondentes aos do substantivo moral: 1 Q atinente à doutrina ética, 2- atinente à
conduta e, portanto, suscetível de avaliação M., especialmente de avaliação M. positiva. Assim, não só se fala de
atitude M. para indicar uma atitude moralmente valoravel, mas também coisas positivamente valoráveis, ou seja,
boas.
Em inglês, francês e italiano, esse adjetivo depois passou a ter o significado genérico de "espiritual", que ainda
conserva em certas expressões. Hegel lembrava este significado com referência ao francês (Ene, § 503); ele ainda
persiste, p. ex., na expressão "ciências morais", que são as "ciências do espírito".
MORALIDADE (lat. Moralitas; in. Morality, fr. Moralité, ai. Moralitãt; it. Moralitã). Caráter do que se conforma
às normas morais. Kant contrapôs a M. à legalidade. A última é a simples concordância ou discordância de uma ação
em relação à lei moral, sem considerar o móvel da ação. A M., ao contrário, consiste em assumir como móvel de ação
a idéia de dever (Met. der Sitten, I, Intr., § 3; Crít. R. Pratica, I, 1, 3).
No sentido hegeliano, a M. distingue-se da eticidade (v.) por ser a "vontade subjetiva", ou seja, individual e
desprovida de bem, enquanto a eticidade é a realização do bem em instituições históricas que o garantam (Ene, § 503;
Fil. do dir., § 108). M. e eticidade estão entre si como o finito e o infinito: isso significa que a eticidade é a "verdade"
da M., do mesmo modo como o infinito o é do finito.
MORALISMO
683
MORTE
MORALISMO (in. Moralism-, fr. Moralisme, ai. Moralismus-, it. Moralismó). 1. Doutrina que vê na atividade
moral a chave para a interpretação de toda a realidade. Esse termo foi empregado nesse sentido por Fichte, na
exposição de Wissenschaftslehre de 1801 (§ 26 em Werke, II, p. 64), sendo retomado e difundido pelos escritores
franceses do fim do século passado. 2. Na linguagem comum e cada vez mais na filosófica, esse termo designa a
atitude de quem se compraz em moralizar sobre todas as coisas, sem tentar compreender as situações sobre a qual
expressa o juízo moral. Nesse sentido, o M. é um formalismo ou conformismo moral que tem pouca substância
humana. Cf. A. BANFI, "M. e moralidade", Vuomo copemi-cano, 1950, pp. 279 ss.
MORFÉ INTENCIONAL (ai. Intentionale Morphè). Husserl designou desse modo o caráter intencional dos dados
hiléticos (v.) das vivências, vale dizer, os dados constituídos pelos conteúdos sensíveis ou por atos emotivos ou
volitivos. Nesse caso, "os dados sensíveis oferecem-se como matérias para formações intencionais ou significações":
p. ex., uma avaliação, uma volição, um ato de agrado têm significados intencionais claros, além de serem dados
hiléticos (Ideen, I, § 85).
MORTE (gr. 0ávcrtoç; lat. Mors-, in. Death; fr. Mort; ai. Tod; it. Morte). A M. pode ser considerada 1° como
falecimento, fato que ocorre na ordem das coisas naturais; 2 a em sua relação específica com a existência humana.
Ia Como falecimento, a M. é um fato natural como todos os outros e não tem significado específico para o homem.
Existem procedimentos objetivos para a constatação ou verificação desse fato. Por exemplo: chama-se um médico
para constatar o falecimento de uma pessoa; nesse caso, o falecimento é um fato atestável, de natureza biológica, que
pode ter conseqüências determinadas, mas indiretas, para outras pessoas. Sempre que se fala em M. nesse sentido,
como fato natural constatável com procedimentos apropriados, entende-se a M. como falecimento. O mesmo
acontece quando se considera a M. como uma condição da economia geral da natureza viva, ou da circulação da vida
ou da matéria e assim por diante. Nesse sentido, Marco Aurélio falava da igualdade dos homens perante a M.:
"Alexandre da Macedônia e seu arrieiro, mortos, reduziram-se à mesma coisa: ou ambos são reabsor-vidos nas razões
seminais do mundo ou ambos
são dispersos entre os átomos" {Recordações, VI, 24). No mesmo sentido, Shakespeare dizia: "Alexandre morreu,
Alexandre foi sepultado, Alexandre voltou ao pó. O pó é terra e com a terra se faz argila; por que a argila em que ele
se transformou não poderia vir a ser a tampa de um barril de cerveja?" (Hamlet, a. V, cena I). Em todos esses casos
entende-se por M. o falecimento do ser vivo, qualquer que seja, sem referência específica ao ser humano. Perante a
M. assim entendida, a única atitude filosófica possível é a expressa por Epicuro: "Quando nós estamos, a M. não está;
quando a M. está, nós não estamos" (DióG. L, 125). No mesmo sentido, Wittgenstein disse.- "A M. não é um
acontecimento da vida: não se vive a M." (Tractatus, 6.4311). E Sartre ressaltou a insigni-ficância da M.: "A M. é um
fato puro, como o nascimento; chega-nos do exterior e transforma-nos em exterioridade. No fundo, não se distingue
de modo algum do nascimento, e é a identidade entre nascimento e M. que chamamos de facticidade" (L'êtreetle
néant, 1955, p. 630). Entendida nesse sentido, a M. não concerne propriamente à existência humana. O contraste
entre a M. assim entendida e a M. como ameaça iminente sobre a existência individual foi bem expresso por Léon
Tolstoi no conto A M. de Ivan Iljitsch, no qual o protagonista, que reconhece como certa e válida a idéia genérica da
M., como falecimento, rebela-se contra a ameaça que a M. faz pairar sobre ele.
2a Em sua relação específica com a existência humana, a M. pode ser entendida: a) como início de um ciclo de vida;
ti) como fim de um ciclo de vida; c) como possibilidade existencial.
a) A M. é entendida como início de um ciclo de vida por muitas doutrinas que admitem a imortalidade da alma. Para
elas, a M. é o que Platão chamava de "separação entre a alma e o corpo" (Fed., 64 c). Com essa separação de fato,
inicia-se o novo ciclo de vida da alma: seja ele entendido como reencarnaçâo da alma em novo corpo, seja uma vida
incorpórea. Plotino expressava essa concepção dizendo: "Se a vida e a alma existem depois da M., a M. é um bem
para a alma porque esta exerce melhor sua atividade sem o corpo. E, se com a M. a alma passa a fazer parte da Alma
Universal, que mal pode haver para ela?" (Enn., I, 7, 3). Idêntico conceito de M. reaparece sempre que se considera a
vida do homem sobre a terra como preparação ou aproximação de uma vida diferente, e quando se afirma a
imortalida-
MORTE
684
MORTE
de impessoal da vida, como faz Schopenhauer; para ele a M. é comparável ao pôr-do-sol, que representa, ao mesmo
tempo, o nascer do sol em outro lugar (Die Welt, I, § 65).
ti) O conceito de M. como fim do ciclo de vida foi expresso de várias formas pelos filósofos. Marco Aurélio
considerava-a como repouso ou cessação das preocupações da vida: conceito que ocorre freqüentemente nas
considerações da sabedoria popular em torno da M. Marco Aurélio dizia: "Na M. está o repouso dos contragolpes dos
sentidos, dos movimentos impulsivos que nos arrastam para cá e para lá como marionetas, das divagações de nossos
raciocínios, dos cuidados que devemos ter para com o corpo" (Recordações, VI, 28). Leibniz concebia o fim do ciclo
vital como diminuição ou involução da vida: "Não se pode falar de geração total ou de morte perfeita, entendida
rigorosamente como separação da alma. O que nós chamamos de geração sem desenvolvimentos e acréscimos, e o
que chamamos de M. são involuções e diminuições" (Monad., § 73). Em outros termos, com a M. a vida diminui e
desce para um nível inferior ao da apercepção ou consciência, para uma espécie de "aturdimen-to", mas não cessa
(Príncipes de Ia nature et de lagrâce, 1714, § 4). Por sua vez, Hegel considera a M. como o fim do ciclo da
existência individual ou finita, pela impossibilidade de adequar-se ao universal: "A inadequação do animal à
universalidade é sua doença original e germe inato da M. A negação desta inadequação é o cumprimento de seu
destino" (Ene, § 375). Finalmente, o conceito bíblico de M. como pena do pecado original (Gen., II, 17; Rom., V, 12)
é, ao mesmo tempo, conceito dela como conclusão do ciclo da vida humana perfeita em Adão e o conceito de
limitação fundamental imposta à vida humana a partir do pecado de Adão. S. Tomás diz a respeito: "AM., a doença e
qualquer defeito físico decorrem de um defeito na sujeição do corpo à alma. E assim como a rebelião do apetite
carnal contra o espírito é a pena pelo pecado dos primeiros pais, também o são a M. e todos os outros defeitos físicos"
(S. Th., II, 2, q. 164, a. 1). Porém este segundo aspecto, típico da teologia cristã, pertence propriamente ao conceito de
M. como possibilidade existencial.
c) O conceito de M. como possibilidade existencial implica que a M. não é um acontecimento particular, situável no
início ou no término de um ciclo de vida do homem, mas uma
possibilidade sempre presente na vida humana, capaz de determinar as características fundamentais desta. Na
filosofia moderna, a chamada filosofia da vida, especialmente com Dilthey, levou à consideração da M. nesse
sentido: "A relação que caracteriza de modo mais profundo e geral o sentido de nosso ser é a relação entre vida e M.
porque a limitação da nossa existência pela M. é decisiva para a compreensão e a avaliação da vida" (Das Erlebnis
und dieDichtung, 5a ed., 1905, p. 230). A idéia importante aqui expressa por Dilthey é que a M. constitui "uma
limitação da existência", não enquanto término dela, mas enquanto condição que acompanha todos os seus
momentos. Essa concepção, que, de algum modo, reproduz no plano filosófico a concepção de M. da teologia cristã,
foi expressa por Jaspers com o conceito da situação-limite como "situação decisiva, essencial, que está ligada à
natureza humana enquanto tal e é inevitavelmente dada com o ser finito" (Psychologie der Weltanschauungen, 1925,
III, 2; trad. it., p. 266; cf. Phil, II, pp. 220 ss.). Referindo-se a esses precedentes, Heidegger considerou a M. como
possibilidade existencial: "A M., como fim do ser-aí (Daseiri), é a sua possibilidade mais própria, incondicionada,
certa e, como tal, indeterminada e insuperável" (Sein undZeit, § 52). Sob este ponto de vista, de possibilidade, "a M.
nada oferece a realizar ao homem e nada que possa ser como realidade atual. Ela é a possibilidade da impossibilidade
de toda relação, de todo existir" (Ibid., § 53). E já que a M. pode ser compreendida só como possibilidade, sua
compreensão não é esperá-la nem fugir dela, "não pensar nela", mas a sua antecipação emocional, a angústia (v.). A
expressão usada por Heidegger ao definir a M. como "possibilidade da impossibilidade" pode com razão parecer
contraditória. Foi sugerida a Heidegger por sua doutrina da impossibilidade radical da existência: a M. é a ameaça
que tal impossibilidade faz pairar sobre a existência. A prescindir dessa interpretação da existência em termos de
necessidade negativa, pode-se dizer que a M. é "a nulidade possível das possibilidades do homem e de toda a forma
do homem" (ABBAG-NANO, Struttura delVesistenza, 1939, § 98; cf. Possibilita e liberta, 1956, pp. 14 ss.). Já que toda
possibilidade, como possibilidade, pode não ser, a M. é a nulidade possível de cada uma e de todas as possibilidades
existenciais; nesse sentido, Merleau-Ponty diz que o sentido da M.
MOTIVAÇÃO
685
MÓVEL, PRIMEIRO
é a "contingência do vivido", "a ameaça perpétua para os significados eternos em que este pensa expressar-se por
inteiro" (Structure du comportement, 1942, IV, II, § 4).
MOTIVAÇÃO (in. Motivation; fr. Motivation; ai. Motivation; it. Motivazioné). 1. Causalidade do motivo.
Schopenhauer foi o primeiro a distinguir nitidamente essa forma de causalidade das outras três, que são: causalidade
da causa, causalidade da razão e causalidade da razão de ser (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grun-de, 1813, §§ 20, 29, 36). Schopenhauer diz.-A eficiência do motivo vem a ser conhecida por nós não só
exteriormente de modo me-diato, como a de todas as outras causas, mas também interiormente, de modo imediato.
(...) Daí resulta a importante proposição: a M. é a causalidade vista do interiormente. (...) É preciso, portanto, propor a
M. como uma força especial do princípio de razão suficiente do agir, ou seja, como lei da M." ( Vierfache Wurzel, 5
43). Mesmo sem o caráter privilegiado de revelação imediata do modo de agir intrínseco da causalidade, que
Schopenhauer lhe atribuía, a M. continuou indicando a ação determinante do motivo, sejam quais forem os limites
impostos a tal determinação. Os problemas da M. são, por um lado, de natureza psicológica e concernem ao modo de
agir dos motivos, passível de observação pelos instrumentos de que a psicologia dispõe; e, por outro lado, são de
natureza filosófica, porquanto dizem respeito aos limites ou às modalidades de determinação, portanto à liberdade e
ao determinismo (v.).
2. Husserl chamou de M. as conexões da experiência que condicionam a possibilidade de experimentação ulterior:
"Experimentabilidade não significa possibilidade lógica, vazia, mas possibilidade motivada pela conexão da
experiência. Esta é uma cadeia contínua de M., que assume sempre novas M. e transforma as já formadas" (Ideen, I §
47).
MOTIVO (in. Motive, fr. Motif; ai. Motiv, it. Motivo). Causa ou condição de uma escolha, ou seja, de uma volição ou
de uma ação. O M. pode ser mais ou menos claramente reconhecido por aquele sobre quem age: chama-se algumas
vezes de móbil ou móvel (fr. Mobile, ai. Triebfeder) o M. que não tem caráter "racional", que não pode ser
considerado uma "razão" da escolha.
Já Aristóteles dissera: "Visto que há três coisas: primeiro, o motor, segundo, aquilo com que move, e terceiro, o que é
movido, tem-se que o motor imóvel é o bem prático, o motor que também é movido é a faculdade apeti-tiva, e o que é
movido é o animal" {Dean., III, 10, 433 b 14). O M. é aqui entendido como um motor único e imutável que é o bem,
o fim ao qual tende a vida do animal. Mas no mundo moderno não se fala mais de motor nesse sentido, mas de M.
Wolff interpretava esse termo como "a razão suficiente da volição ou da nolição" (Psychol. empifica, § 887),
definição que — pode-se dizer — não sofreu modificações, a não ser no que se refere à diferença no grau de
determinação atribuído ao M. O problema desses diferentes graus de determinação é o problema da liberdade (v.).
Por outro lado, a importância do conceito de M. para a explicação da conduta humana foi algumas vezes posta em
dúvida na filosofia contemporânea. Dewey, p. ex., afirmou que "todo o conceito de M. na verdade é
extrapsicológico". Nenhuma pessoa de bom senso atribui M. aos atos de um animal ou de um idiota, e é absurdo
perguntar o que induz um homem à atividade. "Mas quando precisamos conduzi-lo a agir de um modo específico e
não de outro, quando queremos dirigir sua atividade para uma direção específica, então a questão do M. é pertinente.
O M. é então o elemento do conjunto total da atividade humana que, se suficientemente estimulado, dará lugar a um
ato que tem conseqüências específicas." Em outras palavras, menos que fator de explicação da conduta humana, o M.
é instrumento para sua orientação (Human Nature and Conduct, pp. 199-20).
MOTOR. V. DEUS, PROVAS DE; MOVIMENTO.
MÓVEL, PRIMEIRO (gr. rcpwTov KIVT|TÓV; lat. Primum mobile, in. First mobile, fr. Premier mobile, ai. Primüre
Bewegliches-, it. Primo mobile). Aristóteles deu esse nome ao primeiro céu, ao qual o movimento é comunicado
diretamente pelo Primeiro Motor ou motor imóvel, sendo, pois, tão simples, ingerado e incorruptível quanto o
Primeiro Motor {De cael, II, 6, 288 a 14 ss.). O próprio Aristóteles compara a faculdade apetitiva da alma ao primeiro
M., assim como comparou o bem ao motor imóvel (De an., III, 10, 433 b 14). O primeiro M. é o céu que Dante
chama de "cristalino", ou seja, diáfano ou transparente, além do qual admite o céu empíreo ou sede dos bemaventurados (Conv., II, 4; Par, 30, 107).
MOVIMENTO
686
MULTIPLICIDADE
MOVIMENTO (gr. KÍvr|cn.ç; lat. Motus, in. Motion; fr. Mouvement; ai. Bewegung; it. Movimento). 1. Em geral,
mudança ou processo de qualquer espécie. Esse significado corresponde ao do termo grego. Platão distinguia duas
espécies de M.: alteração e translação (Teet., 181 d); Aristóteles distinguia quatro.- além dos dois acima, o M.
substancial (geração e corrupção) e o M. quantitativo (aumento e diminuição) (Fís., III, 1, 201 a 10). Para as espécies
particulares do M., v. os verbetes relativos.
O M. em geral foi definido por Aristóteles como "a enteléquia daquilo que está em potência" (Fís., III, 1, 201 a 10):
definição que permaneceu célebre durante séculos. Significa que M. é a realização do que está em potência: p. ex., a
construção, a aprendizagem, a cura, o crescimento, o envelhecimento são realizações de potencialidades (Ibid., 201 a
16). No M. assim entendido a parte fundamental é a do motor, com cujo contato é gerado o M. "Qualquer que seja o
motor" — diz Aristóteles — "ele sempre trará uma forma (substância particular, qualidade ou quantidade) que será
principio e causa do M., quando o motor mover, do mesmo modo como, no homem, a enteléquia faz o homem do
homem em potência" (Ibid., III, 2, 202 a 8). A física aristotélica é, do princípio ao fim, uma teoria do M. nesse
sentido (v. FÍSICA). Seu teore-ma fundamental, "tudo o que se move é movido por alguma coisa" (Ibid., VII, 1, 256 a
14), leva à teoria do Primeiro Motor imóvel do universo (v. DEUS, PROVAS DE).
2. Em sentido específico, M. local ou translação. Aristóteles afirma a prioridade desse M. sobre os outros três, que
podem ser reduzidos a este último, único que pode pertencer às coisas eternas, aos astros (Fis., VIII, 7, 260 b).
Segundo Aristóteles, as espécies do M. local caracterizam os elementos do universo, inclusive o que constitui as
substâncias celestes, ou seja, o éter que se move em M. circular (v. FÍSICA). Essa doutrina do M. permaneceu
inalterada muito tempo porque toda a filosofia antiga e medieval repetiu-a sem modificações substanciais. Uma teoria
do M. que teve êxito no último período da Escolástica foi a da forma fluente, elaborada por Duns Scot. Segundo Duns
Scot, um corpo que se move adquire alguma coisa: a todo instante não o lugar, que não é um atributo seu, residindo
nos corpos que o circundam, mas uma espécie de determinação qualitativa, análoga ao calor adquirido pelo corpo que
se aquece. Essa determinação é o
onde (ubi). O M., portanto, é a perda ou a aquisição contínua do onde e nesse sentido é uma "forma fluente" (Quodl,
q. 11, a. 1). Essa doutrina foi criticada pela Escolástica dos fins dos sécs. XIII e XIV. Ockham submeteu-a a crítica
radical, considerando o M. como a mudança de relação de um corpo com os corpos que o circundam (Quodl., VII, q.
6). Este era o conceito que a ciência deveria fazer prevalecer na Idade Moderna. Descartes expressou-o do seguinte
modo: "M. é o transporte de uma parte da matéria ou de um corpo da proximidade dos corpos que o tocam
imediatamente, e que consideramos em repouso, para a proximidade de outros corpos" (Princ.phil, II, 25). Sobre o
conceito do M. na ciência contemporânea, v. RELATIVIDADE.
MUDANÇA (in. Change, fr. Changement; ai. Verãnderung; it. Mutamento). 1. O mesmo que movimento, 1 (v.).
2. O-mesmo que alteração (v).
MULTIPLICAÇÃO LÓGICA (in. Logical multiplication; fr. Multiplication logigue, ai. Logische Multiplikation; it.
MoltepHcazione lógica). Na Álgebra da Lógica (v.) chama-se assim a operação "a . ti\ que apresenta propriedades
formais análogas às da M. aritmética (é importantíssima a exceção "a. a = a"). Interpretada como operação entre
classes, "a . tf' passa a formar a classe que contém todos os elementos comuns às classes a e b e apenas eles.
Interpretada como operação entre proposições, "a . b" indica sua afirmação conjuntiva, simultânea ("a e b").
G. P.
MULTIPLICIDADE (gr. xà noXká; in. Mul-tiplicity, fr. Multiplicité, ai. Mannigfaltigkeit; it. Molteplicita). O que é
múltiplo e variado: "muitos" em contraposição a "um", sobre os quais versavam de preferência as discussões
dialéticas do séc. IV a.C, segundo relato de Platão (Fil, 14 d). O próprio Platão estabeleceu o conceito autêntico de
múltiplo, que não é de dispersão ilimitada, mas de número; este, como dizia Platão, é ao mesmo tempo um e muitos
porque é a ordem de uma M. determinada (Fil, 18 a-b) (v. NÚMERO). O sentido dessa palavra voltou a ser de
dispersão desordenada em alguns filósofos modernos, como p. ex. no uso que Kant faz dela como "matéria" do
conhecimento, ou seja, do conteúdo sensível em seu estado desorganizado ou bruto, independentemente da ordem e
da unidade que ele receba das formas a priori da sensibilidade e do intelecto (Crít. R. Pura, § 1).
MUNDANO
687
MUNDO
MUNDANO (gr. KOCUIKÓÇ; in. Worldly, Mundane, fr. Mondam; ai. Weltlich; it. Mon-danò). Este adjetivo é
empregado quase exclusivamente em correspondência com o significado ie) de mundo; designa o que pertence ao
campo de atividades, interesses ou comportamentos não pertencentes à vida religiosa e algumas vezes em
antagonismo com ela. Em tal sentido, fala-se em "sabedoria M.," ou "ciência M." para designar conhecimentos ou
atitudes que nada têm a ver com as preocupações religiosas. A este significado geral se refere o significado mais
restrito do termo, segundo o qual é "M." o que pertence à vida requintada ou aos hábitos do "mundo elegante", ou
seja, das classes privilegiadas. O substantivo mundanida-de tem também os dois significados acima expostos.
MUNDO (gr. KÓOUOÇ; lat. Mundus; in. World, fr. Monde, ai. Welt; it. Mondo). Por este termo pode-se entender: d) a
totalidade das coisas existentes [qualquer que seja o significado de existência (v.)], e neste sentido essa palavra é
empregada sem adjetivos; b) a totalidade de um campo ou mais de investigação, atividade ou relações, como quando
se diz "M. físico", "M. histórico", "M. artístico" ou "M. dos negócios", bem como "M. sensível" (captável pelos
órgãos dos sentidos) ou "M. intelectual" (captável com instrumentos intelectuais); neste sentido, fala-se também em
"M. ambiente" para indicar o conjunto das relações de um ser vivo com as coisas que o circundam ou a situação em
que se encontra, mas a palavra não tem significado diferente de ambiente (v.); c) a totalidade de uma cultura, como
quando se diz "M. antigo", "M. moderno", "M. primitivo" ou "M. civilizado"; d) uma totalidade geográfica, como
quando se diz "Novo M.", para designar a América, ou "Velho M.", para designar o "continente antigo"; é) a
totalidade daquilo que é estranho à religião; neste sentido, essa palavra é constantemente empregada no Novo
Testamento (Matth., 4, 8; XVI, IG-Joann., I, 10; VII, 7; XII, 31; etc), e a "sabedoria do M." é contraposta, como
insensatez, à sabedoria de Deus {ICor, I, 20). A noção de M. neste último sentido é comum a todos os escritores
cristãos; faz-se referência a ela quando se dá o nome de "sábios do M." a quem "utiliza a razão natural", como faz
Ockham (.Summa log., III, 1).
Destes significados, os mais especificamente filosóficos são os dois primeiros, que se refletem em todos os outros. O
significado (d) é puramente amplificativo ou retórico; o significado (e) é puramente religioso. Assim, é possível distinguir três conceitos
fundamentais de M.: 1Q M. como ordem total; 2- M. como totalidade absoluta; 3Q M. como totalidade de campo. Os
significados 1B e 2° são articulações do significado ia); o significado 3B é o significado (b).
I2 Diz-se que Pitágoras foi o primeiro a chamar o M. de cosmo, para ressaltar sua ordem (J. STOBEO, Ecl, 21, 450; Fr.
21, Diels); o certo é que essa é a interpretação desse conceito que prevalece na filosofia grega. É aceita por Platão
(Górg., 508 a). Aristóteles, que faz a distinção entre o todo (TÒ rcãv), cujas partes podem dis-por-se de maneiras
diferentes, e a totalidade (TÒ bXov), cujas partes têm posições fixas (Met., V, 26, 1024 a 1), diz a propósito do M.: "Se
a totalidade do corpo, que é um contínuo, está ora numa ordem ou numa disposição, ora em outra, e se a constituição
da totalidade é um M. ou um céu, então não será o M. que se gera e se destrói, mas apenas suas disposições" {De
cael, I, 10, 280 a 19). Aristóteles pretende dizer neste trecho que o M. é a constituição (ou estrutura) da totalidade
(sua ordem) e que tal constituição ou estrutura permanece a mesma a menos que suas partes se disponham
diferentemente. Isso eqüivale a definir o M. como a ordem imutável do universo. Analogamente, os estóicos faziam a
distinção entre universo (TÒ TOXV) como totalidade de todas as coisas existentes, inclusive o vácuo, e M., considerado
como "o sistema do céu e da terra e dos seres que estão neles" e nesse sentido o M. é Deus (J. STOBEO, Ecl, I, 421, 42
ss.). Esta interpretação do M. prevaleceu na Antigüidade e foi adotada pela filosofia cristã que nela encontrava um
ponto de partida oportuno para as demonstrações da existência de Deus (cf., p. ex., AGOSTINHO, De ordine, I, 2).
Entrou em crise só quando a noção de ordem começou a incorporar-se à de natureza, mais que à de M.: o conceito de
totalidade passou a ter primazia.
2- Os primeiros a expor o conceito de M. como totalidade que abarca todas as coisas foram os epicuristas. Epicuro
dizia: "O M. é a circunferência do céu que abrange os astros, a terra e todos os fenômenos" (DIÓG., L., X, 88). Mas
foi só na filosofia moderna que esse conceito prevaleceu, superando completamente o mais antigo, de M. como
ordem. Leibniz diz: "Chamo de M. toda a série e toda a coleção de todas as coisas existentes, para que não se diga
que podem existir vários M. em diferentes tem-
MUNDO
688
MUNDO
pos e lugares. De fato, seria preciso contá-los todos juntos como um só M. ou, se preferis, como um só universo"
(Jhéod., I, § 8). Desse ponto de vista, o M. é "o conjunto total das coisas contingentes" (Jbid., I, § 7); a elaboração
posterior desse conceito insistiu especialmente nesse conceito de totalidade absoluta. Portanto, as noções de universo
e de M., que os antigos tendiam a distinguir, são consideradas coincidentes. Wolff diz: "A série dos entes finitos,
tanto simultâneos quanto sucessivos, mas, in-terconexos, é chamada de M. ou também de universo" (Cosm., § 48).
Baumgarten esclarece melhor o sentido de totalidade absoluta, afirmando que ela não pode ser parte de outra
totalidade: "O M. é a série (a multidão, a totalidade) dos finitos reais que não é parte de outra série" (Met., § 354).
Essa determinação é repetida por Crusius: "O M. é um concatenamento real de coisas finitas, de tal modo que não é
parte de outro, ao qual pertença em virtude de um concatenamento real" (Entwurf der not-ivendigen VernunftWahrheiten, 1745, § 350). E este o conceito criticado na dialética transcendental de Kant.
Kant observava que a palavra M., "no sentido transcendental de totalidade absoluta do conjunto das coisas
existentes", indica uma totalidade incondicionada porque deve incluir todas as condições da série (Crít. R. Pura,
Antinomia da razão pura, seç. 1). Isso supõe que o regresso do condicionado à condição, que pode prosseguir
infinitamente, seja esgotado e cumprido até compreender todas as condições; e como a totalidade das condições é o
incondicionado, a completitude do regresso eqüivaleria à compreensão do incondicionado. Mas é precisamente aí
que, segundo Kant, está o erro dialético incluído no conceito de M., visto assumir-se o condicionado em dois
sentidos: no sentido de conceito intelectual aplicado a simples fenômenos e no sentido transcendental de categoria
pura. Em outras palavras, da exigência de condição sempre nova {empírica) na série dos fenômenos passa-se à
exigência da totalidade das condições, que é o incondicionado ou M., não mais empírico (Jbid., seç. 7). Portanto, não
é de surpreender que a noção de M., fundada como está num procedimento sofistico, dê lugar a antinomias insolúveis
que dizem respeito à finitude ou à infinidade do M., a seu início ou não no tempo, à existência nele ou não de partes
simples e à presença ou ausência de liberdade (v. ANTINOMIAS KANTIANAS). Segundo Kant, só se chega à solução de tais antinomias renunciando-se à noção de M. ou considerando tal
noção simplesmente como uma regra do conhecimento empírico, mais precisamente a que "exige o regresso na série
das condições dos dados fenomênicos, regresso no qual nunca seja possível deter-se em algo absolutamente
incondicionado" (Jbid., seç. 8). Desse ponto de vista, o M. não é uma realidade, mas "um princípio regulador da
razão".
Pode-se dizer que essa crítica de Kant foi decisiva. É bem verdade que tem sido esquecida não só pelas doutrinas que
constituem resquícios da metafísica teológica, mas também pelas doutrinas cosmológicas modernas, que se dizem
"científicas" e especulam sobre o M. e sua criação (v. COSMOLOGIA). Mas também é verdade que essas doutrinas logo
se chocam com antinomias insolúveis, que reproduzem as kantianas, assim que recorrem ao conceito do M. como
totalidade absoluta. Na realidade aquilo de que a ciência pode falar é apenas o M. observável, entendido como "o
mais abrangente conjunto de objetos astronômicos que possa ser identificado com a ajuda dos instrumentos
disponíveis em dada época" (M. K. MUNITZ, Space, Time and Creation, 1957, p. 93). Mas neste sentido o M. é uma
totalidade de campo, não uma totalidade absoluta.
3S A terceira interpretação do conceito de M., que está de acordo com a crítica kantiana, identifica-se com a que
enunciamos como significado (b): o M. é a totalidade de um campo ou de vários campos de atividade, investigação
ou relações. Desse ponto de vista, a palavra M., sem adjetivos, não designa uma totalidade absoluta, mas
simplesmente o conjunto de um campo específico estudado pelo astrônomo ou pelo cosmologista. Nesse sentido, a
palavra é perfeitamente análoga àquilo que a "matéria" é para o físico ou a "vida" é para o biólogo: indica um campo
genérico, determinado pela convergência ou pela sobreposição de determinado grupo de técnicas de pesquisa (M. K.
MUNITZ, op. cit., p. 69). Em geral, desse ponto de vista, pode-se dizer que a noção designa "um conjunto de campos
definidos por técnicas relativamente compatíveis e em alguma medida convergentes. Podemos assim falar de 'M.
natural', como conjunto de campos cobertos pelas ciências naturais, na medida em que suas técnicas são
relativamente compatíveis e convergentes; ou de 'M. histórico', como conjunto de campos em que podem ser
empregadas as
MUNDO DA VIDA
689
MÚSICA
técnicas da investigação historiográfica, etc." (ABBAGNANO, Possibilita e liberta, 1956, pp. 154-55).
A esta mesma noção está ligada a de Hei-degger, aceita pela filosofia existencialista, de M. como campo constituído
pelas relações do homem com as coisas e com os outros homens. Heidegger diz: "É tão errôneo utilizar a palavra M.
para designar a totalidade das coisas naturais (conceito do M. naturalista) quanto para indicar a comunidade dos
homens (conceito personalista). O que de metafisicamente essencial contém o significado mais ou menos claro de M.
é que este visa à interpretação do Dasein humano em seu relacionar-se com o ente em seu conjunto" (Vom Wesen des
Grandes, 1929, I; trad. it., p. 53). Obviamente, desse ponto de vista, a palavra M. faz parte integrante da expressão
"ser-no-M.", que designa o modo de ser do homem "situado no meio do ente e re-lacionando-se com ele", ou seja, em
relação essencial com as coisas e com os outros homens. Nesse caso, M. significa o conjunto de relações entre o
homem e os outros seres: a totalidade de um campo de relações (v. TODO; UNIVERSO).
MUNDO DA VIDA (ai. Lebenswelí). Termo introduzido por Husserl em Krisis, para designar "o mundo em que
vivemos intuitivamente, com suas realidades, do modo como se dão, primeiramente na experiência simples e depois
também nos modos em que sua validade se torna oscilante (oscilante entre ser e aparência, etc.)" (Krisis, § 44).
Husserl contrapõe esse mundo ao mundo da ciência, considerado como um "hábito simbólico" que "representa" o
mundo da vida, mas encontra lugar nele, que é "um mundo para todos" (Ibid., Beilage, XIX). MUNDO EXTERIOR.
V. REALIDADE. MUNDO MORAL (ai. Moralische Welt). Esse é o nome dado por Kant à "simples idéia" (que, como
tal, é desprovida de realidade) de "um mundo conforme a todas as leis morais", idéia que só tem significado prático
como guia da ação humana (Crit. R. Pura, Doutrina do método, cap. 2, seç. 2).
MÚSICA (gr. Liownicri xé^vr); lat. Musica; in. Music; fr. Musique, ai. Musik, it. Musica). Duas são as definições
filosóficas fundamentais dadas da M. A primeira considera-a como revelação de uma realidade privilegiada e divina
ao homem: revelação que pode assumir a forma do conhecimento ou do sentimento. A segunda considera-a como
uma técnica ou um
conjunto de técnicas expressivas que concernem à sintaxe dos sons.
Ia A primeira concepção, que passa por ser a única "filosófica", mas que na verdade é metafísica ou teologizante,
consiste em considerar a M. como ciência ou arte privilegiada, porquanto seu objeto é a realidade suprema, divina, ou
alguma de suas características fundamentais. Nessa concepção é possível distinguir duas fases: d) para a primeira, o
objeto da M. é a harmonia como característica divina do universo; portanto, considera a M. como uma das ciências
supremas; b) para a segunda, o objeto da M. é o princípio cósmico (Deus, Razão Auto-consciente ou Vontade
Infinita, etc), e a M. é a auto-revelação desse princípio na forma de sentimento. Ambas as concepções têm uma
característica fundamental em comum: a separação entre M., como arte "pura", e as técnicas em que esta se realiza.
Platão reprova os músicos que procuram novos acordes nos instrumentos (Rep., VII, 531 b); o mesmo faz Plotino.
Schopenhauer e Hegel falam em "essência" da M., de sua natureza universal e eterna, porquanto é separável dos
meios expressivos nos quais ganha corpo como fenômeno artístico.
d) A doutrina da M. como ciência da harmonia e de harmonia como ordem divina do cosmos nasceu com os
pitagóricos. "Os pitagó-ricos, que Platão freqüentemente segue, dizem que a M. é harmonia dos contrários, unificação
dos muitos e acordo dos discordantes" (FILO-LAU, Fr. 10, Diels). A função e os caracteres da harmonia musical são
idênticos à função e aos caracteres da harmonia cósmica: a M. é, portanto, o meio direto para elevar-se ao
conhecimento dessa harmonia. Entre as ciências propedêuticas, Platão punha a M. em quarto lugar (depois da
aritmética, da geometria plana e sólida e da astronomia), considerando-a a mais próxima da dialética e a mais
filosófica (Fed., 61 a). Contudo, para Platão, como ciência autêntica, a M. não consiste em procurar com o ouvido
novos acordes nos instrumentos: desse modo, as orelhas seriam mais importantes que a inteligência (Rep., VII, 531
a).As pessoas que agem desse modo "comportam-se como os astrônomos, pois procuram os números nos acordes
acessíveis ao ouvido, mas não chegam até os problemas, não indagam quais números são harmoniosos, quais não são
e de onde vem sua diferença" (Ibid., VII, 531 b-c). Por essa possibilidade de passar dos ritmos sensíveis à harmonia
inteligível, Plotino considera a M.
MÚSICA
690
MÚSICA
como um dos caminhos para ascender até Deus: "Depois das sonoridades, dos ritmos e das figuras perceptíveis pelos
sentidos, o músico deve prescindir da matéria na qual se realizam os acordes e as proporções, e atingir a beleza deles
por eles. Deve aprender que as coisas que o exaltavam são entidades inteligíveis; isto é harmonia: a beleza que nela se
encontra é absoluta, não particular. Por isso, deve utilizar raciocínios filosóficos que o levem a crer em coisas que
tem em si, sem saber" (Enn., I, 3, 1).
Foram essas considerações que levaram a incluir a M. no rol das "artes liberais", consideradas fundamentais em toda
a Idade Média. S. Agostinho expõe a transição da M. da fase da sensibilidade, na qual ela cuida dos sons, para a fase
da razão, em que se torna contemplação da harmonia divina: "A razão compreendeu que neste grau, tanto no ritmo
quanto na harmonia, os números reinam e conduzem tudo à perfeição; observou então com a máxima diligência a que
natureza pertenciam e descobriu que eram divinos e eternos, porque com eles tinham sido ordenadas todas as coisas
supremas" (Deordine, II, 14). Em Nozze di Mercúrio e delia filologia, Marciano Capella, em meados do séc. V,
incluía a M. entre as artes liberais (reduzidas a sete), e com isso ela passava a ser um dos pilares da educação
medieval. Alguns séculos depois, Dante comparava a M. ao planeta Marte, pois, como ele, é "a mais bela relação"
porque está no centro dos outros planetas, e o mais caloroso porque seu calor é semelhante ao do fogo; assim é a M.:
"relativa, como se vê nas palavras harmonizadas e nos cantos, cuja harmonia é tão mais doce quanto mais bela é a
relação"; ela "atrai para si os espíritos humanos, que são principalmente como vapores do coração, pois quase cessam
suas operações" (Conv., II, 14). O que Dante chama de "relação" é a harmonia de que falavam os antigos; o caráter
cósmico da M. é expresso na sua comparação com um dos maiores astros do universo.
b) A doutrina da M. como auto-revelação do Princípio Cósmico tende a privilegiar a M. acima de todas as outras
artes ou ciências e a vê-la como a via de acesso mais direta ao Absoluto. Estas são as características da concepção
romântica, cuja melhor expressão se encontra na teoria de Schopenhauer. Segundo ele, enquanto a arte em geral é a
objetivação da vontade de viver (que é o princípio cósmico infinito) em tipos-ou formas universais (as Idéias platônicas), que cada arte reproduz à sua maneira, a M. é revelação imediata ou direta dessa mesma vontade de viver. "A
M." — diz ele — "é objetivação e imagem da Vontade tão direta quanto o mundo, ou melhor, quanto as Idéias, cujo
fenômeno multiplicado constitui o mundo dos objetos particulares. A M. não é, portanto, como as outras artes, a
imagem das idéias, mas a imagem da própria Vontade, da qual as idéias também são objetividade. Por isso, o efeito
da M. é mais potente e insinuante que o das outras artes, visto que estas nos dão apenas o reflexo, ao passo que aquela
nos dá a essência" (Die Welt, 1819, I, § 52). A doutrina de Hegel coincide com essa exaltação da M., mas acrescenta
a importante determinação de que a M. é a expressão do absoluto na forma do sentimento (Gemüttí). Hegel diz: "A
M. constitui o ponto central da representação que expressa o subjetivo como tal, tanto em relação ao conteúdo quanto
em relação à forma, pois participa da interioridade e permanece subjetiva mesmo em sua objetividade." Em outras
palavras, ao contrário das artes figurativas, ela não permite que a exteriorização fique livre para desenvolver-se por si
mesma e chegar à existência autônoma, "mas supera a objetivação externa e não se imobiliza nela, até transformá-la
em algo de externo que tenha existência independente de nós" (Vorlesungen über die Âsthetik, ed. Glockner, III, p.
127). Isso quer dizer que na M., ao contrário das outras artes, a forma sensível em que a Idéia se manifesta e exprime
é inteiramente superada como tal e resolvida em pura interioridade, em puro sentimento.
Desse ponto de vista, Hegel diz que o sentimento é a forma da M.: "O papel fundamental da M. não consiste em fazer
ressoar a própria objetividade, mas, ao contrário, as formas e os modos nos quais a subjetividade mais íntima do eu e
alma ideal se movem em si mesmas" (Ibid., p. 129). Com o reconhecimento do sentimento como forma própria da M.
e como justificação da superioridade desta, a teoria romântica encontrou expressão definitiva. A radicalização dessa
expressão acha-se na teoria de Kierkegaard, de que a M. "encontra seu objeto absoluto na genialidade eróticosensual" (Aut Aut, "As etapas eróticas", etc; trad. fr., Prior e Guignot, p. 54). A definição de M. como arte de
expressar "os sentimentos" ou "as paixões" através dos sons foi repetida infinitas vezes, chegando-se a esquecer o
sentido de suas implicações teóricas. Foi assumida como uma
MÚSICA
691
MUSICA
definição objetiva ou científica da M. (cf. HANSLICK, Vom Musikalisch-Shónen, 1854, a nota final do cap. 1), e nela
se inspirou a obra de Wagner, que de fato compartilhava a filosofia de Schopenhauer sobre M. Nietzsche, na
juventude, adotou essa concepção, dela se desligando a partir de 1878 (com Humano, demasiado humano), quando
começou a entrever na obra de Wagner, que se orientava nos-talgicamente para o Cristianismo, o abandono dos
valores vitais da Antigüidade clássica e um espírito de renúncia e resignação. Mas nem mesmo Nietzsche se afastou
realmente do conceito romântico de M. Seu ideal de M. "meridional" (como a de Bizet) conserva ainda a
característica romântica de expressão de sentimentos, ainda que de um sentimento situado "além do bem e do mal".
De fato, escreveu: "Meu ideal seria uma M. cujo maior fascínio consistisse na ignorância do bem e do mal, uma M.
que no máximo vibrasse por alguma nostalgia de marinheiro, por alguma sombra dourada, por alguma lembrança
terna; uma arte que absorvesse em si, com grande distância, todas as cores de um mundo moral no crepúsculo, um
mundo quase incompreensível, e que fosse suficientemente hospitaleira e profunda para acolher em si os últimos
fugitivos" (Jenseits von Gut und Bóse, § 255). Ainda hoje se recorre freqüentemente à definição de M. como
expressão de sentimentos ou pelo menos isso é pressuposto como coisa óbvia e certa (cf. p. ex., DEWEY, Art
asExperience, cap. 10; trad. it., pp. 278 ss.). Na Itália, isso foi reforçado pela doutrina crociana da arte como
expressão de sentimentos, mas, obviamente, essa doutrina nada mais é que a generalização, para todo o domínio da
arte, da definição romântica de M. Esta definição ainda se materializa freqüentemente na figura do músico,
considerado como sacerdote ou profeta que sabe ouvir a voz do Absoluto e traduzi-la para a linguagem sonora do
sentimento. Ainda hoje raramente se renuncia a almejar essa representação romântica da M., graças à qual os ouvintes
da M. sentem-se arrebatados num horizonte místico, onde os acordes musicais são palavras de uma divindade oculta.
2a A característica da segunda concepção fundamental da M. é a identidade, que ela implica, entre a M. e suas
técnicas. Tal identidade foi claramente expressada por Aristóteles, ao reconhecer a multiplicidade das técnicas
musicais: "A M. não deve ser praticada por um único tipo de benefício que dela possa resultar, mas para usos múltiplos, pois pode servir para a educação, para a catarse
e, em terceiro lugar, para o repouso, o alívio da alma e a suspensão de todos os afãs. Disso resulta que é preciso fazer
uso de todas as harmonias, mas não de todas no mesmo modo, empregando para a educação as que têm maior
conteúdo moral, e para outras finalidades as que incitam à ação ou inspiram à comoção" (Pol, VIII, 7, 1341 b 30 ss.).
Essas considerações, que, em sua aparente simplicidade, parecem excluir a interpretação filosófica da M., na
realidade expressam o conceito de que a M. é um conjunto de técnicas expressivas que têm objetivos ou usos diversos
e que podem ser indefinida e oportunamente variadas. Na realidade, esse conceito é o único que ajudou e sustentou o
desenvolvimento da arte musical. Retornou no Renascimento, sendo assim expresso por Vicente Galilei: "O uso da
M. foi introduzido pelos homens para o respeito e o fim indicado de comum acordo pelos sábios; de outra coisa não
nasceu senão, principalmente, da necessidade de expressar com mais eficácia os conceitos do espírito deles ao
celebrarem os louvores a Deus, aos gênios e aos heróis, como se pode em parte compreender nos cantochãos e cantos
eclesiásticos, origem desta nossa (M.) a várias vozes, e imprimi-los, a seguir, com idêntica força nas mentes dos
mortais, para a utilidade e a comodidade deles" (Dialogo delia M. antica e delia moderna, 1581, ed. Fano, 1947, pp.
95-96). Nestas palavras de Galilei também se reconhece claramente o caráter expressivo das técnicas musicais:
caráter que faz da M. uma arte no sentido moderno do termo (v. ESTÉTICA). O conceito de técnica expressiva é
apresentado por Kant com a noção de "belo jogo de sensações", que ele utiliza para definir a M. e a técnica das cores.
Kant observa que "não se pode saber com certeza se uma cor e um som são simples sensações agradáveis ou se já são,
em si mesmos, um belo jogo de sensações e, portanto, contêm, enquanto jogo, um prazer que decorre da forma deles
no juízo estético". Alguns fatos, especialmente a falta de sensibilidade artística em alguns homens e a excelência
dessa sensibilidade em outros, convencem a considerar que as sensações dos dois sentidos, visão e audição, não são
simples impressões sensíveis, mas "efeito de um juízo formal no jogo de muitas sensações". Em todo caso, "segundo
se adote uma ou outra opinião ao julgar
MÚSICA
692
MUSICA
o princípio da M., será diferente a definição desta: ou será definida (como fizemos) como um belo jogo de sensações
(da audição), ou como um jogo de sensações agradáveis. De acordo com a primeira definição, a M. é considerada
uma arte bela, pura e simplesmente; de acordo com a segunda, é considerada, pelo menos em parte, uma arte
agradável" {Crít. dojuízo, § 51). O conceito de "belo jogo de sensações" já tende a exprimir uma noção sintática da
M. e, por acréscimo, uma noção para a qual a investigação sintática pode ser dirigida livremente em todas as direções
(isto está implícito na palavra "jogo"). Em meados do séc. XIX essa noção foi formulada com maior rigor e clareza na
obra de HANSLICK, O belo musical (1854), que ainda hoje continua sendo uma das mais importantes obras de estética
musical. Hanslick cerra fileiras contra o conceito romântico de M. como "representação do sentimento". O objeto da
M. é o belo musical, entendendo-se com isto "um belo que, sem decorrer nem depender de qualquer conteúdo
exterior, consista unicamente nos sons e em sua interligação artística. As engenhosas combinações dos belos sons,
sua concordância e oposição, seus afastamentos e reuniões, seu crescimento e morte, é tudo isso que se apresenta em
formas livres à intuição de nosso espírito e agrada como belo. O elemento primordial da música é a eufonia, sua
essência é o ritmo" (Vom Musikalisch-Schónen, III; trad. it., 1945, p. 82). Assim entendida, a M. identifica-se com a
técnica realizadora. Hanslick diz a respeito: "Se as pessoas não sabem reconhecer toda a beleza que vive no elemento
puramente musical, grande parte da culpa deve ser atribuída ao desprezo pelo sensorial, que, nos antigos estetas, se
dava em favor da moral e do sentimento, e em Hegel em favor da idéia. Toda arte parte do sensível e nele se move. A
teoria do sentimento desconhece esse fato, despreza completamente ouvir e leva em consideração imediata o sentir.
Acham que a M. é feita para o coração e que o ouvido é coisa desprezível" (Ibid., III, pp. 85-86). Por outro lado,
Hanslick expressou com clareza o caráter que diferencia a linguagem musical da linguagem comum: "A diferença
consiste em que na linguagem o som é somente um signo, é um meio para expressar algo completamente diferente
desse meio, enquanto na M. o som tem importância em si, é objetivo por si mesmo. A autonomia das belezas sonoras,
por um lado, e o
absoluto predomínio da opinião de que o som é puro e simples meio de expressão, por outro lado, contrapõem-se de
maneira tão definitiva que a mistura dos dois princípios é uma impossibilidade lógica" (Jbid., IV, p. 113). Contudo
esse caráter não se encontra apenas na linguagem musical, mas em qualquer linguagem artística, em confronto com a
linguagem comum (v. ESTÉTICA).
Embora a noção de M. à qual músicos, críticos e estudiosos de estética musical recorreram e recorrem de modo
explícito continue sendo de "representação dos sentimentos", foi a noção de M. como técnica da sintaxe dos sons,
cujas regras podem ser indefinidamente mudadas, que prevaleceu na prática da criação musical e na busca de modos
de criação novos e mais livres. A última e mais radical tentativa de libertar a língua musical da sintaxe tradicional é a
chamada M. atonal, que nada mais é que a afirmação programática da liberdade da linguagem musical em escolher
sua própria disciplina; esta, em certos casos, pode ser até a disciplina tonai. Schõnberg diz a respeito: "A
emancipação da dissonância, ou seja, sua equiparação com os sons con-sonantes ocorreu de modo inconsciente, com
o pressuposto de que sua compreensibilidade é favorecida por determinadas circunstâncias (em Harmonielehre
explico isso com o fato de que a diferença entre consonância e dissonância não é antitética, mas gradual, ou seja, as
consonâncias são os sons mais próximos do som fundamental, e as dissonâncias são os mais afastados; por
conseguinte, sua compreensibilidade é graduada, sendo os sons mais próximos mais facilmente percebidos que os
afastados). Como não basta o ouvido para reconhecer e compreender as relações e as funções, tais circunstâncias
encontraram-se no campo da expressão e no campo — até então pouco considerado — da sonoridade" ("Gesinnung
oder Erkenntnis?", 1926, em L. ROGNONI, Espressionismo e dodecafonia, 1954, p. 249).
Desse ponto de vista, a tonalidade é definida, de modo muito geral, como "tudo aquilo que resulta de uma série de
notas, que é coordenada através da referência direta a uma única nota fundamental ou através de interligações
complicadas" {Harmonielehre, 1922, 3g ed., III, p. 488; em ROGNONI, Op. cit, p. 243). Alban Berg observava que "a
renúncia à tonalidade 'maior' ou 'menor' não implica
MÚSICA
693
MUTACIONISMO
absolutamente anarquia harmônica" porque, "apesar de, com a perda do 'maior' e do 'menor' ter-se aberto mão de
algumas possibilidades harmônicas, ainda ficaram todos os outros elementos essenciais da M. verdadeira e autêntica
("Was ist Atonal", 1930, em ROGNONI, op. cit., p. 290). Seja qual for o juízo de gosto sobre as obras musicais
inspiradas nesse programa, não há dúvida de que o próprio programa nada mais é que a liberalização da língua
musical e de suas técnicas em relação aos obstáculos da sintaxe tradicional, e o início da busca de novas formas
sintáticas, que até podem, ocasionalmente, coincidir com as tradicionais. Portanto, no campo da M., o atonalismo é a
realização da mesma exigência de libertação. Representada pelo abstracionismo no campo da pintura: assim como a
pintura pretende prescindir das formas de representação ou percepção estabelecidas ou reconhecidas, a M. pretende
prescindir das formas de harmonia musical estabelecidas e reconhecidas. Uma e outra estão em busca de
novas disciplinas, de novas formas sintáticas para suas técnicas expressivas; uma e outra pressupõem (mesmo que
nem sempre com conceitos claros) a noção de arte como "técnica da expressão", entendendo-se por expressão as
formas livres e finais da sintaxe lingüística. Como foi essa a noção de M. que, no fim da Idade Média e no
Renascimento, presidiu à gênese da M. moderna, porquanto se apresentou desde o início como procura de técnicas
expressivas, pode-se vislumbrar nela a condição que ainda hoje garante capacidade de desenvolvimento à M.
MUTACIONISMO (in. Mutationism, fr. Mu-tationisme, ai. Mutationismus; it. Mutazio-nismó). 1. O mesmo que
evolucionismo (v.).
2. Doutrina que explica a transformação de uma espécie viva em outra através do surgimento de pequenas mutações
bruscas e hereditárias que se produziriam ao acaso, durante uma ou mais gerações.
Essa doutrina foi apresentada por DE VRIES na obra A teoria das mutações (1901).
N
N. Na lógica de Lukasiewicz a letra N é usada para indicar a negação, comumente simbolizada por co de modo que
Np significa <s>p (cf. A. CHURCH, Introduction to Mathematical Logic, n9 91).
NACIONALISMO (in. Nationalism; fr. Na-tíonalisme, ai. Nationalismus-, it. Nazionalis-mó). O conceito de nação
começou a formar-se a partir do conceito de povo, que havia dominado a filosofia política do séc. XVIII, quando se
acentuou, nesse conceito, a importância dos fatores naturais e tradicionais em detrimento dos voluntários. O povo (v.)
é constituído essencialmente pela vontade comum, que é a base do pacto originário; a nação é constituída
essencialmente por vínculos independentes da vontade dos indivíduos: raça, religião, língua e todos os outros
elementos que podem ser compreendidos sob o nome de "tradição". Diferentemente do "povo", que não existe senão
em virtude da vontade deliberada de seus membros e como efeito dessa vontade, a nação nada tem a ver com a
vontade dos indivíduos: é um destino que paira sobre os indivíduos, ao qual estes não podem subtrair-se sem traição.
Nesses termos, a nação só começou a ser concebida claramente no início do séc. XIX; o nascimento desse conceito
coincide com o nascimento da fé nos gênios nacionais e nos destinos de uma nação particular, que se chama
nacionalismo.
O conceito de povo permanecia ligado aos ideais cosmopolitas do séc. XVIII. Mas já em Rousseau se encontra a
condenação desses ideais: o apego de Rousseau ao conceito de cidade-estado, da forma realizada na Grécia antiga,
levava-o a condenar o universalismo setecentista. Ao mesmo tempo, esse apego anacrônico levava-o a exaltar o valor
do Estado nacional: "São as instituições nacionais que formam o gênio, o caráter, os gostos e os costumes de um povo, que o fazem ser ele mesmo e não outro, que lhe
inspiram o amor ardente pela pátria, fundamentado em hábitos impossíveis de erradicar, que o fazem morrer de tédio
entre outros povos, em meio a delícias das quais está privado em seu país" (Considér sur le gouvernement de
Pologne, III). Mas foi principalmente na época da restauração pós-napo-leônica que o conceito de nação começou a
assumir importância dominante como um dos produtos ou o produto fundamental da "tradição" à qual se atribuía
naquele período a origem e a conservação de todos os valores fundamentais do homem. Em Discursos à nação alemã
(1808) de Fichte, primeiro documento do N. alemão, o povo alemão é visto como "o único povo que tem direito de
ser chamado de povo, sem outra designação, ao contrário dos ramos que dele se separaram, como, aliás, indica por si
só a palavra alemão" (Reden, VII), sendo assegurada pela própria providência da história o futuro desse povo
superior. Com a noção de "espírito de povo", Hegel levava a cabo a elaboração do conceito de nação: "O espírito de
um povo é um todo concreto: deve ser reconhecido em sua determinação. (...) Desenvolve-se em todas as ações e em
todas as tendências de um povo e realiza-se até a fruição e a compreensão de si mesmo. Suas manifestações são
religião, ciência, arte, destinos, acontecimentos. É tudo isso que confere caráter a um povo, e não o modo como ele é
determinado por natureza (como poderia sugerir o fato de a palavra natio ter derivado de nasci)" (Phil. der
Geschichte, ed. Lasson, p. 42; trad. it., 1, p. 49). No espírito dos povos encarna-se, altérnadamente, o Espírito do
Mundo, a Razão Universal que preside aos destinos do mundo e determina a vitória do povo que
NACIONALISMO
695
NADA
seja sua melhor encamação. Nesse conceito de espírito do povo como encamação ou manifestação de Deus no
mundo, portanto do caráter fatal e providencial da vida históri-% ca da nação, já estão compreendidos todos os
elementos do N. europeu do séc. XIX e de qualquer N.
Na Itália, Mazzini procurou conciliar os ideais universalistas do iluminismo com o N., e viu na "missão" de uma
nação o modo como esta pode servir ao objetivo geral da humanidade. Era uma síntese bastante incoerente, mas que
evitava a exaltação da força que depois seria encontrada com tanta freqüência no N. europeu. Gian Domenico
Romagnosi foi o primeiro a apresentar uma teoria jurídica do estado nacional nesse sentido {Delia costituzio-ne di
una monarchia nazionale rappresenta-tiva, 1815): teoria adotada mais tarde por P. S. Mancini como fundamento do
direito internacional {Delia nazione como fondamento dei diritto delle genti, 1851). Na França a afirmação do N. está
ligada principalmente à obra do historiador Michelet, que, com o livro Lepeuple (1843), criava um dos principais
documentos do N. profetizante. Na Alemanha, outro historiador, Treitschke, empreendia a ilustração e a defesa do N.
alemão, que, na origem, vinculou-se à política de força de Bismarck e mais tarde à de Guilherme II. Na Rússia, por
fim, Dos-toievski erigiu-se em profeta do N. russo (cf. HANS KOHN, Prophets and Peoples, 1946, trad. it., 1949; The
Ideal of Nationalism, Nova York 1944). Tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial foram travadas sob o
emblema de um N. que perdera todo o contato com o universalismo setecentista e via na força o único sinal decisivo
concedido pela Providência histórica à nação por ela favorecida. Essa idéia, entronizada pelo fascismo italiano e pelo
na-cional-socialismo germânico, não era nova: tratava-se da velha idéia hegeliana e romântica do privilégio que o
Espírito do Mundo concede à nação em que prefere encarnar-se, pois o único sinal desse privilégio é precisamente a
força vitoriosa que tal nação pode exercer sobre as outras. Esse N. profético já não é professado hoje em dia pelos
povos europeus, que, graças à lição dada pelas duas guerras, foram reconduzidos aos ideais universalistas do
iluminismo: tende, porém, a afirmar-se em outras regiões do globo terrestre, às quais só se pode desejar que
aproveitem a experiência cultural e histórica da velha Europa.
NADA (gr. (iT|ôév, xò ur| ÕV; lat. MM; in. Nothing, Nothingness-, fr. Néant; ai. Nichts-, it. Nullà). Duas concepções
do N. estão intercaladas na história da filosofia: Ia O N. como não-ser; 2a o N. como alteridade ou negação. Os
fundamentos dessas duas concepções estão, respectivamente, em Parmênides e Platão. Parmênides afirmou que "o N.
não é" {Fr. 6, 2) e que "não pode ser conhecido nem expressado" {Ibid., 4); Platão, decidindo-se por uma espécie de
"parricídio" em relação a Parmênides {Sof, 242 d), admitiu o ser do não-ser e definiu o N. como alteridade: "Resulta
que há um ser do não-ser, tanto para o movimento quanto para todos os gêneros, já que em todos os gêneros a
alteridade, que torna cada um deles outro, transforma o ser de cada um em não-ser, de modo que diremos
corretamente que todas as coisas não são e ao mesmo tempo são e participam do ser" {Ibid., 256 d). Assim, enquanto
para Parmênides o N. é absoluto não-ser, portanto não é pensável nem expressável de modo algum, para Platão o N. é
a alteridade do ser, ou seja, a negação de um ser determinado (p. ex., do movimento) e a referência indefinida a outro
gênero do ser (ao que não é movimento).
Ia Górgias apoiava a tese de Parmênides ao afirmar que "o N. não é, porque, se existisse, seria ao mesmo tempo nãoser e ser: não-ser enquanto pensado como tal, ser enquanto seria não-ser" {Fr. 3, 26). O N. defi-nido por essas
proposições é o N. absoluto, "certa idéia negativa do N., daquilo que está infinitamente longe de qualquer tipo de perfeição", de que falava Descartes, opondo-a a Deus, que inclui todas as perfeições {Méd., IV); ou o "conceito
vazio sem objeto", que é a negação do "mais alto conceito de que se costuma partir nas filosofias transcendentais", do
objeto de que falava Kant {Crít. R. Pura, Anal. dos princ, Nota às anfibolias dos conceitos da reflexão). O N. assim
entendido foi utilizado sobretudo pela teologia e pela metafísica: por um lado serviu para definir Deus, quando se
quis insistir em sua heterogeneidade em relação ao mundo, ou para definir a matéria, quando se quis insistir em sua
heterogeneidade em relação às coisas; por outro lado, serviu para introduzir no ser uma condição ou um elemento que
explicasse certos caracteres dele. O primeiro uso ocorre freqüentemente na teologia negativa. Scotus Erigena já havia
identificado Deus com o N. porque Deus é Supe-
NADA
696
NADA
ressentia (acima da substância) e porque o N. é, por outro lado, "a negação e a ausência da essência ou substância,
aliás de todas as coisas que foram criadas na natureza" (De divis. nat., III, 19-21). Essa doutrina é freqüentemente
repetida na Idade Média: Deus é indicado como N., ou "N. do N.", ou "quintessência do N." Zohar, um dos livros da
Cabala (cf. SÉ-ROUYA, La Kabbale, Paris, 1957, p. 322); é chamado de "N. supra-ente" por Mestre Eckhart (op. cit.,
ed. Pfeiffer, p. 139) e de "N. eterno" por Bõhme (Mysterium magnum, I, 2). Em todas essas expressões, N. exprime a
negação total das formas de ser conhecidas, julgadas inadequadas à natureza de Deus.
O segundo uso do conceito de N. encontra-se nos neoplatônicos, com o objetivo de acentuar a diferença entre a
matéria e as coisas, entre o caráter informe de uma e as determinações das outras. Assim, para Plotino a matéria é o
não-ser porque desprovida de corpo-reidade, alma, inteligência, vida, forma, razão, limite, potência, que são todos os
caracteres do ser. Segundo Plotino, "é preciso dizer que ela é não-ser, mas não no sentido em que o movimento não é
repouso ou ao contrário, mas que é realmente o não-ser, imagem ou fantasma da massa corpórea e aspiração à
existência" (Enn., III, 6, 7). A matéria é caracterizada desse mesmo modo por S. Agostinho: "Se se pudesse dizer que
o N. é e não é alguma coisa, diria que isso é a matéria" (Conf, XII, 6, 2).
O terceiro uso encontra-se na filosofia moderna e visa a resolver o ser no devir ou a possibilidade em
impossibilidade. O primeiro objetivo é buscado pela concepção do N. sustentada por Hegel. Este observa
corretamente que o velho ditado Ex nihilo nihilfit nada mais exprime que a negação do devir; contra essa negação,
afirma a indissolubilidade e a conversibilidade recíproca do ser e do N. E disse: "Do ser e do N. cumpre dizer que em
nenhum lugar, nem no céu nem na terra, existe alguma coisa que não contenha em si tanto o ser quanto o N. Sem
dúvida, quando se fala de certo algo e de algo de real, essas determinações não se encontram mais em sua completa
verdade, em que estão como ser e como N., mas encontram-se numa outra determinação e são entendidas, p. ex.,
como positivo e negativo... Mas o positivo contém o ser, e o negativo contém o N., como base abstrata. Assim,
mesmo em Deus a qualidade (atividade, criação, potência, etc.) contém essencialmente a determinação do
negativo; essas qualidades consistem na produção de um outro" (Wissenschaft der Logik, I, seç. 1, cap. 1, C, nota I,
cf. Ene, § 87). A característica desse tipo de doutrina é a tese de que o N. é o fundamento da negação, e não a negação
do N. Isso é expresso por Hegel no trecho citado, quando ele diz que o positivo e o negativo contêm o N. como base
abstrata. Na filosofia contemporânea a mesma tese é explicitamente apresentada por Heidegger: "É o N. a origem da
negação, e não vice-versa" (Was istMetaphysik?, 1949, 5a ed., p. 33). Desse ponto de vista, o N. é "a negação radical
da totalidade do existente" (Ibid., 1949, 5a ed., p. 27), é N. absoluto. Mas, ao mesmo tempo, constitui o fundamento
do ser, mais precisamente do ser do homem, porquanto esse ser é instável (binfàllig). A instabilidade do ser do
homem é vivida na situação emotiva da angústia. "O existente não é destruído pela angústia de tal modo que fique,
assim, o N. E como poderia ser diferente, visto que a angústia se encontra na mais completa impotência perante o
existente em sua totalidade? Na realidade, o N. revela-se propriamente com e no existente, na medida em que este nos
escapa e se dissipa em sua totalidade" (Ibid., 1949, 5a ed., p. 31). Isso significa que o N. é vivido pelo homem na
medida em que o ser do homem (a existência) não é e não pode ser todo o ser: o ser do homem consiste em não ser o
ser em sua totalidade, que é o N. do ser. Por isso, Heidegger diz que o N. é a própria anulação ("É precisamente o
próprio N. que anula"; Ibid., 5a ed., 1949, p. 31), e que ele é "a condição que possibilita, em nosso ser-aí (Daseiri), a
revelação do existente como tal" (Ibid., 5a ed., 1949, p. 32). O problema e a procura do ser nascem do fato de o
homem não ser todo o ser, de que seu ser é o N. da totalidade do ser. Sartre substitui a noção de existência pela de
consciência, mas continua a interpretá-la como ser do homem, que é o N. do ser; termina assim por repetir os
conceitos de Heidegger. Sartre diz: "O N. não é, o N. foi; o N. não se nadifica, o N. foi nadificado. Portanto, deve
existir um ser — que não poderia ser o em-si — cuja propriedade é anular o N., regê-lo com seu ser, sustentá-lo
perpetua-mente com sua própria existência: um ser graças ao qual o N. chega às coisas" (Vêtre et le néant, p. 58).
Esse ser é a consciência, que, sendo constituída por possibilidades, está sempre aberta para o N. "Sempre fica aberta a
possibilidade de que ele se revele como N.
NADA
697
NÃO
Mas, pelo simples fato de se aventar que um existente possa resolver-se como N., toda pergunta supõe que se realize
um recuo nadifi-cador em relação ao dado, que se torna simples apresentação, oscilando entre o ser e o N." (Ibid., p.
59). Desse modo, o homem tem a possibilidade de circunscrever "um N. que o ; isole", de colocar-se fora do ser, para
questioná-lo e subtrair-se à sua totalidade. Está claro o que estas especulações sobre o N. pretendem sugerir: o ser do
homem, constituído por possibilidades que, como tais, podem não se realizar e que em todo caso excluem o ser
completo ou total, e manifestando-se portanto de modo eminente na dúvida, no problema, na projeção, etc, é o N. do
tudo do ser. Trata-se de especulações que querem definir o finito (a limitação própria da existência humana)
utilizando dois infinitos: o tudo e o N.
2a A segunda concepção fundamental do N., cujos fundamentos estão em Platão, considera o N. como alteridade ou
negação. Segundo essa concepção, não há "N. absoluto", aquilo que, na terminologia kantiana, é a negação de todo
objeto. Nesta terminologia o N. é apenas privação de alguma coisa: como a sombra ou o frio inihilprivativurrí), como
um ente imaginário (ens imaginariutri) ou como o objeto de um conceito que se contradiz (nihil nega-tivurri) (Crít.
R. Pura, Anal. dos princ, Nota às anfibolias dos conceitos da reflexão). Desse ponto de vista o N. é um objeto (no
sentido mais geral da palavra) e dele existe uma noção, ao contrário do que pensava Wolff quando definia o N. como
"aquilo a que não corresponde noção alguma" (Ont, § 57). Nesse sentido o velho Fredegiso de Tours (séc. IX) tinha
razão ao afirmar que o N. é alguma coisa, porque "se alguém disser que lhe parece não ser N., essa mesma negação
levá-lo-á a reconhecer que o N. é alguma coisa, uma vez que que dizer 'Parece-me que o N. é N.' eqüivale a dizer
'Parece-me que é alguma coisa' " (De nihilo et tenebris, em P. L., 105, col. 751). Isso significa que, uma vez que se
fale em N., mesmo para dizer que é N., o N. é algo de que se fala, ou seja, um objeto em geral. Considerações desse
gênero podem parecer puramente dialéticas, mas continuam tendo valor mesmo na lógica contemporânea (cf.
GEYMONAT, Saggi difilosofia neorazionalistica, Torino, 1953, pp-101 ss.). Contudo, esse conceito de N. não teve
muita acolhida por parte dos filósofos, por razões compreensíveis: não se presta a uso teológico
ou metafísico. A melhor ilustração disso na filosofia contemporânea encontra-se em Bergson: "A idéia de abolição ou
de N. parcial forma-se durante a substituição de uma coisa por outra, a partir do momento em que tal substituição é
pensada por um espírito que preferiria manter a coisa antiga no lugar da nova ou que pelo menos concebe essa
preferência como possível. Do lado subjetivo, implica uma preferência; do lado objetivo, uma substituição; não passa
de uma combinação ou, antes, de uma interferência entre o sentimento de preferência e essa idéia de substituição"
(Évol. créatr., 8- ed., 1911, pp. 305-06). Isso significa que se diz "não há N." quando não há a coisa que esperávamos
encontrar ou que poderia haver, e que a idéia do N. absoluto é uma "pseudo-idéia", tão absurda quanto a de um
círculo quadrado (Ibid., p. 307). Pode-se insistir um pouco menos no aspecto subjetivo desse conceito de N. e mais no
aspecto objetivo; pode-se dizer, p. ex., que o N. exprime a negação ou a ausência de uma possibilidade determinada
ou de um grupo de possibilidades, sem recorrer à noção de preferência ou de substituição; mas a análise de Bergson
continua substancialmente correta, tanto em sua tese positiva quanto na negativa. Ademais, está em conformidade
com o conceito dos lógicos contemporâneos sobre a negação; p. ex., com o que Carnap expôs numa crítica ao
conceito do N. de Heidegger, que se tornou famosa: para ele, nesse conceito estão resumidos todos os vícios da
metafísica. Carnap afirmou então que a única noção de N. logicamente correta é a negação de uma possibilidade
determinada; portanto, dizer "Não há N. lá fora" significa "Não há alguma coisa que esteja fora", "~ (E x) x está fora"
("Überwindung der Metaphysik", em Erkenntnis, II, 1931, pp- 229 ss.). E como a negação de que alguma coisa está
lá fora implica que alguma coisa poderia estar lá fora, nesse sentido a negação é a exclusão de uma possibilidade
determinada.
NÃO (ai. Nichi). Segundo Heidegger, o N. exprime a limitação fundamental da existência, visto que "o ser-aí, sendo
como poder-ser, está sempre em uma ou em outra possibilidade, mas continuamente N. é uma ou outra porque, no
projeto existenciário, recusa uma ou outra" (Sein und Zeit, § 58). O N. exprime assim a exclusão das possibilidades
sempre implícita nas escolhas das que o ser-aí (que é o homem) inclui em seu projeto. Nesse sentido, Heidegger fala
do N. como culpa fundamental da existência:
NAO-EU
698
NATUREZA
"A idéia formal existencial do culpado deve, portanto, ser assim definida: ser fundamento de um ser que é
determinado por um N., ou seja, ser fundamento de uma nulidade" (Md).
NÃO-EU (in. Non-ega, fr. Non moi; ai. Nicht ich; it. Non iò). Por este termo Fichte indicava o mundo da natureza e
em geral o mundo objetivo, na medida em que é posto pelo Eu mas oposto ao próprio Eu. "Nada há que seja posto
originariamente, exceto o Eu; e só ele é posto absolutamente. Por isso, só se pode ter oposição absoluta pondo-se algo
de oposto ao Eu. Mas o oposto ao Eu é = Não-Eu" (Wissens-chaftslehre, 1794, § 2. 9).
NARCISISMO (in. Narcissism; fr. Narcisis-me, ai. Narzissismus-, it. Narcisismó). 1. Segundo Plotino, o mito de
Narciso representa a situação do homem que, não sabendo que a beleza está dentro dele, procura-a nas coisas
externas, nas quais tenta em vão abraçá-la (Enn., I, 6, 8; V, 8, 2). Essa interpretação ganha destaque sobre o pano de
fundo da preocupação fundamental de Plotino, que é a da busca interior, ou da interioridade de consciência (v.).
Algumas vezes, o significado desse mito foi invertido por autores modernos: o narcisismó não representaria a
inutilidade da tentativa de buscar no exterior o que é interior, mas o autêntico destino do homem, que é projetar-se
para fora de si e amar como tal o que está dentro dele (cf. LAVEIXE, L 'erreurdeNarcisse, 1939).
2. Uma forma ou modo da sexualidade, segundo a psicanálise, mais precisamente aquela em que a libido (v.)
reinveste o Ego desinvestindo o objeto, de tal modo que o Ego "se comporta em relação aos investimentos objetais
como o corpo de um animalzinho protoplasmático que ele emitiu" (FREUD, Introdução ao narcisismó, 1914).
NATIVISMO. V. INATISMO.
NATURAL (gr. (pTjotKÓÇ; lat. Naturalís; in. Natural; fr. Naturel; ai. Natürlich; it. Naturalé). Os usos deste
adjetivo correspondem aos usos fundamentais do termo natureza.
1. Correspondendo ao primeiro significado, N. pode ser: o que é produzido pelo princípio do movimento, ou o que se
produz por si, espontaneamente. Neste sentido, falou-se de "direito N.", que consiste em conformar-se à ordem
espontânea da natureza; ou de "religião N.", que é revelada pela natureza ou através da
natureza, ou seja, através da razão ou do coração do homem.
2. Correspondendo ao segundo significado de natureza, chama-se de N. o que se inclui na ordem necessária da
natureza, distinguindo-se da ordem sobrenatural, desejada ou estabelecida diretamente por Deus.
No âmbito de ambos os significados, N. contrapõe-se também a artificial, por ser aquilo que é produzido pela
causalidade da natureza, fora do arbítrio humano.
3. Em correspondência com o terceiro significado de natureza, fala-se, p. ex., de "coisas N." para dizer "coisas
externas", e de "causalidade N." para dizer "causalidade externa".
4. Hoje em dia, a denominação "ciências" N." leva em conta o 4 Q significado de natureza (v.).
NATURALISMO (in. Naturalism; fr. Na-turalisme, ai. Naturalismus; it. Naturalismo). Esse termo tem três
significados diferentes:
Ia Doutrina para a qual os poderes naturais da razão são mais eficazes que os produzidos ou promovidos pela filosofia
no homem. Nesse sentido, Kant dizia: "O naturalista da razão pura admite, por princípio, que através da razão
comum, sem ciência (que ele chama de 'razão sã'), pode-se concluir mais sobre as questões superiores da metafísica,
do que por meio da especulação. Afirma, pois, que o tamanho e a distância da lua podem ser determinados com mais
segurança a olho nu que por meio da matemática" (Crít. R. Pura, Doutrina do método, cap. IV).
2S Doutrina segundo a qual nada existe fora da natureza e Deus é apenas o princípio de movimento das coisas
naturais. Nesse sentido, que é o mais difundido na terminologia contemporânea, fala-se do "N do Renascimento", do
"N antigo", do "N materialista", etc.
3S Negação de qualquer distinção entre natureza e supranatureza e tese de que o homem pode e deve ser
compreendido, em todas as suas manifestações, mesmo nas consideradas superiores (direito, moral, religião, etc),
apenas em relação com as coisas e os seres do mundo natural, com base nos mesmos conceitos que as ciências
utilizam para explicá-los. É esse o sentido atribuído ao termo N. por muitos filósofos americanos (Santayana, Woodbridge, Cohen) e pelo próprio Dewey (Experien-ce and Nature, cap. III, e passim).
NATUREZA (gr. (púciç; lat. Natura; in. Nature, fr. Nature, ai. Natur, it. Natura). Para defi-
NATUREZA
699
NATUREZA
nir este termo, lançou-se mão de uma série de conceitos, entre os quais há alguns pontos em comum. Os principais
são os seguintes: lfi princípio do movimento ou substância; 2e ordem necessária ou conexão causai; 3Q exterioridade,
contraposta à interioridade da consciência; 4S campo de encontro ou de unificação de certas técnicas de investigação.
ls A interpretação da N. como princípio de vida e de movimento de todas as coisas existentes é a mais antiga e
venerável, tendo condicionado o uso corrente do termo. "Permitir a ação da N.", "Entregar-se à N.", "Seguir a N.", e
assim por diante, são expressões sugeridas pelo conceito de que a N. é um princípio de vida que cuida bem dos seres
em que se manifesta. Foi nesse sentido que Aristóteles definiu explicitamente a N.: "A N. é o princípio e a causa do
movimento e do repouso da coisa à qual ela inere primariamente e por si, e não por acidente" {Fís., II, 1, 192 b 20).
Como explica o próprio Aristóteles, a exclusão da acidentalida-de serve para distinguir a obra da N. da obra do
homem. A. N. também pode ser matéria, a admitir-se, como faziam os pré-socráticos, que a matéria tem em si própria
um princípio de movimento e de mutação; mas é realmente esse mesmo princípio, portanto a forma ou a substância
em virtude da qual a coisa se desenvolve e torna-se o que é {Fís., II, 1, 193 a 28 ss.). Por esse motivo a N. assume o
significado de forma, substância ou essência necessária: uma coisa possui sua N. quando alcançou sua forma, quando
é perfeita em sua substância. Em conclusão, segundo Aristóteles, a melhor definição da N. é a seguinte: "A substância
das coisas que têm o princípio do movimento em si próprias": nesta definição podem ser incluídos todos os
significados do termo {Met., V, 4,1015 a 13). Nesse sentido, a N. é não somente causa, mas causa final {Fís., II, 8,199
b 32). A tese do finalismo da N. costuma estar ligada a esse conceito da N.
Tal conceito, que é a síntese dos dois conceitos fundamentais da metafísica aristotélica (substância e causa), dominou
por muito tempo a especulação ocidental e nunca foi completamente obliterado por conceitos diferentes e
concorrentes. Por sua causalidade, a N. é o próprio poder criador de Deus: é N. naturante. Mas como tal causalidade
é inerente às coisas que produz, a N. é a própria totalidade dessas coisas, é N. naturada. Essa distinção, que se
encontra em Scotus Erigena, mas sem os termos
relativos {De divis. nat., III, 1), foi introduzida na escolástica latina por Averróis {De coei., I, 1), sendo amplamente
aceita (cf. S. TOMÁS DE AQUINO, S. Th., II. 1, q. 85, a. 6). Spinoza nada mais fez que reexpô-la quase nos mesmos
termos {Et., I, 29, schol.). A essa distinção, mais precisamente ao conceito de N. naturada, liga-se o outro significado
subordinado, de N. como universo ou conjunto das coisas naturais: conceito que coexiste com o de N. como princípio
de movimento, por ser seu resultado, e — como veremos — com o de N. como ordem, por designar, neste segundo
caso, a N. "material" {materialiter spectatá).
A exaltação especulativa da N. por parte do naturalismo renascentista recorre ao conceito de N. criadora ou universal.
Nicolau de Cusa dizia: "É o Espírito difuso e contraído por todo o universo e por cada uma de suas partes que se
chama de N. Portanto, de algum modo a N. é a reunião {complicatió) de todas as coisas geradas através do
movimento" {Dedocta ignor., II, 10). E Giordano Bruno afirmava: "A N. ou é Deus mesmo, ou a virtude divina que
se manifesta nas coisas" {Summa terminorum, em Op. latine, IV, 101). No mesmo sentido Spinoza identificava a N.
com Deus {Et., I, 29, schol.). Esse conceito da N. atravessou o séc. XVIII e foi reafirmado por Wolff {Cosm., §§ 503506) e por Baumgarten {Met., § 430). Quando, naquele mesmo século, começou-se a contrapor a N. ao homem e a
proclamar-se a "volta à N.", a N. à qual se recorreu continuava sendo a do antigo conceito aristotélico: princípio
diretivo inato no homem sob forma de instinto; tal foi o conceito de Rousseau {De 1'inégalitéparmi les hommes. I).
Essa noção já entrou no patrimônio das crenças comuns de nosso mundo, e por isso está presente, mesmo sem se
fazer notar, nas mais elaboradas concepções filosóficas.
Como se viu, compreende três conceitos coordenados ou eqüipolentes: a) a N. como causa (eficiente e final); b) a N.
como substância ou essência necessária; c) a N. como totalidade das coisas.
22 A segunda concepção fundamental de N. considera-a como ordem e necessidade. A origem dessa concepção está
nos estóicos, para os quais "a N. é a disposição a mover-se por si segundo as razões seminais, disposição que leva a
cabo e mantém unidas todas as coisas que dela nascem em tempos determinados e coincide com as próprias coisas
das quais se distingue" (DIÓG. L., VII, 1, 148). Nesta defini-
NATUREZA
700
NATUREZA
ção é acentuada a regularidade e a ordem do devir à qual a N. preside. A este conceito de N. está ligada a noção de lei
natural, que, da Antigüidade ao séc. XIX, teve grande importância na moral e no direito (v.). De fato, a lei natural é a
regra de comportamento que a ordem do mundo exige que seja respeitada pelos seres vivos, regra cuja realização,
segundo os estói-cos, era confiada ao instinto (nos animais) ou à razão (no homem) (DIÓG. L., VII, I, 85). O
aristotelismo do Renascimento retoma o conceito de N. como ordem. Em De fato (séc. XVI), Pietro Pomponazzi
defendia explicitamente o fado estóico, que é a necessidade absoluta da ordem cósmica estabelecida por Deus. E o
pensamento que fundamenta as primeiras manifestações da ciência moderna, na obra de Leonardo, Copérnico, Kepler
e Galilei, é o de ordem necessária e de caráter matemático, que a ciência deve descobrir e descrever. Segundo
Leonardo da Vinci: "A necessidade é tema e inven-tora da N., freio e regra eterna" {Works, ed. Richter, nQ 1135).
Para Galilei, a N. é a ordem do universo, ordem única que nunca foi nem será diferente (Op., VII, p. 700). A
insistência na N. como ordem e necessidade é acompanhada pela negação do finalismo da N., característico da
primeira concepção (v. FINALISMO). Esse conceito da N. permaneceu como fundamento da ciência moderna em todo
seu período clássico. "A N. é bastante conso-nante e concordante consigo mesma", dizia Newton {Optiks, 1704, III, 1,
q. 31), mas foi Boyle quem teve as idéias mais claras sobre isso, afirmando explicitamente: "A N. não deve ser
considerada como um agente distinto e separado, mas como uma regra, ou antes como um sistema de regras, segundo
as quais os agentes naturais e os corpos sobre os quais eles agem são determinados pelo Grande Autor das coisas a
agir e sofrer ação." Foi esta a concepção da N. aceita por Kant. "Pela expressão 'N.' (em sentido empírico)
entendemos a conexão dos fenômenos para sua existência segundo regras necessárias ou leis. Existem, portanto,
certas leis apriori que tornam possível uma N.; as leis empíricas podem estar presentes e ser descobertas apenas
através da experiência, portanto depois das leis originárias graças às quais começa a ser possível a própria
experiência" {Crít. R. Pura, Anal. dos princ, cap II, seç. 3, Terceira analogia). Em outro lugar Kant distingue a N.
materialiter spectata da N. for-maliter spectata: a primeira seria "o conjunto
de todos os fenômenos"; a segunda seria "a regularidade dos fenômenos no espaço e no tempo" {Ibid., § 26). Mas a
primeira nada mais é que o material a que se aplica a segunda, e o conceito da N. continua sendo o de regularidade
devida a leis {Prol, § 14). Esta doutrina foi repetida numerosas vezes na filosofia moderna e contemporânea. Entre os
últimos que a repetem pode-se lembrar Whitehead, para quem N. é "um complexo de entes em relação", em que a
ênfase é posta na relação, atribuindo-se à filosofia natural a tarefa de "estudar como se interligam os vários elementos
da N. {The Concept ofNature, 1920, caps. I-II; trad. it., pp. 13, 28). 3a Para a terceira concepção, N. é a manifestação
do espírito, ou um espírito diminuído ou imperfeito, que se tornou "exterior", "acidental" ou "mecânico", ou seja, foi
degradado de seus verdadeiros caracteres. Essa concepção encontra-se claramente expressa em Plotino: "A sabedoria
é o primeiro termo; a N. é o último. A N. é a imagem da sabedoria e é a última parte da alma; como tal, só tem em si
os últimos reflexos da razão. (...) A inteligência tem em si tudo; a alma do universo recebe as coisas eternamente,
sendo a vida a eterna manifestação do intelecto, mas a N. é o reflexo da alma na matéria. A realidade termina nela, ou
até antes dela, pois ela é o termo do mundo inteligível; além dela, só há imitações" {Enn., IV, 4, 13). O conceito de N.
como manifestação, no sentido de "exteriorização", com tudo o que a exteriorida-de tem de diminuído ou degradado
em relação à interioridade e à consciência, foi compartilhado (e continua sendo) por todas as metafísicas
espiritualistas. É retomado pela teosofia renascentista e encontra-se, p. ex., emjakob Bõhme {De signatura rerum,
IX). Mas foi o romantismo que o amplificou e difundiu. Novalis dizia: "O que é a N. senão o índice enciclopédico
sistemático ou o plano de nosso espírito?" {Fragmente, nQ 1384). Foi Hegel quem expressou do modo mais rigoroso
e completo esse conceito: "A N. é a idéia na forma de ser outro", isto é, da "exterioridade" {Ene, § 247). Como tal,
não mostra, em sua existência, liberdade alguma, mas apenas necessidade e acidentalidade. Portanto, "na N., não só a
inter-relaçâo das formas está à mercê de uma acidentalidade desregrada e desenfreada, como também nenhuma forma
tem, por si, o conceito de si mesma". Hegel reconhece que a N. está sujeita a "leis eternas", mas isso não a salva: a N.
é pior que o mal. "Quando a acidentalidade
NATUREZA
701
NATUREZA, ESTADO DE
espiritual, o arbítrio, chega ao mal, até o mal é algo infinitamente superior aos movimentos dos astros e à inocência
das plantas; porque quem assim erra, ainda é espírito, apesar de tudo" (Jbid., § 248). É bem verdade que nem toda a
filosofia romântica compartilhou a condenação hegeliana da N. Schelling exaltou a N., considerando-a como parte ou
elemento da vida divina. Numa obra de 1806, censurava Fichte por encarar a N. ora com um asce-tismo grosseiro e
insensato, considerando-a puro nada, ora de um ponto de vista puramente mecânico e utilitarista, considerando-a um
instrumento de que o Eu Absoluto lança mão para realizar-se ( Werke, I, VII, pp. 94,103)-Na realidade, ao considerar
a N. como manifestação do Absoluto, Schelling não insistia tanto na inferioridade da manifestação em relação ao
Princípio que se manifesta, mas sobretudo na estreita relação entre os dois. Esta é a outra alternativa oferecida pela
concepção da N. de que tratamos. Por um lado pode-se insistir nos aspectos que distinguem a N. do espírito e que, de
algum modo, os contrapõem, quais sejam, exterioridade, acidentalidade e mecanismo, mas, por outro lado, pode-se
também ressaltar que a N., como manifestação do espírito, tem em comum com ele seus caracteres substanciais. Foi o
que fez Schelling, mas a primeira alternativa costuma prevalecer. O espiritualis-mo francês do séc. XIX compartilhou
quase unanimemente a tese expressa por Ravaisson no fim de Rapport sur Ia philosophie en France au XIX"™ siècle
(1868)": a N. é a degradação, em mecanicismo e necessidade, de um Princípio Espiritual que é espontaneidade e
liberdade. Essa concepção também prevaleceu no espi-ritualismo do séc. XX graças a Bergson. A N., como
exterioridade ou espacialidade, é uma degradação do espírito. É assim que Bergson expõe o projeto de uma teoria do
conhecimento da N.: "Seria preciso, com um esforço sui generis do espírito, seguir a progressão, ou melhor, a
regressão do extra-espacial que se degrada em espacialidade. Se nos situarmos primeiramente no ponto mais alto de
nossa própria consciência para em seguida deixarmo-nos cair pouco a pouco, teremos a sensação de que nosso eu se
estende em recordações inertes, exteriorizadas umas em relação às outras, em vez de propender a um querer
indivisível e agente. Mas isso é apenas o início, etc. (Évol. créatr, 11a ed., 1911, p. 226). O mesmo sentido de
degradação é atribuído à N. na filosofia
de Gentile, para quem ela é o "passado do espírito", sendo, pois, um limite abstrato que o espírito recompreende em si
e "domina" {Teoria generale dello spirito, XVI, 18).
4S A quarta concepção de N. pode ser discernida de modo implícito ou na forma de pressuposto na prática efetiva da
pesquisa científica e em algumas análises da metodologia científica contemporânea. Para esta, a N. é definida em
termos de campo (v.), mais precisamente o campo ao qual fazem referência e em que se encontram (ou algumas vezes
se desencontram) as técnicas perceptivas e de observação de que o homem dispõe: as primeiras não são menos
complexas que as segundas, apesar de se mostrarem como "naturais", ou seja, passíveis de serem postas em prática
sem o concurso de projetos deliberados. A arte faz constante referência às técnicas perceptivas, pois sempre oferece
alguma coisa a ser "vista" ou "sentida", mesmo quando pretende ser "abstrata" e prescindir das formas comumente
oferecidas pela percepção comum. A ciência natural faz referência às técnicas de observação, pois, mesmo iniciando
seu trabalho com a percepção, afasta-se desta rapidamente tanto no que se refere aos instrumentos de observação
quanto no que diz respeito aos objetos que consegue identificar (p. ex., "massa", energia", "elétrons", "fótons", etc),
alguns dos quais se comportam de modo muito diferente das "coisas" que são objeto da percepção comum. Hoje,
pode-se entender como N. o campo objetivo ao qual fazem referência os vários modos da percepção comum e os
vários modos da observação científica, do modo como esta é entendida e praticada nos vários ramos da ciência
natural. Nesse sentido a N. não se identifica com um princípio ou com uma aparência metafísica, nem com
determinado sistema de conexões necessárias, mas pode ser determinada, em cada fase do desenvolvimento cultural
da humanidade, como a esfera dos possíveis objetos de referência das técnicas de observação que a humanidade
possui. Trata-se, como é óbvio, de uma concepção não dogmática, mas funcional, pois ainda não foram feitas
indagações metodológicas suficientes para esclarecê-la-, contudo, afigura-se como uma exigência da atual fase da
metodologia científica.
NATUREZA, CIÊNCIAS DA. V. CIÊNCIAS, CLASSIFICAÇÃO DAS.
NATUREZA, ESTADO DE (in. State ofna-ture, fr. État de nature, ai. Naturzustand; it.
NATUREZA, ESTADO DE
702
NATUREZA, FILOSOFIA DA
Stato di naturd). Condição do homem, antes da constituição da sociedade civil, segundo a doutrina do contratualismo
(v.). Já em Platão, no III Livro de Leis, encontra-se a noção da condição em que os homens ficaram depois da
destruição de suas cidades por enormes catástrofes: "Esta é a condição dos homens depois da catástrofe: uma terrível
e ilimitada solidão, a terra imensa e abandonada; mortos quase todos os animais e os bovinos, sobrou apenas um
pequeno grupo de cabras, qual mísero resto, para que os pastores recomeçassem a vida" (Leis, III, 677 e). Esta não é a
descrição de uma condição idílica, assim como não foi idílica a condição que Hobbes atribuiu ao estado de N., a
guerra de todos contra todos: "Enquanto vivem sem um poder comum ao qual estejam sujeitos, os homens
encontram-se na condição que chamamos de guerra, e tal guerra é de um homem contra o outro" (Leviath., I, 13). Isto
acontece porque, sendo iguais por N., os homens também têm os mesmos desejos, e desejando as mesmas coisas
procuram preponderar uns sobre os outros (Lbid.). A fundação do Estado, de um poder soberano, é o único meio para
sair da condição de guerra, própria do estado de N.
Por outro lado, na Antigüidade, Sêneca exaltava o estado de N. como uma condição perfeita do gênero humano. Na
nonagésima Epístola a Lucílio, Sêneca descreve a idade de ouro, em que os homens eram inocentes, felizes e viviam
com simplicidade, sem buscar o supérfluo. Além disso, não tinham necessidade de governo e de leis porque
obedeciam aos mais sábios. Mas, em certo momento, o próprio progresso das artes levou à avidez e à corrupção,
contra as quais se tornou necessária a instituição do Estado. A exaltação do estado de N. tornou-se tema recorrente na
filosofia do séc. XVIII; sua expressão máxima está na obra de Rousseau. Opondo-se a Hobbes, Locke já havia
considerado o estado de N. como um estado de perfeição: é "um estado de perfeita liberdade, em que cada um
regulamenta suas próprias ações e dispõe de suas posses e de si mesmo como bem lhe aprouver, dentro dos limites da
lei da N., sem pedir permissão a ninguém, nem depender da vontade de ninguém" (Second Treatise on Governement,
II, 4). Mas foi Rousseau quem mais exaltou a perfeição do estado de N., argumentando que nessa condição o homem
obedece apenas ao instinto, que é infalível (De Vinégalitéparmi les hotnmes, I).
"Tudo que sai das mãos do Criador é perfeito, tudo degenera nas mãos do homem": era assim que Rousseau
começava o Emílio. No próprio Rousseau, porém, essa exaltação do estado de N. contrasta com o valor atribuído ao
estado civilizado, com base no contrato social; na realidade, em Rousseau a noção de estado de N. constitui o critério
ou a norma para julgar a sociedade presente e delinear um ideal de progresso. Após Rousseau, Kant entendia por
estado de N. "aquele em que não há justiça distributiva alguma" (Met. derSitten, I, § 41). E Hegel mostrava o
equívoco de se ter inventado o estado de N. como condição de fato na qual valesse o direito natural; isso por se
interpretar a expressão "direito natural" no sentido de direito existente na N., e não de direito determinado pela N. da
coisa (Ene, § 502). A partir de Hegel, a noção de estado de N. deixou de interessar aos filósofos, mas permaneceu
como noção à qual o homem comum recorre de bom grado, sendo também utilizada pelas doutrinas políticas
utopistas, que freqüentemente projetam o estado de N. como uma perfeição do futuro, e assim fazem também,
algumas vezes, as imaginações fantásticas da ficção científica.
NATUREZA, FILOSOFIA DA (in. Philo-sophy ofnature, fr. Philosophie de Ia nature, ai. Naturphilosophie, it.
Filosofia delia naturd). Esta expressão, diferente da tradicional "filosofia natural" que designa a física ou as ciências
naturais em geral, foi empregada pela primeira vez por Kant para designar uma disciplina nitidamente distinta da
ciência. Por filosofia da N. ou metafísica da N., Kant entendeu a disciplina que "abarca todos os princípios racionais
puros que derivem de conceitos simples (portanto com exclusão da matemática) do conhecimento teórico de todas as
coisas" (Crít. R. Pura, Doutr. transe, do método, cap. III). Assim entendida, a filosofia da N. é uma das duas partes
fundamentais da filosofia (a outra é a filosofia moral) e compreende apenas os princípios a priori nos quais se baseia
o conhecimento da N., que são os fundamentos da física e das outras ciências teóricas da N., mas não as leis, cuja
descoberta, na própria N., cabe à física (lbid., cf. Crít. do Juízo, Intr., I).
Depois de Kant a expressão filosofia da N. passou a designar uma disciplina que estuda a N., mas não como ciência.
Foi desse modo que Schelling interpretou a filosofia da N., dedicando-lhe a maior parte de sua atividade. Schelling
julgava que a ciência baseada na
NATUREZA, FILOSOFIA DA
703
NECESSÁRIO
investigação experimental nunca é realmente dência. De fato, a N. é a priori, no sentido de que suas manifestações
individuais são determinadas de antemão por sua totalidade, ou seja, pela idéia de uma N. em geral {Werke, I. EI, p.
279). Substancialmente, a tarefa da filosofia da N. é mostrar que a N. se resolve no espírito {System der
transzendentalen Idealismus, § 1), e esse objetivo permaneceu inalterado em todas as suas manifestações no séc.
XIX; nesse sentido, foi grande a influência de Hegel, que considerou a filosofia da N. como uma das três grandes
divisões da filosofia, sendo as outras duas a lógica e a filosofia do espírito. A lógica seria o sistema das
determinações puras do pensamento. A filosofia da N. e a filosofia do espírito seriam ambas uma lógica aplicada; à
filosofia da N. caberia a tarefa "de levar para a consciência as verdadeiras formas do conceito, imanentes nas coisas
naturais" {System der Phil., ed. Glockner, I, pp. 87-88). A filosofia da N., assim entendida, nada mais é que a
manipulação arbitrária de conceitos científicos, extraídos de seus contextos, com o fim de reduzi-los a determinações
racionais ou pseudo-racionais; continuou assim inclusive quando quis escapar à formulação idealista e foi tratada do
ponto de vista realista, como fez Nicolai Hartmann. A Filosofia, da natureza (1950), deste último, conserva a
pretensão de entrever ou reconhecer o valor "metafísico" ou "ontológico" dos resultados da ciência. Deveria ser tarefa
da filosofia da N. a análise categorial dos conceitos científicos. Hartmann afirma que "o pensamento matemático não
pode dizer o que são extensão, duração, força e massa. Neste ponto, insere-se a análise categorial: é com os
portadores ou substratos da quantidade que se ligam os problemas metafísicos de fundo da filosofia da N."
{Philosophie der Natur, p. 22).
Pode-se dizer que o último e mais restrito conceito de filosofia da N. foi apresentado pelos componentes do Círculo
de Viena, nos primórdios do empirismo lógico. M. Schlick considerava a filosofia da N. como a análise do
significado das proposições próprias das ciências naturais. "Desse ponto de vista" — dizia ele — "a filosofia da N.
não é uma ciência, mas uma atividade dirigida à consideração do significado das leis de N." {Philosophy of Na-ture,
trad. in., 1949, p. 3). Neste conceito há ainda alguns vestígios da filosofia como "visão do mundo" ou síntese dos
resultados mais gerais das ciências particulares. A metodologia
contemporânea, ao contrário, tem acentuado cada vez mais a ilegitimidade de extrair as proposições científicas de
seus contextos e de encontrar nelas significados que vão muito além do que o próprio contexto autoriza. Com essa
limitação metodológica, a tarefa da filosofia da N. é cortada pela raiz. E tudo aquilo que ela legitimamente
compreendia, que eram os problemas concernentes à linguagem científica em geral e às linguagens das ciências
individuais, as relações entre as ciências, o estudo comparativo de seus métodos, etc, hoje encontra lugar no seio da
metodologia das ciências.
NATURISMO (in. Naturism; fr. Naturisme, ai. Naturismus-, it. Naturismo). 1. Doutrina ou crença de que a natureza
é o guia infalível para a saúde física e mental do homem, e de que o homem deve "retornar" a ela em seus
comportamentos e costumes, afastando-se das criações artificiais e da sociedade. Essa doutrina fundamenta muitas
práticas e crenças populares do mundo contemporâneo, após ter sido doutrina filosófica no séc. XVIII (v. NATUREZA,
ESTADO DE).
2. Menos propriamente: culto religioso da natureza.
NÁUSEA (in. Náusea-, fr. Nausée, ai. Ekel; it. Náusea).Experiência emocional de gratuidade da existência, ou seja,
da perfeita equivalência das possibilidades existenciais. Essa noção foi introduzida na filosofia por Sartre e por ele
ilustrada principalmente no romance intitulado La nausée.
NAVALHA DE OCKHAM. V. ECONOMIA.
NECESSÁRIO (gr. òvaYKaíoç; lat. Necessa-rius; in. Necessary, fr. Nécessaire, ai. Notwendig; it. Necessário). O
que não pode não ser; ou o que não pode ser. Esta é a definição nominal tradicional que constitui uma das noções
mais uniforme e firmemente estabelecidas na tradição filosófica. Segundo essa definição, "o que não pode ser" é o
impossível, que é o contrário oposto de N., sendo também N., assim como o preto, que é a cor oposta do branco,
também é cor. O contraditório do N., o não-N., é a outra modalidade fundamental, o possível{\.). As discussões
lógicas contemporâneas sobre o N., quando não eqüivalem à negação expressa ou implícita dessa noção, nada mais
são que a reapresentação dessa definição em termos de convencionalismo moderno.
O primeiro a fazer uma análise exaustiva de "N." foi Aristóteles. Ele distinguiu: a) o N. como
NECESSÁRIO
704
NECESSÁRIO
condição ou concausa, em virtude do que se diz, p. ex., que o alimento é N. à vida ou o remédio é N. à saúde, ou que
ir a certo lugar é N. para receber certa quantia; ti) o N. como força ou coação, em virtude do que se diz que é N. o que
impede ou obsta à ação de um instinto ou uma escolha; c) o N. como o que não pode ser de outra forma, que é o
sentido fundamental do conceito. De fato, segundo Aristóteles, os outros sentidos podem ser reduzidos a esse: "Diz-se
que é N. aquilo a que somos coagidos quando uma força qualquer nos obriga a fazer ou a sofrer alguma coisa que é
contra o instinto, de tal modo que a necessidade consiste, neste caso, em não poder fazer ou sofrer de outra forma. O
mesmo vale para as condições da vida e do bem, pois quando o bem, a vida ou o ser não podem existir sem algumas
condições, estas são chamadas de necessárias e diz-se que a causa é a própria necessidade" (Met., V, 5, 1014 b 35).
No sentido fundamental, as demonstrações são necessárias porque não podem concluir de outra forma, e não podem
concluir de outra forma porque as premissas não podem ser diferentes do que são (Ibid., 1015 b 7). O significado à)
de N. é designado por Aristóteles como necessidade hipotética: é a necessidade que se encontra nas coisas naturais,
mais precisamente na matéria delas, porquanto constitui a condição delas (Fís., II, 9, 200 a 30); De somno, 455 b 26;
De pari. an., 639 b 24, 642 a 9). Já Platão havia admitido essa espécie de necessidade, julgando-a um dos
constituintes do mundo (juntamente com a inteligência) e identificando-a com a matéria (Tini., 47 d ss.). Finalmente,
Aristóteles distingue o que é N. em virtude de uma causa externa e aquilo que é por si próprio a causa da necessidade.
As coisas simples são necessárias neste segundo sentido e portanto o são de modo primário e eminente (Ibid., 1015 b
10). Mas o conceito da necessidade é sempre o mesmo.
Estas concepções quase não mudaram ao longo da história da filosofia. Os estóicos definiram a necessidade tendo em
mente enunciados verbais mais que condições de fato; por isso, chamaram de N. "aquilo que é verdadeiro e não pode
revelar-se falso" (DIÓG. L., VII, 1, 75), onde "não poder revelar-se falso" significa não poder ser diferente. Tampouco
as distinções estabelecidas por S. Tomás de Aquino mudam o conceito do N., conforme a divisão aristotélica das
quatro causas. S. Tomás de
Aquino enumera: a) necessidade material (ou ex principio intrínseco), no sentido em que se diz que "é N. que tudo o
que é composto por contrários se corrompa"; b) necessidade formal, que é natural e absoluta, segundo a qual se diz
que "é N. que um triângulo tenha os três ângulos iguais a dois retos"; c) necessidade final ou utilidade, segundo a
qual se diz que o alimento é N. à vida ou um cavalo é N. à viagem; d) necessidade eficiente, ou necessidade de
coação, segundo a qual somos coagidos por uma causa eficiente de tal modo que não se pode agir de outro modo. Em
todos os casos, para S. Tomás de Aquino N. é "aquilo que não pode não ser" (S. Th., I, q. 82, a. 1, I; De ver., q. 22, a.
5). Está claro que essa distinção reproduz a aristotélica. A necessidade material e a final são a necessidade hipotética
de Aristóteles; a necessidade por coação tem o mesmo nome em Aristóteles, e tanto para S. Tomás de Aquino quanto
para Aristóteles a necessidade "natural e absoluta" é o significado fundamental da necessidade. Essas distinções, às
vezes indicadas com outros nomes, não mudaram durante muito tempo na história da filosofia. Os escolásticos
repetem-nas sem alterações, assim como repetem, mesmo acreditando pouco, o significado fundamental de N. como
aquilo que não pode ser de outra forma (cf., p. ex., JOÃO DE SALISBURY, Metalogicus, II, 13). Avicena, a quem se deve
a prevalência do conceito de necessidade em metafísica e em teologia, tanto na escolástica árabe quanto na cristã,
partira da distinção aristotélica (Met., V, 5, 1015 b 10, já cit.) entre o que é N. para si e o que é N. para outra coisa
(Met., II, 1, 2): distinção que fundamenta a doutrina de Spinoza (Et., I, 33, schol. 1) e foi repetida inúmeras vezes a
partir daí.
As primeiras novidades conceptuais nessa história uniforme são a definição da necessidade lógica e a introdução do
conceito de necessidade moral por parte de Leibniz, que distinguiu: d) a necessidade geométrica, que pertence às
verdades eternas e "cujo oposto implica contradição"; b) a necessidade física, que constitui "a ordem da natureza e
consiste nas regras do movimento e em alguma outra lei geral que aprouve a Deus dar às coisas ao criá-las"; c) a
necessidade moral, que é "a escolha do sábio por ser digna de sua sabedoria", ou seja, a escolha do "melhor" (Théod.,
Disc, § 2). A necessidade física baseia-se na necessidade moral (foi Deus quem escolheu as leis da natureza que
constituem a necessidade física e sua
NECESSÁRIO
705
NECESSÁRIO
escolha foi ditada pelo fato de que eram as melhores possíveis); as necessidades física e moral são chamadas por
Leibniz de hipotéticas; segundo ele, estas nada têm a ver com a necessidade absoluta, que. é a impossibilidade do
con-trárío(Nouv. ess., II, 21,13). Leibniz utiliza essa distinção para defender a liberdade de Deus e a do homem, ao
mesmo tempo em que põe a salvo a infalibilidade da previsão divina: "A verdade de que amanhã escreverei não é
absolutamente necessária. Mas, supondo-se que Deus a preveja, é N. que ela se verifique, ou seja, é necessária a
conseqüência de que ela se realize desde que foi prevista, já que Deus é infalível: isso é o que se chama de
necessidade hipotética" (Théod., I, § 37; cf. Disc. de mét., 13). A diferença entre essa doutrina de Leibniz e a
tradicional é que esta última considerava uma espécie de necessidade, integrante do significado fundamental do
termo, aquilo que Leibniz considera como liberdade e escolha: a necessidade hipotética. Em outras palavras, Leibniz
restringiu o significado de necessidade ao que Aristóteles e a tradição aristotélica consideravam como necessidade
"primária", "absoluta" ou "natural", dando-lhe o nome de "geométrica" ou "metafísica". A definição leibniziana dessa
necessidade como "aquilo cujo oposto é impossível", ou "aquilo cujo oposto é contraditório", serve para limitar sua
extensão apenas às verdades matemáticas e a um restrito nú-mero de verdades metafísicas. Esse é o resultado
importante e duradouro da introdução do conceito de necessidade moral por parte de Leibniz. Quanto a esse conceito,
a partir do momento que exclui a necessidade e é a própria definição da determinação livre, pode-se objetar a
impropriedade do nome: ele não é "necessidade".
No entanto, foi como tipo ou espécie de necessidade que ingressou na filosofia do séc. XVIII, juntamente com a
distinção das formas do N. proposta por Leibniz. Wolff reela-borou esta distinção, distinguindo: a) o absolutamente
N., que é "aquilo cujo oposto é impossível ou implica contradição" (Ont., § 279); b) o hipoteticamente N., que é
"aquilo cujo oposto implica contradição ou é impossível só em dada hipótese ou em determinada condição" (Ont., §
302); c) o moralmente N., que é "aquilo cujo oposto é moralmente impossível" (Phil. pratica, I, § 115). A diferença
entre o absolutamente N. e o hipoteticamente N. é que o primeiro exclui a contingência e o segundo não (Ibid., §§
31718). Ao contrário de Leibniz, Wolff não reduz a necessidade hipotética à necessidade moral, ou seja, à liberdade, mas
identifica-a com a necessidade regida pelo princípio de razão suficiente, ou seja, com a causalidade (Ibid., §§ 320 ss.).
O próprio Wolff afirma que essa sua doutrina da necessidade é idêntica à tradicional, em particular à de S. Tomás de
Aquino (Ibid., § 327), com a definição do N. como aquilo que não pode ser de outra forma; e certamente o é, salvo no
que se refere ao reconhecimento da necessidade moral. Essa doutrina é simplesmente reproduzida por Kant, que
também faz a distinção entre "necessidade material na existência", que consiste na conexão causai, e necessidade
"formal e lógica na conexão dos conceitos" (Crít. R. Pura, Anal, II, cap. II, seção 3, Postulados do pensamento
empírico); distingue ainda dessas duas espécies de necessidade a "necessidade moral", como coação ou obrigação,
que é o dever (Crít. R. Prática, I, livro I, cap. III; trad. it., p. 96). A necessidade material é a necessidade real ou
hipotética. Kant diz: "Tudo o que acontece é hipoteticamente N.; esse é um princípio que subordina a transformação
no mundo a uma lei, a uma regra da existência necessária, sem a qual a natureza não existiria" (Crít. R. Pura, 1. c).
Na realidade, para Kant a conexão causai é "hipotética", porque a considera aberta nos dois lados e não acha legítimo
considerá-la fechada como totalidade ou série absoluta. Obviamente, se isso acontecesse, a necessidade hipotética
tomar-se-ia necessidade absoluta ou geométrica. Schopenhauer, por sua vez, achava que a necessidade não tinha
outro sentido além de "inevitabilidade do efeito quando a causa foi posta", considerando até contraditório falar de um
ser "absolutamente necessário", ou seja, "necessário sem condições" (Überdie vierfache Wurzel des Satzes vom
zureichenden Grande, § 49). Mas com o idealismo romântico, foi a necessidade absoluta que assumiu o papel mais
importante. Fichte afirmava: "Qualquer coisa realmente existe, existe por absoluta necessidade; e existe
necessariamente na forma precisa em que existe. É impossível que não exista ou que exista de outra forma"
(Grundzüge des gegenwãrtigen Zeitalters, 9). Absoluto também era o significado da necessidade que Hegel definia
como "unidade de possibilidade e realidade", definição que exprime a "presença da totalidade das condições" em cada
momento do real e portanto da plena e absoluta necessidade
NECESSÁRIO
706
NECESSÁRIO
do real. "Quando se têm todas as condições" — diz Hegel — "a coisa deve tornar-se real" {Ene, § 147). "O N. é
mediado por um círculo de circunstâncias: é assim porque as circunstâncias são assim, e ao mesmo tempo é assim
imediato, é assim porque é" ilbid., § 149). Desse modo a necessidade torna-se alma da realidade, dialética (v.) da
Razão Real ou da Realidade Racional. Essa extensão da necessidade ao infinito não renova, como é óbvio, as
características do conceito, que contínua sendo o mesmo definido por Aristóteles; assim como essas características
não são renovadas pelo uso contemporâneo desse conceito, que mais insiste na necessidade do real, em seus diversos
graus e formas: Nicolai Hartmann (cf. especialmente Mõg-lichkeit und Wirklichkeit, 1938) (v. POSSÍVEL).
Agora podemos lançar uma vista d'olhos na sorte que a filosofia contemporânea deu às três formas do N., comumente
admitidas a partir de Wolff, provando que esse conceito realmente não foi inovado.
Ia O moralmente N., o obrigatório ou o que é de dever, embora algumas vezes continue recebendo esse nome, não
pode ser incluído nas formas do N.;
2- O hipoteticamente N., identificando-se com o causai(v.) ou o condicional(v.), compartilha o destino desses
conceitos;
3a É ao absolutamente N., ao N. "geométrico" ou "lógico", que se faz mais freqüentemente referência no domínio do
saber filosófico e científico. Wittgenstein diz: "Existe apenas uma necessidade lógica, e assim existe apenas uma
impossibilidade lógica" (Tractacus, 6.375).
Quase todos os lógicos contemporâneos subscrevem, ou implicitamente admitem, essa tese de Wittgenstein. Não há
acordo entre eles, no entanto, quanto à definição de necessidade lógica. As principais doutrinas a respeito são: d)
doutrina da analiticidade, b) doutrina da regra; c) doutrina da imunidade, d) doutrina da qualidade.
d) A primeira é herdeira da definição leib-niziana da necessidade lógica como "impossibilidade do contrário". Peirce
dizia que lógica ou essencialmente'N. é aquilo que uma pessoa que não conhece os fatos, mas está perfeitamente a par
das regras do raciocínio e das palavras implícitas no raciocínio, sabe que é verdadeiro. Tal pessoa, p. ex., não sabe se
existe ou não um animal chamado basilisco ou se existem coisas como serpentes, galinhas e ovos, mas sabe que todo
basilisco nasceu de um ovo
de galinha chocado por uma serpente. "Isso é essencialmente N. porque é isso que a palavra basilisco significa" iColl.
Pap., 4.67). Lewis, por sua vez, disse que "uma asserção é logicamente necessária se, e somente se, o contraditório
dela é incompatível consigo mesmo" (Analysis of Knowledge and Valuation, 1946, p. 89), que nada mais é que uma
reformulação da definição de Leibniz. No mesmo sentido Strawson disse que "uma asserção é necessária quando é a
contraditória de uma asserção inconsistente" ilntr. to Logical Theory), 1952, p. 22). Carnap, observando que o
conceito de necessidade lógica é comumente entendido no sentido de que se aplica a uma proposição p "se e somente
se a verdade de p se baseia em razões puramente lógicas e não dependentes da contingência dos fatos, em outras
palavras, se a pressuposição de não-p conduz a uma contradição lógica, independentemente dos fatos", identificou a
necessidade lógica com a verdade lógica e definiu a verdade lógica, na esteira de Leibniz, como a verdade que é
válida em todos os mundos possíveis, ou, em sua terminologia, é válida em qualquer descrição de estado de um
sistema. Sua definição da descrição de estado esclarece esse conceito: "Uma classe de enunciados em SI que, para
cada enunciado atômico, contém esse enunciado ou sua negação mas não ambas as coisas, nem nenhum outro
enunciado, é chamado de descrição de estado em SI, porque ele obviamente dá a descrição completa de um possível
estado do universo dos indivíduos em relação a todas as propriedades e relações expressas pelos predicados do
sistema. Assim, as descrições de estado representam os mundos possíveis de Leibniz ou os possíveis estados de
coisas de Wittgenstein" {Meaning and Necessity, §§ 2 e 39). Essa é a expressão mais rigorosa que a tese da redução
da necessidade à analiticidade já teve. No entanto, não esteve imune a críticas (cf., p. ex., QUINE, From a
LogicalPoint ofView, II; A. PAP, Semantics and Necessary Truth, pp. 150 ss.).
b) A segunda interpretação da necessidade lógica reduz os enunciados à aplicação da necessidade a simples regras:
regras de transformação ou, mais simplesmente, regras lingüísticas. A doutrina segundo a qual as "verdades
necessárias" da matemática (p. ex., a famosa proposição de que falava Kant, "7 + 5 = 12") nada mais são do que
regras de transformação, regras que permitem inferir uma fórmula de
NECESSÁRIO
707
NECESSIDADE
outra, permitindo, portanto, a possibilidade de substituições recíprocas das fórmulas, já foi exposta pelo Círculo de
Viena, especialmente por Schlick, e reaparece freqüentemente na literatura contemporânea (cf., p. ex., K. BRITTON,
em Proceedings of the Aristotelian Society, 21s, 1947). Aliás, como também reaparece a doutrina segundo a qual as
proposições analíticas (ou tautologias) que constituem as "verdades necessárias" da lógica nada mais são que regras
lingüísticas ou, mais precisamente, regras semânticas. De fato o enunciado "todos os solteiros são não casados" pode
ser interpretado como uma regra para o uso da palavra "solteiro", regra extraída do uso. A objeção algumas vezes
formulada contra essas doutrinas, de que elas privariam a verdade N. do nível de "proposição" porque uma
proposição é sempre verdadeira ou falsa, enquanto uma regra, ao contrário, é sobretudo útil, conveniente, correta, etc.
(cf., p. ex., PAP, op. cit., pp. 179 ss.), não é muito concludente, porque demonstra apenas a incompatibilidade entre
essa interpretação de verdade N. e o conceito tradicional de proposição.
c) A terceira interpretação da necessidade lógica é a dada por Quine, segundo quem ela seria a imunidade concedida
a certas proposições em matemática e lógica, porquanto, em vista do caráter central que ocupam no sistema, sua
revisão perturbaria enormemente esse sistema, cujas características fundamentais tendemos a conservar na medida do
possível. Desse ponto de vista, N. não significaria "aquilo que não pode ser de outra maneira", mas sim "aquilo sem o
que não se quer passar", não porque seja impossível passar sem ele, mas porque assim é preferível. Esta interpretação
baseia-se na rejeição da distinção entre verdades analíticas (ou de razão) e verdades sintéticas (ou de fato), nas quais
se baseiam as interpretações estudadas em a) (QUINE, Methods of Logic, p. XIII; From a Logical Point o/View, II e
VIII). Essa interpretação obviamente eqüivale à eliminação do próprio conceito de necessidade.
d) A quarta interpretação considera a necessidade como uma propriedade intrínseca das proposições, consideradas
como objetos, no sentido de Carnap: precisamente uma propriedade que as proposições possuem antes da formulação
das convenções lingüísticas. Desse ponto de vista, "explicar a necessidade dos princípios tradicionais da inferência
dedutiva em termos de convenções lingüísticas significa
pôr o carro à frente dos bois". Esta é a tese de A. PAP (Semantics andNecessary Truth, espec. cap. 7; cf. também
"Necessary Propositions and Linguistics Rules", em Archivio difilosofia, 1955, pp. 63-105). Segundo essa doutrina, a
necessidade lógica não se distingue de uma quali-tas occulta.
Dessas quatro interpretações, a única que não eqüivale à negação da necessidade é a primeira, que a identifica com
analiticidade ou tautologicidade. Trata-se de uma interpretação intimamente ligada ao conceito que Wittgen-stein
expôs sobre a tautologia: "Entre os possíveis grupos de condições de verdade dão-se dois casos extremos: em um, a
proposição é verdadeira para todas as possibilidades de verdade das proposições elementares, e nesse caso dizemos
que as condições de verdade são tautológicas; no outro, a proposição é falsa para todas as possibilidades de verdade.
as condições de verdade são contraditórias" (Tractatus, 4. 46). Por conseqüência, "a tautologia não tem condição de
verdade porque é incondicionalmente verdadeira, e a contradição a nenhuma condição é verdadeira" (Ibid., 4.461).
Isso eqüivale a dizer que uma afirmação incondicionalmente verdadeira, ou seja, uma tautologia, uma proposição N.,
como se queira chamá-la, é aquela que esgota todas as gamas de possibilidades. Este também é o significado da
doutrina de Carnap sobre a verdade lógica como "descrição de estado", ou seja, como verdade válida para todos os
mundos possíveis ou para todos os possíveis estados de coisas. Desse ponto de vista, há necessidade sempre que é
possível enumerar todas as possibilidades, e necessidade eqüivale, praticamente, a onipossibilidade. Não se trata de
doutrina recente. No séc. XIV, Ockham só considerava N. as proposições condicionais ou equivalentes ou as que
tratam do possível, como, p. ex., "Se existe homem, o homem é animal racional", ou "Todo homem pode ser animal
racional" (Quodl., V, q. 15). Como apenas convenções lingüísticas de outra natureza podem limitar convenientemente
a gama de possibilidades a que uma proposição faz referência, está claro que esse conceito de necessidade é
inteiramente reduzível a convenção. NECESSIDADE (gr. xpeía ou àváyKT|; lat. Necessitas, in. Need; fr. Besoin; ai.
Bedürfniss-, it. Bisognó). Em geral, dependência do ser vivo em relação a outras coisas ou seres, no que diz respeito à
vida ou a quaisquer interesses. Nesse
NECESSIDADE
708
NECESSIDADE
sentido, fala-se de "N. materiais", "N. físicas", "N. espirituais", "N. de disciplina", "N. de "regras", "N. de liberdade",
"N. de afeto", "N. de felicidade", "N. de ajuda", "N. de comunicação", etc. Qualquer tipo ou forma possível de relação
entre o homem e as coisas, ou entre o homem e os outros homens, pode ser considerado sob o aspecto da N.,
implicando que o ser humano depende dessas relações. Na história da filosofia, a noção de N., nesse sentido (v.
NECESSÁRIO), foi tratada sob duas perspectivas: ls) mais freqüentemente do ponto de vista moral, ou seja, como
atitude a tomar diante das N., se de limitação ou de incentivo, ou de que modo e em que grau limitá-las; 2Q) com
menos freqüência, do ponto de vista da importância e do significado que a N. tem em relação ao modo de ser do
homem, da possibilidade que ela representa para ele compreender e descrever sua existência. O problema da
disciplina das N., ou seja, da sua limitação qualitativa e quantitativa, é o problema da virtude, em especial da virtude
ética, e seus desdobramentos históricos devem ser vistos no verbete Virtude. Aqui, cabe analisar o problema da N.
como símbolo, sintoma ou elemento da condição humana. Na Antigüidade, Platão parece ter reconhecido o valor da
N.: esse parece ser o significado da importância por ele atribuída ao amor, que, em O Banquete (204-05), interpretou
em seu significado mais amplo como falta e busca do que falta. Além disso, em República (II, 369 b ss.), ele atribui a
origem do Estado à N.: "Quando um homem se reúne com outro em vista de uma N., e com outro homem em vista de
outra N., e quando essa multiplicidade de homens reúne no mesmo local vários homens que se associam para se
ajudar, damos a essa sociedade o nome de Estado." É menos explícita a noção de N. encontrada na filosofia de
Aristóteles: este certamente não ignora o seu peso na vida individual e social do homem (como demonstra sua
Política), mas não lhe atribui função específica: mesmo a origem do Estado, para ele, deve-se à exigência de viver
feliz, o que significa sobretudo vida virtuosa (Pol., VII, 2, 1324 a 5 ss.). A filosofia pós-aristotélica desinteressa-se
das necessidades, ainda que Epicuro aconselhe a satisfazê-las (Mass. capit., 26; Fr. 200, Usener), pois está muito
ocupada em esboçar o ideal de sábio, dedicado à vida puramente contemplativa. Tampouco lançam mão da N. para
interpretar a realidade humana a filosofia medieval e a moderna,
que preferem enfatizar os elementos ou os caracteres que dão destaque à independência do homem em relação ao
mundo, e não à sua dependência. Mesmo falando de um "sistema de N.", Hegel prefere dizer que a N. é dominada
pelo homem, e não o contrário: "O animal tem um círculo limitado de meios e modos de satisfazer às suas N., que são
igualmente limitadas. O homem, ainda que dependa delas, demonstra ao mesmo tempo que as supera e universaliza,
sobretudo através da multiplicação das N. e dos meios, bem como através da decomposição e da distinção da N.
concreta" (Fil. do dir., § 190). A primeira afirmação clamorosa da importância das N., para a interpretação do que o
homem é ou pode ser, seria vista na filosofia de Schopenhauer, que interpretou como N. — portanto como falta e dor
— a vontade de vida que constitui a essência numênica do mundo. "A base de qualquer vontade é N., falta, ou seja,
dor, à qual o homem está vinculado desde a origem, por natureza" (Die Welt, 1819, I, § 57). Fora da metafísica, no
terreno da antropologia, quem insistiu na estreita conexão entre N. e natureza humana foi L. Feuerbach
(GrundsatzederPhilosophie der Zukunft, 1844). Marx, nas obras juvenis (Economia e filosofia, 1844; Ideologia
alemã, 1845-46), acentuou a importância das N. e, portanto, do trabalho destinado a satisfazê-las, chegando a tomálas como tema fundamental de sua antropologia (v. PESSOA). Na filosofia contemporânea, além do marxismo, a
importância da noção de N. para a interpretação da realidade humana é ressaltada de um lado pelo naturalismo e de
outro pelo existencialismo. Dewey, p. ex., ao insistir na "matriz biológica" das atividades humanas (portanto também
da lógica), vê a N. como ruptura do instável equilíbrio orgânico e o início da busca que tende a restabelecê-lo (Logic,
cap. II, trad. it., p. 63). Por outro lado, na definição de "ser-no-mun-do" por Heidegger, em que a existência do
homem consiste em cuidado [cura] (v.), o homem depende do mundo, "está lançado no mundo, que domina as
possibilidades humanas de relações com as coisas e com os outros homens" (Sein undZeit, §§ 39 ss., cf. § 20). A
noção de N. que emerge dessas considerações não é de estado provisório de falta ou deficiência (tem-se necessidade
de ar, apesar de este existir em abundância), mas de estado ou condição de dependência que caracteriza de modo
específico o homem e, em geral, o ser finito no mundo.
NECESSITARISMO
709
NEGATIVO
NECESSITARISMO (in. Necessitarianism; fr. Nécessitarisme, it. Necessitarismó). Este termo, muito usado em
inglês, é útil para indicar o conjunto das doutrinas que, de alguma maneira, atribuem posição eminente ao conceito de
necessário ou o utilizam sistematicamente. Podem ser enumeradas pelo menos três doutrinas fundamentais desse
gênero:
Ia A doutrina que admite o destino, a ordem finalista ou providencial do mundo como ordem que determina
necessariamente todas as coisas e a cada coisa garante o melhor resultado. Esta doutrina pode ser chamada de providencialismo ou fatalismo, mas este último termo é empregado apenas por quem a combate ou pelo menos se opõe a
alguns de seus aspectos (v. DESTINO; PROVIDÊNCIA). O significado de necessário ao qual tal doutrina faz referência é
o d) de Aristóteles e c) de S. Tomás de Aquino.
2a A doutrina segundo a qual a ordem do mundo consiste na conexão causai universal; faz referência ao necessário no
significado d) de Aristóteles, d) de S. Tomás de Aquino, b) de Leibniz, de Wolff e de Kant. Trata-se do determinismo
rigoroso ou clássico, que melhor seria chamar de causalismo (v. CAUSALIDADE; DETERMINISMO).
3a A doutrina segundo a qual a necessidade constitui o significado primário e fundamental do ser, utilizando-o como
critério para a avaliação e a análise de todas as coisas existentes. Esse significado de N. é certamente o mais
importante e fundamental, ao qual o termo deveria referir-se de preferência. Para essa doutrina, o necessário é a
categoria fundamental, o horizonte geral que abrange todos os instrumentos de investigação e explicação que é
possível utilizar. Freqüentemente essa doutrina não admite a necessidade no mesmo sentido da Ia e da 2a; Aristóteles
e S. Tomás de Aquino, p. ex., que podem ser considerados exemplos importantes dessa doutrina, embora admitindo a
necessidade do destino, não admitem a necessidade causai absoluta; no entanto são necessitaris-tas no sentido de que,
para eles, o significado fundamental do ser é a necessidade, e de que esse significado está presente na construção de
todos os conceitos fundamentais de sua filosofia. No mesmo sentido, é necessitarista a doutrina de Hegel e são
necessitaristas todas as doutrinas que se inspiram no idealismo romântico. Mas o aparato conceituai do N. difundiu-se
muito além desta ou daquela doutrina:
conceitos como os de causa e substância, com todas as suas inferências, que são numerosíssimas, dominam ainda
vastas zonas do discurso comum, científico e filosófico e induzem seu sentido necessitarista nas análises da ciência e
da filosofia.
NEGAÇÃO (gr. àTtócpacnç; lat. Negatio-, in. Negation; fr. Negation; ai. Verneigung, Negation; it. Negazioné).
Termo com o qual se pode designar tanto o ato de negar quanto o conteúdo negado, ou seja, a proposição negativa,
chamada em grego àrccxpaoiç (lat. negatia Boécio) e definida como "enunciado que divide algo de algo" (De
interpr., 17 a 26), porquanto, segundo a mesma doutrina aristotélica, separa ou afasta dois conceitos.
Substancialmente, a tradição lógica subseqüente conservou essa doutrina e portanto este significado do termo N.;
foram só os seguidores da teoria do juízo como assentimento (Rosmini, Fr. Bren-tano, Husserl) que consideraram a
N. como ato de contestação (recusa, repúdio, Verneigung) de uma representação ou idéia. Na Lógica simbólica
contemporânea a N. é representada por um símbolo especial ("~") que, anteposto ao símbolo de uma proposição "p",
transforma-a na afirmação de que "p' é falsa (Russell) ou numa nova proposição (molecular), função de verdade de
"p", mais precisamente (na Lógica com dois valores) na proposição que é falsa quando "p" é verdadeira e verdadeira
quando "p" é falsa (Wittgenstein, Carnap).
G. P.
NEGATIVO (gr. àjiocpaxvKÓÇ; lat. Negativus; in. Negative, fr. Négatif, ai. Negativ, it. Negativo). Aquilo que
efetua ou implica uma negação, ou seja, uma exclusão de possibilidade. Uma entidade N. (p. ex., uma proposição)
não implica que subsiste a entidade positiva correspondente à qual depois é acrescentada a negação, mas é
simplesmente a exclusão de uma possibilidade e, na maior parte das vezes, de uma possibilidade formulada somente
com o fim de excluí-la.
Os múltiplos usos desse termo podem integrar-se neste significado fundamental. "Resultado N." de um experimento
significa exclusão de certa possibilidade de interpretação ou de explicação. "Efeito N." de certa operação significa
exclusão daquilo que se esperava ser possível a partir da operação. "Atitude N." em relação a uma doutrina ou a uma
coisa qualquer é a atitude que exclui a possibilidade de que a doutrina seja verdadeira ou de que a coisa tenha um
valor qualquer, etc.
NEOCRITICISMO
710
NEOPIATONISMO
NEOCRITICISMO (in. Neo-Criticism; fr. Néocriticisme, ai. Neukantianismus; it. Neo-criticísmó). Movimento de
"retorno a Kant" iniciado na Alemanha em meados do século passado e que deu origem a algumas das mais
importantes manifestações da filosofia contemporânea. As características comuns de todas as correntes do N. são as
seguintes: Ia negação da metafísica e redução da filosofia a reflexão sobre a ciência, vale dizer, a teoria do
conhecimento; 2- distinção entre o aspecto psicológico e o aspecto lógico-objetivo do conhecimento, em virtude da
qual a validade de um conhecimento é completamente independente do modo como ele é psicologicamente adquirido
ou conservado; 3a tentativa de partir das estruturas da ciência, tanto da natureza quanto do espírito, para chegar às
estruturas do sujeito que a possibilitariam.
Na Alemanha, a corrente neocriticista foi constituída pelas seguintes escolas: le de Marburgo {Marburger Schulè), à
qual pertenceram F. A. Lange, H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer, e à qual também se liga, em parte, Nicolai
Hartmann; 2a de Baden {Badische Schulé), fundada por W. Windelband e H. Rickert, 3Q historicismo alemão, com G.
Sim-mel, G. Dilthey, E. Troeltsch, etc. Esta última escola formulou o problema da história analogamente ao modo
como as outras escolas kantianas formulavam o problema da ciência natural (v. HISTORICISMO). Fora da Alemanha,
vinculam-se à corrente neocriticista C. Renou-vier e L. Brunschvicg, na França, S. H. Hodgson e R. Adamson, na
Inglaterra, e Banfi na Itália.
NEO-HEGEIIANISMO(in. Neo-Hegelianism, fr. Néo-Hegélianisme, ai. Neuhegelianismus-, it. Neohegelismó).
Retorno ao idealismo romântico, ocorrido na Inglaterra, na Itália e na América nos últimos decênios do séc. XIX e
nos primeiros do séc. XX. O N., assim como o idealismo romântico de que é sucessor direto, tem como tese
fundamental a identidade entre finito e infinito, a redução do homem e do mundo da experiência humana ao
Absoluto. O neo-idealismo anglo-americano e o italiano dis-tinguem-se no modo de efetuarem essa redução. O
idealismo anglo-americano faz isso por vias negativas, mostrando que o finito, por sua intrínseca irracionalidade, não
é real, ou é real apenas na medida em que revela e manifesta o infinito. O idealismo italiano utiliza as vias positivas,
mostrando na própria estrutura do finito, em sua racionalidade intrínseca e necessária, a
presença e a realidade do infinito. Este era também o modo sustentado por Hegel e por todo o idealismo romântico. À
corrente inglesa pertencem C. H. Stirling, T. H. Green, B. Bosan-quet, J. E. McTaggart e especialmente F. H Bradley,
que é o seu maior representante. Na América, o maior expoente do N. foi J. Royce. Os maiores representantes do
idealismo italiano foram G. Gentile e B. Croce. Sobre todos, v. IDEALISMO.
NEO-IDEALISMO. V. NEO-HEGELIANISMO.
NEOKAJSTISMO. V. NEOCRITICISMO.
NEOPITAGORISMO (in. Neo-Pythagoria-nism, fr. Néo-pythagorisme, ai. Neupythagoreis-mus-, it.
Neopitagorismó). Revivescência da filosofia pitagórica que se manifestou no séc. I a.C, tanto com o aparecimento de
textos pitagóricos de falsa atribuição {Ditos áureos, Símbolos, Cartas, atribuídos a Pitágoras) e de outros atribuídos
ao lucano Ocello e a Hermes Trismegisto, quanto com o florescimento de filósofos que declaravam inspirar-se nas
doutrinas do pitagorismo antigo. Entre eles: Nigídio Figulo, Apolônio de Tiana, Nicômaco de Ge-rasa e
principalmente Numênio de Apaméia (séc. I d.C). As doutrinas destes escritores nada têm de original, mas
apresentam características que se tornaram próprias do neoplato-nismo (v.).
NEOPIATONISMO (in. Neo-Platonism, fr. Néo-platonisme, ai. Neuplatonismus; it. Neopla-tonismó). Escola
filosófica fundada em Alexandria por Amônio Saccas no séc. II d.C, cujos maiores representantes são Plotino,
Jâmblico e Proclos. O N. é uma escolástica, ou seja, a utilização da filosofia platônica (filtrada através do
neopitagorismó, do platonismo médio e de Fílon) para a defesa de verdades religiosas reveladas ao homem ab
antiquo e que podiam ser redescobertas na intimidade da consciência. Os fundamentos do N. são os seguintes:
1Q caráter de revelação da verdade, que, portanto, é de natureza religiosa e se manifesta nas instituições religiosas
existentes e na reflexão do homem sobre si próprio;
2a caráter absoluto da transcendência divina: Deus, visto como o Bem, está além de qualquer determinação
cognoscível e é julgado inefável;
3a teoria da emanação, ou seja, todas as coisas existentes derivam necessariamente de Deus e vão-se tornando cada
vez menos perfeitas à medida que se afastam d'Ele; conseqüentemente o mundo inteligível (Deus, Intelecto e
NEOPosrnvisMO
711
NEOTOMISMO
Alma do mundo) é distinto do mundo sensível (ou material), que é uma imagem ou manifestação do
outro;
4e retorno do mundo a Deus através do homem e de sua progressiva interiorização, até o ponto do êxtase,
que é a união com Deus.
No N. costumam ser distinguidas as seguintes escolas: Siríaca, fundada por Jâmblico; de Pérgamo, à qual
pertencem, entre outros, o imperador Juliano, chamado o Apóstata; de Atenas, cujo maior representante
foi Proclos. Mas a influência das doutrinas fundamentais do N. sobre muitas correntes do pensamento
filosófico foram e continuam sendo profundas.
O "platonismo" do Renascimento na realidade é um N. que repete, com algumas variações, as teses acima
expostas. As variações que caracterizam o N. renascentista (de Cusa, Pico delia Mirandola e Ficino) são
relativas à maior importância atribuída ao homem e à sua função no mundo, de acordo com o espírito
geral do Renascimento (v.). O N. inglês, ao contrário, é uma forma de racionalismo religioso que
floresceu na escola de Cambridge no séc. XVII (Cudworth, Moore, Whichcote, Smith, Culver-wel): por
um lado, opõe-se ao materaislismo de Hobbes e, por outro, sustenta que as idéias fundamentais da religião
foram impressas diretamente por Deus na razão e no intelecto do homem, e por isso precedem o
conhecimento empírico das coisas naturais. Mas mesmo no N. inglês são muitos os temas do
Renascimento, especialmente de Ficino.
NEOPOSnTVISMO (in. Neo-positivism; fr. Néo-positivisme, ai. Neupositivismus; it. Neo-positivismó).
1. O mesmo que empirismo lógico (v.).
2. Nome dado algumas vezes à doutrina de Bergson (LE ROY, Un positivisme nouveau, 1901).
NEO-REALISMO (in. New Realism- fr. Néo-realisme-, ai. Neurealismus; it. Neorealismó). Recebem
esse nome as correntes do pensamento contemporâneo cuja insígnia é a negação do idealismo
gnosiológico (v.), a negação da redução do objeto do conhecimento a um modo de ser do sujeito. O
idealismo gnosiológico foi o clima dominante da filosofia no séc. XIX, pois que era compartilhado não só
pelo idealismo romântico, mas também pelo espiritualismo, pelo neocriticismo e, em geral, por todas as
filosofias consciencialistas. Exceções a essa tendência geral foram, inicialmente, a filosofia da imanência
de G. Schuppe e a
obra de O. Külpe (Einleitung in die Philo-sophie, 1895). Mas foi só a partir do ensaio de G. E. MOORE,
"A refutação do idealismo", publicado em MinaXI903), que teve início a nova história do realismo.
Depois disso, o realismo foi defendido na Inglaterra por B. Russell e S. Alexander, enquanto na América
um volume coletivo datado de 1912 e intitulado O novo realismo afirmava as teses de um realismo
atualizado, que, com outra forma, seriam re-propostas alguns anos mais tarde em Ensaios de realismo
critico (1920), publicados por outro grupo de filósofos americanos. No primeiro grupo a figura mais
conhecida foi W. P. Monta-gue; no segundo grupo, G. Santayana. Mais tarde, o novo realismo encontrou
seguidores em A. N. Whitehead e em N. Hartmann.
O novo realismo contém correntes doutrinais tão diferentes quantos são os filósofos que o professam, mas
há uma tese fundamental, comum a todos, que, além de constituir sua novidade e a característica que o
distingue do realismo tradicional, também serve de linha de defesa contra o idealismo. Essa tese é a
seguinte: a relação cognitiva (a relação entre o objeto do conhecimento e o sujeito. que é a mente que o
apreende) não modifica a natureza do objeto. Essa tese inspira-se na noção matemática de "relação
externa", que não modifica os termos relativos. Esta, como é óbvio, elimina completamente a
dependência existencial ou qualitativa do objeto do conhecimento em relação ao sujeito e torna o
idealismo sem sentido. Apesar de afastados por todos os outros aspectos, Moore, Montague, Santayana,
Alexander, Hartmann compartilham dessa tese.
NEOTOMISMO (in. Neo-Thomism; fr. Néo-thomisme, ai. Neutbomismus; it. Neotomismó). Com este
termo ou com o outro, bem menos apropriado, de "neo-escolástica" entende-se o movimento de retorno à
doutrina de S. Tomás de Aquino, no seio da cultura católica, que foi iniciado pela encíclica Aeterni Patris
de Leão XIII (4 de agosto de 1879). Esse movimento consiste na defesa das teses filosóficas tomistas
contra as diversas tendências da filosofia contemporânea e, indiretamente, na reelaboração e na
modernização de tais teses. Uma das primeiras figuras do N. foi o cardeal belga Désiré Mercier (falecido
em 1925), enquanto entre as figuras mais conhecidas do mundo contemporâneo estão E. Gilson e J.
Maritain. Habitualmente o tomismo aceita a problemática da filo-
NEOVTTAUSMO
712
NnnusMO
sofia contemporânea, mas procura integrá-la na sistemática tomista. Um dos mais importantes efeitos da florescência
neotomista foi a importância que voltou a ser atribuída, a partir dos últimos decênios do séc. XIX, aos estudos de
filosofia medieval, isto é, da escolástica clássica.
NEOVITALISMO. V. VITALISMO.
NESTORIANISMO(in. Nestorianism; fr. Nes-torianisme, ai. Nestorianismus; it. Nestorianis-mó). Doutrina de
Nestório, patriarca de Constan-tinopla (428-31), segundo a qual, havendo em Cristo duas naturezas, há também duas
pessoas: uma habita na outra como em um templo. Nestório negava também que Maria fosse mãe de Deus e chamava
de lenda paga a idéia de um Deus envolto em fraldas e crucificado. Essa interpretação da encarnação já havia sido
sustentada por Deodoro de Tarso (falecido por volta de 394) e por seu discípulo Deodoro de Mopsuéstia (falecido por
volta de 428). Foi condenada pelo concilio de Éfeso de 431, mas subsistiu por muito tempo, e ainda sobrevive em
grupos da Turquia asiática e da Pérsia.
NEUTRALISMO (in. Neutralism). Termo empregado por Peirce como sinônimo de monismo {Chance, Love and
Logic, II, 1; trad. it., p. 121) (v. MONISMO).
NEUTRALIZAÇÃO (ai. Neutralisierung). Com este termo, Husserl indicou a suspensão da crença; "o que é
existente, possível, verossímil ou discutível, como também o não-exis-tente, em qualquer negação ou afirmação,
estão presentes na consciência, não à maneira do real, mas sim como 'mero pensado' ou 'mero pensamento' " {Ideen,
I, § 109) (v. EPOCHÉ).
NEUTRO, MONISMO (in. Neutral mo-nisrri). Com esta expressão às vezes é designada, nos Estados Unidos, a tese
do neo-realismo segundo a qual as entidades que entram na composição do espírito e da matéria não são mentais nem
materiais, mas adquirem tais qualificações em virtude das relações em que entram. Na verdade este ponto de vista foi
sustentado pelo empiriocriticismoQv.) de Avenarius e por Mach.
NEXO (lat. Nexus; in. Bond; fr. Connexion; ai. Zusammenhang; it. Nessó). Conexão das coisas entre si, na ordem
causai ou final: Kant chama o primeiro de nexus effectivus e o segundo de nexus finalis {Crít. dofuízo, § 87).
Whitehead deu esse nome {nexus) às conexões reais entre as coisas, por ele consideradas como elementos últimos da
realidade, juntamente com as próprias coisas e com as percepções {Process and Reality, 1929).
NEWTONIANISMO (in. Newtonianism; fr. Newtonianisme, ai. Newtonianismus; it. Newto-nismó). Com este termo
foi designada principalmente a doutrina de Newton da gravitação universal, que consiste na generalização das leis da
gravitação a todo o universo e na formulação dessas leis através da fórmula única: os corpos se atraem
proporcionalmente ao produto das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Essa lei foi enunciada por
Newton pela primeira vez em Propositiones de motu (1684) e depois em Princípios matemáticos de filosofia natural
(1687).
NIAIA. Um dos grandes sistemas filosóficos da índia antiga, caracterizado pela importância da doutrina do
conhecimento e de seus objetos. O N. enumera quatro meios de conhecimento: percepção, inferência, analogia e
testemunho; define como verdadeiro o conhecimento que não está sujeito a contradições ou dúvidas, e que reproduz o
objeto como ele é; e faz um inventário dos objetos cognoscíveis e de suas características. Entre estes inclui o mundo
físico, com seus elementos, o homem, em seu corpo e suas atividades espirituais, o espaço ou o tempo, Deus e, em
geral, as condições de existência das coisas físicas ou espirituais (cfr. G. Tucci, Storia delia filosofia indiana, 1957,
pp. 112 ss.).
NIHILISMO (in. Nihilism; fr. Nibilisme, ai. Nihilismus; it. Nickilismó). Termo usado na maioria das vezes com
intuito polêmico, para designar doutrinas que se recusam a reconhecer realidades ou valores cuja admissão é
considerada importante. Assim, Hamilton usou esse termo para qualificar a doutrina de Hume, que nega a realidade
substancial {Lectures on Metaphysics, I, pp. 293-94); nesse caso a palavra quer dizer fenomenismo. Em outros casos,
é empregada para indicar as atitudes dos que negam determinados valores morais ou políticos. Nietzsche foi o único a
não utilizar esse termo com intuitos polêmicos, empregando-o para qualificar sua oposição radical aos valores morais
tradicionais e às tradicionais crenças metafísicas: "O N. não é somente um conjunto de considerações sobre o tema
'Tudo é vão', não é somente a crença de que tudo merece morrer, mas consiste em colocar a mão na massa, em
destruir. (...) É o estado dos espíritos fortes e das vontades fortes do qual não é possível atribuir um juízo negativo: a
negação
NIRVANA
713
NOLONTADE
ativa corresponde mais à sua natureza profunda" (Wille zur Macbt, ed. Krõner, XV, § 24).
NIRVANA. Extinção das paixões e do desejo de viver, portanto da corrente dos nascimentos, na doutrina budista.
"Essa ilha incompará-vel em que tudo desaparece e todo apego cessa, chamo de N., destruição da velhice e da morte"
(Suttanipâta, V, 11). Na filosofia ocidental, Schopenhauer adotou essa noção, vendo nela a negação da vontade de
viver, cuja exigência brota do conhecimento da natureza dolorosa e trágica da vida (Die Welt, I, § 71; II, cap. 41).
NOÇÃO (gr. evvoioc, npó\i\\\tiç; lat. Notio; in. Notion; fr. Notion; ai. Notion; it. Nozioné). Dois significados
fundamentais: um muito geral, em que N. é qualquer ato de operação cognitiva, e outro específico, em que é uma
classe especial de atos ou operações cognitivas. Para Cícero, que introduziu esse termo, ele corresponde a evvoia, que
tem significado muito geral, e a JtpóÀri\)/i.ç, que é a antecipação, uma espécie particular e privilegiada de
conhecimento (Top., 7, 31). Na Idade Média, João de Salisbury empregou esse termo no sentido geral, referindo-se
precisamente ao grego Êvvoia (Metal., II, 20); em sentido geral também era empregado por Jungius, que entendia a
N. como "a primeira operação de nosso intelecto, pela qual exprimimos uma coisa com uma imagem" (Log.
hamburgensis, 1638, Prol., 3). Locke, ao contrário, pretendia restringir esse termo às idéias complexas "que parecem
ter origem e existência constante mais no pensamento dos homens que na realidade das coisas" {Ensaio, II, 22, 2),
enquanto Leibniz observava que "muitos aplicam a palavra N. a qual quer espécie de idéias ou concepções, tanto às
originais quanto às derivadas" (Nouv. ess., II, 22, 2). Berkeley, por sua vez, restringia esse termo ao conhecimento
que o espírito tem de si mesmo e da relação entre as idéias: conhecimento que, por sua vez, não é uma idéia (Princ.
ofHuman Knowledge, I, §§ 27, 89, 140, etc.; cf. a nota ao § 27 da edição dos Principies, em Works, ed. T. E. Jessop,
II, p. 53). Kant também atribuía significado restrito a esse termo, entendendo por N. "o conceito puro, porquanto tem
origem unicamente no intelecto", reservando o termo "representação" para o significado geral de N. (Crít. R. Pura,
Dial. transe, I, seção 1). Wolff, inversamente, afirmara: "A representação das coisas na mente é N., por outros
chamada de idéia" (Log., § 34).
Nenhum dos significados específicos propostos para esse termo teve grande aceitação; hoje resta quase
exclusivamente o significado genérico de operação, ato ou elemento cognitivo em geral.
NOÇÕES COMUNS (gr. KOivai êwouxt; lat. Notiones communes). São as antecipações (v.) dos estóicos, às quais
freqüentemente se fez referência na história da filosofia: cf., p. ex., SPI-NOZA, Et., II, 38, Cor.; LEIBNIZ, NOUV. ess.,
Avant-propos, etc.
NODAL, LINHA (ai. Knotenliniê). Foi assim que Hegel designou a passagem da quantidade à qualidade que se dá
por mudança da quantidade, p. ex., quando a mudança da quantidade de calor na água produz a sua passagem do
estado líquido para o sólido ou para o gasoso ( Wissenschaft der Logik, I, seção III, cap. 11, B; trad. it., I, pp. 444 ss.).
Esse conceito teve mais aceitação fora do hegelismo que em seu seio. Kierkegaard extraiu daí seu conceito de salto
(v.) e Engels fez da passagem da quantidade para a qualidade uma das leis fundamentais da dialética (Dialektik der
Natur, trad. it., p. 57) (v. DIALÉTICA; SALTO).
NOEMA (ai. Noemd). Na terminologia de Husserl, o aspecto objetivo da vivência, ou seja, o objeto considerado pela
reflexão em seus diversos modos de ser dado (p. ex., o percebido, o recordado, o imaginado). O N. é distinto do
próprio objeto, que é a coisa; p. ex., o objeto da percepção da árvore é a árvore, mas o N. dessa percepção é o
complexo dos predicados e dos modos de ser dados pela experiência: p. ex., árvore verde, iluminada, nào iluminada,
percebida, lembrada, etc. (Ideen, I, § 88). O adjetivo correspondente é noemático. NOESE (ai. Noesis). Na
terminologia de Husserl, o aspecto subjetivo da vivência, constituído por todos os atos de compreensão que visam a
apreender o objeto, tais como perceber, lembrar, imaginar, etc. (Ideen, I, § 92). O adjetivo correspondente é noético.
NOÉTICA (in. Noetic; fr. Noétique, ai. Noê-tik, it. Noeticd). Foi assim que Hamilton denominou a parte da lógica
que estuda "as leis fundamentais do pensamento", que são os quatro princípios: identidade, contradição, terceiro
excluído e razão suficiente (Lectures on Logic, V, I, p. 72). Esse uso foi adotado por poucos autores.
NOLONTADE (lat. Noluntas; in. Nolition; fr. Nolonté, ai. Nolitia, it. Nolontâ). Não querer ou fugir. Esse termo é
raríssimo, em todas as lín-
NOME
714
NOME
guas. Segundo S. Tomás de Aquino, "o desejo do bem chama-se vontade, porquanto é o nome do ato de
vontade, mas a fuga ao mal chama-se noluntas. Por isso, assim como a vontade é do bem, a noluntasé do
mal" (S. Tb., II, 1, q. 8, a. 1). No mesmo sentido, esse termo recorre em Wolff (Phil. practica, I, § 38).
Está claro que neste sentido a N. é vontade positiva, assim como a chamada vontade. Outros autores, ao
contrário, a entenderam no sentido de vontade inibida ou ausência de vontade (RENOUVIER e PRAT,
Monadologie, p. 231). Este segundo sentido é decididamente impróprio.
NOME (gr. ÕVOH.0C; lat. Nomen; in. Name, fr. Nom; ai. Name, it. Nome). A palavra ou o símbolo que
indica um objeto qualquer. Os problemas a que o N. dá origem como palavra ou símbolo (p. ex., o de
origem ou de validade) encontram-se no verbete linguagem (v.). Aqui cabe apenas lembrar as
determinações específicas que os lógicos emprestaram ao conceito de N. Quando Platão define o N. como
"instrumento apto a ensinar e fazer discernir a essência, do mesmo modo como a lançadeira está apta a
tecer a tela" (Crat., 388 b), sua definição adapta-se a qualquer termo ou expressão lingüística. Aristóteles,
ao contrário, foi o primeiro a analisar especificamente o N.: "O N. é um som vocal significativo por
convenção, que prescinde do tempo e cujas partes não são significativas se tomadas separadamente" (De
int, 2,16 a 19). Por "prescindir do tempo", o N. distingue-se do verbo, que sempre tem determinação
temporal. Por não ter partes significativas por si mesmas, o N. distingue-se do discurso. E como
Aristóteles observe que a expressão infinita "não homem" não é um N., os lógicos posteriores
acrescentaram à sua definição de N. a caracterização "finita" e também "reta", para excluir os casos
oblíquos do N., que interessam ao gramático, e não ao lógico (PEDRO HISPANO, Summ. log., 1.04). O
próprio Aristóteles advertia (De int, 2, 16 a 23) que o N. nem sempre é simples, e nesse sentido sua
definição era modificada do seguinte modo por Jungius, no séc. XVII: "Por N. entende-se um símbolo ou
signo, instituído para determinada coisa e para a noção que representa a coisa, quer se trate de um N.
gramaticalmente único, quer se trate de um N. composto por mais vocábulos (Log. hamburgensis, 1638,
IV, 2, 10).
Na lógica contemporânea, a função do N. foi analisada principalmente em função daquilo que Carnap
chamou de "antinomia relação-N.".
Esta antinomia fora vislumbrada por Frege ("Über Sinn und Bedeutung", 1892, em Aritmética e lógica,
ed. Geymonat, pp. 215-52), mas foi formulada como tal por Russell ("On Denoting", 1905, agora em
Logic and Know-ledge, pp. 41-56). Resulta do fato de que dois N. sinônimos (que têm o mesmo
significado) devem poder ser substituídos um pelo outro sem que mude o significado e o valor de verdade
de contexto. Ora, "Sir Walter Scott" e "autor de Waverley" são nomes sinônimos, portanto substituíveis.
Contudo, se na frase "Jorge IV perguntou uma vez se Scott era o autor de Waverley" substituirmos "autor
de Waverley' pelo N. sinônimo "Scott", a frase resultante será falsa, pois ficará: "Jorge IV perguntou uma
vez se Scott era Scott."
Essa antinomia recebeu duas soluções principais na lógica contemporânea: a primeira consiste
essencialmente em reduzir a denota-ção a uma descrição em termos direta ou indiretamente redutíveis a
experiências elementares. Esta solução foi proposta por Russell (que a expôs no ensaio citado e depois no
primeiro vol. de Principia mathematica, 1910). Segundo Russell, a frase "Jorge IV, etc." pode significar:
d) "Jorge IV queria saber se um homem e só um homem escreveu Waverley e se Scott era esse homem",
ou b) "Um homem e só um homem escreveu Waverley e Jorge IV queria saber se Scott era esse homem".
E Russell diz: neste segundo caso "o autor de Waverley ocorre de modo primário (primary occurrencé),
porque supõe que Jorge IV tem algum conhecimento direto de Scott. Na primeira, ao contrário, a frase
ocorre de modo secundário, no sentido de que não supõe um conhecimento direto de Scott" ("On
Denoting", op. cit., p. 72). Essa teoria, além de pressupor a diferença entre conhecimento direto e
conhecimento indireto, eqüivale a reduzir os- N. próprios a N. comuns e os N. comuns a N. próprios, que
denotam elementos extraídos da experiência direta. Teorias semelhantes a estas foram apresentadas por
Quine (Methods of Logic, 1950, § 33; From aLogicalPointofView, 1953, cap. 1) e por outros.
A segunda solução da antinomia relação-N. é proposta pelo próprio Frege. Consiste em distinguir o
significado (Bedeutung, Meaning), como denotação, do sentido (Sinn, Sensé). A denotação é a referência
do N. ao objeto: "Sir Walter Scott" e "autor de Waverley' têm a mesma denotação porque se referem ao
mesmo
NOMINAL, DEFINIÇÃO
715
NON CAUSA PRO CAUSA
objeto. O sentido, ao contrário, como dizia Frege, é "algo logo apreendido por quem conhece suficientemente a língua
(ou em geral o conjunto de signos) a que o N. pertence" ("Über Sinn und Bedeutung", § 1; ed. it. cit., p. 219): assim,
dois N. podem ter sentidos diferentes, mesmo que se refiram ao mesmo objeto. Esse é precisamente o caso das duas
expressões citadas, e, como é possível compreender o sentido de um N. sem conhecer sua denotação, perguntas como
a que foi atribuída a Jorge IV significam um pedido de informações referente à identidade de suas denotações. Essa
solução foi repetida com variações por Carnap (Mea-ning and Necessity, §§ 31-32) e por Church ijntr. to
Mathematical Logic, 1958, § 1). E parece ser uma solução preferível porque não exige pressupostos particulares
sobre a natureza da linguagem.
NOMINAL, DEFINIÇÃO. V. DEFINIÇÃO. NOMINALISMO (in. Nominalism-, fr. Nomi-nalisme, ai.
Nominalismus; it. Nominalismó). Doutrina dos filósofos nominales ou nomina-listas, que constituíram uma das
grandes correntes da Escolástica. Os termos nominalista (nominalis) ou terminista (terministd) foram usados somente
no princípio do séc. XV (v. ~ TERMINISMO), mas 0'ton de Freising, em sua (i crônica Gesta Friderici imperatoris (I,
47), afirmava que Roscelin fora "o primeiro em nossos tempos a propor em lógica a doutrina das palavras (sententiam
vocurri)". No princípio do séc. XII o N. era defendido por Abelardo (v. UNIVERSAIS), mas seu triunfo na Escolástica
foi devido à obra de Guilherme de Ockham (c. 1280-C.1349), que com razão foi chamado de Princeps Nominalium.
Assim exprimia Ockham sua convicção sobre o assunto: "Nada fora da alma, nem por si nem por algo de real ou de
racional que lhe seja acrescentado, de qualquer modo que seja considerado e entendido, é universal, pois é tão
impossível que algo fora da alma seja de qualquer modo universal (a menos que isso se dê por convenção, como
quando se considera universal a palavra 'homem', que é particular), quanto é impossível que o homem, segundo
qualquer consideração ou qualquer ser, seja o asno" (In Sent., I, d. II, q. 7 S-T). Do ponto de vista positivo, o N.
admite que o universal ou conceito é um signo dotado da capacidade de ser predicado de várias coisas. O conceito já
fora assim definido por Abelardo (v. UNIVERSAIS, DISPUTA DOS).
Ao traçar uma breve história do N., a propósito de Nizólio JTeibníz dizia que "sâo norriina-|) listastõdos os que
acreditam que, além dasf substâncias singulares, só existem os nomesl puros e, portanto, eliminam a realidade das\
^coisas jibstratas e universais^ para-ele, o N. assim entendido começava com Roscelin, e entre os nominalistas, além
do próprio Nizólio, estava também Thomas Hobbes (De stilo phi-losophico Nizolii, 1670, Op., ed. Erdmann, p. 69).
Essas observações e inclusões de Leibniz foram aceitas pelos historiadores da filosofia.
Em época mais recente, esse termo designou a interpretação convencionalista da física: p. ex., Poincaré empregou em
relação a Le Roy (La science et 1'hypothèse, p. 3).
Algumas vezes os lógicos modernos usam esse termo para indicar a doutrina segundo a qual a linguagem das ciências
contém apenas variáveis individuais, cujos valores são objetos concretos, e não classes, propriedades e similares
(QUINE, From a Logical Point ofView, VI, 4 ss.; CARNAP, Meaning and Necessity, § 10).
NOMLNALIZAÇÃO (ai. Nominalisierung). Husserl entendeu por "lei de N." a lei segundo a qual "a cada
proposição e a cada forma parcial distinguível na proposição corresponde um elemento nominal" (Ideen, I, § 119), o
que significa, p. ex., que à proposição "Sé P" pode corresponder o elemento único nominal "o ser Fde S" na qual "ser
P" pode significar a semelhança, a pluralidade, etc.
NOMOLOGIA (in. Nomology, fr. Nomologie, ai. Nomologie, it. Nomologid). Termo raramente usado na filosofia do
séc. XIX para indicar a ciência da legislação. Husserl chamou de "N. aritmética" a matemática universal (Logische
Untersuchungen, I, § 64).
NOMOTÉTICO(al. Nomothetisctí). Kant chamou de N., o que dá leis, o juízo reflexivo (v.), porquanto fornece
máximas para a unificação das leis naturais; afirma que não é N. o juízo transcendental, "que contém as condições
para a subsunção em categorias" e só faz "indicar as condições da intuição sensível nas quais se pode conferir
realidade (aplicação) a um conceito dado" (Crít. do Juízo, § 69). Windelband chamou de nomo-téticas as ciências
naturais, em contraposição às ciências do espírito, ou ciências históricas, denominadas idiográficas (Prüludien, 5a ed.,
II, p. 145) (v. CIÊNCIAS, CLASSIFICAÇÃO DAS).
NON CAUSA PRO CAUSA (gr. TÒ \u\ aítiov oòç aÍTiov). Um dos sofismas enunciados por
NON-ENS LOGICUM
716
NORMA
Aristóteles {El. sof., 5, 167 b 21), que consiste em assumir como causa (ou seja, como premissa) aquilo que não o é,
donde resultam uma conseqüência impossível e a aparente refu-tação do adversário. É uma falácia que ocorre
especialmente na redução ao absurdo. O exemplo dado por Aristóteles é o seguinte: Quem quiser reduzir ao absurdo a
afirmação de que alma e vida são a mesma coisa assim procederá: a morte e a vida são contrárias; a geração e a
corrupção são contrárias; mas a morte é corrupção, logo a vida é geração. Mas isto é impossível, porque o que vive
não gera, mas é gerado; portanto, alma e vida não são a mesma coisa. A falácia aqui consiste em eliminar a premissa
"Alma e vida são a mesma coisa" e substituí-la por outra: "Morte e vida são coisas contrárias" (cf. PEDRO HISPANO,
Summ. log, 7.56-57; ARNAULD, Log., III, 19, 3; JUNGIUS, Log, VI, 12, 11, etc).
NON-ENS LOGICUM. Era assim que W. Hamilton chamava o ato do pensamento negativo, ou seja, não pensar em
nada de preciso, que eqüivale a não pensar (Lectures on Logic, I, 2a ed., 1867, p. 76).
NOOGONIA (ai. Noogonie). Kant designou a doutrina de Locke "sistema de N.", porque descreve a gênese dos
conceitos a partir da experiência {Crít. R. Pura, Anal. dos princ, Nota às anfibolias dos conceitos da reflexão).
NOOLOGIA (lat. Noologia; fr. Noologie, ai. Noologie, it. Noologia). Termo inventado por Calov em Scripta
philosophica (1650) para indicar uma das duas ciências auxiliares da metafísica [a outra é a gnosiologia (v.)], mais
precisamente a que tem por objeto as funções cognitivas. Esse termo foi retomado no século seguinte por Crusius e
outros, no mesmo sentido ou em sentidos análogos. Kant chamou de noologistas aqueles que, como Platão, acham
que os conhecimentos puros derivam da razão, em contraposição aos em-piristas, que os julgam derivados da
experiência {Crít. R. Pura, Doutr. transe, do método, cap. IV). Ampère propôs chamar de noológicas todas as
ciências do espírito {Essai sur Ia philosophie des sciences, 1834). Nenhum desses usos teve sucesso.
NOOSFERA (fr. Noosphèré). Termo empregado por Le Roy para indicar o domínio da evolução propriamente
humana (portanto contraposto ao domínio da evolução biológica, biosfera), que se realiza somente com a ajuda de
meios espirituais: indústria, sociedade, linguagem, inteligência, etc. {Uexigence idéaliste et le fait de 1'évolution, 1927, pp. 195-96).
NORMA (lat. Norma; in. Norm; fr. Norme, ai. Norm; it. Norma). Regra ou critério de juízo. A N. também pode ser
constituída por um caso concreto, um modelo ou um exemplo; mas o caso concreto, o modelo ou o exemplo só valem
como N. se puderem ser utilizados como critérios de juízo dos outros casos, ou das coisas às quais o exemplo ou o
modelo se referem. A N. distingue-se da máxima (v.) porque, ao contrário desta (no significado 2), não é apenas uma
regra de conduta, mas pode ser regra ou critério de qualquer operação ou atividade. Distingue da lei (v.) porque pode
ser isenta de caráter coercitivo; p. ex., uma N. de costume torna-se lei quando se torna coercitiva em virtude de uma
sanção pública.
Trata-se de conceito recente, cuja origem está no neocriticismo alemão; formou-se através da distinção e da
contraposição entre o domínio empírico do fato (da necessidade natural) e o domínio racional do dever ser (da
necessidade ideal). Sua validade não deriva do fato de ser ou não aceita ou aplicada, mas apenas do dever ser que
exprime. Os filósofos da escola de Baden (Windelband e Rickert) insistiram nesse caráter da N. Windelband disse:
"O sol da necessidade natural brilha igualmente sobre o justo e o injusto. Mas a necessidade que advertimos na
validade das determinações lógicas, éticas e estéticas é ideal; não a do Mussen e do não-poder-ser-de outro modo,
mas do Sollen e do poder-ser-de outro modo" {Praludien, 4a ed., 1911, II, pp. 69 ss.). Foi também neste sentido que
Kelsen entendeu a N., baseando nela sua teoria do direito: "A N. é a expressão da idéia de que algo deve acontecer,
em especial de que um indivíduo deve comportar-se de determinada maneira. A N. nada diz sobre o comportamento
efetivo do indivíduo em questão" {General Theory of Law and State, 1945, I, C, a, 5; trad. it., p. 36). Neste sentido,
falou-se e fala-se de "transcendência" da N. em relação às situações que ela regula: por tal transcendência, insistiu-se
(às vezes oportunamente) na independência do valor da N. em relação à sua efetiva aplicação. P. ex., não há dúvida
de que as N. destinadas à obtenção de bom produto agrícola ou industrial, determinadas por disciplinas científicas e
tecnológicas apropriadas, continuam válidas independentemente do fato de serem ignoradas ou desprezadas na maior
parte dos casos.
NORMAL
717
NULLIBISTAS
Essa independência, entretanto, não significa que as N. tenham uma orig-jm misteriosa ou inacessível ou que estejam
depositadas em alguma região do ser que tenha apenas uma relação indireta e distante com os campos da experiência
humana que as mesmas visam a regular. As N. exprimem, habitualmente, a disciplina mais conveniente de
determinadas atividades, com vistas a conferir-lhes a maior eficiência e precisão possíveis. Portanto, se elas nem
sempre são generalizações daquilo que jã está sendo feito ou realizado — porque inclusive podem inspirar-se em uma
ordenação completamente diferente — tampouco são alheias aos campos de atividade humana que visam a regular.
Neste sentido Dewey dizia: "A diferença que se costuma registrar entre os modos como os homens pensam e os
modos como devem pensar é semelhante à diferença que se observa entre o bom e o mau cultivo ou a boa e a má
prática da medicina. Os homens pensam como não devem quando adotam métodos de investigação que a experiência
das investigações anteriores mostra serem inadequados ao fim preestabelecido" {Logic, cap. VT; trad. it., p. 156).
Desse ponto de vista, uma N. é simplesmente uma fórmula técnica para o desenvolvimento eficaz de determinada
atividade.
Portanto, é possível distinguir dois conceitos de N.: ls como critério infalível para o reconhecimento ou a realização
de valores absolutos (este é o conceito elaborado pela filosofia dos valores (v.), ainda aceito pelas doutrinas absolutistas); 2a como procedimento que garante o desenvolvimento eficaz de determinada atividade.
NORMAL (in. Normal; fr. Normal; ai. Normal; it. Normalê). 1. Aquilo que está em conformidade com a norma.
2. Aquilo que está em conformidade com um hábito, com um costume, com uma média aproximada ou matemática,
ou com o equilíbrio físico ou psíquico. Neste sentido, diz-se, p. ex., "levar vida N.", para dizer uma vida segundo os
costumes de certo grupo social, ou "tem peso N." ou " altura N.", para dizer que tem peso ou altura correspondentes à
média dos indivíduos da mesma idade, raça, etc, ou " mente N.", "um organismo N.", para indicar a boa saúde mental
ou física. Este uso do termo não é completamente impróprio porque, embora as normas às quais se refere sejam
obtidas de generalizações empíricas, são empregadas como critério de juízo e estabelecem uma "normalidade".
NORMATIVO (in. Normative, fr. Normatif; ai. Normativ, it. Normativo). Este adjetivo tem dois sentidos principais,
que correspondem aos dois sentidos atribuídos à palavra norma: ls é N. o que prescreve a regra infalível para alcançar
a verdade, a beleza, o bem, etc, ou seja, um bem absoluto; 2- é N. uma fórmula técnica que garanta o
desenvolvimento eficaz de certa atividade. Na segunda metade do séc. XIX foram chamadas de N., no ls sentido, as
ciências filosóficas especiais 'lógica, ética e estética), às quais se atribuiu a tarefa de prescrever as normas com as
quais o pensamento, a vontade e o sentimento deveriam ajustar-se para alcançar a verdade, o bem e a beleza
(Windelband, Rickert Wundt, Simmel, Husserl e outros). Nesse sentido, a qualificação de N. foi repelida pelas
disciplinas acima (v. capítulos relativos). Não se pode, porém, negar que existam disciplinas N. no 2 B sentido, de
formular hipoteticamente técnicas aptas a garantir o desenvolvimento eficaz de determinadas atividades.
NOTA (lat. Nota; in. Note; fr. Note; ai. Merkma; it. Nota). Sinal ou característica de um objeto. Sobre o princípio: "a
N. de uma N. é uma N. da própria coisa", pela qual Kant quis substituir o dictum de omni et nullo como fundamento
do silogismo, v. SILOGISMO.
NOTAÇÃO1 (in. Notation; fr. Notation; ai. Notation; it. Notazioné). Têm este nome os símbolos primitivos da
lógica. A classificação mais comum de tais símbolos divide-os em quatro classes: constantes, variáveis, conectivos e
operadores. Estes dois últimos algumas vezes são chamados, respectivamente, de operadores e abstratos (v. os
verbetes individuais: CONECTIVO; CONSTANTE; OPERADOR).
NOTAÇÃO2 (gr. èruLioXoYÍa; lat. Notatio, in. Notation; fr. Notation; ai. Notation). Em lógica. argumento (locus)
inferido da etimologia do nome: como quando Platão diz que o termo soma (corpo) deriva de sema (túmulo), como
argumento de que o corpo é o túmulo da alma (Crat, 400 c). Esse tipo de argumento é esclarecido por Cícero (Top., 8,
35) e retomado pelos lógicos do séc. XVII (JUNGIUS, Log., V, 25).
NULLIBISTAS (in. Nullibists; ai. Nullibis-ten). Foi assim que Henri Moore chamou os que acreditam que a alma
não ocupa espaço e não tem, portanto, uma sede determinada no corpo (Enchiridion Metaphysiru.m, 1671, 1, 27, 1).
NÚMENO
718
NÚMERO
NÚMENO (gr. VOOÚLIEVOV; in. Noumenon; fr. Noumène, ai. Noumenon; it. Noumenó). Este termo foi
introduzido por Kant para indicar o objeto do conhecimento intelectual puro, que é a coisa em si (v.). Na
dissertação de 1770, Kant diz: "O objeto da sensibilidade é o sensível; o que nada contém que não possa
ser conhecido pela inteligência é o inteligível. O primeiro era chamado de fenômeno pelas escolas dos
antigos; o segundo, de N." {De mundi sensibilis, etc, § 3). Na realidade, a palavra N. às vezes é usada
pelos filósofos gregos, não em contraposição a fenômeno, mas a sensível, como em Platão: "Se intelecção e opinião verdadeira são duas coisas diferentes, então sem dúvida existirão entes que, conquanto
não sejam sensíveis para nós, são apenas pensados" {Tim., 51 d); algumas vezes é usada em
contraposição ao objeto diretamente apreensivel, como nos estóicos: "A compreensão se produz com a
sensação — e então é compreensão de coisas brancas, pretas, ásperas ou lisas — ou com o raciocínio — e
então é compreensão de nexos demonstrativos, como quando se demonstra que os deuses existem e que
exercem a providência. Das coisas pensadas, algumas são pensadas segundo a ocasião, outras segundo a
semelhança, outras segundo a composição e outras segundo contrariedades" (DiÓG. L., VII, 52). É mais
freqüente nos antigos (sobretudo em Platão, em Aristóteles e nos neopla-tônicos) o uso do termo
inteligível (VOT)TÓÇ), não em contraposição a fenômeno, mas a sensível (cf., p. ex., ARISTÓTELES, Et.
nic, X, 4, 11 74 b34).
NÚMERO (gr. àpiônóç; lat. Numeras; in. Number, fr. Nombre, ai. Zahl; it. Numero). Na história deste
conceito, podem-se distinguir quatro fases conceptuais diferentes, que deram lugar a quatro definições
diferentes: Ia fase realista; 2a fase subjetivista; 3a fase objetivista; 4a fase convencionalista.
Ia A fase realista é caracterizada pela tese de que o N. é um elemento constitutivo da realidade, por ser
acessível à razão, mas não aos sentidos. Essa foi a tese dos pitagóricos, que, segundo relata Aristóteles,
acreditavam que "as coisas são N.", ou seja, "compostas de N. como seus elementos" {Met., XIV, 3, 1090
a 21). A esta crença está ligada a definição de N. como "sistema de unidades", própria dos pitagóricos (J.
STOBEO, Ecl., I, 18): essa definição serviu de modelo à de Euclides ("multidão de unidades",
El., VII, 2) e durante muito tempo fundamentou a matemática. Para Platão, o N. encontrava-se onde
houvesse uma ordem, um limite do ilimitado. Entre a multiplicidade ilimitada (p. ex., dos sons vocais) e a
unidade absoluta, o N. se insere como um limite (p. ex., distinção e enumeração das letras do alfabeto), e
por isso sempre se encontra onde há ordem e inteligência {Fii, 18 a ss.). Por outro lado, o N. neste sentido
não está ligado a algo de visível ou de tangível: é, portanto, diferente do N. utilizado pelo homem em suas
tarefas práticas {Rep., 525 d). Essa tese (que não é a dos platônicos de tendência pitagórica, que
consideravam as idéias como N.; cf. ARISTÓTELES, Met., XIV, 3) é substancialmente apoiada por
Aristóteles: "As entidades matemáticas não são mais substâncias que os corpos; precedem na lógica, mas
não na existência, as coisas sensíveis, e não podem existir separadamente. Mas, desde que não podem
sequer residir nas coisas sensíveis, não devem existir de modo absoluto, ou devem existir de algum modo
especial, que não é a existência absoluta" {Met., XIII, 3, 1077 b 12). Este modo de existência especial,
próprio das entidades matemáticas, é definido pelas próprias proposições matemáticas: "É estritamente
verdadeiro" — diz Aristóteles — "que existem entidades matemáticas e que elas são tais quais a
matemática diz que são" {Ibid., XIII, 3, 1077 b 31). Aristóteles pretende dizer que as entidades
matemáticas têm uma existência análoga às entidades da física (p. ex., ao movimento): são abstraídas das
causas sensíveis, mas não são separáveis destas. Desse ponto de vista, o número é "uma pluralidade
medida ou uma pluralidade de medida", e a unidade não é um N., mas medida do N. {Met., XIV, 1, 1088
a 5): definição que repete a de Platão e antecipa a de Euclides, já lembrada.
2a A segunda fase conceptual da noção de N. pode começar com Descartes: "O N. que consideramos em
geral, sem refletirmos sobre coisa alguma criada, não existe fora de nosso pensamento, assim como não
existem todas as outras idéias gerais que os escolásticos incluem sob o nome de universais" {Princ.phil, I,
58). Em outras palavras, o N. é uma idéia, um ato ou uma manifestação do pensamento. A definição daí
resultante é a de operação.- o N. é uma operação de abstração executada sobre coisas sensíveis. Esse
conceito é repetido muitas vezes na filosofia moderna. Hobbes pôs o N. entre as coisas "não existentes",
que são ape-
NÚMERO
719
NÚMERO
nas "idéias ou imagens" (De cotp., VII, § 1). Locke vê no N. uma idéia complexa, mais precisamente um "modo
simples obtido através da repetição da unidade" (Ensaio, II, 16, 2); no mesmo sentido, Leibniz diz que o N. é uma
idéia adequada ou completa, ou seja, "uma idéia tão distinta que todos seus ingredientes são distintos" (Nouv. ess., II,
31,1). Berkeley afirma que o número "é inteiramente criatura do espírito" (Princ. of Human Knowledge, I, 12).
Newton afirma que por N. é preciso entender "não tanto a multidão das unidades quanto a relação entre a quantidade
abstrata de uma qualidade e uma quantidade do mesmo gênero que se assume como unidade" (Arithme-tica
universalis, cap. 2). Definição análoga é a de Wolff, para quem "o N. geralmente tem com a unidade a mesma relação
que uma reta qualquer pode ter com uma reta dada" (Ont., § 406). Esta definição, como a de Newton, faz do N. a
operação com que se estabelece uma relação de medida.
Kant só fazia expressar o mesmo conceito geral ao afirmar que o N. é um esquema (v.), mais precisamente que ele é
"a representação que compreende a sucessiva adição de um a um (homogêneos)" (Crít. R. Pura, Anal. dos princ, cap.
1). A novidade do conceito kan-tiano é que o N. não é uma operação empírica, efetuada em material sensível, mas
uma operação puramente intelectual, que atua sobre a multiplicidade dada pela intuição pura (do tempo), que é
absolutamente homogênea. Isto faz do N. algo independente da experiência, dotado de um gênero de validade que
não é o empírico; mas o N. continua sendo uma operação do sujeito. Enquanto esta concepção kan-tiana era
representada várias vezes na filosofia do séc. XIX, Stuart Mill voltava ao conceito do N. como operação empírica de
abstração: "Todos os N. devem ser N. de algo: não há N. em abstrato". Portanto, os N. são produtos de uma "indução
real, de uma inferência real de fatos a fatos", e tal indução só é ocultada pela sua natureza abrangente e pela
conseqüente generalidade de linguagem em que desemboca (Logic, II, 6, 2). De certo modo, as posições de Kant e de
Stuart Mill são típicas dessa fase subjetiva do conceito de N.: o N. é uma operação intelectual pura para Kant, é uma
generalização empírica para Stuart Mill, mas em ambos os casos pertence à esfera da subjetividade. Pertencem a essa
concepção do N. as doutrinas de Cantor e de Dedekind. Para Cantor, o fundamento do N.
é a faculdade que o pensamento tem de agrupar os objetos e de abstrair da natureza e da ordem deles (o que dá lugar
ao N. cardinal) ou apenas da natureza deles (o que dá lugar ao N. ordinal). Dedekind, por sua vez, fundou o conceito
de N. na operação de emparelhar ou acoplar as coisas. Conquanto matematicamente profícuas, essas noções mantêm
o conceito de N. no âmbito da subjetividade.
3a A terceira fase conceptual da noção de N. (a de N. objetivo, mas não real) foi iniciada pela obra de Frege
Fundamentos da aritmética (1884). Frege atribuía caráter conceptual ao N., mas também objetividade. Isto, em
primeiro lugar, exclui que o N. seja uma operação ou uma realidade psicológica, uma idéia no sentido setecentista do
termo: "O N. não constitui um objeto da psicologia nem pode ser considerado resultado de processos psíquicos, assim
como não se pode considerar desse modo o Mar do Norte. Faço uma distinção nítida entre o que é objetivo e o que é
palpável, real e ocupa espaço. P. ex., o eixo terrestre e o bari-centro do sistema solar são objetivos, mas eu não diria
que são reais como o é a terra" (Die Grundlagen der Arithmetik, § 26; trad. it., pp. 70-71). A matemática já havia
estabelecido a insuficiência da definição de N. como coleção de unidade, por isso levaria a excluir 0 e 1 como N.
(Aristóteles reconhecia esse fato no que diz respeito ao 1; Met., XIV, 1, 1088 a 5). Frege assume como base da
definição de número a extensão (v.) do conceito e diz que "o conceito Fé tão numeroso quanto o conceito G sempre
que existe a possibilidade de pôr em correspondência biunívoca os objetos pertinentes a Ge os pertinentes a F". Em
vista disso, dá a seguinte definição de N..- "O N. natural que cabe ao conceito .Fnada mais é que a extensão aFdo
conceito 'tão numeroso quanto'" (Ibid., § 68, p. 134). Esta definição de Frege foi expressa por Russell em termos de
classes, e não de conceitos. Russell diz: "Quando se tem uma relação termo a termo entre todos os termos de um
conjunto e todos os termos de outro, dizemos que os dois conjuntos são semelhantes. Podemos ver então que dois
conjuntos semelhantes têm o mesmo N. de termos, e definirmos o N. de um conjunto dado como a classe de todos os
conjuntos semelhantes a ele. Resulta a seguinte definição formal: 'o N. dos termos de uma classe dada define-se como
a classe de todas as classes semelhantes à classe dada'" (Our Knowledge of the Externai World, 3a ed.,
NUMERO
720
NUMINOSO
1926, cap. 7; trad. fr., p. 163). A definição de Russell, que serviu de base para Principies of Mathematics
(1905) e Principia mathematica, que ele publicou em 1910 em colaboração com Whitehead (as duas
obras fundamentais da lógica matemática contemporânea), teve grande aceitação na filosofia e na
matemática contemporâneas. Contudo, algumas vezes pareceu restrita demais para as possibilidades de
desenvolvimento da matemática hodierna, que não pretende ficar ligada a um conceito de N. que lhe seja
de algum modo preestabelecido. 4a A quarta fase foi-se configurando em estreita conexão com a
axiomática moderna, e pode ser associada com os nomes de Peano, Hilbert, Zermelo, Dingler. Para esta, o
N. é um signo, definido por um sistema adequado de axiomas. Dingler diz: "Construímos uma série de
signos (sinais gráficos) passíveis de reprodução, que deve possuir as seguintes propriedades: d) a série
tem um primeiro termo; b) a série possui uma regra de construção enunciá-vel de modo finito tal que: a)
está sempre determinado univocamente qual termo da série vem imediatamente à direita de um termo já
assinalado; B) cada termo da série é diferente de todos os termos que o precedem à esquerda" (Die
Methode derPhysik, 1937, cap. 11, 3,
§ 2; trad. it., pp. 137-38). Este ponto de vista pode ser resumido do seguinte modo:
a) não existe um objeto ou entidade única chamada "N.", cujas especificações sejam os N. definidos nos
diversos sistemas numéricos;
b) a validade dos diversos sistemas numéricos depende apenas da coerência intrínseca de cada sistema,
definida pelos axiomas fundamentais;
c) o conceito de N. presente em um sistema numérico não está ligado a uma interpretação determinada,
mas é susceptível de interpretações indefinidamente variáveis. Em outros termos o N. não está imune a
interpretações (como um sinal que nada signifique) e não está ligado a uma interpretação única,
privilegiada, mas caracteriza-se pela possibilidade de interpretações diferentes.
É esta a noção do N. que costuma ser pressuposta nos mais recentes estudos de matemática (v.).
NUMINOSO (in. Numinous-, ai. Numinosè). Foi assim que Rudolf Otto chamou a consciência do
mysterium tremendum, que é algo misterioso e terrível que inspira temor e veneração; essa consciência
seria a base da experiência religiosa da humanidade {Das Heilige, 1917; trad. it., IIsacro, Bolonha, 1926).
o
O. Na Lógica formal "aristotélica" esta letra é usada como símbolo da proposição particular negativa (v.
A).
G. P.
OBEDIÊNCIA (lat. Oboedientia; in. Obe-dience, fr. Obéissance-, ai. Gehorsamkeit; it. Ob-bedienzá).
Segundo Spinoza, esse é o significado específico de fé. Esta consiste "em ter por Deus sentimentos que,
se ausentes, também está ausente a O. a Deus e que, ao contrário, estarão necessariamente presentes
quando estiver presente a O." (Tract. theologico-politicus, cap. 14). Esta redução da fé à O. é expressão
das doutrinas que reduzem fé a ato prático (v. FÉ).
OBJEÇÃO (in. Objection-, fr. Objection; ai. Einwurf; it. Obbiezioné). Argumento cuja conclusão
contradiz certa tese. Leibniz já observava que a verdade não pode ser afetada por "O. invencíveis." "É
preciso ceder sempre às demonstrações, seja as propostas para afirmar, seja as que se apresentem em
forma de obje-ções. E injusto e inútil querer enfraquecer as provas dos adversários sob o pretexto de que
são apenas O., visto que o adversário tem o mesmo direito e pode inverter os nomes, honrando seus
argumentos com o nome de provas e rebaixando os nossos com o depreciativo de O." (Théod., Discours,
§ 25).
OBJETIDADE (fr. Objectité, ai. Objektitàt; it. Oggettitã). Termo utilizado por Schopenhauer para definir
o corpo e as coisas naturais, que seriam "a O. da vontade" no sentido de ser "a vontade objetivada, que se
tornou representação" ÍDie Welt, I, § 18, 25, etc).
OBJETTFICAÇÃO (ai. Objektatiori). Segundo Hartmann, este termo significa "tornar-se objeto para
um sujeito" e define a natureza do conhecimento. AO. éo contrário de objetiva-ção: esta é a
transformação de algo subjetivo em objetivo, enquanto a O. exprime o processo pelo qual um objeto independente do sujeito torna-se objeto de conhecimento (Systema-tische
Philosophie, 1931, § 11).
OBJETIVIDADE (in. Objectivity, fr. Objecti-vité; ai. Objektivitãt; it. Oggettivitã). 1. Em sentido
objetivo: caráter daquilo que é objeto. Neste sentido, Husserl falava de uma "O. primária" que pertenceria
às coisas e as privilegiaria diante dos outros objetos, como propriedade, relações, estados de fato,
conjuntos, etc. Udeen, I, § 10) (v. OBJETO).
2. Em sentido subjetivo: caráter da consideração que procura ver o objeto como ele é, não levando em
conta as preferências ou os interesses de quem o considera, mas apenas procedimentos intersubjetivos de
averiguação e aferição. Neste significado, a O. é um ideal de que a pesquisa científica se aproxima à
medida que dispõe de técnicas convenientes.
OBJETTVISMO (in. Objectivism; fr. Objecti-visme, ai. Objektivismus-, it. Oggettivismó). Qualquer
doutrina que admita a existência de objetos (significados, conceitos, verdades, valores, normas, etc.)
válidos independentemente das crenças e das opiniões dos diferentes sujeitos.
OBJETIVO1 (in. Objective, fr. Objectif, ai. Objektiu, it. Obbiettivó). 1. O mesmo que objeto, quando a
palavra é adotada no sentido de fim ou meta (v. OBJETO).
2. No sentido específico proposto por Meinong, é p objeto do juízo, distinto do objeto da representação.
P. ex., quando se diz: "É verdade que existem antípodas", o O. é constituído por "que existem antípodas".
O O. não é necessariamente existente. Se A não é, o não-ser de Aé um O. tanto quanto o ser de A (JJber
Annahmen, 1902, pp. 142 ss.).
OBJETIVO2 (in. Objective, fr. Objectif, ai. Objektiv-, it. Oggettivó). O que existe como ob-
OBJETIVO2
722
OBJETIVO2
jeto, tem um objeto ou pertence a um objeto. Este adjetivo tem, à primeira vista, mais significados que o substantivo
correspondente, visto que, além dos significados ligados a este último, serviu para significar: o que é válido para
todos, o que é externo em relação à consciência ou ao pensamento, o que é independente do sujeito, o que está em
conformidade com certos métodos ou regras, etc. Tais significados surgiram principalmente da determinação kantiana
do objeto de conhecimento como objeto real ou empiricamente dado. É possível enumerar três significados
fundamentais desse termo: ls o que existe como objeto; 2a o que tem objeto; 3S o que é válido para todos. Os dois
últimos estão intimamente ligados entre si e com os outros significados arrolados.
1Q O primeiro significado corresponde ao significado fundamental de objeto: O. é aquilo que existe como termo ou
limite de uma operação ativa ou passiva. A essa definição corresponde em primeiro lugar o uso desse termo na última
fase da Escolástica, a partir de Duns Scot, quando foi entendido como o que existe como objeto do intelecto,
enquanto pensado ou imaginado, sem que isso implique sua existência fora do intelecto, na realidade. Neste sentido
esse termo era empregado por Scot (De an., 17, 14), por Antônio Andréa (Super artem veterem, 1517, f. 87 r.), por F.
Mayron (In Sent., I, d. 47, q. 4) e por Durand de S. Pourçain (In Sent., I, d. 19, q. 5, 7). Walter Burleigh diz: "Embora
o universal não tenha existência fora da alma, como dizem os modernos, não há dúvida de que, segundo o parecer de
todos, o universal tem existência O. no intelecto, visto que o intelecto pode entender o leão universalmente sem
entender este leão" (Super artem veterem, 1485, f. 59 r.). "Existir objetivamente" significa, neste caso, existir em
forma de representação ou de idéia, ou seja, como objeto do pensamento ou da percepção: esse significado reaparece
com forma idêntica em Descartes (Méd., III, 11), em Spinoza (Et., I, 30; II, 8 cor., etc.) e em Berkeley (Siris, § 292).
Em todos esses casos, o O. não designa o que é real nem o que é irreal, mas simplesmente o que é objeto do intelecto
e pode, numa segunda consideração, revelar-se real ou irreal.
2a Em correspondência com a limitação imposta por Kant ao objeto de conhecimento como objeto "real", há um
segundo significado de O., como o que tem por objeto uma realidade empiricamente dada. Neste sentido, Kant afirma que o conhecimento é "O." ou "objetivamente válido". Já em suas
distinções ter-minológicas Kant inclui esse significado: "Uma percepção que se refira unicamente ao sujeito, como
modificação de seu estado, é sensação; uma percepção O. é conhecimento. Esta ou é uma intuição ou um conceito.
Aquela se refere imediatamente ao objeto e é singular; este lhe diz respeito de modo mediato, por meio de uma
marca, que pode ser comum a várias coisas" (Crít. R. Pura, Dialética, livro I, seção I). Desse ponto de vista, "validade
O." e "realidade" coincidem. Kant diz: "Nossas considerações ensinam a realidade, ou seja, a validade O. do espaço
em relação a tudo o que podemos defrontar no mundo externo como objeto" (Ibid., § 3); e diz analogamente sobre o
tempo: "Nossas considerações demonstram a realidade empírica do tempo, ou seja, sua validade O. em relação a
todos os objetos que podem estar ligados aos nossos sentidos" (Ibid., § 6). Assim, O. é o empiricamente real, e para
Kant o empiricamente real é produto de uma síntese que, para ser efetuada na consciência comum ou genérica, vale
para todos os sujeitos pensantes, e não para um só deles (Prol, § 22). Kant diz: "Os juízos são subjetivos quando as
representações se referem apenas a uma consciência em um sujeito e nele se unificam; ou são O. quando estão
interligados em uma consciência de modo genérico, ou seja, necessário" (Ibid., § 22). Essas considerações servem de
transição à definição de O. feita por Kant no domínio prático e sentimental, ao chamar de O. as leis práticas "que
podem ser reconhecidas como válidas pela vontade de cada ser racional" (Crít. R. Prát., § 1), e de "princípio O." o
acordo universal no juízo estético (Crít. do Juízo, § 22).
3a Essas considerações de Kant possibilitam uma transição para o terceiro significado fundamental de O., o de "válido
para todos". Este significado, muito difundido nas escolas cri-ticistas e idealistas contemporâneas, foi bem expresso
por Poincaré: "Uma realidade completamente independente do espírito que a concebe, a vê ou a sente, é uma
impossibilidade. Se existisse um mundo externo nesse sentido, ele nos seria inacessível. Mas o que chamamos de
realidade O. é, em última análise, aquilo que é comum a vários seres pensantes e poderia ser comum a todos" (La
valeur de Ia science, 1905, p. 9). Poincaré fazia essas consi-
OBJETIVO, IDEALISMO
OBJETO
derações com referência à matemática, mas quase simultaneamente Max Weber impunha esse mesmo conceito de
objetividade à metodologia das ciências sociais, observando que "a verdade científica é válida para todos os que
procuram a verdade" e que mesmo nas ciências sociais há resultados que não são subjetivos no sentido de serem
válidos para uma só pessoa e não para as outras ("A objetividade nas ciências sociais e na política social", 1904, em
TheMethodology oftheSocialSciences, 1949, p. 84). Esse tipo de objetividade chama-se hoje intersubjetivida.de, e
suas condições fundamentais são reconhecidas na posse e no uso de técnicas especiais que, em dado campo, garantam
a comprovação e a aferição dos resultados de uma investigação. Portanto, "válido para todos" significa também
"intersubjetivamente válido", ou "em conformidade com um método qualificado". A esse mesmo conceito de O.
ligam-se os significados de "independente do sujeito" e "externo à consciência". O que é O. no sentido de ser válido
para todos é de fato independente deste ou daquele sujeito, de suas preferências ou avaliações particulares; por outro
lado, o único meio de que o sujeito dispõe para disciplinar ou frear suas preferências e avaliações é recorrer a
procedimentos metodológicos qualificados. Finalmente, a equivalência entre O. e exterior é a transposição desses
mesmos conceitos para o plano da linguagem consciencialista em que o uso das palavras "externo" e "interno" se
justifique de alguma maneira (v. EXTERIORIDADE; REALIDADE).
OBJETIVO, IDEALISMO (ai. Objektiverldea-lismus). Um dos três tipos fundamentais de filosofia: intuição do
mundo, segundo Dilthey, mais precisamente a intuição baseada no sentimento e dominada pela categoria do valor.
Nesse tipo de filosofia Dilthey incluía Heráclito, os estóicos, Spinoza, Leibniz, Shaftesbury, Goethe, Schelling,
Schleiermacher, Hegel; considerava o panteísmo uma de suas características (Das Wesen der Pbilosophie, 1907, III,
2; trad. it., em Crítica da razão histórica, p. 469) (v. IDEALISMO DA LIBERDADE; NATURALISMO).
OBJETO (lat. Obiectum- in. Object-h. Objetai. Objekt, Gegenstand, it. Oggettó). Termo de qualquer operação, ativa,
passiva, prática, cog-noscitiva, ou lingüística. O significado dessa palavra é generalíssimo e corresponde ao
significado de coisa (v.). O. é o fim a que se tende, a coisa que se deseja, a qualidade ou a realidade percebida, a
imagem da fantasia, o significado expresso ou o conceito pensado. A pessoa é objeto de amor ou de ódio, de estima, de consideração ou de estudo;
neste sentido, o próprio eu é ou pode ser objeto. Toda atividade ou passividade tem como termo ou limite um O.,
qualificado em correspondência com o caráter específico de atividade ou de passividade. Ao lado deste significado
genérico e fundamental, em que esse termo é insubstituível, encontra-se algumas vezes na linguagem filosófica e na
comum um significado mais restrito ou específico, segundo o qual o O. só é O. se tiver alguma validade: p. ex. se é
"real", "externo", independente", etc. (v. OBJETIVO). NO entanto, este segundo significado não elimina o primeiro,
mas o pressupõe.
Essa palavra foi introduzida em filosofia pelos escolásticos, no séc. XIII. É claramente definida por S. Tomás de
Aquino, que diz: "O. de uma potência ou de um hábito é propriamente aquilo sob cuja razão (ratió) se inclui tudo o
que se refere à potência ou ao hábito em questão. P. ex.: o homem e a pedra referem-se à visão por terem cor;
portanto, o que tem cor é o O. da visão" (S. Th., I, q. 1, a. 7). Essa noção de O. foi substancialmente retomada por
Duns Scot, que definiu o O. de um saber como matéria (subjectum) do saber, enquanto aprendida ou conhecida.
Segundo Scot, uma matéria cog-noscível torna-se O. conhecido através de um hábito intelectual relativo a esse objeto
(Op. Ox., Prol., q. 3, a. 2, nQ 4). Jungius só fazia expressar com mais simplicidade a mesma noção ao afirmar:
"Chama-se de O. aquilo em torno do que versam as faculdades, seus hábitos e seus atos" (Lógica, 1638, 1, 9, 37).
Wolff por sua vez dizia: "O. é o ente que termina a ação do agente ou no qual terminam as ações do agente: de modo
que é quase um limite da ação" (Ont, § 949).
Esse significado continuou sendo fundamental na filosofia moderna e contemporânea. A questão do caráter real ou
ideal do O. em geral ou de uma classe específica de O. (p. ex., dos O. físicos ou coisas) não teve influência. Assim,
pode-se considerar O. do conhecimento uma idéia (como queria Berkeley), uma representação (como queria
Schopenhauer), uma coisa material (como queria a escola escocesa do senso comum) ou um fenômeno (como queria
Kant), mas como O. é sempre o termo ou limite da operação cognoscitiva. No entanto, é Kant quem inaugura o uso
restrito do termo, segundo o qual o O., ou mais exatamente o O. de
OBJETO
724 '■' • * *
OBJETO
conhecimento é, de preferência, O. "real" ou "empírico". Kant diz: "Há grande diferença entre ser algo dado à minha
razão como O. em absoluto ou apenas como O. na idéia. No primeiro caso, meus conceitos passam a determinar o O.;
no segundo, o que existe de fato é só um esquema ao qual não se atribui diretamente nenhum O., nem por hipótese,
mas que serve apenas para representar outros O., em sua unidade sistemática, por meio de sua relação com a idéia.
Assim, digo: o conceito de uma inteligência suprema é uma simples idéia; vale dizer: sua realidade objetiva não deve
consistir em que ele se refira diretamente a um O. (pois seu valor objetivo não pode ser justificado desse modo), mas
é apenas um esquema, organizado segundo as condições da máxima racionalidade do conceito de uma coisa em
geral" {Crít. R. Pura, Dialética, Apêndice). Essas considerações de Kant são uma reiteração de que a idéia da razão
pura não tem propriamente O. porque O. é somente o empírico (a coisa natural), e a idéia refere-se apenas
indiretamente a um grupo de tais objetos. Todavia, esse significado específico do O. não elimina, nem para Kant, o
significado geral e fundamental. De fato, esse filósofo não só considera o conceito de O. como o "mais elevado" em
filosofia (v. o fim deste verbete), como também fala de uma "distinção de todos os O. em geral em fenômenos e
númenos", considerando o númeno como "o O. de uma intuição não sensível", admitida em hipóteses, que poderia
pertencer a um intelecto divino {Crít. R. Pura, Anal. dos Princ, cap. III). Por outro lado, para Kant, além do O. de
conhecimento, há "o O. da razão prática", que é "a representação de um O. como de um efeito possível através da
liberdade" {Crít. R. Prática, I, Livro I, cap. 2); isso significa que neste caso o O. é o termo ou resultado de uma ação
livre. O que em todo caso constitui o O. é sua função de limite ou termo de uma atividade ou de uma operação
qualquer. Essa noção não desaparece nem nas formas mais radicais de idealismo: para o próprio Fichte, o O. é o
limite da atividade do Eu: "O Eu põe-se como limitado pelo não-eu" ( Wis-senschaftslehre, 1794, § 4. A), e o não-eu
nada mais é que O. {Ibid., § 4 E. III; trad. it., p. 143). Analogamente, qualquer outra determinação que os filósofos
possam criar sobre a natureza do O. tem como ponto de partida a sua definição geral. P. ex., o O. pode ser
considerado um dado (como costumam fazer os empiristas) ou como umjro-blema (como fizeram os neocriticistas; p. ex. Natorp, PlatosIdeenlehre, p.
367), mas só pode ser uma ou outra coisa se é considerado como o termo ou limite da atividade cognoscitiva.
Na filosofia contemporânea, o recurso à noção de intencionalidade{v.) permitiu reconhecer claramente o caráter geral
da noção de O. Brentano, que foi o primeiro a reintroduzir essa noção, diz que "todo fenômeno psíquico inclui em si
alguma coisa como O., embora nem sempre da mesma forma. Na representação, há algo representado; no juízo, algo
reconhecido ou negado; no amor, algo amado; no ódio, algo odiado, etc." {Psychologie vom empirischen Standpunkt,
1874, I, p. 115). E Husserl ainda generalizou o conceito, distinguindo O. e "O. percebido": "Deve-se notar que o O.
intencional de uma consciência (tomado como pleno correlato dela) não é absolutamente igual ao O. apreendido
{erfasstes). Costumamos pressupor o ser apreendido no conceito de O. (O. intencional), porquanto, ao pensarmos
nele ou falarmos sobre ele, temo-lo como O. no sentido de apreendido. (...) Com certeza só podemos lidar com uma
coisa física apreendendo-a, e o mesmo se diga de todas as objetividades francamente representaveis... Ao contrário,
no ato de avaliar, de alegrar-se, de amar, de agir, lidamos com valor, com o O. da felicidade, com o O. amado, com a
ação, respectivamente, sem apreender nada de tudo isto" {Ideen, I, § 37). Paralela e analogamente, Meinong defendia
o significado generalíssimo da noção de O. {Gegenstand), dividindo-a nas classes de O. da representação {Objekte) e
de O. do juízo {Objektivé) {Über Annahmen, 1902, pp. 142 ss.). Quase ao mesmo tempo, no domínio da lógica
matemática, Frege defendia uma noção substancialmente idêntica do O., identificando-o com o significado: "O
significado de uma palavra é o O. que indicamos com ela" {Über Sinn undBedeutung, 1892, § 3; trad. it., p. 222),
pretendendo dizer que o O. é o termo ou limite da operação lingüística, do uso do signo. Wittgenstein, por sua vez,
dizia: "O nome variável '^éo signo do pseudoconceito objeto. Sempre que o termo O. ('coisa', 'entidade', etc.) é usado
corretamente, é expresso no simbolis-mo lógico pelo nome variável" {Tractatus, 4.1272). Não muito distante disso
está a noção de O. exposta por Dewey, para quem O. é o resultado de uma operação de investigação: "O nome O. será
reservado à matéria tratada, na
OBJETOS, TEORIA DOS
725
OBSERVAÇÃO
medida em que foi produzida e organizada de modo sistemático por meio da investigação; prolepticamente, objetos
são os objetivos da investigação. A ambigüidade que se poderia encontrar no uso do termo, neste sentido (pois de
regra a palavra se aplica às coisas observadas e pensadas), é apenas aparente, visto que as coisas existem como O.
para nós só se tiverem sido preliminarmente determinadas como resultados de investigação" {Logic, cap. 6; trad. it.,
p. 175). É fácil ver que a diferença entre essas definições de O. é apenas a diferença entre as atividades ou as
operações consideradas: O. é o termo do significado, se considerarmos a linguagem e,-em geral, o uso dos signos; é o
termo de uma operação de investigação se considerarmos a pesquisa científica; e assim por diante; mas em todo caso
é (como já julgavam os escolásticos) o termo ou o limite de determinada operação.
Assim, a palavra O. é o termo mais geral de que dispõe a linguagem filosófica. Kant tinha razão ao afirmar que, se "o
conceito mais elevado de que se costuma partir na filosofia transcendental é a divisão entre possível e impossível",
visto que toda divisão pressupõe um conceito a ser dividido, "deve-se aduzir um conceito ainda mais elevado, que é o
conceito de O. em geral, assumido de modo problemático, sem decidir se ele é algo ou nada" {Crít. R. Pura, Anal.
dos Princ, Nota às anfibolias dos conceitos da reflexão). É óbvio que o conceito de O. não coincide inteiramente com
nenhuma de suas especificações possíveis. As coisas, os corpos físicos, as entidades lógicas e matemáticas, os
valores, os estados psíquicos, etc, são todos O., especificados ou especificáveis por meio de modos de ser particulares
ou procedimentos de verificação particulares; mas nenhuma dessas classes de O. possui uma objetividade privilegiada
e nenhuma se presta a exprimir, em seu âmbito, a característica do O. em geral. OBJETOS, TEORIA DOS (ai
Gegenstands-tbeorié). Foi assim que A. Meinong chamou a ciência que considera os O. como O. sem levar em conta
suas especificações (realidade ou irrealidade, etc). Essa ciência não é a metafísica no sentido tradicional porque esta
considera a totalidade dos O. existentes, que são apenas uma pequena parte dos objetos possíveis (cf. Über
Annahmen, 1902; Gegen-standstheorie, 1904; Zur Grundlegung der all-gemeinen Werththeorie, 1923) (v. OBJETIVO;
OBJETO).
OBRIGAÇÃO (lat. Obligatia, in. Obligation;
fr. Obligation; ai. Verpflichtung; it. Obbligazio-né). 1. Caráter coercitivo, conferido a uma relação interpessoal por lei
jurídica ou por norma moral. Esse caráter é diferente da necessidade (v.), segundo a qual é impossível que a coisa
seja ou aconteça de modo diferente: a O. não impede que a relação de fato, por ela regida, se configure de modo
diferente, mas implica, neste caso, a intervenção de uma sanção. Algumas vezes o caráter obrigatório da relação
expressa-se com a noção de necessidade moral ou ideal (v. NECESSIDADE), sem que com isto se pretenda reduzi-lo à
necessidade propriamente dita. Bergson foi o único que procurou substancialmente reduzir O. a necessidade de fato,
entendendo por O. os costumes sociais e por O. em geral "o costume de contrair costumes" {Deux sources, cap. I).
2. Na lógica terminista medieval, o compromisso em vista do qual um interlocutor admite na discussão algo que antes
não admitia. Esta é a definição dada por Ockham {Summa log., III, 38), que admite seis espécies de obrigações:
instituição, petição, posição, deposição, dubita-ção e o sit verum.
A instituição (institutio) consiste em atribuir a um vocábulo um significado novo durante a discussão, e não mais
{Summa log., III, III, 38). A petição (petitio) consiste em obrigar o interlocutor a este ou aquele ato que diga respeito
à sua função, como p. ex. a conceder uma proposição {Ibid., III, III, 39). A deposição (depositió) é a obrigação de
sustentar uma proposição como falsa {Ibid., III, III, 42). A dubitação {dubitatió) é a obrigação de sustentar alguma
coisa como dúbia {Ibid., III, III, 43). Quanto a posição e o sit verum, ver os verbetes respectivos.
OBSERVAÇÃO (in. Observationjr. Observa-tion; ai. Beobachtung). Verificação ou constatação de um fato, quer se
trate de uma verificação espontânea ou ocasional, quer se trate de uma verificação metódica ou planejada. A O. foi
algumas vezes restringida ao primeiro significado; neste caso, contrapõe-se a experiência ou experimentação como
verificação deliberada ou metódica (cf. C. BERNARD, Intro-duction à 1'étude de Ia medicine expérimentale, 1865,1,
cap. 1). Outras vezes foi restringida ao segundo significado, caso em que se contrapõe a experiência ingênua,
primitiva, comum ou ocasional (nesse sentido, este termo é empregado habitualmente na linguagem científica
OBSERVAÇÃO
726
OCASIONALISMO
contemporânea). Em vista disso, é possível estudar ambos os significados, distinguindo: l s O. natural, em
que as condições da O. não são planejadas ou planejáveis; e 2° O. experimental (ou experimentação), que
é a O. planejada, caracterizada pela aferição das variáveis. Neste segundo tipo de O., pode-se agir sobre a
variável independente e estudar o comportamento correspondente da variável dependente, ou seja, da
função vinculada.
Qualquer O., seja natural ou experimental, apresenta a divisão entre sistema observante e sistema
observado. A validade desta divisão foi posta à prova (e reconfirmada) pela física quântica, a propósjto
das relações de indeter-minação (v.), ou*seja, da ação que o sistema observante exerce sobre o sistema
observado. Bohr e Heisenberg mostraram que, ao mesmo tempo que o limite entre sistema observante e
sistema observado não é rígido — no sentido de serem possíveis descrições diferentes de um mesmo
fenômeno em que esse limite mude (cf. BOHR, "Wirkumsquantum und Naturbeschrei-bung", em
Naturwissenschaften, 1929 [26], pp. 484-85) —, se ele faltar, também faltará o caráter físico do sistema.
Pode-se evitar calcular a ação perturbadora do sistema observante in-cluindo-o no cálculo. Mas como
mesmo assim resta a indeterminação a respeito da O. do sistema observante, seria preciso incluir no
sistema observado nossos olhos também. Neste caso — nota Heisenberg — "só se poderia tratar
quantitativamente a cadeia de causas e efeitos quando se considerasse o universo inteiro como parte do
sistema observado, mas então a física desapareceria, ficando apenas um esquema matemático. A
subdivisão do mundo em sistema observante e sistema observado impede assim a nítida formulação da lei
causai" (Die physikaliscben Prinzipien der Quanten-theorie, 1930, IV, § 1). Como observa o próprio
Heisenberg, por "sistema observante" não se deve entender necessariamente o observador humano, visto
que por este se pode entender também uma chapa fotográfica ou um aparelho qualquer. Portanto, a
divisão entre sistema observante e sistema observado, que a física julga indispensável para dar significado
físico (não puramente matemático) a seus enunciados, não eqüivale à distinção filosófica tradicional entre
objeto e sujeito, à qual, por outro lado, também se opõe a afirmada mobilidade do limite de demarcação
entre os dois sistemas.
OBSTÁCULO (in. Obstacle, Hindrance, fr. Obstacle, ai. Hinderniss; it. Ostacoló). Limite à atividade.
Fichte definiu o O. do seguinte modo: "O que significa uma atividade e como se torna atividade?
Simplesmente pelo fato de a ela se opor um O." (Sittenlehre, 1798, Intr., § VI; Werke, IV, p. 7). Cf. R. LE
SENNE, Obstacle et valeur, 1934.
OBVERSÃO (in. Obversion; fr. Obversion; ai. Obversion; it. Obversioné). Este termo de origem recente
(provavelmente devido a JEVONS, Elementary Lessons in Logic, p. 85) designa a transformação de uma
proposição em uma proposição equipolente através da dupla negação: p. ex., a transformação da
proposição "todos os homens são mortais" em "nenhum homem é não mortal".
OCAMISMO (in. Ockhamism; fr. Occamis-me; ai. Ockhamismus-, it. Occamismó). Com este termo foi
chamada desde o séc. XV a corrente filosófica iniciada por Ockham no último período da Escolástica
medieval, caracterizada pelos seguintes pontos básicos: Ia empirismo, como privilégio concedido à
experiência (ou "conhecimento intuitivo") para a prova e a verificação da verdade; 2- nominalismo,
negação da realidade dos universais e sua redução a signos naturais; 3 S terminismo, lógica da suposição
(v.), para a qual os conceitos são termos que estão em lugar das coisas reais; 4 a cepticismo teológico,
segundo o qual é impossível demonstrar ou racionalizar as verdades da fé e atribui-se às provas da
existência de Deus apenas valor provável. Por este último ponto, Lutero denominou-se e foi chamado de
ocamista. Os outros pontos foram defendidos e ilustrados na escolástica da segunda metade do séc. XIV e
dos primeiros decênios do séc. XV.
OCASIÃO (in. Occasion; fr. Occasion; ai. Gelegenheit; it. Occasioné). Situação que provoca ou facilita
a intervenção de uma ação livre. Causas ocasionais: causas consideradas como ocasiões para a ação
direta de Deus (v. OCASIONALISMO).
Kierkegaard ressaltou o valor da O. como "categoria do finito", que pode ser "pretexto ou causa". Neste
sentido, a O. é a "última e verdadeira categoria de transição da esfera da idéia à da realidade" (Autaut, "Os
primeiros amores"; trad. fr., Prior e Guignot, pp. 186 ss.).
OCASIONALISMO (in. Occasionalism, fr. Oc-casionalisme, ai. Occasionalismus-, it. Occasionalismó). Doutrina segundo a qual a única causa de todas as coisas é Deus e que as chamadas
OCORRÊNCIA
727
ONTOLÓGICA, PROVA
causas (segundas ou finitas) são apenas ocasiões de que Deus se vale para levar a cabo seus decretos. Esta doutrina
foi defendida pela primeira vez pela seita filosófica árabe dos Mota-kallimun (cf. MAIMÔNIDES, Guide des égarés, I,
73), sendo depois retomada na idade cartesiana pelos pensadores que quiseram utilizar a doutrina de Descartes para
defender crenças religiosas tradicionais (Louis De La Forge, Gérard de Cordemoy, J. Clauberg e A. Geulincx, que
viveram no séc. XVII). Geulincx foi o melhor expositor da doutrina, que visa substancialmente a negar ao homem
qualquer poder efetivo no mundo e a atribuí-lo a Deus. Ao O. opuseram-se Spinoza e Leibniz; era defendido por
Male-branche, que a respeito concluía que, não podendo ser produzido pelas coisas (que não são causas), o
conhecimento humano é uma visão das coisas em Deus (Rechercbe de Ia vérité, 1674-75).
OCORRÊNCIA (in. Tokeri). Esse foi o nome que Peirce deu ao sinsigno, ou seja, "um acontecimento singular, que
ocorre só uma vez, cuja identidade limita-se a essa única ocorrência e ao objeto ou coisa singular que é um espaço
singular ou um único instante do tempo". P. ex., quando se diz que a palavra "o" aparece vinte vezes em dada página
de determinado livro, diz-se que o "o" é uma O.; no entanto, quando se fala do artigo "o" na língua portuguesa, fala-se
de um tipo (Coll. Pap., 4.537). Esse termo passou a ser empregado comumente em filosofia de língua inglesa. Assim,
token-sentence, ou token-reflexive, é um enunciado do tipo "o enunciado da lousa está mal escrito", ou então um
enunciado aduzido puramente como exemplo, como o discutido por Aristóteles (De int., 9,19 a segs.): "Amanhã
haverá uma batalha naval".
OCULTAS, QUALIDADES, V OCULTO. OCULTISMO (in. Occultism; fr. Occultisme, ai. Okkultismus-, it.
Ocultismo). Crença em fenômenos que se julgam produzidos por forças ocultas ou crença na validade das ciências
ocultas. Por O. pode-se entender o conjunto de tais ciências: magia, astrologia, metapsíquica, teoso-fia, etc. (v.
verbetes específicos).
OCULTO (in. Occult; fr. Occulte- ai. Okkult; it. Occultó). O que se escapa à visão e só pode ser descoberto por
quem tem uma segunda visão, no sentido de ser iniciado numa forma superior de saber. Neste sentido ciência oculta
é, em primeiro lugar, a magia: Cornélio Agripa, em De occultaphilosophia (1510), incluía na magia
todas as ciências possíveis. Mas hoje também se chama de ciências O. a teosofia, a parapsicologia, etc, seja por
lidarem com fenômenos considerados manifestações de forças O. seja porque se ache que o estudo de tais fenômenos
deve ser reservado a quem se iniciou numa ordem superior de conhecimentos esotéricos. A partir do séc. XVII
começou-se a chamar de qualidades O. as causas formais e finais do aristotelismo e da escolástica, pretendendo-se
ressaltar com essa expressão que recorrer a tais causas eqüivalia a recorrer a fatores mais desconhecidos que os
próprios fenômenos, incapazes, portanto, de explicá-los. "Os aristotélicos" — dizia Newton — "não deram o nome de
qualidades O. às qualidades manifestadas, mas às qualidades que supunham estar nos corpos como causas
desconhecidas de efeitos manifestados" (Opticks, 1704, III, 1, q. 31).
OFELIMIDADE (in. Opbelimity, fr. Ophé-limité; ai. Ophelimitàt; it. Ofelimitã). Termo criado por Vilfredo Pareto
iCours d'économie politique, Lausanne, 1896) para designar a qualidade fundamental dos objetos econômicos, que é
o valor do uso, que nem sempre coincide com a utilidade; p. ex., um estupefaciente tem O., mas não utilidade.
OLIGARQUIA. V. GOVERNO, FORMAS DE.
ONIROLOGIA. Interpretação dos sonhos (v. Sonho).
ONIPOTÊNCIA, ONISCIÊNCIA. V TEODICÉIA.
ÔNTICO (in. Ontic; fr. Ontique; ai. Ontisch; it. Onticó). Existente: distinto de ontológico, que se refere ao ser
categorial, isto é, à essência ou à natureza do existente. P. ex., a propriedade empírica de um objeto é uma
propriedade O.; a possibilidade ou a necessidade é uma propriedade ontológica. Essa distinção foi ressaltada por
Heidegger: "'Ontológico', no sentido dado à palavra pela vulgarização filosófica (e aqui se mostra a ôbnfusão radical)
significa aquilo que, ao contrário, deveria ser chamado de O., ou seja, uma atitude tal em relação ao ente que o deixe
ser em si mesmo, no que é e como é. Mas nem por isso se propôs ainda o problema do ser, e muito menos se atingiu
aquilo que deve constituir o fundamento para a possibilidade de uma 'ontologia'" ( Vom Wesen des Grandes. I, ng 14;
trad. it., p. 23).
ONTOGÊNESE. V. BIOGENÉTICA, LEI.
ONTOLOGIA. V. METAFÍSICA.
ONTOLÓGICA, PROVA. V. DEUS, PROVAS
DE.
ONTOLOGISMO
728
OPERACIONISMO
ONTOLOGISMO (in. Ontologism; fr. Onto-logisme; ai. Ontologismus-, it. Ontologismó). Doutrina segundo a qual
"o trabalho filosófico não começa no homem, mas em Deus; não sobe do espírito ao Ente, mas desce do Ente ao
espírito" (GIOBERTI, Intr. alio studio delia fii, 1840,11, p. 175). O O. opõe-se ao psicologismo, que segue caminho
oposto e é considerado típico da filosofia moderna, a partir de Descartes. A tese fundamental do O. é de que o homem
possui uma visão ou intuição imediata direta do ente: ou do ente genericamente entendido como noção geral do ser
(como julga Rosmini) ou do ente entendido como o próprio Ente supremo, Deus (como julga Gioberti). Esta tese
fundamental deriva do agostinismo escolástico, que sempre insistiu na iluminação direta do intelecto humano por
Deus, e, mais imediatamente, dos ocasionalistas e de Male-branche, que reduziram toda espécie de conhecimento à
visão em Deus (v. AGOSTINISMO; OCASIONALISMO). Contudo, o O. inclui-se no quadro do retorno romântico à
tradição que domina a filosofia européia na primeira metade do séc. XIX e ressalta os dois conceitos interligados,
revelação e tradição. De fato, intuição do ente é entendida como a revelação que o ente faz de si próprio ao homem.
O O. de Rosmini limita essa revelação à noção geral do ser ou "ser possível", entendido como forma fundamental e
originária da mente humana e como condição de qualquer conhecimento, que seria síntese entre a idéia do ser e um
dado sensível (Nuovo saggio sull'origine delle idee, 1830, §§ 492, 537). O ato do conhecimento assim entendido é a
percepção intelecti-va (v.). Para Gioberti, porém, Deus revela-se ao homem (à intuição) em sua própria atividade
criadora, e a intuição expressa-se plenamente na fórmula "o Ente cria o existente", que relaciona três realidades:
causa primeira, substâncias criadas e ação criadora (Int. alio studio delia fii, 1840, II, p. 183). Tanto Rosmini quanto
Gioberti tacham a filosofia moderna de subjetivista, de psicologista e de nihilista, mas na realidade, como já
dissemos, sua doutrina é francamente romântica e encontra correspondência na filosofia do segundo Schelling, na de
Schleiermacher e na de outros expoentes românticos. Uma continuação do O. na filosofia contemporânea pode ser
considerada a filosofia de P. Carabellese, que procurou conciliar Rosmini com Kant. Carabellese considera a
consciência, que é o ponto de partida e o único fundamento da filosofia, como a consciência que o sujeito tem do ser, mas, ao contrário de Rosmini e de Gioberti,
considera o ser como absolutamente imanente à própria consciência. No entanto, também Carabellese chama esse ser
de Deus e considera-o fundamento da objetividade de todas as coisas particulares que a consciência pode atingir
(Critica dei concreto, 1921; II problema teológico come filosofia, 1931).
ONTOTEOLOGIA. V. TEOLOGIA, 2a.
OPERAÇÃO (lat. Operatia, in. Operation, fr. Operation; ai. Operation; it. Operazionè). 1. Atividade em geral. Este
é o significado do termo na Idade Média, quando foi usado como tradução do grego èvépYEia, que eqüivale a
atualidade ou atividade. Foi neste sentido que S. Tomás de Aquino empregou essa palavra (p. ex., S. Th., II, I, q.3,
a.2); para ele, vale o princípio de que "o modo de agir de cada coisa segue seu modo de ser" (Ibid., I, q. 89, a. 1).
2. Função no significado 1: atividade caracterizada por certo fim e própria de um ser determinado. Neste sentido se
diz, p. ex., que "a O. da física é calcular resultados que possam ser confrontados com a experimentação", ou que "a O.
da ciência é demonstrar", etc.
3- Função no significado 2: relação ou correlação. Neste sentido, fala-se de O. matemáticas ou lógicas.
4. Técnica manual, procedimento manipu-lativo a ser efetuado segundo determinadas regras; p. ex., O. de medida, O.
de produção, etc.
OPERACIONISMO (in. Operationism; fr. Opérationisme, ai. Operationismus; it. Opera-zionismó). Doutrina
segundo a qual o significado de um conceito científico consiste unicamente em determinado conjunto de operações.
O primeiro a propor essa doutrina foi P. W. Bridgman, que assim a ilustrou, com um exemplo que ficou clássico:
"Conhecemos aquilo que chamamos de comprimento só se podemos dizer qual é o comprimento de qualquer objeto,
e o físico não exige mais que isso. Para encontrar o comprimento de um objeto devemos executar certas operações
físicas. Portanto, o conceito de comprimento é fixado quando são fixadas as operações com as quais o comprimento é
medido, ou seja, o conceito de comprimento implica nada mais nada menos que o conjunto de operações com as
quais o comprimento é determinado. Em geral, por um conceito não entendemos nada mais que con-
OPERADOR
729
OPINIÃO
junto de operações; o conceito é sinônimo do conjunto de operações correspondente. Se o conceito é
físico, tal como o comprimento, as operações são operações físicas reais, como p. ex. aquelas com as
quais o comprimento é medido; se o conceito é mental, como por ex. a continuidade matemática, as
operações são mentais, e através delas determinamos se dado conjunto de grandezas é contínuo"
{TheLogic of Modem Physics, 1927, p. 5). Como se vê, as operações a que Bridgman se referia são as do
significado 4 e 1, mas sua doutrina estendeu-se a qualquer espécie de operação e fora da física foi
utilizada sobretudo pelos psicólogos (cf. S. S. STEVENS, "Psychology and the Science of Science", em
Readings in Phüosophy of Science, ed. P. P., Wiener, 1953, pp. 158-84). Com base nessa extensão da
doutrina do O. e, conseqüentemente, do conceito de operação, os únicos caracteres atribuíveis ao tipo de
operação que pode valer como significado dos conceitos científicos são os de publicidade e repetibilidade: o primeiro exclui o caráter pessoal de certas atividades puramente mentais; o segundo
prescreve a intersubjetividade das operações. Hoje, porém, duvida-se de que o critério operacionista possa
valer para todos os conceitos científicos (cf., p. ex., G. BERGMANN, Phüosophy of Science, 1957, pp.,56
ss.).
OPERADOR (in. Operator, fr. Opérateur, ai. Operator; it. Operatoré). Em lógica: um símbolo
impróprio [ou sincategoremático (v.)], que pode ser usado, juntamente com uma ou mais variáveis e com
uma ou mais constantes ou formas, para produzir uma nova constante ou forma. Esta é a definição dada
por A. Church {Intr. to Mathematical Logic, 1956, § 06); é a mais genérica e permite incluir no âmbito
desse termo, além dos quantificadores, também: o operador de abstração ou abstrator (que é indicado
por uma variável precedida pela letra X) e ao qual, segundo alguns lógicos, se reduzem todos os outros; e
o O. de descrição ou descritor ('), que, quando é a variável do O., como em (X), lê-se:" % tal que". Os O.
quantificadores ou simplesmente quantificadores são: o universal, para o qual se usa a notação "(%)",
posta antes do operando e que se lê "para todos os % é verdade que"; o existencial, para o qual se usa
habitualmente a notação (3) e que, se for a variável do quantificador, como em (3 x), lê-se "existe um x tal
que". A aplicação de um ou mais quantificadores a um operando chama-se quantificação. As notações
citadas são as mais
comumente empregadas na lógica contemporânea, mas não são as únicas. Para maiores informações,
confrontar a citada Introduction de Church.
OPINIÃO (gr. ôóÇa; lat. Opinia, in. Opinion; fr. Opinion; ai. Meinung; it. Opinioné). Este termo tem
dois significados: o primeiro, mais comum e restrito, designa qualquer conhecimento (ou crença) que não
inclua garantia alguma da própria validade; no segundo, designa genericamente qualquer asserção ou
declaração, conhecimento ou crença, que inclua ou não uma garantia da própria validade. Este segundo
significado é mais usado do que explicitamente definido. No primeiro significado, O. contrapõe-se à
ciência (v.).
O primeiro significado já se encontra em Parmênides, que contrapõe "as opiniões dos mortais" à verdade
{Fr., 1, 29-30), mas ambos os significados já se encontram em Platão. Este, por um lado, considera a O.
como algo intermediário entre o conhecimento e a ignorância {Rep., 478 c), incluindo nela a esfera do
conhecimento sensível (conjetura e crença) {Ibid., VI, 510 a); deste ponto de vista, afirma que nem a O.
verdadeira fica imóvel na alma, "até se ligar a um raciocínio causai" e tornar-se ciência {Men., 98 a; cf.
Fil., 59 a). Por outro lado, considera a O. como a conversa que a alma tem consigo mesma, em que
consiste o pensamento {Teet., 190 a-c); neste sentido a própria ciência nada mais é que uma espécie de
opinião. Os dois significados também se encontram em Aristóteles, que por um lado afirma, como Platão,
que, ao contrário da demonstração e da definição, as O. estão sujeitas a mudar e portanto não constituem
ciência {Met., VII, 15, 1039 b 31); por outro lado declara: "Por princípio entendo as O. comuns nas quais
todos os homens baseiam suas demonstrações; p. ex.: que uma asserção deve ser afirmativa ou negativa,
que nada pode simultaneamente ser e não ser, etc." {Ibid., III, 2, 996 b 27).
Na tradição posterior, o significado genérico perdeu-se, permanecendo o outro. Os estóicos definiram a
O. como "assentimento fraco e ilusório" (SEXTO EMPÍRICO, Adv. math., VII, 151; cf. CÍCERO, Tusc, IV, 7,
15), e, no mesmo sentido, Epicuro chamou de O. "uma assunção que pode ser verdadeira ou falsa" (DIÓG.
L., X, 33). Com outras palavras, S. Tomás de Aquino expressava a mesma coisa: "A O. é o ato do
intelecto que se dirige para um lado da contradição por medo do outro" {S. Th., I, q.79, a.9). Wolff
OPINIÃO
730
ORDEM
chamava de O. "a proposição insuficientemente provada" ÍLog., § 602), e Spinoza identificava a O. com o
conhecimento do primeiro gênero, que é o menos elevado e seguro e provém de signos (Et., II, 40, Scol.
II). Da mesma forma Kant diz: "A O. é uma crença insuficiente tanto subjetiva quanto objetivamente, de
que se está cônscio". Estar cônscio consiste em "não poder presumir opinar sem pelo menos saber algo
por meio do qual o juízo problemático tenha certa conexão com a verdade"; de outro modo, "tudo não
passa de jogo da imaginação, sem a menor relação com a verdade" (Crít. R. Pura, Doutr. do Método, cap.
2, seç. 3)- Kant afirmava também (loc. cit.} que "nos juízos que derivam da razão pura não é
absolutamente permitido opinar", e que, portanto, não se pode opinar nem no domínio da matemática nem
no domínio moral. Mas Hegel negava que houvesse opiniões, mesmo no domínio da filosofia: "Uma O. é
uma representação subjetiva, um pensamento casual, uma imaginação que crio desta ou daquela maneira
e que outro pode criar de modo diferente; a O. é um pensamento meu, não um pensamento em si
universal, que seja em si e por si. Mas a filosofia não contém opiniões, já que não existem opiniões
filosóficas" (Geschichte der Philosophie, em Werke, ed. Glockner, XVII, p. 40; trad. it., vol. I, p. 21).
Este ponto de vista foi compartilhado, e ainda é, por todas as filosofias absolutistas; na realidade, é o
ponto de vista da metafísica tradicional. O ponto de vista expresso por Kant, a respeito da impossibilidade
de opiniões em campo científico, foi compartilhado pela ciência positivista do séc. XIX. Mas o
falibilismo que prevalece hoje, tanto em ciência como em filosofia, torna-nos menos desdenhosos e
depreciativos em relação à O. Por um lado, não se considera que a O. seja tão pessoal ou incomunicável
quanto afirmara Hegel. Uma O. científica ou filosófica pode ser compartilhada por muitos, precisamente
como O., sem o disfarce ilusório ou sub-reptício de verdade, ainda que represente em determinada fase da
investigação a hipótese mais racional ou a teoria mais apoiada pelos fatos. Dewey diz: "Na solução de
problemas que pretendem menor exatidão que os casos jurídicos, os juízos são chamados de O., para
distingui-los dos juízos ou asserções justificadas. Porém, se a O. professada tem fundamento, é produto da
investigação e, em tal medida, é um juízo" (Logic, 1939, VII; trad. it., p. 179). Por outro lado, mesmo as
hipóteses
ou teorias mais consolidadas apresentam certa amplitude de interpretações possíveis, que deixa grande
margem à diversidade de O. Finalmente a repugnância compartilhada (e com boas razões) por cientistas e
filósofos a considerar a verdade científica ou filosófica como absoluta e necessária, diminui a diferença
entre a verdade e a O., entre a O. e a ciência. O conceito de O. hoje não é diferente da definição dos
antigos: compromisso frágil e sujeito a revisão, ausência de garantia de validade constituem hoje também
as características da O., mas seu campo estendeu-se muito mais do que os antigos imaginariam ou do que
imaginaram e imaginam os filósofos absolutistas; acima de tudo, perdeu-se nitidez dos limites entre
ciência e O., visto não haver lugar ou região da ciência em que não haja intersecção entre O. e verdade.
OPOSIÇÃO (gr. -cà avn.Keiu.eva; lat. Opposi-tio-, in. Opposition; fr. Opposition; ai. Gegensatz,
Opposition; it. Opposizionè). Relação de exclusão entre termos ou objetos em geral. Aristóteles distinguiu
quatro formas de O.: Ia O. corre-lativa, como p. ex. entre o dobro e a metade; 2a O. contrária, como entre
o bem e o mal, o branco e o preto, etc.; 3 a O. entre posse e privação, como entre a visão e a cegueira; 4 a O.
contraditória, que é a contradição (Cat., 10,11 b 15 ss.) (v. em cada uma destas formas os verbetes
separadamente: CONTRADIÇÃO; CONTRARIEDADE; CORRELAÇÃO; POSSE; e ainda QUADRADO DOS OPOSTOS).
ORDEM (gr. tócÇtç; lat. Ordo; in. Order, fr. Ordre, ai. Ordnung; it. Ordiné). Uma relação qualquer entre
dois ou mais objetos que possa ser expressa por meio de uma regra. Esta noção, que é a mais geral, foi
expressa por Leibniz pela primeira vez numa passagem do Discurso de metafísica (1668): "O que passa
por extraordinário é extraordinário somente em relação a alguma O. particular, estabelecida entre as
criaturas porque, quanto à O. universal, tudo é perfeitamente harmônico. Tanto isso é verdade que no
mundo não só nada acontece que esteja absolutamente fora de regra, como também não se saberia sequer
imaginar algo semelhante. Suponhamos que alguém marque uma quantidade de pontos no papel, de um
modo qualquer: digo que é possível achar uma linha geométrica cuja noção seja constante e uniforme
segundo certa regra, e tal que passe por todos esses pontos na mesma O. com que foram traçados pela
mão. E, se alguém traçar uma
ORDEM
731
ORDEM
linha contínua, ora reta, ora curva, ora de outra natureza, é possível achar uma noção, regra ou equação comum a
todos os pontos dessa linha em virtude da qual as mudanças da linha sejam explicadas. P. ex., não há nenhum rosto
cujo contorno não faça parte de uma linha geométrica e não possa ser traçado de uma só vez por meio de certo
movimento regulado. Mas, quando uma regra é muito complexa, o que lhe pertence passa por irregular. Assim,
podemos dizer que, qualquer que fosse o modo como Deus tivesse criado o mundo, este teria sido sempre regular e
teria uma O. geral" {Disc. de mét., § 6). Neste sentido, a O. consiste simplesmente na possibilidade de expressar com
uma regra, ou seja, de maneira geral e constante, uma relação qualquer entre dois ou mais objetos quaisquer. A noção
de O., neste sentido, não se distingue da noção de relação constante. Mas este é apenas o significado genérico da
noção. No seu âmbito podemos distinguir três noções específicas: Ia O. serial; 2a O. total; 3a grau ou nível.
\- A O. serial é própria da relação antes e depois. Aristóteles observou que esta relação recorre onde há princípio,
porque neste caso as coisas podem estar mais ou menos próximas do princípio. Um antes ou um depois pode ser
determinado em relação ao espaço e ao tempo, ou em relação ao movimento, à potencialidade, ou à disposição.
Mesmo no conhecimento alguma coisa vem antes de outra por definição ou no sentido de que a sensação vem antes
do conceito. Em geral, de duas coisas vem antes a que pode ficar sem a outra: segundo Aristóteles, essa é a expressão
mais genérica dessa forma de O. (Afeí., V, 1018 b 9). Aristóteles parece deste modo privilegiar como O. serial a O.
causai, em que a causa pode subsistir sem o efeito, mas o efeito não pode subsistir sem a causa, e por isso vem depois
dela: interpretação freqüente na tradição filosófica. Agostinho dizia, p. ex.: "Ou demonstrais que alguma coisa pode
acontecer sem causa, ou acreditais, como eu, que nada acontece sem certa O. de causas", identificando deste modo a
noção de O. com a de causalidade (Deord., I, 4,11). Para Spinoza, a O. das coisas coincidia com a sua conexão
causai; considerava sinônimas as duas expressões: "A O. de toda a natureza" e "o nexo das causas" (Et., II, 7, Escol.).
Kant não só fazia a mesma identificação como considerava a O. causai como condição da O. temporal: "Uma coisa
pode ter lugar determinado no tempo só
sob a condição de se presumir, no estado precedente, uma outra coisa que ela precise seguir sempre, segundo uma
regra; donde resulta, em primeiro lugar, que não posso subverter a série de tal modo que o conseqüente seja anterior
ao precedente, e em segundo lugar que, posto o estado precedente, determinado acontecimento deve infalível e
necessariamente seguir-se" (Crít. R. Pura, Anal. dos Princ, cap. II, seç. 3, Analogias da experiência). Analogamente,
para Bergson, a O. natural é "física", "geométrica" ou "automática", e fora dela só há O. "vital" ou "desejada", isto é,
a ordem dos fins (Évol. créatr, 8a edição, 1911, p. 251-52).
No entanto, esse privilégio conferido à O. causai nem sempre obscurece o conceito formal da O. serial. S. Tomás de
Aquino retomava a definição de Aristóteles: "Fala-se sempre de O. em relação a alguns princípios. E assim como se
fala em princípio de muitas maneiras, ou seja, segundo o lugar, como quando se fala do ponto, segundo o intelecto,
como quando se fala do princípio da demonstração, e segundo as causas singulares, assim também se fala de O." (5.
Th., I, q.42, a.3). Nesta passagem, a O. causai é somente uma exemplificação da O. geral. Do mesmo modo, Wolff
definia a O. como " óbvia semelhança, graças à qual as coisas são postas umas à frente das outras ou uma depois da
outra", em que a óbvia semelhança é a constância de relação (.Ont., § 472). O mesmo Kant expressava claramente o
conceito de O. serial ao identificar O. com regularidade, como fez a propósito do conceito formal de natureza (Crít.
R. Pura, § 26). C. I. Lewis observa que a O. aritmética, que se impõe aos objetos naturais, permite que "uma infinita
multiplicidade seja submetida a uma simplicidade finita de regras" (Mindandthe World-Order, 1929; edição 1956, p.
363). Os matemáticos e os lógicos, a partir de Cantor, consideram como O. uma relação delimitada de certas regras.
P. ex., se assumimos a relação precede, bastam as regras seguintes para obter uma O. simples-. ls nenhum termo
precede-se a si mesmo; 2a se a precede be b precede c, então a precede c; 3Q se a e b são dois termos diferentes
quaisquer, «precede bou bprecede a. Pode-se ter, enfim, aquilo que Cantor chamou de "conjunto bem ordenado" ao
admitir uma quarta regra: em toda classe não vazia de termos há um primeiro termo, que precede todos os outros da
mesma classe (cf. A. CHURCH, Intr. to Mathematical Logic, § 55).
ORFISMO
732
ORGANISMO
2- A segunda espécie de O. consiste na disposição recíproca das partes de um todo: como notava Aristóteles, essa
espécie de O. pode referir-se ao lugar, à potência ou à forma (Met., V, 19, 1022 b 1). Esta é a O. que os estóicos
definiam, segundo relata Cícero (Tusc, I, 40, 142), como "a disposição dos objetos em seus lugares justos e
apropriados"; essa definição, como é óbvio, pressupõe que seja previamente disposto, para cada objeto, o lugar justo e
apropriado, com vistas ao fim a que se destina o objeto; por isso, baseia-se no conceito de fim. Se a O. serial é
essencialmente O. causai, a O. total é essencialmente O. final. Foi esta O. que Aristóteles comparou à do exército ou
da casa, sobre a qual disse: "Todas as coisas estão ordenadas em torno de uma única coisa: como numa casa em que
os homens livres estipularam todas as suas atividades ou a maior parte delas, enquanto os escravos pouco contribuem
para o bem comum" {Met., 12, 10, 1075 a 18). É a O. que S. Tomás se Aquino chamava de "O. dos fins" ou "dos
agentes" CS. Th., I, 11, 2109 a 6), que Kant chamou de O. moral ou reino dos finsCv), e Bergson de "O. vital" iÉvol.
créatr., 8a ed., 1911, p. 251). Obviamente, quando essa O. é atribuída ao mundo, considera-se o mundo, ou pelo
menos sua O., como o produto de um agente livre.
33 Finalmente, o terceiro conceito de O. é de grau ou nível. S. Tomás de Aquino já fazia a distinção entre O. como
hierarquia e O. como grau individual da própria hierarquia: "No primeiro sentido" — dizia ele — "a ordem
compreende diversos graus; no segundo, é um único grau, de tal maneira que se fala de várias ordens de uma única
hierarquia" CS. Th., I, q. 108, a. 2). Neste segundo sentido, a O. é simplesmente o grau, o plano ou o nível de uma O.
total.
ORFISMO (lat. Orphismus; in. Orphism; fr. Orphisme; ai. Orphismus, it. Orfismó). Seita fi-losófico-religiosa
bastante difundida na Grécia a partir do séc. VI a.C. e que se julgava fundada por Orfeu. Segundo a crença
fundamental dessa seita, a vida terrena era uma simples preparação para uma vida mais elevada, que podia ser
merecida por meio de cerimônias e de ritos purificadores, que constituíam o arcabouço secreto da seita. Essa crença
passou para várias escolas filosóficas da Grécia antiga (Pitágoras, Empédocles, Platão), mas a importância que alguns
filólogos e filósofos dos primeiros decênios do séc. XX atribuíram ao O. na determinação das características da filosofia grega já não é reconhecida por ninguém. Cf. O. KERN, Orphicorum fragmenta,
Berlim, 1923; I. M. LINFORTH, The Arts of Orpbeus, 1941.
ORGANICISMO (in. Organicism- fr. Orga-nicisme, ai. Organizismus; it. Organicismó). Toda doutrina que
interprete o mundo, a natureza ou a sociedade por analogia com o organismo. O O. é, portanto, bastante antigo e
difundido, pois nele se incluem tanto as antigas especulações físicas do mundo como "grande animal" quanto as
especulações políticas em que o Estado é concebido por analogia com o homem. Mas, na realidade, esse termo (que é
recente e deriva da biologia) faz habitualmente referência só a doutrinas recentes, em particular a de Whitehead, o
qual deu a seu ponto de vista esse nome ou o de "filosofia do organismo". A doutrina de Whitehead adota o conceito
clássico de organismo como totalidade cujas partes não precedem o todo, e considera o universo inteiro como um
organismo nesse sentido (Process and Reality, 1929). Ela é um O. também porque atribui sensibilidade a todo o
mundo real (Ibid., p. 249). Fora da filosofia, esse termo às vezes foi empregado para designar as teorias sociológicas
que interpretam a sociedade humana como um organismo: p. ex. a de Spencer (Principies of Sociology, 1876).
ORGÂNICO (in. Organic; fr. Organique, ai. Organisch; it. Orgânico). Que é um organismo ou pertence ao
organismo. Além dos significados relativos a esse termo, o adjetivo foi e é às vezes empregado para indicar a
subordinação das partes ao todo que se considera típica do organismo. Assim, Saint-Simon e Comte empregaram o
adjetivo O. para indicar as épocas em que todas as manifestações da vida estão subordinadas a um único princípio,
como aconteceu, p. ex., na Idade Média em relação ao princípio teológico (v. CRISE).
ORGANISMO (gr. òpYaviKÒv atõua; lat. Cor-pus Organicum; in. Organism; fr. Organisme, ai. Organismus; it.
Organismo). O corpo vivo naquilo que o distingue especificamente do corpo não vivo. O conceito de O. foi
formulado pela primeira vez por Aristóteles da seguinte maneira: "Se ó machado tem de rachar a madeira, deve
necessariamente ser duro; e, se tem de ser duro, deve necessariamente ser de bronze ou de ferro. Ora, exatamente da
mesma maneira, o corpo, que é um instrumento como o machado — visto que cada uma de suas partes, assim como
sua totalidade, tem uma finali-
ORGANISMO
733
ORGANISMO
dade própria — tem de ser feito necessariamente assim e assim, se é que deve cumprir sua função" (Depart. an., I, 1,
642 a 10). Nesta noção, o ponto fundamental é que toda a estrutura do O. subordina-se à sua função, isto é, a seu fim
de sobreviver como O.; dessa característica deriva a outra, de subordinação das partes ao todo. Por isso, Aristóteles
diz, a propósito da composição dos animais, que uma casa não existe em função dos tijolos e das pedras, mas são os
tijolos e as pedras que existem em função da casa (Ibid., II, 1, 646 a 27), e que "a ciência da natureza trata da
composição e da totalidade da substância, e não das partes que não podem existir separadamente da substância"
(Ibid., I, 5, 645 a 33)- A subordinação das partes ao todo, que — só ele — é substância, passou a ser a característica
fundamental do organismo. Mas esta característica obviamente é determinada pela estrutura finalista do organismo.
Justamente porque ele, na sua totalidade, deve ser apropriado ao fim a que se destina e a ele subordinado, também as
partes do O. devem ser subordinadas à totalidade do O. Portanto, a partir de Aristóteles, o conceito de fim passou a
fundamentar a noção de O. e assim continuou mesmo quando, com Descartes, o O. começou a ser considerado
máquina. Descartes dizia: "Aqueles que sabem quantos autômatos ou máquinas semoventes a habilidade humana
pode construir com poucas peças, comparativamente à infinidade de ossos, músculos, nervos, artérias, veias, etc, que
estão no corpo de cada um de nós, consideram esse corpo como uma máquina que, saída das mãos de Deus, é
incomparavelmente mais bem organizada e tem em si movimentos mais admiráveis do que as que podem ser
inventadas pelos homens" (Discours, V). Com efeito, um relógio ou uma máquina não deixam de ter um objetivo, e,
equiparando o O. à máquina, Descartes não tencionava negar a sua finalidade, mas simplesmente apresentar a tese de
que a estrutura finalista do O. não depende de uma força externa a ele, da alma, mas da variedade e da coordenação
das partes, ou seja, da organização. Aliás, Leibniz, que insistiu muito na organização finalista do universo, também
considerou o O. como máquina: "Todo corpo orgânico é uma espécie de máquina divina ou de autômato natural, que
sobrepuja infinitamente todos os autômatos artificiais" (Monad., § 64). Só em Kant a finalidade de um autômato ou
de uma máquina foi distinguida da finalidade do organismo. "Num relógio" — observa Kant — "uma peça é o instrumento que serve ao movimento das outras, mas não é
a causa eficiente da produção das outras: uma peça existe, sim, em função das outras, mas não por meio delas. Por
isso, a causa produtora do relógio e da sua for ma (...) está fora dele, num ser que pode agir segundo as idéias de um
todo possível, mediante sua causalidade". No O., ao contrário, "cada parte é concebida como existente somente por
meio das outras, para as outras e para o todo, ou seja, como um instrumento (órgão)": como "um instrumento que
produz as outras partes e é reciprocamente produzido por elas". Em outros termos, as partes de um O. são ao mesmo
tempo causa e efeito umas das outras, e todas em relação à totalidade do organismo. Neste sentido, o O. não possui a
simples força motriz, como a máquina, mas também possui "uma força formadora tal que se comunica às matérias
que não a têm, podendo assim organizar; uma força formadora que se propaga e que não pode ser explicada
unicamente pela faculdade do movimento" (Crít. do Juízo, § 65).
Estas notas de Kant, esclarecendo muito bem o finalismo intrínseco do O., tornam de algum modo inútil o finalismo
global da natureza e o relegam a segundo plano. A organização finalista do O., com efeito, pode ser compreendida ou
admitida independentemente do finalismo universal da natureza. Todavia, as especulações da filosofia romântica
sobre o O., mesmo partindo dos conceitos kantianos, tendem justamente a resolver a finalidade intrínseca do O. na
finalidade universal, ou melhor, a estender a primeira ao universo inteiro. Schelling, p. ex., diz: "No produto natural
está ainda unido aquilo que, ao agir livremente, separou-se a serviço do fenômeno. Toda planta é inteiramente aquilo
que deve ser; nela, o livre é necessário, e o necessário é livre (...) Só a natureza orgânica dá a imagem completa da
liberdade e da necessidade reunidas no mundo externo" (System des transzendentalen Idealismus, V; trad. it., p. 289).
Ainda mais arbitrariamente, Hegel considera a terra como primeiro O. porque é "um sistema universal de corpos
individuais" (Ene, § 338); e afirma que, apesar de a vitalidade natural romper-se na multiplicidade dos animais vivos,
estes "são uma única vida na idéia, um único sistema orgânico de vida" (Ibid., § 337). Aqui o O. não é considerado
em suas características específicas, mas simplesmente
ORGANISMO
734
ORGANON
dissolvido no finalismo cósmico. A esse mesmo resultado chega a doutrina de Bergson, que vê no O. o
resultado de um elã vital (ou corrente de consciência) que penetra e sujeita a matéria bruta. O que do
ponto de vista da ciência é "máquina", do ponto de vista da filosofia é o equilíbrio atingido pelo elã vital
em seu esforço formador. E diz: "Para nós, o conjunto da máquina organizada representa o conjunto do
trabalho organizativo (embora mesmo este só seja verdadeiro aproximativamente), mas as peças da
máquina não correspondem às partes do trabalho, visto que a materialidade da máquina não representa
mais um conjunto de meios empregados, mas um conjunto de obstáculos contornados: é uma negação
mais do que uma realidade positiva" iÉvol. créatr., 8a ed., 1911, p. 102) A realidade positiva é somente o
elã vital, isto é, a consciência.
A disputa metafísica entre finalismo e me-canicismo, ou entre materialismo e vitalismo, não influencia o
conceito de organismo. Aquilo que, depois de Kant, convencionou-se chamar de "finalidade interna" do
O. não foi posto em dúvida nem (como vimos) por quem concebia o O. como máquina. Por outro lado, a
resolução da finalidade intrínseca do O. no finalismo cósmico, apreciada por todas as formas de vitalismo
e, em geral, por todas as interpretações metafísicas do O., não ajuda em nada a esclarecer o conceito de O.
porque, ao recorrer a uma tese genérica, só dá uma solução aparente ao problema de entender as formas
específicas de ação da finalidade orgânica. Os biólogos contemporâneos tendem, portanto, a fugir à
antítese entre mecanismo e finalismo. Goldstein julga tão inútil o recurso à enteléquia quanto o recurso ao
finalismo cósmico, mas julga indispensável insistir na ação do O. como totalidade. Isso leva a admitir o
finalismo interno do O. "A hipótese de uma tarefa determinada" — diz ele — "é supérflua para a
compreensão do O., mas a hipótese de um objetivo determinado (a realização da essência do O.) é
bastante profícua para a nossa compreensão do O." (Der Aufbau des Organismus, 1934, p. 264). Mais
recentemente Simpson disse: "Sabemos que o fogo não é um elemento ou princípio separado, mas um
processo e uma organização da matéria em que a conduta da matéria é diferente da que existe no nãofogo. Do mesmo modo, não se renuncia à perspectiva materialista quando se considera a vida como um
processo e uma organização em que a
conduta da matéria é diferente da que se observa nos estados não-vivos" (TheMeaning of Evolution, 1952,
p. 125). Por outro lado, a capacidade que o O. tem de desfrutar das possibilidades ou oportunidades que
sua estrutura, suas próprias variações ou mesmo o ambiente lhe oferecem — que Simpson chama de
oportunismo da vida — outra coisa não é senão a própria "finalidade intrínseca" da qual falam os outros
biólogos. Isso fora reconhecido até por um dos fundadores do Círculo de Viena, Moritz Schlick: "Um
grupo de processos ou de órgãos é chamado de finalista em relação a um efeito definido se esse efeito for
normal na cooperação dos processos e dos órgãos. Aqui é preciso ressaltar a cooperação; num caso
específico, esses processos, dependendo das circunstâncias, podem ocorrer de várias maneiras, mas são
interdependentes e interligados de tal maneira que sempre produzem aproximadamente a mesma espécie
de efeitos" ("Naturphiloso-phie", em Die Philosophie in ihren Einzel-gebieten, Berlim, 1925; trad. in. em
Readings in the Philosophy of Science, 1953, p- 529). Este conceito de finalismo decerto nada tem a ver
com a tese do finalismo universal: trata-se de um finalismo limitado, específico, que procede por
tentativas e tem êxito só em certos casos, e não do plano universal infalível, no qual todos os seres se
acham salvaguardados. Algumas vezes foi chamado de teleonomiaCy.)-Desse ponto de vista, o O. pode
ser considerado como máquina, mas uma máquina dotada de unidade funcional, coerente, integral e,
ademais, capaz de autoconstruir-se, com base num plano ou projeto que se mantém relativamente
invariável de geração em geração (cf., p. ex., J. MONOD, Le hasard et Ia necessite, 1970, cap. III).
V. CIBERNÉTICA; SISTEMA; ESTRUTURA.
ORGANON (gr. õpyocvov; lat. Organum). Esse foi o título dado pelos comentadores gregos ao conjunto
das obras lógicas de Aristóteles: Categorias, Sobre a interpretação, Analíticos primeiros (dois livros),
Analíticos segundos (dois livros); Tópicos (oito livros) e Reputações sofísticas. Duas outras vezes o nome
O. aparece como título de livro: Novum Organum (1620), de Francis Bacon, que contrapôs explicitamente
sua lógica à lógica aristotélica, e Neues O. (1764) de J. H. LAMBERT, filósofo iluminista alemão com
quem Kant manteve importante correspondência. O uso desse título, porém, não tem relação exata com a
tarefa atribuída à lógica (v.).
ÓRGÃO
735
OTIMISMO
ÓRGÃO (gr. õpyocvov, lat. Organum-, in. Organ; fr. Organe, ai. Organ; it. Organó). No sentido específico da
biologia, da qual o termo passou à filosofia, o O. foi definido por Aristóteles com base na função por ele
desempenhada e por analogia com o inorgânico: "Todo instrumento e cada parte do corpo tem um fim próprio, uma
ação específica. (...) Assim como a serra é feita para serrar e não o contrário, de tal modo que serrar é sua função
específica, também o corpo é feito para a alma e cada parte do corpo tem por natureza sua própria função" {Depari.
an., I, 5, 645 b 12). Este conceito permaneceu constante em biologia, filosofia e todos os outros campos em que é
empregado. ORIENTAÇÃO (in. Orientation; fr. Orienta-tion; ai. Orientierung; it. Orientamentó). Este termo foi
introduzido na filosofia por Kant, que com ele designou o problema de como deve a razão comportar-se fora dos
limites, bastante restritos, do conhecimento empírico, ou seja, do conhecimento concreto: "Orientar-se no pensamento
em geral significa determinar-se no domínio do verossímil, segundo um princípio subjetivo da razão, em vista da
insuficiência de princípios objetivos da razão" (Was Heisst. sich im Denken OrientieremP, 1786, A, 310). Kant
excluía a possibilidade de que o homem pudesse orientar-se com base na fé ou num suposto saber intuitivo. Esse
termo foi empregado novamente por Jaspers, que deu o título de "O. filosófica no mundo" ao primeiro volume da sua
Philosophie (1932). Segundo Jaspers, a O. no mundo realiza-se quando o homem se considera elemento ou coisa do
mundo, entre inúmeros elementos ou coisas, e procura achar deste modo sua própria vida. No entanto, redunda na
ruptura do mundo numa multiplicidade de perspectivas cósmicas (PM., I, pp. 69 ss.). Além desses significados
especiais, esse termo é muito empregado na linguagem comum e filosófica contemporânea, mas com significado bem
pouco preciso.
ORIGEM (lat. Origo-, in. Origin; fr. Origine, ai. Ursprung; it. Origine). O termo tem dois significados
freqüentemente confundidos: 1Q começo, ato ou fase inicial; 2S fundamento ou princípio. A "volta às O.",
característica da Renascença (v.), é uma noção que se baseia na confusão dos dois significados. Nessa mesma
confusão baseou-se a importância dos chamados problemas de origem, discutidos nos sécs. XVIII e XLX: O. das
idéias, da vida, da linguagem, das espécies vivas, etc, visto que nos problemas
assim propostos O. não significava apenas nascimento no tempo, mas também princípio e fundamento do objeto cuja
origem se procurava. O mesmo significado equívoco encontrava-se no antigo problema da O. do mal: se Deus existe,
de onde vem o mal? E se não existe, de onde vem o bem? (cf. S. AGOSTINHO, Conf., VII, 5). H. Cohen denominou
"Juízo de O." o juízo em que algo é dado, como o próprio pensamento pode achar, e não como material bruto: assim
como o sinal x, em matemática, não significa indeterminação, mas determinabilidade ÍLogik, 1902, p. 83).
ORTOGÊNESE (in. Orthogenesis). Doutrina segundo a qual a evolução da vida segue ou tende a seguir uma linha
reta. As interpretações dadas pelos biólogos a esse conceito são díspares; substancialmente, O. é a tese defendida por
quem admite o finalismo da vida. Às vezes, porém mais raramente, o ponto de vista oposto à O. chama-se poligênese:
o reconhecimento de linhas de evolução diversas e dispares nos fenômenos da vida (cf. C. G. SIMPSON, The Meaning
of Evolution, 1952, p. 132).
OSTENSIVO (gr. SetKUKÓÇ; lat. Ostensivus-, in. Ostensive, fr. Ostensif, ai. Ostensiv-, it. Ostensivo). Qualificamse assim as provas diretas, que provam positivamente a verdade de uma tese, distinguindo-se das provas indiretas,
que tendem a provar uma tese negativamente, com a demonstração da falsidade do seu contrário. As provas indiretas
são chamadas apagógicas (v. ABDUÇÃO; REDUÇÃO). A distinção acha-se em Aristóteles (An.pr, I, 23, 40 b 27) e é
reproduzida por Leibniz (Nouv. ess., IV, 8, 2). Segundo Kant, o uso das provas apagógicas deveria ser abolido em
filosofia, enquanto é legítimo nas ciências experimentais (Crít. R. Pura, Doutrina transe, do método, cap. 1, sec. 4).
OTIMISMO (in. Optimism, fr. Optimisme, ai. Optimismus; it. Ottimismo). Este termo começou a difundir-se na
cultura européia durante as discussões filosóficas sobre a ordem e a bondade do mundo suscitadas pelo terremoto de
Lisboa, em 1755. Num Poema sobre o terremoto de Lisboa (1~'55), Voltaire combatera a máxima "tudo está bem",
considerando-a um insulto às dores da vida; alguns anos depois, no romance Cândido ou o O. (1759), fizera uma
sátira feroz a essa máxima e à atitude que ela implica. O O., porém, tinha outros defensores, entre os quais Kant, que
no mesmo ano de 1759 publicou um opúsculo intitulado "Ensaios de algu-
OUTRO
736
OUTRO, PROBLEMA DO
mas considerações sobre o O." (Versucb eini-ger Betrachtungen überden Optimismus) (que depois repudiou), em que
defendia a bondade do mundo com base na tese leibniziana de que "quando Deus faz uma escolha, escolhe sempre o
melhor". Como dizia Voltaire, o O. outra coisa não é senão a teoria do finalismo universal. Assim, em seu romance, o
Doutor Pangloss, mestre de "metafísico-teólogo-cosmolonigo-logia" diz: "Está demonstrado que as coisas não podem
ser de outra maneira: visto que tudo foi feito para um fim, tudo se dirige necessariamente ao melhor fim. Notai que o
nariz foi feito para suportar lentes e por isso usamos lentes". Leibniz dissera que "Deus escolheu o mundo mais
perfeito, ou seja, o mais simples em hipóteses e ao mesmo tempo o mais rico em fenômenos" (Disc. de mét. § 6), e
que, "se no mundo não houvesse o mínimo mal, não seria mais o mundo que, depois de tudo considerado e somado,
foi julgado o melhor pelo criador que o escolheu" ( Théod., 1,9). Isto pode ser expresso pela frase com que Cândido
constantemente conclui suas infelizes peripécias ("Vivemos no melhor dos mundos possíveis"), que se tornou a
expressão popular do otimismo. O O. é característico das doutrinas que admitem o finalismo universal,
especialmente: le as doutrinas espiritualistas de fundo teológico, tais como a metafísica aristotélica e a escolás-tica, o
leibnizianismo e as formas modernas e contemporâneas do consciencialismo espiritualista; 2 a das doutrinas idealistas
(no sentido romântico do termo), que compartilham o princípio da coincidência entre realidade e racionalidade
(expresso por Voltaire com a frase "as coisas não podem ser de outro modo"), tipificadas pela doutrina de Hegel. O
oposto do O. não é o pessimismo, que, na formulação de Schopenhauer, apesar de apregoar que "a vida é dor", julga
que o mundo está organizado com vistas à melhor ordem (Die Welt, I, § 28), mas sim a negação do finalismo, com o
reconhecimento do caráter imperfeito, acidental e problemático das ordens observáveis no universo.
OUTRO (gr. ef|Tr|pOV; in. Other, fr. Autre, ai. Andere, it. Altró). Um dos cinco gêneros supremos do ser,
enunciados por Platão em Sofista, e que são: o ser, o repouso, o movimento, o idêntico e o O. O motivo para admitir o
O. como um gênero à parte é o seguinte: o repouso e o movimento são-, portanto, sob o aspecto do ser, são idênticos.
Mas também são
diferentes um do outro, e essa diversidade é exatamente como é a sua identidade (devida ao fato de que ambos são).
O O. (o diferente) é, portanto, um gênero igualmente originário e irredutível aos outros quatro ÍSof, 254 ss.). O
reconhecimento do O. como gênero supremo é muito importante, pois permite que Platão resolva a antinomia (típica
da sofistica e da erística [v.]), segundo a qual é impossível dizer o falso porque o falso é o que não é, e dizer o que
não é significa dizer nada, ou seja, não dizer. Desse ponto de vista, o erro deveria ser declarado inexistente, e não
haveria sequer diferença possível entre o filósofo, que se preocupa em estabelecer a distinção entre verdade e erro, e o
sofista, que não se preocupa com isso. Admitido, porém, o O. como gênero supremo, o não-ser poderá ser
interpretado: não como o nada, mas como o O. do ser, mais precisamente do ser de que se fala; p. ex., dizer que algo
é não grande ou não belo significa dizer que é O., diferente do grande e do belo, mas nem por isso é o oposto do ser,
o nada (Ibid., 257 b ss.). Essa afirmação da realidade do não-ser, enquanto O. ou diferente, é apresentada pelo
Estrangeiro eleata, principal protagonista do Sofista, como uma espécie de "parricídio" em relação a Par-mênides, que
afirmara que só o ser é, e que o não ser não é (Ibid., 242 d). Essas observações de Platão, sobretudo sobre a categoria
do O., depois foram empregadas com freqüência para esclarecer a noção de nada (v.).
OUTRO, PROBLEMA DO (in. Problem of others; fr. Problème de Vautre-, ai. Problem von fremden Ichen; it.
Problema delValtró). Na filosofia moderna e contemporânea, essa expressão indica o problema da existência de
outros eus (espíritos ou pessoas), independentes do eu que formula o problema. Esse problema nasce de dois pontos
de vista diferentes, mas vinculados por alguns pressupostos comuns. O primeiro é o do idealismo romântico (v.)
segundo o qual, sendo a realidade um Princípio Infinito e universal (p. ex., o Eu Absoluto de Fichte), é preciso ver de
que modo ela se rompe ou se multiplica na diversidade dos eus singulares. O segundo é o ponto de vista
genericamente idealista e espiritualista, segundo o qual originaria-mente é dado a cada um de nós somente o eu e as
suas experiências psíquicas, dentre as quais algumas (uma parte apenas) se refeririam a outros indivíduos.
Fichte respondeu ao primeiro problema, em Doutrina moral (1798), afirmando o caráter
OUTRO, PROBLEMA DO
737
OUTRO, PROBLEMA DO
originário da idéia do dever, da qual deriva o reconhecimento dos outros eus. A idéia do dever é a autodeterminação
originária do eu, mas ela não poderia ser realizada se não existissem outros eus, outros sujeitos em face dos quais,
somente, a idéia do dever pode ter sua determinação e, portanto, possibilidade de realização. Portanto, para Fichte, a
realidade dos outros eus é um postulado moral: a existência dos outros eus deverá ser admitida e reconhecida, se o eu
quiser realizar concretamente a sua moralidade (Sittenlebre, § 18). Com algumas variantes, essa concepção foi
retomada por outros filósofos, como p. ex. por Riehl em seu livro sobre o Criticismo (1886-87), e por Cohen, em
Ética da vontade pura (1904); este último deduz a existência das pessoas em geral do caráter jurídico e das funções
públicas do homem, de modo que a multiplicidade dos eus só existiria como multiplicidade de "pessoas jurídicas".
Por outro lado, o ponto de vista segundo o qual o eu só conhece de modo imediato a si mesmo e seus estados
interiores, ou seja, o ponto de vista do acesso privilegiado ao conhecimento interior do eu (v. CONSCIÊNCIA), dá
origem ao problema de se saber como uma parte da experiência do eu pode referir-se a outro eu, e ao problema ainda
mais sério de saber que garantia essa referência oferece em favor da existência efetiva do outro eu. Para responder a
esses problemas foram formuladas duas teorias. Ia A existência dos outros seria inferida por um "juízo de analogia" a
partir das percepções que nos revelam movimentos análogos àqueles por meio dos quais exprimimos nosso próprio
eu. Mas esta teoria, pertencente à psicologia associacionista, é desmentida pelo fato de que a crença na existência dos
outros seres animados também pode ser encontrada nos animais e nas crianças, que são incapazes de juízos
analógicos. 2a A segunda teoria postula um órgão específico para o conhecimento da existência do outro, como p. ex.
uma espécie de intuição afetiva (Einfühlung), que nos poria em relação com o que está além das manifestações
corpóreas do outro, com a alma do outro (cf., p. ex., TH. LIPPS, Aesthetik, I [19031; 2a ed., 1914, p. 106 ss.). Mas o
recurso a órgãos desta espécie só faz reduzir a existência de outros espíritos a objeto de uma crença injustificável,
logo irracional.
Na filosofia contemporânea, a partir da obra de Scheler, Essência e forma da simpatia
(1923), o pressuposto subjetivista do problema mostrou-se cada vez mais frágil; e foi também atacado pela psicologia
contemporânea, com base em observações experimentais. Scheler observou que não existe nenhum privilégio ontológico ou metafísico a favor dos pensamentos ou dos sentimentos que o eu chama de "meus". Meu pensamento me
é dado como "meu" do mesmo modo como o pensamento de outro me é dado como pensamento "alheio": esse é o
caso comuníssimo e normal, em que compreendemos uma comunicação qualquer que nos é feita. Entre o meu e o
alheio há sempre uma conexão estreitíssima, e os dois determinam-se e condicionam-se reciprocamente, sem que as
respectivas esferas se deixem jamais fixar rigidamente, como prova o fato de que muitas vezes nós não sabemos dizer
se certa experiência psíquica vem de nós mesmos ou de outros (Sympathie, III, cap. III). Isto eqüivale a negar o
caráter pessoal e rigidamente subjetivo do Eu (v.) e a reconhecer que, a partir de sua constituição e em todas as suas
manifestações, ele se move numa rede de relações intersubjetivas que o constituem e no qual estão recortadas as
esferas correlativas do "meu" e do "teu". Este ponto de vista é freqüente na filosofia contemporânea, encontrando-se
mesmo em escolas diferentes. Mead afirma que "o homem só se torna um eu na sua experiência na medida em que
sua atitude suscita uma atitude correspondente nas relações sociais". Nesse caso, autoconsciência, ou eu, outra coisa
não é senão a atitude generalizada dos outros em relação a nós. "Assumimos o papel daquilo que poderia ser chamado
de outro generalizado e, ao fazermos isto, aparecemos como objetos sociais, como eu" (Phil. of tbe Present, p. 185).
Por outro lado, Carnap expressou ponto de vista bastante próximo deste, ao insistir no caráter secundário e derivado
da distinção entre o eu e o tu. "Mesmo a caracterização dos elementos fundamentais do nosso sistema constitutivo
como psiquicamente próprios, isto é, como 'psíquicos' e como 'meus', só adquire significado com a constituição dos
campos do não-psíquico (contraposto ao psíquico) e do 'tu'" (Der logische Aufbau der Welt, § 65). Estas observações
demonstram que é cada vez mais difícil sustentar pontos de partida solipsistas, que pretendam fundar-se em dados
pertencentes ao âmbito da consciência pessoal. E mesmo uma filosofia como a de Sartre, para a qual a outra
existência é tal porquanto não é
OUTRO, PROBLEMA DO
738
OVO
minha, de tal modo que a relação interpessoal é uma relação de negação recíproca e só a negação é "a
estrutura constitutiva do ser outro" (JJêtre et le néant, p. 285), apresenta-se como um transcender do
cogito. "O que, por falta de melhor expressão, chamamos de cogito da existência do outro, confunde-se
com o meu próprio cogito. É preciso que o cogito me lance fora dele, sobre o Outro, assim como me
lançou fora dele sobre o em-si, e isto não me revelando uma estrutura minha apriori, que apontaria para o
outro igualmente a priori, mas descobrindo em mim a presença concreta e indubitável deste ou daquele
outro concreto, como já me revelou a minha existência incon-frontável, contingente e, todavia, necessária
e concreta" (Jbid., pp. 308-09). Analogamente, para
Husserl, a experiência do outro é uma espécie de Einfühlung ou empatia, em virtude da qual o outro se
constitui por "apresentação" como "um outro eu mesmo" (Cart. Med., § 52). O próprio eu age de tal modo
que "uma modificação intencional de si mesmo e da sua primor-dialidade chegue à validade sob o título
de percepção da estraneidade, percepção de um outro, de um outro eu" (Krisis, § 54 b).
OVO (gr. 03ÓV; in. Egg; fr. Oeuf, ai. Ei; it. Vovó). Primeiro princípio do mundo, segundo a teogonia
órfica (Orphicorum fragmenta, 53, 54 Kern). A consideração do mundo como um gigantesco animal está
na base desse mito, que tem vários precedentes orientais. Sobre estes e sobre o próprio mito, cf. A.
OLTVIERI, Civiltàgreca neWItalia meridionale, 1931, p. 3-32.
p
P. p. Na lógica contemporânea, indica-se com P determinado cálculo das proposições e com p (e as letras
que seguem em ordem alfabética q, r, etc.) uma única proposição.
PAIDÉIA. V. CULTURA.
PAIXÃO (in. Passion; fr. Passion; ai. Lei-denschaft; it. Passionè). Este termo pode significar: Ia o
mesmo que afeição, modificação passiva no sentido mais geral do grego jrá6oç e do latim passio (para
este significado, v. AFEIÇÃO); 2a O mesmo que emoção (v.), significado em que foi empregado quase
universalmente até o séc. XVIII, até que se foi determinando o significado específico que hoje possui; 3 Q
ação de controle e direção por parte de determinada emoção sobre toda a personalidade de um indivíduo
humano.
É neste sentido, o único apropriado e específico, que essa palavra geralmente é empregada hoje. Assim, a
expressão francesa, que se tornou internacional, " amour-passion", indica uma forma de emoção amorosa
que domina a personalidade e é capaz de transpor obstáculos morais e sociais (cf. também " Crime de
passion" ou "Crime passional"). Nas frases "P. pelo jogo", "P. pelas mulheres", "P. pelo dinheiro",
também está claro o significado de tendência dominante e global da personalidade, o que se percebe
igualmente em expressões como "P. política", "P. religiosa", etc. Esse conceito nasce com as análises dos
moralistas dos sécs. XVII e XVIII, que evidenciaram a tendência que têm as emoções de penetrar na
personalidade e dominá-la. Pascal dizia: "Quando se conhece a P. dominante de alguém, estaremos certos
de saber agradar-lhe" {Pensées, 106). Nesta expressão, o adjetivo "dominante" exprime bem o caráter da
paixão. Em Maximes, La Rochefoul-cauld insiste com certo cinismo nesse caráter dominante das paixões
("Se resistimos às nossas paixões, é mais pela fraqueza delas do que pela nossa força", 122), e Vauvenargues, em Discourssurla
liberte (1737), dizia: "Para resistir à P. seria preciso pelo menos querer resistir. Mas faria a P. nascer o
desejo de combater a P., na ausência da razão derrotada e afugentada?" E acrescentava: "As paixões
ensinaram a razão aos homens" (Réflexions et maximes, 154). Com o mesmo espírito, Helvetius
declarava: "As paixões são no campo moral o que o movimento é no campo físico" {De Vesprit, III, 4), e
Condillac definia a P. como "um desejo que não permite ter outros, ou que, pelo menos, é o mais
dominante" (Traitédessensations, I, 3, § 3). Foi Kant quem nos legou as determinações mais precisas. AP.
éa inclinação que impede a razão de compará-la com as outras inclinações e assim de fazer uma escolha
entre elas (Antr., § 80). Por isso, a P. exclui o domínio de si mesmo, impede ou impossibilita que a
vontade se determine com base em princípios (Crít. do Juízo, § 29). Com observações felizes, Kant
ressalta a capacidade que tem a P. de dominar toda a conduta do homem, de apoderar-se de sua
personalidade. Ao contrário da emoção, que é precipitada e irrefletida, a P. é lenta e refletida para
alcançar seu objetivo, apesar de poder ser violenta. A emoção é como uma enxurrada que rompe o dique;
a P. é como uma corrente que vai aprofundando seu leito. A emoção é como uma embriaguez que se
desvanece, apesar de deixar a dor de cabeça, mas a P. é uma intoxicação ou uma deformação, que precisa
de um médico interno ou externo da alma; este, porém, geralmente não sabe prescrever a cura radical,
mas quase sempre só paliativos (Antr., § 74). Em vista do perigo que a paixão representa para a escolha
racional e a liberdade moral do homem, Kant rejeita qualquer exaltação das paixões. E cita a frase: "Nada
PAIXÃO
740
PALAVRA
de grande no mundo nunca foi realizado sem paixões violentas", para comentá-la: "Pode-se admitir isso a respeito de
diversas inclinações, aquelas sem as quais a natureza viva (inclusive a do homem) não pode passar, como as
necessidades naturais e físicas. Mas que elas possam, ou melhor, precisem tornar-se paixões, isto a Providência não
quis. Esse tipo de explicação pode ser aceita num poeta, como p. ex. em Pope, que escreveu 'Se a razão é bússola, as
paixões são os ventos', mas o filósofo não pode admitir esse princípio nem mesmo para avaliar as paixões como um
artifício provisório da Providência, que as teria colocado na natureza humana antes que os homens alcançassem um
grau razoável de civilização" {Antr., § 80).
O Romantismo aceita e adota o conceito de P. elaborado pelos moralistas franceses e por Kant, ou seja, de que a P.
não é uma emoção ou um estado afetivo particular, mas o domínio total e profundo que um estado afetivo exerce
sobre toda a personalidade (ou "subjetividade") do indivíduo. Por outro lado, inverte a valo-raçâo negativa feita por
Kant. E significativo que Hegel, que expressou com mais rigor o ponto de vista romântico sobre o assunto, só tenha
invertido as valorações kantianas. Hegel define a P. como a "totalidade do espírito prático posto numa única das
muitas determinações limitadas que se opõem entre si" {Ene, § 473). E acrescentou: "A determinação da P. implica
que ela se restringe a uma particularidade da determinação do querer, na qual imerge toda a subjetividade do
indivíduo, seja qual for o conteúdo dessa determinação. Mas por esse caráter formal, a P. não é boa nem má; sua
forma só exprime que um sujeito pôs num único conteúdo todo o interesse vivo de seu espírito, de seu talento, de seu
caráter, de seu prazer. Nada de grande foi realizado, nem pode ser realizado, sem P. Não passa de moralidade morta,
na maioria das vezes hipócrita, a que investe contra a forma da P. como tal" {Ene, § 474). Aqui, ao mesmo tempo em
que se insiste no caráter totalizante da P. — que limita a um único conteúdo ou determinação "toda a subjetividade do
indivíduo", "o interesse vivo do seu espírito, etc." —, retoma-se a frase criticada por Kant e declara-se expressão de
moralidade morta ou hipócrita a condenação feita por ele. E o mais curioso é que Kant criticara antecipadamente
outra característica da filosofia de Hegel, ou seja, a justificação das P.
como instrumentos da providência cósmica, como "astúcias" da Razão Infinita, para realizar seus fins: tese que está
entre as mais características da filosofia da história de Hegel {Philosophie der Geschichte, ed. Lasson pp. 63 ss.). De
um ponto de vista diferente, a exaltação da P. também se encontra em Nietzsche, para quem era sintoma de fraqueza
o "temor dos sentidos, dos desejos e das paixões, quando ela chega para desaconselhá-los", considerando a P.
dominante como "a forma suprema de saúde" porque nela "a coordenação dos sistemas internos e seu trabalho a
serviço de um mesmo fim são mais bem realizados: o que é mais ou menos a definição da saúde" ( WillezurMacht,
ed. Krõner, § 778).
Ponto de vista eqüidistante entre a condenação e a exaltação da P. parece prevalecer na cultura contemporânea.
Dewey, p. ex., assim se expressa: "A fase emocional, apaixonada da ação não pode nem deve ser eliminada em prol
de uma razão exangue. Mais paixões, não menos, é a resposta. (...) A racionalidade não é a força a ser invocada
contra impulsos e hábitos, mas sim a conquista de uma harmonia que atue entre diferentes desejos" {Human Nature
and Conduct, pp. 195-96).
PALAVRA (lat. Verbum; in. Word; fr. Parole, ai. Wort; it. Parold). 1. Segundo a distinção feita por Saussure entre
P., língua (v.) e linguagem (v.), a P. seria a manifestação lingüística do indivíduo. Diferentemente da língua, que é
uma função social, registrada passivamente pelo indivíduo, a P. é "o ato individual de vontade e inteligência, no qual
convém distinguir: 1Q as combinações nas quais o falante utiliza o código da língua para exprimir seu pensamento
pessoal; 2- o mecanismo psicológico que lhe permite exteriorizar essas combinações" {Cours de linguistique
générale, 1916, p. 3D2. O termo P. tem uma ambigüidade evidenciada pelos lógicos: por um lado, pode ser um evento individual, novo a
cada vez que se repete (neste sentido dizemos, p. ex., que um livro é composto por cinqüenta mil palavras), por outro,
pode significar a P.-significado, que é a mesma, por mais que se repita (neste sentido, sobre o mesmo livro, podemos
dizer que é composto por cinco mil palavras). No primeiro sentido, p. ex., se a P. está for repetida dez vezes numa
página será dez palavras; no segundo sentido, é uma palavra só. Peirce propôs chamar a palavra no primeiro
significado token (ocorrência) e no segundo significado type
PAIINGÊNESE
741
PANENTEÍSMO
(tipo, elemento lingüístico) (Coll. Pap., 4.537). Sobre o mesmo assunto, outros falam, respectivamente, em signo e
símbolo (cf. M. BLACK, Language and Philosophy, VI, 2; trad. it., pp. 181 ss.).
PAIJNGÊNESE (gr. 7taA.iyyEveaía; in. Palin-genesis; fr. Palingénésie, ai. Palingénésie, it. Palingenestf). Segundo
os estóicos, renascimento do mundo depois do término de um ciclo de vida (NEMES., De nat. hom., 38, cf. MARCO
AURÉLIO, Memórias, XI, 1: "o periódico renascimento do mundo"). Esse termo foi usado freqüentemente neste
sentido ou em sentido análogo (p. ex., por C. BONNET, Palingénésie philosophique, 1769, e por GIOBERT, Protologia,
1857) e às vezes também em sentidos restritos ou particulares: para designar o renascimento da alma ou, em sentido
retórico, para indicar qualquer renovação radical (v. APOCATÁSTASE).
PAMPNEUMATISMO (ai. Panpneumatis-mus). Termo empregado por Eduard Von Hart-mann, no mesmo sentido
de pampsiquismo (cf. Philosophischen Fragmente, p. 68).
PAMPSIQUISMO (in. Panpsychism- fr. Panpsychisme-, ai. Panpsychismus-, it. Pampsi-chismó). Este termo, muitas
vezes confundido com hilozoísmo(y.), designa na realidade uma teoria simetricamente oposta. Enquanto o hilozoísmo consiste em atribuir à matéria (ou às suas partes) poderes ou atividades psíquicas (sendo por isso
materialismo), o P. consiste em reduzir matéria a alma, ou seja, a propriedades ou atributos psíquicos (sendo, pois,
espiritua-lismo). Com isso, a matéria não é negada (como faz o imaterialismo [v.]), mas seus atributos fundamentais
(p. ex. extensão, movimento, etc.) são reduzidos à ação de forças ou atributos espirituais.
Neste sentido, pode-se discernir a origem do P. nos platônicos ingleses do séc. XVII (Escola de Cambridge). Partindo
do princípio de que "nenhum efeito pode sobrepujar a força da própria causa", Cudworth negava que a vida e o ser —
muito menos a razão e o intelecto — pudessem derivar de matéria sem vida. E concluía que "o espírito é o ser
primogênito, o senhor natural de tudo o que existe" {The True Intellectual System ofthe Universe, I, 1, 4). Mas como
as coisas não podem ser produzidas pelo mecanismo da matéria, e como Deus não produz imediata e milagrosamente
todas as coisas, é preciso admitir uma natureza plástica que seja um instrumento inferior e subordinado daquela parte da providência que consiste no movimento regular e organizado da matéria (Ibid., I, 1, 3). Por sua vez,
More elaborava o conceito da mônada física, que seria uma partícula tão pequena a ponto de não poder ser mais
dividida. A mônada física não tem grandeza física propriamente dita, mas é extensa, e a extensão é uma qualidade
espiritual, incorpórea, um atributo de Deus {Enchiridion, Metaphysicum, I, 9, 3; I, 8, 15). Deste modo, Cudworth e
More reduziam a matéria e o mecanismo, em seus atributos fundamentais — extensão e movimento —, a uma
manifestação de elementos ou forças espirituais.
É muito provável que Leibniz se tenha inspirado nesses autores dando ao P. sua forma clássica. Segundo Leibniz, a
matéria é constituída por manadas, no sentido de ser um agregado de substâncias espirituais, como um rebanho de
ovelhas ou como um amontoado de vermes. Por isso, os elementos da matéria nada têm de corpóreo; são átomos de
substância ou pontos metafísicos, como poderíamos chamar as mônadas (Op., ed. Gerhardt, IV, p. 483). O P. de
Leibniz foi reproduzido por Lotze em Microcosmo (I, trad. it., p. 50); este identificou os átomos dos quais fala a
teoria mecanicista da ciência com os centros de força espiritual, ou seja, com as mônadas no sentido leibnista. O P. é
a característica metafísica do espiritualis-mo contemporâneo (v. ESPIRITUALISMO), seja ele francês (Ravaisson,
Lachelier, Hamelin), inglês (Ward) ou italiano (Martinetti, Varisco).
PAN-ANIMISMO. O mesmo que animismo (v.).
PANCALISMO (in. Pancalism, fr. Panca-lisme-, it. Pancalismó). Termo empregado por J. M. Baldwin para
designar sua doutrina, segundo a qual a beleza, como objeto da atividade estética, realiza a conciliação entre a
atividade cognoscitiva e a atividade prática, unificando o mundo da experiência (cf. Genetic Theory of Reality, being
the Outcome of Genetic Logic, as Issuing in the Aesthetic Theory of Reality called Pancalism, 1915).
PANCOSMISMO (in. Pancosmism- fr. Pan-cosmisme, it. Pancosmismo). O mesmo que materialismo. Este termo
foi usado por Grote para designar a doutrina dos pré-socráticos hilozoístas {Plato and the Other Companions of
Sócrates, I, 1, 18). Não teve aceitação.
PANENTEÍSMO (in. Panentheism; fr. Pa-nentheisme, ai. Panentheismus, it. Panenteis-mó). Termo criado por
Christian Krause (1781-
PANLOGISMO
742
PARADOXO
1832) para designar uma síntese entre o teísmo e o panteísmo, que consistiria em admitir que tudo o que
é, é em Deus e existe como revelação e realização de Deus (Voríesungen über das System der
Philosophie, 1828, pp. 254 ss.). Na realidade este é o ponto de vista do panteísmo clássico, e portanto não
se vê utilidade nesse termo, que de fato não teve aceitação (v. DEUS).
PANLOGISMO (in. Panlogism; fr. Panlo-gisme, ai. Panlogismus; it. Panlogismó). Termo empregado
por J. E. Erdmann para designar a doutrina de Hegel (Geschichte der neueren Philosophie, 1853, III, 2, p.
853), ainda hoje utilizado (embora com pouca freqüência) para designar essa mesma doutrina ou
doutrinas análogas que admitam a identidade entre racional e real.
PANSATANISMO (ai. Pansatanismus). Termo empregado polemicamente por O. Lieb-mann para
designar a doutrina de Schopen-hauer, numa contraposição caricaturista ao panteísmo (Zur analysis der
Wirklichkeit, 2-ed., 1880, p. 230).
PANSOFIA (lat. Pansophid). Termo empregado por G. A. Comenius para designar o princípio "ensinar
tudo a todos" (Pansophiae Pro-dromus, 1639; Schola Pansophiae, 1670). Kant chama de P. o conjunto da
poli-história, que é o conhecimento histórico, e da polimatia, que é o conhecimento racional (Logik, Intr.,
SVD.
PANSPERMIA (ai. Panspermi.e). Doutrina defendida por S. Arrhenius, de que a vida sobre a terra
provém de sementes orgânicas difundidas por todo o universo (Werden der Welten, 1907).
PANTEÍSMO (in. Pantheism, fr. Pantheis-me, ai. Pantheismus; it. Panteísmo). O termo pantetsta foi
utilizado pela primeira vez por J. Toland (Socianimism TrulyStated, 1705); o primeiro a empregar o termo
P. foi seu adversário Fay (1709). É a doutrina segundo a qual Deus é a natureza do mundo (v. DEUS)
identificando a causalidade divina com a causalidade natural. Uma das formas de P. humanista é a
chamada "teologia sem Deus". V. DEUS; DEUS, MORTE DE.
PANTEUSMO (ai. Panthelismus). O mesmo que voluntarismo (v.). Esse termo foi usado por E. Von
Hartmann (Philosophischen Fragmente, p. 68).
PARÁBOLA (gr. JtapcepoÂ,r|; lat. Parábola; in. Parable, fr. Parabole, ai. Parabel; it. Parábola).
Argumento que consiste em aduzir
uma comparação ou um paralelo, como quando Sócrates afirma que os governantes não devem ser
escolhidos por sorteio, assim como não são escolhidos por sorteio os atletas para uma competição. É
assim que Aristóteles ilustra essa noção (Ret., II, 19, 1393 b 4). Sentido análogo encontra-se nos
Evangelhos (cf. Marc, XII, 1).
PARADIGMA (gr. 7tápa8etYU.a; in. Para-digm; fr. Paradigme, ai. Paradigma; it. Paradigma). Modelo
ou exemplo. Platão empregou essa palavra no primeiro sentido (cf. Tim., 29 b, 48 e, etc), ao considerar
como P. o mundo dos seres eternos, do qual o mundo sensível é imagem. Aristóteles utiliza esse termo no
segundo significado (An.pr, II, 24, 68 b 38), sobre o que v. EXEMPLO.
PARADOXO (gr. 7tapáôoÇoç ^.óyoç; in. Paradox, fr. Paradoxe, ai. Paradox, it. Para-dosso). O que é
contrário à "opinião da maioria", ou seja, ao sistema de crenças comuns a que se fez referência, ou
contrário a princípios considerados sólidos ou a proposições científicas. Aristóteles, em Refutações softsticas (cap. 12), considera a redução de um discurso a uma opinião paradoxal como o segundo fim da
Sofistica (o primeiro é a refuta-ção, ou seja, provar a falsidade da asserção do adversário). Bernhard
Bolzano intitulou Paradoxos do infinito (1851) o livro no qual introduziu o conceito de infinito como um
tipo especial de grandeza, dotado de características próprias, e não mais como limite de uma série. Esse
conceito seria consolidado na matemática por Cantor e Dedeking (v. INFINITO). A exemplo dele, foram
chamados às vezes de P. as contradições oriundas do uso do procedimento reflexivo, na maioria das vezes
chamadas de antinomias (v.).
No sentido religioso, chamou-se P. a afirmação dos direitos da fé e da verdade do seu conteúdo em
oposição às exigências da razão. P. é, p. ex., a transcendência absoluta e a inefa-bilidade de Deus,
afirmada pela teologia negativa (v.); P. é o "credo quia absurdum" (v.) de Tertuliano; P. é toda a fé,
segundo Kierkegaard, porque todas as categorias do pensamento religioso são impensáveis, e a fé, não
obstante, crê em tudo e assume todos os riscos (cf. Die Krankheit zum Tode, 1849). Kierkegaard viu como
P. a própria relação entre o homem e Deus: "O P. não é uma concessão, mas uma categoria: uma
determinação ontológica que expressa a relação entre um espírito existente e
PARALELISMO PSICOFÍSICO
743
PARA SI
cognoscente e a verdade eterna" {Diário, VII, Ali).
PARALELISMO PSICOFÍSICO (in. Psy-chophysical parallelism, fr. Parallelisme psy-chophysique, ai. Psychophysischer Paral-lelismus; it. Parallelismo psicofisicó). Esta expressão foi inventada por Fechner (Zendavesta, II, p.
141), para designar a doutrina segundo a qual os eventos psíquicos e os físicos constituem duas séries paralelas, que
não agem uns sobre os outros, mas são causalmente determinados somente pelos eventos homogêneos: os mentais
pelos mentais, e os físicos pelos físicos. Essa doutrina era sugerida pela exigência (ou pelo desejo) de não submeter
os eventos mentais à causalidade dos eventos físicos e pela impossibilidade de considerar estes últimos dependentes
dos primeiros. Durante várias décadas, serviu de hipótese de trabalho para a psicologia experimental, em sua fase
inicial de organização como ciência autônoma ou relativamente autônoma (v. PSICOLOGIA). Foi, portanto, admitida e
adotada por aqueles que contribuíram para os primeiros passos dessa ciência, em particular por Wundt. Este entendeu
como "princípio do P. psicofisicó" o princípio de que "todos os conteúdos empíricos que pertencem simultaneamente
à esfera de consideração mediata ou científica e à imediata ou psicológica estão em relação recíproca, porquanto cada
evento elementar do campo psíquico exprime um evento correspondente no campo físico" (System der Philosophie,
2a ed., 1897, p. 602). Essa doutrina contrapunha-se, por um lado, ao monismo (v.), que tende a reduzir os eventos
mentais a eventos físicos ou, pelo menos, a submeter os eventos mentais à causalidade dos eventos físicos, e, por
outro lado, ao espiritualismo (v.), que consiste na tentativa simetricamente oposta. Por isso, foi bem aceita como
hipótese de trabalho de investigações que não queriam ancorar a sua validade em nenhuma metafísica.
No período em que a doutrina do P. constituiu o pressuposto da psicologia experimental e foi tema de grande número
de discussões entre psicólogos e entre filósofos, alguns procuraram ligá-la a ilustres precedentes históricos; o mais
óbvio desses precedentes era sem dúvida a metafísica de Spinoza. Spinoza, com efeito, dissera que "um modo da
extensão e a idéia desse modo são uma e mesma coisa, expressa de duas maneiras" (Et., II, VII, Schol.), e negara a
interferência da causalidade da extensão e da causalidade do pensamento, afirmando que a causa de um pensamento é sempre um pensamento e que a
causa de um corpo é sempre um corpo (Ibid., III, 2), enquanto a ordem e a concatenação das coisas são sempre as
mesmas (Ibid., III, 2, Schol.). Estas afirmações podiam ser interpretadas como expressão da doutrina do P., embora a
intenção de Spinoza não fosse afirmar a independência causai recíproca entre fatos físicos e mentais, mas sim a sua
subordinação comum à causalidade direta de Deus. A doutrina de Spinoza na verdade não é um P., mas um monismo
panteísta. Aliás, a doutrina do P. não deve seus sucessos à sua validade metafísica, mas, ao contrário, à limitação do
compromisso metafísico que ela implicava, podendo ser aceita como hipótese de trabalho independentemente da
crença monista ou espiritualista, não excluindo nem uma, nem outra. Quando a psicologia abandonou essa doutrina,
ela caiu em desuso e deixou de ser tema vivo de discussão (v. PSICOLOGIA).
PARALOGISMO (gr. 7tapaXoytOLióç; in. Paralogism; fr. Paralogisme, ai. Paralogismus-, it. Paralogismó). De
Aristóteles (El. sof., pas-sim) em diante este termo é usado para indicar um silogismo ou qualquer argumento
formalmente falso (v. também FALÁCIA). Em Kant, "P. da Razão pura" designa a falsa argumentação da psicologia
racional, que se ilude achando que pode deduzir do simples "eu penso" determinações materiais, mas apriori, do
conceito (idéia) de "alma".
G. P.
PARAPSICOLOGIA. V. METAPSÍQUICA.
PARA SI (in. Being for self, fr. Pour soi; ai. Für-sich sein; it. Essere per sé) O significado fundamental deste termo é
atribuído por He-gel: ser atual ou real (em contraposição a em si [v.], ser possível), portanto ser que se desenvolveu
através da reflexão e da consciência. Hegel diz.- "Dizemos que é para si aquilo que suprime o ser outra coisa, a sua
relação e a sua participação com outra coisa, ou seja, aquilo que rejeita a outra coisa e abstrai dela. (...) A consciência
já contém em si, como tal, a determinação do ser para si porquanto se representa o objeto por ela mesma sentido,
intuído, etc, porquanto tem em si o conteúdo desse objeto. (...) Mas a consciência de si é o ser para si acabado e
posto, visto que nela o referir-se a outra coisa, a um objeto externo, está superado" (WissenschaftderLogik, I, 3, A;
trad. it., I, pp. 173-74). Neste sentido, a consciência é para si
PARCIMÔNIA, LEI DA
744
PARTIÇÃO
porque anulou a outra coisa (o objeto externo) ou tirou-a do caminho, resolvendo-a em um de seus próprios
conteúdos internos. Sartre retomou este conceito na filosofia contemporânea, chamando de "ser para si" ou
simplesmente "para si" a consciência enquanto anulação ou "nada" do objeto, isto é, do em si {L'être et le néant, pp.
115 ss.). O mesmo significado é atribuído à expressão por Merleau-Ponty (Phénoménologie de Ia perception, 1945,
pp. 423 ss.).
PARCIMÔNIA, LEI DA. V. ECONOMIA. PARENÉTICA (gr. Tcapaivétucf] té^vri; lat. Praeceptiva; in. Parenetic,
fr. Parénétique, it. Pareneticd). Segundo os estóicos, a parte da moral que consiste em prescrever preceitos práticos
para a conduta de vida nas várias circunstâncias (cf. Sêneca, Ep., 95). Parenético: exorta tório.
PARÊNTESE (in. Parentheses; fr. Paren-thèse, ai. Parenthese, it. Parentesi). Na lógica e na matemática os P. são
um sinal de associação. Assim, na expressão [n — (x-y)], os P. internos servem exclusivamente para mostrar a
associação das partes x-y da expressão. Na terminologia da fenomenologia contemporânea, "pôr entre P." significa
efetuar a suspensão ou epocbé fenomenológica (v. EPOCHÉ).
PAR-ÍMPAR (gr. ôpTiOTtépiTTov; in. Even-odd; fr. Pair-impair, ai. Gerade-ungerad; it. Parimpari), Era assim
que os pitagóricos antigos definiam a unidade, como princípio do número e das coisas, porquanto ela seria limitada
como o ímpar e ilimitada como o par (ARISTÓTELES, Met,, I, 5, 986 a 15).
PARÔNIMO (gr. 7tapúvi)|K)Ç; lat. Denomi-nativus). Foi assim que Aristóteles denominou os objetos cuja
designação provém de certo nome, com a modificação da desinência: como gramático, que deriva de gramática, e
corajoso, de coragem (Cat., 1, 1 a 11). Os P. têm em comum a essência expressa pela definição (cf. Boécio, In Cat., I,
P. L. 64, col. 167; Pedro Hispano, Summ. log., 3.01; Jungius, Lógica hamburgensis, I, 2,16). Nisso, são semelhantes
aos sinônimos ou unívocos. Aristóteles considera os P. como certa espécie de objetos designáveis, ao lado dos
homônimos ou equívocos e dos sinônimos ou unívocos (v. EQUÍVOCO; UNÍVOCO).
PARSISMO (in. Parsism; fr. Parsisme, ai. Parsismus, it. Parsismó). Religião dualista dos antigos persas [(v. MAI, 1
ti); Zorcostrismo].
PARTE (gr. uipoç; lat. Pars; in. Part; fr. Part; ai. Teil; it. Parte). Aristóteles distinguiu três significados principais
desse termo: Ia aquilo que decorre da divisão de uma quantidade, e neste sentido dois é P. de três, a menos que se
restrinja o significado de parte à unidade de medida, caso em que só um (e não dois) é P. de três: 2 a aquilo que
decorre da divisão de um gênero que não seja uma quantidade, e neste sentido são partes as espécies de um gênero; 3 S
aquilo que decorre da análise de uma proposição que serve de definição, e neste sentido o gênero é P. da espécie
(porque é a espécie que é definida) {Met., V, 25, 1023 b 12). S. Tomás de Aquino por sua vez chamou de partes
quantitativas as do le significado de Aristóteles e de partes essenciais as dos 2S e 3S significados (5. Th., I, q. 76, a. 8;
III, q. 90, a. 2). E acrescentou-lhes a P. subjetiva, "na qual está presente, simultânea e igualmente, toda a virtude do
todo, assim como toda a virtude do animal, porquanto se conserva como tal em qualquer espécie animal", e a P.
potencial, "na qual está presente o todo segundo toda a sua essência, assim como toda a essência da alma está
presente em cada uma de suas potências" (S. Th., III, q. 90, a. 3). Mas é óbvio que estas duas últimas espécies de P.
foram excogitadas com fins teológicos. Outras distinções foram introduzidas com outros intuitos, como entre a P.
próxima e a P. remota, segundo haja ou não, entre a P. e o todo, uma outra P. (cf. JUNGIUS, Log., I, 9, 11-12), e entre a
P. alíquota e a P. aliquanta, segundo a repetição da parte chegue a adequar exatamente o todo ou resulte, em certo
ponto, menor ou maior que ele (cf. WOLFF, Ont., § 360).
A maioria dessas distinções hoje está em desuso, e com o abandono do velho axioma "a P. é menor que o todo" (v.
INFINITO) O próprio conceito de P. deixou de ser definido a partir do todo e é habitualmente definido através de certo
tipo de relação. Assim, Peirce diz: "Uma P. de um conjunto, chamado seu todo, é um conjunto tal que tudo o que
pertença à P. pertence ao todo, mas alguma coisa que pertence ao todo não pertence à P." {Coll. Pap., 4173)^
PARTIÇÃO (gr. LtepvoLióç; lat. Partitio-, in. Partitian; fr. Partition; ai. Partition). Os estóicos designaram com
este termo "a ordenação de um gênero em seus lugares" (DIÓG. L., VII, 1, 62), ou seja, a enumeração das partes que
compõem o todo, como quando se enumeram
PARTICIPAÇÃO
745
PATOLÓGICO
os membros do corpo humano; portanto, distinguiram-na da divisão, que é a enumeração das espécies pertencentes a
um gênero (CÍCERO, Top., 5-7, 28-30) (v. DIVISÃO).
PARTICIPAÇÃO (gr. néGeÇiç; lat. Parteci-paticr, in. Participation; fr. Partécipation; ai. Teilnahme,
Partízipation; it. Partecipazioné). 1. Um dos dois conceitos de que Platão se valeu para definir a relação entre as
coisas sensíveis e as idéias; o outro é o de presença ou parúsia (napovaía). "Nada torna bela uma coisa" — disse ele
— "a não ser a presença ou a P. do belo em si mesmo, seja qual for o caminho ou o modo como a presença ou a P. se
realizam" (Fed., 100 d). Mais tarde, Platão entendeu a P. como imitação: "Parece-me que as idéias estão como
exemplares na natureza, que os outros objetos semelhem a elas e sejam suas cópias, e que essa P. das coisas nas
idéias consiste em serem imagem delas" (Parm., 132 d). Platão não deu muitas outras determinações sobre esse
importante conceito da sua filosofia, mas a metafísica medieval a ele recorreu quando precisou distinguir "o ser por
essência", que pertence somente a Deus, do "ser por P.", que pertence às criaturas; essa distinção garantia a
subordinação do ser das coisas ao ser de Deus. S. Tomás de Aquino disse: "Assim o que tem fogo, mas não é fogo, é
afogueado (igniturri) por P., também o que tem ser, mas não é o ser, é ente por P." (5. Th., I, q. 3, a. 4). Mas o amplo
uso que esse conceito teve na metafísica tradicional não contribuiu muito para esclarecê-lo, e ele continuou tão
indefinido e obscuro quanto em Platão.
2. L. Lévy Bruhl utilizou muito o conceito de participação para ilustrar a mentalidade dos primitivos: a participação
seria anterior à distinção entre as coisas que participam. "A participação não se estabelece entre um morto e um
cadáver mais ou menos nitidamente representados (caso em que teria a natureza de relação e deveria ser possível
esclarecê-la por meio do intelecto); ela não vem depois das representações, nem as pressupõe, mas é anterior a elas,
ou pelo menos simultânea. O que é dado em primeiro lugar é a participação" {Les carnets, I; trad. it., p. 36-37).
PARTICULAR (gr. KOCTÒ uipoç; lat. Par-ticularis; in Particular, fr. Particulier, it. Par-ticolaré). Que é uma parte
ou pertence a uma parte. A proposição P. foi definida por Aristóteles da maneira seguinte.- "Chamo de P. a
proposição que expressa a inerência a alguma coisa
ou a não inerência a cada coisa" {An. pr., I, 1, 24 a 13). O contrário da proposição P. é a universal (v.). A lógica
medieval indicou com a letra/a proposição P. afirmativa e com a letra O a proposição P. negativa. Uma proposição P.
da forma "alguns Fsão G" pode ser lida de várias as maneiras: "algum F é G", "alguma coisa é ao mesmo tempo F e
G", "alguma coisa que é F é G", "Há um FG", "Existem FG", "FG existe", etc. (cf. W. v. O. QUINE, Metbods of
Logic, § 12).
PARÚSIA. V. PARTICIPAÇÃO.
PASSADO. V. TEMPO.
PASSIVO (gr. 7ta0r|TiKÓÇ; lat. Passivus; in. Passive, fr. Passif, ai. Passiv, it. Passivo). Que sofre uma ação, que é
afetado por alguma coisa. É o adjetivo correspondente a afeição (v.) e contrário a ativo (v.).
PASTORAL, FILOSOFIA (lat. Pastoralis philosophid). Foi assim que Bacon chamou a filosofia "que contempla o
mundo placidamente e quase por ócio": censura que ele faz também à filosofia de Telésio (Phil. Works, III, § 45).
PATÉTICO (in. Pathetic, fr. Pathétique, ai. Pathetisch; it. Patético). F. Schiller designou com este termo uma das
espécies do sublime (v.) prático, mais precisamente o que deriva de um objeto ameaçador em si mesmo para a
natureza física do homem, portanto doloroso. No sublime prático contemplativo, ao contrário, não é o objeto, mas a
sua contemplação que institui o temor e, conseqüentemente, a sublimidade (Vom Erhabenen, zur Weiteren
Ausfuhrung einiger Kantischen Ldeen, 1793, Über das Pathetische, 1793).
PATOLÓGICO (in. Pathological; fr. Patho-logique, ai. Pathologisch; it. Patológico). O que representa doença ou
manifestação de doença. O único uso especificamente filosófico deste termo encontra-se em Kant, em que designa
tudo o que diz respeito à "faculdade inferior de desejar", ou seja, ao conjunto das inclinações humanas naturais. Do
ponto de vista kantiano, não é P. somente a chamada "faculdade superior de desejar", que é a razão prática
independente de todas as inclinações sensíveis (Crít. R. Prática, § 3S Schol. I). J. Bentham chamou de patologia a
consideração e a classificação dos móveis sensíveis da conduta, indicando com esse termo "a teoria da sensibilidade
passiva", enquanto chamava de dinâmica "o uso possível, por parte do moralista e do legislador, desses mesmos
móveis para determinar a conduta
PATRÍSITCA
746
PECADO
humana com vistas à máxima felicidade possível" (Springs ofAction, 1817).
PATRÍSTICA (in. Patristic; fr. Patristique, ai. Patristik, it. Patristicà). Indica-se com este nome a filosofia cristã
dos primeiros séculos. Consiste na elaboração doutrinai das crenças religiosas do cristianismo e na sua defesa contra
os ataques dos pagãos e contra as heresias. A P. caracteriza-se pela indistinção entre religião e filosofia. Para os
padres da Igreja, a religião cristã é a expressão íntegra e definitiva da verdade que a filosofia grega atingira imperfeita
e parcialmente. Com efeito, a Razão (logos) que se fez carne em Cristo e se revelou plenamente aos homens na sua
palavra é a mesma que inspirara os filósofos pagãos, que procuraram traduzi-la em suas especulações.
A P. costuma ser dividida em três períodos. O primeiro, que vai mais ou menos até o séc. III, é dedicado à defesa do
Cristianismo contra seus adversários pagãos e gnósticos (Justino, Taciano, Atenágoras, Teófilo, Irineu, Tertuliano,
Minúcio Félix, Cipriano, Lactâncio). O segundo período, que vai do séc. III até aproximadamente a metade do séc.
IV, é caracterizado pela formulação doutrinai das crenças cristãs; é o período dos primeiros grandes sistemas de
filosofia cristã (Clemente de Alexandria, Orí-genes, Basílio, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, S. Agostinho).
O terceiro período, que vai da metade do séc. V até o fim do séc. VIII, é caracterizado pela reelaboração e pela
sistematização das doutrinas já formuladas, bem como pela ausência de formulações originais (Nemésio, PseudoDionísio, Máximo Confessor, João Damasceno, Marciano, Capella, Boécio, Isidoro de Sevilha, Beda, o Venerável).
A herança da P. foi recolhida, no início do renascimento carolíngio, pela Escolástica (v.). PAZ (in. Peace, fr. Paix,
ai. Friede, it. Pacé). A mais famosa definição de P. foi dada por Cícero, em Filípicas. "Pax est tranquilla libertas"
(Phil., 2, 44, 113), muitas vezes repetida. De modo mais geral, a P. foi definida por Hobbes como a cessação do
estado de guerra, ou seja, do conflito universal entre os homens. Portanto, "procurar obter a P.", segundo Hobbes, é a
primeira lei da natureza (Leviatb., I, 14). Como Hobbes, Kant julgava que o estado de P. entre os homens não é
natural e que, portanto, ele tem de ser instituído, pois "a ausência de hostilidade não significa segurança, e se esta não
for garantida entre vizinhos (o que só pode realizar-se num estado legítimo) poderá
ser tratado como inimigo aquele a quem se tenha pedido essa garantia em vão" ÍZum ewigen Frieden, 1796, § 2). Para
Whitehead, a P. é um conceito metafísico, "a harmonia das harmonias que aplaca a turbulência destrutiva e ■
completa a civilização" {Adventures ofldeas, XX, § 2).
PECADO (lat. Peccatum; in. Sin; fr. Pé-ché, ai. Sünde, it. Peccató). Transgressão intencional de um mandamento
divino. Esse termo tem conotação sobretudo religiosa: P. não é a transgressão de uma norma moral ou jurídica, mas a
transgressão de uma norma considerada imposta ou estabelecida pela divindade. O reconhecimento do caráter divino
de uma norma e a intenção de transgredi-la são os dois elementos desse conceito, sem os quais se confunde com os
conceitos de culpa, delito, erro, crime, etc, que designam a transgressão de uma norma moral ou jurídica.
O conceito de P. foi elaborado pela teologia cristã nesses termos. S. Agostinho definia o P. como "o que é dito, feito
ou desejado contra a lei eterna", entendendo por lei eterna a vontade divina cujo fim é conservar a ordem no mundo e
fazer o homem desejar cada vez mais o bem maior e cada vez menos o bem menor (.Contra Faustum, XXII, 27). S.
Tomás de Aqui-no certamente aceitava essa definição ao dizer que para o homem a lei eterna é dúplice: "Uma é
próxima e homogênea, é a própria razão humana; a outra é a regra primeira, a lei eterna que é quase a razão de Deus"
(5. Th., II, 1, q. 71, a. 6). S. Tomás de Aquino insiste, de um lado, na voluntariedade (intencionalidade) do P., em
virtude da qual se poderia definir o P. unicamente mediante a vontade, não fosse o fato de os atos externos também
pertencerem ao P. e por isso deverem ser mencionados em sua definição (Ibid, ad. 2Q). Por outro lado, insiste em
dizer que todo P. é, como tal, um P. contra Deus, embora os P. contra Deus constituam, de outro ponto de vista, uma
categoria especial (S. Tb., II, 2, q. 72, a. 4, ad Ia).
Pode-se dizer que esse conceito de P. não se alterou através dos tempos. Kant repete-o ao definir o P. como "a
transgressão da lei moral vista como mandamento divino" (Religion, I, seç. IV; II, seç. 1, c; trad. it., Durante, pp. 31,
68); o mesmo faz Kierkegaard, ao afirmar que o P. é perante Deus, e que consiste em "buscar desesperadamente a
identidade ou em fugir desesperadamente à identidade", o que significa que consiste no desespero de não ter fé
PECADO ORIGINAL
747
PEDAGOGIA
(Díe Krankbeit zum Tode, II, cap. I,- trad. it., Fabro, p. 300). O que Kierkegaard acrescenta é o caráter
excepcional do P., que corresponde ao caráter excepcional da fé. O P. não é de todos os dias: "Ser
pecador, no sentido mais rigoroso, está bem longe de ser meritório. No entanto, como se pode achar uma
consciência essencial do P. (o que aliás é indispensável para o Cristianismo) numa vida tão mergulhada
na trivialidade, tão reduzida à imitação vulgar dos outros, que é quase impossível dar-lhe nome, pois é
desprovida demais de espírito para poder ser chamada de P.?" ilbid, II, B, Acréscimo A; trad. it., p. 328).
PECADO ORIGINAL (lat. Peccatum origi-nale, in. Original sin-, fr. Péché originei; ai. Erbsünd; it.
Peccato originaté). As discussões filosófico-teológicas a respeito do P. original geralmente tiveram como
objeto a maneira como esse P. se transmitiu de Adão aos outros homens. S. Tomás de Aquino enumerava
duas hipóteses principais, aduzidas para a solução desse problema: a hipótese do traducianismo, segundo
a qual "a alma racional transmite-se com a semente, de tal maneira que de uma alma infecta derivam
almas infectas", e a hipótese da bereditariedade, segundo a qual "a culpa da alma do primeiro genitor
transmite-se à prole, embora a alma não se transmita do mesmo modo como os defeitos do corpo se
transmitem de pai para filho". Ambas as hipóteses pareciam insustentáveis a S. Tomás de Aquino, e ele
anunciava a sua dizendo que "todos os homens nascidos de Adão podem considerar-se um único homem,
porquanto têm a mesma natureza, recebida do primeiro genitor, da mesma maneira como nas cidades
todos os homens que pertencem à mesma comunidade se julgam um só corpo, e a comunidade inteira é
como um único homem" (II, 1, q. 81, a. 1). Alguns séculos depois, em sua Teodicéia (1710), Leibniz
enumeraria as mesmas hipóteses (Tbéod., I, § 86), entre as quais oscilou sempre o pensamento teológico.
Aliás, é só em Kant e em Kierkegaard que se encontra uma interpretação filosófica (e não teológica) do P.
original. Kant observou que não se deve confundir a questão da origem temporal de uma coisa com a
questão de sua origem racional: o problema da origem temporal deve ser resolvido pela doutrina bíblica
do P. original, mas o da origem racional do mal deve ser solucionado pela doutrina do "mal radical",
segundo a qual a disposição inata do
homem para o mal deriva da natureza de suas máximas. E diz: "A proposição 'o homem é mau 'significa
apenas que o homem está ciente da lei moral, mas acolheu o princípio de afastar-se ocasionalmente dessa
lei. Dizer que ele é mau por natureza significa que isso vale para toda a espécie humana, não no sentido
de que essa qualidade possa ser deduzida do conceito de espécie humana (do conceito de homem em
geral) — porque então seria necessária —, mas no sentido de que o homem, do modo como é conhecido
por experiência, não pode ser julgado de outra maneira ou no sentido de que se pode pressupor como
objetivamente necessária a tendência ao mal em qualquer homem, até no melhor" (Religion, I, 3; trad. it.,
Durante, p. 18). Substancialmente idêntica a esta é a interpretação do P. original dada por Kierkegaard,
que discerniu a condição e a realidade psicológica dele na angústia: "A proibição de Deus angustia Adão
porque desperta nele a possibilidade da liberdade. O que na inocência era o nada da angústia passou então
a fazer parte da inocência, sendo aí também um nada, ou seja, a possibilidade angustiante de poder. Do
que pode não tem a menor idéia; caso contrário, pressupor-se-ia, como acontece habitualmente, aquilo
que segue, que é a diferença entre o bem e o mal. Em Adão só há a possibilidade de poder, como forma
superior de ignorância, como expressão superior de angústia, porque em sentido mais elevado esta
possibilidade é e não é, e Adão ama-a e foge dela" (Der Begriff Angst, I, § 5; trad. it., Fabro, p. 54).
Também aqui, como se vê, não se trata da origem temporal, mas da origem racional do P. original, e aqui
também essa origem é vista numa possibilidade, indeterminada ou "indefinida", como a chama
Kierkegaard, que é também a possibilidade de agir contra a proibição divina. Para Kierkegaard, assim
como para Kant, o P. original consistiria, portanto, na perspectiva de uma possibilidade, que, como tal,
pode implicar a infração à norma moral ou à proibição divina.
PEDAGOGIA (in. Pedagogy, fr. Pédagogie, ai. Pãdagogik, it. Pedagogia). Este termo, que na sua
origem significou prática ou profissão de educador, passou depois a designar qualquer teoria da
educação, entendendo por teoria não só uma elaboração organizada e genérica das modalidades e
possibilidades da educação, mas também uma reflexão ocasional ou um pressuposto qualquer da prática
educa-
PEDAGOGIA
748
PEDOLOGIA
cional. Neste sentido, na Antigüidade clássica a pedagogia não tinha a dignidade de ciência autônoma,
mas era considerada parte da ética ou da política, e por isso elaborada unicamente em vista do fim que a
ética ou a política propunham ao homem. Por outro lado, os expedientes ou os meios pedagógicos só
eram estudados em relação à primeira educação, ministrada na infância, portanto às mais elementares
aquisições (ler, escrever, contar). Assim, até certa altura, a reflexão pedagógica é dividida em dois ramos
isolados: um de natureza puramente filosófica, elaborado com vistas aos fins propostos pela ética, e outro
de natureza empírica ou prática, elaborado com vistas à preparação primeira e elementar da criança para a
vida.
Pode-se dizer que esses dois ramos se unem pela primeira vez no séc. XVII, graças a G. A. Comênio, que
pretendeu integrar no domínio da P. a organização metodológica que Francis Bacon pretendera integrar
no domínio das outras ciências. Para tanto, elaborou um sistema pedagógico completo, fundado no
princípio da pansofia (v.), que partia de considerações sobre os fins da educação para chegar ao estudo
dos meios e dos instrumentos didáticos. A partir de Comênio, a experiência pedagógica do Ocidente foise enriquecendo e aprofundando, com as tentativas de achar novos métodos educacionais. As obras de
Locke, Rousseau, Pestalozzi, Frõebel são muito importantes desse ponto de vista, inclusive por terem
esses autores combinado os métodos educacionais com as novas concepções filosóficas que iam surgindo
pouco a pouco. Assim, podemos dizer que Locke representa a P. do empirismo; Rousseau, a P. do
iluminismo; Pestalozzi, a P. do criticismo; e Frõebel, a do romantismo. Todavia, a organização científica
da P. deve muito a Herbart, que foi o primeiro a distinguir e unir os dois ramos da tradição pedagógica
num sistema coerente. Herbart distinguiu os fins da educação (que a P. deve haurir da ética) e os meios
educacionais (que a P. deve haurir da psicologia), procurando elaborar, distinta e correlativamente, essas
duas partes integrantes. (Allgemeine Pàdagogik, 1806; Umris pâdagogischer Vorlesungen, 1835).
A partir daí, a psicologia tornou-se a principal ciência auxiliar da pedagogia. A única exceção infeliz a
essa conexão foi representada pela forma de idealismo romântico que prevaleceu na Itália nos primeiros
decênios do
séc. XX. Essa forma de idealismo negava a diversidade das pessoas, julgando-as unidas ao Espírito
Universal, e identificava o desenvolvimento pessoal do homem com o desenvolvimento universal do
Espírito. Estas teses eram apresentadas como uma solução da P. na filosofia. Gentile dizia: "Quando por
espírito só se entende o desenvolvimento, a formação, a educação, em suma, do Espírito, a própria
filosofia (toda filosofia, contanto que a realidade seja concebida absolutamente como Espírito)
transforma-se em P., e a forma científica dos problemas pedagógicos particulares transforma-se em
filosofia" (Sommario di pedagogia, II, 1912, p. 15). Na mesma época, porém, fazia-se a tentativa
simetricamente oposta de reduzir a P. a ciência mecânica, tomando a física como modelo e mudando seu
nome para pedologia (v.), com a alegação de que, dominando-se o mecanismo psicológico, pode-se
dirigir a formação mental dos homens do mesmo modo como é possível dirigir as forças da natureza
utilizando as leis da natureza.
Pode-se dizer que a P. contemporânea, em sua forma mais amadurecida, começa quando são postas de
lado as pretensões opostas de reduzir o homem a espírito absoluto ou a mecanismo, e o homem começa a
ser julgado e considerado como natureza, sem ser degradado o mecanismo. A noção de condicionamento
(v. CONDIÇÃO) é a que prevalece hoje na P., alijando dela tanto o indeterminismo idealista quanto o
determinismo mecanicista. Além disso, a experiência pedagógica hoje é enriquecida pelo estudo da
educação nas sociedades primitivas, o que possibilitou, por um lado, uma generalização do próprio
conceito de edu-cação(v.) e, por outro, fazer confrontos e paralelos eficazes no terreno dos instrumentos
educacionais. Além da psicologia, a antropologia e a sociologia também contribuem hoje para prover a P.
com um conjunto de instrumentais nas áreas em que o problema dos fins permanece aberto; ademais, do
ponto de vista pedagógico, os fins tendem hoje a ser apresentados de forma hipotética, e não da forma
absoluta e dogmática como eram pressupostos pela P. tradicional (v. CULTURA; EDUCAÇÃO).
PEDOLOGIA (in. Paidology, fr. Pédologie, ai. Paidologie, it. Pedologia). Ciência exata da educação,
em oposição à pedagogia, que seria a arte empírica da educação. Pelo menos foi o significado dado a esse
termo por aqueles que o introduziram: o alemão O. Chrisman
PEDOTÊCNICA
749
PENA
{Paidologie, 1894) e o francês E. Blum (cf. seus artigos em Revuephilosophique, maio 1897, novembro 1898). Seu
pressuposto deveria ser a psicologia experimental, da qual seriam extraídos os instrumentos educacionais relativos às
várias idades do homem. Esse conceito não desapareceu; ao contrário, fundamenta boa parte da psicologia
contemporânea, mas o termo P., depois de breve aceitação, foi abandonado.
PEDOTÊCNICA (fr. Pédotechnié). Uma "Sociedade de P." foi fundada em 1906 em Bruxelas por Décroly: o termo
tinha o mesmo significado de pedologia.
PEIRÂSTICA (gr. jtetpacmKÍ] xéxvr|). Segundo Aristóteles, a arte de submeter uma tese à prova, deduzindo suas
conseqüências. É uma parte da dialética e distingue-se da sofistica porque se destina ao adversário ignorante, ao passo
que a sofistica tende a derrotar também quem possui ciência {El. sof., 8, 169 b 25; 171 b 4).
PELAGIANISMO (in. Pelagianism; fr. Péla-gianisme, ai. Pelagianismus; it. Pelagianismó). Doutrina do monge
inglês Pelágio, que, no início do séc. V, ensinou em Roma e Cartago; em polêmica com S. Agostinho, sua doutrina
dizia que o pecado de Adão não enfraqueceu a capacidade humana de fazer o bem, mas é apenas um mau exemplo,
que torna mais difícil e penosa a tarefa do homem. S. Agostinho combateu essa tese em muitas obras, a partir de 412,
defendendo a tese oposta: de que toda a humanidade pecara com Adão e em Adão e que, portanto, o gênero humano é
uma única "totalidade condenada": nenhum de seus membros pode escapar à punição a não ser por misericórdia e
pela graça (não obrigatória) de Deus (cf. De civ. Dei, XIII, 14) (v. GRAÇA).
PENA (gr. 5ÍKT); lat. Poena; in. Penalty, fr. Peme, ai. Strafe, it. Pena). Privação ou castigo previsto por uma lei
positiva para quem se torne culpado de uma infração. O conceito de pena varia conforme as justificações que lhe
foram dadas, e tais justificações variam segundo o objetivo que se tenha em mente: Ia ordem da justiça; 2S salvação
do réu; 3a defesa dos cidadãos.
ls O mais antigo conceito de pena é o que lhe atribui a função de restabelecer a ordem da justiça. Esta é a função
atribuída por Aristóteles, para quem a justiça não consiste na P. de talião, e o objetivo da P. é restabelecer a justiça
em sua devida proporção: "Quando alguém apanhou e outro bateu, ou então quando alguém matou e outro morreu, não há relação de igualdade entre o dano e o
direito, mas o juiz procura remediar essa desigualdade com a P. que inflige, reduzindo a vantagem obtida" {Et. nic, V.
4, 1132 a 5; cf. 8, 1132 b 21). Este conceito já fora estendido do homem ao mundo por Anaximandro de Mileto, que
afirmara: "Todos os seres devem pagar uns aos outros, segundo a ordem do tempo, o preço da sua injustiça" {Fr., I,
Diels). A P. serve neste caso para restabelecer a ordem cósmica. Esta também é a função atribuída pelo ponto de vista
religioso. Plotino diz.- "Cumprimos a função que por natureza cabe à alma enquanto não nos perdemos na
multiplicidade do universo; e se nos perdemos sofremos a P., tanto com nossa própria perda quanto com o destino
infeliz que mais tarde nos espera" {Enn., II, 3, 8); as mesmas palavras acham-se em S. Agostinho {De civ. Dei, V,
22). S. Tomás de Aquino diz: "Como o pecado é um ato contrário à ordem, é óbvio que quem peca age contra certa
ordem, seguindo-se que por essa mesma ordem é reprimido; e essa repressão é a P." {S. Th., I, II, q. 87, a. 1). Com o
mesmo espírito, Kant afirmava de modo só aparentemente paradoxal: "Mesmo que a sociedade civilizada se
dissolvesse com o consenso de todos os seus membros (se, p. ex., um povo que habitasse uma ilha decidisse separarse e dispersar-se pelo mundo), o último assassino que estivesse na prisão deveria antes ser justiçado, para que cada
um proferisse a pena por sua conduta e o sangue derramado não recaísse sobre o povo que não exigiu punição" {Met.
derSitten, I, II, seç. 1, E; trad. it., p. 144). Do mesmo ponto de vista, Hegel considerava a P. como "a verdadeira
conciliação do direito consigo mesmo", como "respeito objetivo e conciliação da lei que se restaura através da
anulação do delito e assim se valida" {Fil. do dir., § 220). As anteriormente citadas são as principais opiniões que
podem ser coligidas entre os filósofos a favor da teoria da P. como restauração da ordem da justiça. Mas são palavras
que inspiraram e até hoje inspiram numerosas doutrinas jurídicas, bem como as instituições e leis nelas fundadas.
2e O conceito da P. como salvação ou correção do réu muitas vezes está ligado ao conceito acima. A sua defesa mais
célebre talvez esteja em Górgias, de Platão, para quem é melhor sofrer a injustiça que cometê-la, e para quem
cometeu injustiça a melhor coisa é submeter-se à
PENA
750
PENA
pena. "Se uma culpa é cometida" — diz Platão — "é preciso ir o mais depressa possível aonde a P. possa
ser cumprida, ou seja, ao juiz, que é como um médico, para que a doença da injustiça não se torne crônica
e não torne a alma corrompida e incurável" {Górg., 480 a). Com efeito, "quem cumpre a P. sofre um
bem", no sentido de que "se for punido com justiça, ficará melhor" e "libertar-se-á do mal" (Jbid., Ali a);
assim, a P. é uma purificação ou libertação que o próprio culpado deve querer. Essa função purificadora é
muitas vezes reconhecida por aqueles que vêem na P. o restabelecimento da justiça. Apesar de Kant
afirmar que "a P. nunca pode ser decretada como meio para atingir um bem, seja em proveito do
criminoso, seja em proveito da sociedade civilizada, mas deve ser-lhe aplicada apenas porque ele cometeu
um crime" {Met. derSitten, I, II, seç. 1, E; p. 142), negando assim qualquer conexão entre as duas
concepções de P., S. Tomás de Aquino reconhecia essa conexão e dizia: "As P. da vida presente são
medicinais; assim, quando uma P. não é suficiente para deter um homem, acrescenta-se outra, como
fazem os médicos que empregam diversos remédios quando um só não é eficaz" {S. Th., II, 2, q. 39 a. 4,
ad 3S). Analogamente, Hegel afirmava que a P. não é somente a conciliação da lei consigo mesma, mas
também a conciliação do delinqüente com sua lei, com a lei "conhecida e válida para ele, destinada à sua
proteção"; nessa conciliação, o delinqüente encontra "a satisfação da justiça e o seu próprio interesse"
{Fil. do dir., § 220).
3e A terceira concepção de P. atribui-lhe a função de defender a sociedade. Deste ponto de vista, a P. é: a)
um móvel ou estímulo para a conduta dos cidadãos; b) uma condição física que põe o delinqüente na
impossibilidade de prejudicar. Os filósofos acentuaram sobretudo o primeiro caráter. Aristóteles já notava
que todos aqueles que não tiveram a sorte de receber da natureza uma índole liberal (e são os mais
numerosos) abstêm-se dos atos vergonhosos só por medo das penas. E diz: "A maioria obedece mais à
necessidade que à razão, mais às P. que à honra" {Et. nic, X, 9, 11 80 a 4; cf. 1179 b 11). Mas o que
Aristóteles considerava o móvel das almas servis a concepção aqui examinada considerava o móvel único
e fundamental. Hobbes afirma que "é ineficaz a proibição que não venha acompanhada pelo temor da P.,
sendo, pois, ineficaz uma lei que não contenha ambas as partes, a que proíbe de cometer um
delito e a que pune quem o comete" {De eive, 1642, XIV, § 7). Este conceito seria adotado pela filosofia
jurídica do Iluminismo. É retomado por Samuel Pufendorf, que atribui à P. a tarefa principal "de dissuadir
os homens do pecado com seu rigor" {De jure naturae, 1672, VIII, 3, 4), sem excluir, todavia, a correção
do réu {Ibid., VIII, 3,9). Mas foi com Cesare Beccaria que esse conceito prevaleceu: fundamentou sua
obra Dei diritti e dellepene (1764). Segundo Beccaria, a P. não passa de motivo sensível para reforçar e
garantir a ação das leis, de tal maneira que "as penas que excedam da necessidade de conservar a saúde
pública são injustas por natureza" {Dei diritti e delle pene, § 2). Do mesmo ponto de vista, Bentham
considerava a P. como uma entre as várias espécies de sanções(v.) cuja função é servir de "estimulantes
da conduta humana", porquanto "transferem a conduta e suas conseqüências para a esfera das esperanças
e dos temores: esperanças de um excedente de prazeres; temores que prevêem por antecipação um
excedente de dores" {Deontology, 1834, I, 7). Os mesmos conceitos fundamentais foram validados pela
denominada "Escola Positiva Italiana" (Lombroso, Ferri e outros), que os defendeu com certo sucesso na
discussão filosófico-jurí-dica a respeito do direito penal.
Não há dúvida de que a maioria dos juristas, dos filósofos do direito, dos códigos e dos direitos positivos
vigentes nas várias nações do mundo inspiram-se numa concepção mista ou eclética da P., considerandoa, na maioria das vezes, sob os três ângulos aqui apresentados. Este sincretismo não cria nenhuma
dificuldade do ponto de vista teórico, ainda que os três pontos de vista não tenham o mesmo grau de
homogeneidade. Os primeiros dois unem-se facilmente e também na prática estão freqüentemente juntos,
enquanto o terceiro pertence a uma ordem diferente de pensamento: os dois primeiros inspiram-se na ética
dos fins; o outro, na ética do móvel (v. ÉTICA). Mas as dificuldades começam no terreno prático, quando é
preciso estabelecer a medida da pena. Neste campo, as três concepções manifestam hetero-geneidade. De
acordo com o primeiro ponto de vista, todas as infrações à ordem da justiça são equivalentes: um furto
insignificante fere essa ordem tanto quanto um crime perpetrado com fraude e violência. De acordo com o
segundo ponto de vista, somos levados a crer que a pena, assim como um purgativo, é mais
PENSAMENTO
751
PENSAMENTO
eficaz quanto mais forte. É só de acordo com o terceiro ponto de vista, como notava Hegel, ou seja,
segundo a periculosidade para a sociedade civil, que as P. podem ser convenientemente graduadas (cf.
HEGEL, Fil. do dir., § 218). Neste terreno, portanto, a confusão e a mescla dos vários conceitos de P. está
longe de ser inócua, sendo o motivo principal da desordem e das desigualdades existentes nos sistemas
penais vigentes.
PENSAMENTO (gr. vóncnç, Sictvotoc; lat. Cogitatio-, in. Thought; fr. Pensée, ai. Denken; it. Pensieró).
Podemos distinguir os seguintes significados do termo: l2 qualquer atividade mental ou espiritual; 2Q
atividade do intelecto ou da razão, em oposição aos sentidos e à vontade; 3 B atividade discursiva; 4Q
atividade intuitiva. ■< ls O significado mais amplo do termo, que indica qualquer atividade ou conjunto
de atividades espirituais, foi introduzido por Descartes: "Com a palavra 'pensar', entendo tudo o que
acontece em nós, de tal modo que o percebamos imediatamente por nós mesmos; por isso não só
entender, querer e imaginar, mas também sentir é o mesmo que pensar" {Princ. phil., I, 9; cf. Méd., II).
Esse significado é conservado pelos cartesianos (cf., p. ex., MALE-BRANCHE, Recherchede Ia vérité, I,
3, 2) e aceito por Spinoza, que inclui entre as maneiras do P. "o amor, o desejo e qualquer outra afeição da
alma" {Et., II, axioma III). Locke fazia alusão a esse significado, mesmo notando que em inglês
pensamento significa mais propriamente "operação do espírito sobre as próprias idéias" (P. discursivo) e
preferindo por isso a palavra "percepção" {Ensaio, II, 9,1). O mesmo significado era aceito por Leibniz,
que definia o P. como "uma percepção unida à razão, que os animais, pelo que nos é dado ver, não
possuem" (Op., ed. Erdmann, p. 464), e observava que esse termo podia ser interpretado também com o
significado mais geral de percepção, e neste caso o P. pertenceria a todas as enteléquias (também aos
animais) (Nouv. ess., II, 21, 72). A tradição desse significado interrompe-se com Kant e não é retomada
na filosofia moderna.
2a No segundo significado, esse termo designa a atividade do intelecto em geral, distinta da sensibilidade,
por um lado, e da atividade prática, por outro. Neste significado Platão emprega, às vezes, a palavra
vÓT|o"iç, como quando designa com ela todo o conhecimento intelectivo, que encerra tanto o P.
discursivo
(ôlávoia) quanto o intelecto intuitivo (voOç) (Rep., VII, 534 a), e outras vezes a palavra Stóvoia, como
faz quando define o P. em geral como o diálogo da alma consigo mesma. "Quando a alma pensa" — diz
ele — "não faz outra coisa senão discutir consigo mesma por meio de perguntas e respostas, afirmações e
negações; e quando, mais cedo ou mais tarde, ou então de repente, decide-se, assevera e não duvida mais,
dizemos que ela chegou a uma opinião" (Teet., 190 e, 191 a; cf. Sof., 264 e). No mesmo sentido geral,
Aristóteles emprega a palavra ôióvoia como quando diz: "Pensável significa aquilo sobre o que existe um
P." (Met., V, 15, 1021 a 31).
Este significado, que é o mais amplo (depois do precedente), tornou-se tradicional e é compartilhado por
todos os que admitem a noção do intelecto como faculdade de pensar em geral: na realidade as duas
noções coincidem. S. Agostinho (De Trin., XIV, 7) e S. Tomás de Aquino (S. Th., II, 2, q. 2 a. 1) admitem
esse significado genérico ao lado do significado específico de P. discursivo (v. adiante). Neste sentido, o
P. constitui a atividade própria de certa faculdade distinta do espírito humano, mais precisamente a
faculdade à qual pertence a atividade cognoscitiva superior (não sensível). Wolff definia neste sentido:
"Dizemos que estamos pensando quando estamos cientes daquilo que acontece em nós, que representa as
coisas que estão fora de nós" (Psychol. empírica, § 23). Este significado constitui, hoje também, o
emprego mais comum desse termo na linguagem corrente.
3Q O terceiro significado de P. especifica-o como P. discursivo. É esse o P. que Platão chamava de
dianóia, considerando-o órgão das ciências propedêuticas (aritmética, geometria, astronomia e música),
encaminhamento e preparação para o pensamento intuitivo do intelecto (Rep., VI, 511 d). S. Agostinho
negava que o Verbo de Deus pudesse chamar-se P. neste sentido (De Trin., XV, 16); o mesmo fazia S.
Tomás de Aquino, porque neste sentido pensar é "uma consideração do intelecto acompanhada pela
indagação, sendo portanto anterior à perfeição que o intelecto atinge na certeza da visão" (S. Th., II, 2, q.
2, a. 1; cf. I q. 34, a. 1). Segundo S. Tomás de Aquino, este é o significado "mais apropriado" da palavra
"P.". Neste significado, pode-se integrar o outro, que ele distingue como terceiro (o primeiro é o genérico,
conforme o nB 2), o P. como ato da faculdade
PENSAMENTO
752
PENSAMENTO
cogitativa (virtus cogitativá) ou razão particular (ratioparticularis), que corresponde à capacidade estimativa dos
animais e consiste em reunir e comparar as intenções particulares, assim como a razão intelectiva ou P. discursivo
consiste em reunir e comparar as intenções univer-sais(Ibid., I, q. 78, a. 4). Viço só fazia expressar os mesmos
conceitos ao afirmar, em De anti-quissima italorum sapientia (1710), que a Deus pertence a inteligência (intelligeré),
que é o conhecimento perfeito, resultante de todos os elementos que constituem o objeto, e ao homem pertence só o
pensamento (cogitare), que é como ir recolhendo alguns dos elementos constitutivos do objeto (De antiquissima
italorum sapientia, I, 1). O empirismo referia-se à mesma noção de P. quando Hume, p. ex., afirmava que tudo o que
o P. pode fazer consiste "no poder de compor, transportar, aumentar ou diminuir os materiais fornecidos pelos
sentidos e pela experiência" (Inq. Cone. Underst., II; trad. it., 1910, p. 17). E este é, finalmente, o conceito de Kant:
"Pensar é interligar representações numa consciência" (.Prol., § 22). O que significa "pensar é o conhecimento por
conceitos", e também "os conceitos, como predicados de juízos possíveis, referem-se a algumas representações de um
objeto ainda indeterminado", e portanto, quando esse objeto não é dado à intuição sensível, tem-se um "P. formal",
mas não um conhecimento propriamente dito, que consiste na unidade de conceito e intuição (Crít. R. Pura, Anal. dos
conceitos, seç. 1, § 22). Ao P. neste sentido referia-se Hamilton, considerando-o "ato ou produto da faculdade
discursiva, ou faculdade das relações" (Lecture on Logic, V, 10; I, p. 73). Desse ponto de vista, a atividade do P. é
definida em termos de síntese, unificação, confronto, coordenação, seleção, transformação, etc, dos dados que são
oferecidos ao P., mas não por ele mesmo produzidos. Portanto, a característica do P. visto como atividade discursiva
é, em última análise, negativa: o P. discursivo nunca se identifica com seu objeto, mas versa sobre ele, ou seja,
caracteriza-o e expressa-o. Neste sentido, Frege chama de P. o conteúdo de uma proposição, o seu sentido (v.) ("Über
sinn und Bedeutung", § 5; trad. it., em Aritmética e lógica, p. 225). Neste mesmo sentido, Wittgenstein dizia: "O P. é
a proposição significante", e identificava P. e linguagem com o fundamento de que "a totalidade das proposições é a
linguagem" ( Tractatus, 3, 5; 4; 4.001).
4e A característica do conceito de P. como intuição é a sua identidade com o objeto. Neste sentido, P. é atividade do
intelecto intuitivo, ou seja, do intelecto que é visão direta do inteligível, segundo Platão (Rep., VI, 511 c), ou que,
segundo Aristóteles, identifica-se com o próprio inteligível em sua atividade (Met., XII, 2, 1072 b 18 ss.). Para o P.
neste sentido os antigos usaram constantemente a palavra intelecto (v.); já vimos que S. Agostinho e S. Tomás de
Aquino recusaram-se a estender a ele o significado de "P.". Mas no idealismo romântico, ao mesmo tempo em que o
intelecto era rebaixado à faculdade do imóvel (v. INTELECTO), o P. era alçado à posição já ocupada pelo intelecto
intuitivo, e identificado com ele. Fichte foi o primeiro a fazer isso, quando identificou o P. com o Eu ou
Autoconsciência Infinita ( Wissens-chaftslehre, 1794, § 1); o mesmo fizeram Schelling e Hegel. Schelling afirmava:
"Meu eu contém um ser que precede qualquer pensamento e representação. É porque é pensado; e é pensado porque
é. (...) Produz-se com meu P., graças a uma causalidade absoluta" (Vomlch ais Prinzip der Philosophie, 1795, § 3).
Hegel, por sua vez, foi quem expressou com mais clareza a identificação do P. com a autoconsciência criadora, ou
seja, como atividade que coincide com sua própria produção. Ao definir a lógica como "ciência do P.", afirmava que
"ela contém o P. porque é ao mesmo tempo a coisa em si mesma, ou contém a coisa em si mesma porque é ao mesmo
tempo o P. puro" (Wis-senschaft der Logik, Intr., Conceito geral; trad. it., I, p. 32). E partindo do conceito discursivo
de P., Hegel chega ao seu conceito intuitivo: "O P. no seu aspecto mais próximo mostra-se sobretudo em seu
significado subjetivo comum como uma atividade ou faculdade espiritual, ao lado de outras (sensibilidade, intuição,
fantasia, apetição, querer, etc). O produto dessa atividade, caráter ou forma do P. é o universal, o abstrato em geral. O
P. como atividade é, por isso, o universal ativo, é propriamente aquilo que se faz, visto que o feito, o produto, é
justamente o universal. O P. representado como sujeito, é o pensante; e a expressão simples do sujeito existente como
pensante é o eu" (Ene, § 20). Em outros termos, o P. é ao mesmo tempo a atividade produtiva e o seu produto (o
universal ou conceito): ele é, portanto, a essência ou a verdade de tudo (Ibid., § 21). A partir de Hegel essa noção
intuitiva do P. foi às vezes qualificada pelos seus defensores como concei-
PENSANTE, PENSAMENTO
753
PERCEPÇÃO
to "especulativo" do P., e considerado o único adequado, por entender o P. em sua infinidade e força criadora. Mas na
realidade tratava-se ainda da velha noção de intelecto intuitivo estendida ao homem, sem levar mais em conta os
limites e as condições que os antigos impunham a essa extensão.
PENSANTE, PENSAMENTO. V. ATUALISMO. PERATOLOGIA. Termo com que Ardigó designou a parte geral
da filosofia, cujo objeto é o que se acha além dos campos particulares das ciências filosóficas especializadas, que são
a psicologia e a sociologia (Opere Filosofiche, II, 1884, passirri).
PERCEPÇÃO (gr. àvciA.ií\|nç; lat. Perceptia, in. Perception; fr. Perception; ai. Wahrneh-mung, Perception; it.
Percezioné). Podemos distinguir três significados principais deste termo: Ia um significado generalíssimo, segundo o
qual este termo designa qualquer atividade cognoscitiva em geral; 2 S um significado mais restrito, segundo o qual
designa o ato ou a função cognoscitiva à qual se apresenta um objeto real; 3° um significado específico ou técnico,
segundo o qual esse termo designa uma operação determinada do homem em suas relações com o ambiente. No
primeiro significado P. não se distingue de pensamento. No segundo, é o conhecimento empírico, imediato, certo e
exaustivo do objeto real. No terceiro significado é a interpretação dos estímulos. Só no âmbito deste último
significado, podemos entender o que a psicologia hoje discute como "problema da percepção".
1B No seu significado mais geral, o termo foi empregado por Telésio, segundo quem "a sensação é a P. das ações das
coisas, dos impulsos do ar e das mesmas paixões e mudanças, especialmente destas últimas" (De rer. nat, VII, 3).
Esta doutrina abria polêmica contra a tese de que a sensação consiste simplesmente na ação das coisas ou na
modificação do espírito. Telésio, porém, afirma que ela consiste na P. de uma ou de outra. A mesma doutrina foi
defendida por Bacon, que se reportava explicitamente à distinção de Telésio (De augm. scient., IV, 3). Descartes, por
sua vez, empregava esse termo para indicar todos os atos cognitivos, que são passivos em relação ao objeto, em
oposição aos atos da vontade, que são ativos (Pass. deVâme, I, 17). Descartes dividiu-as em: P. que se reportam aos
objetos externos, as que se reportam ao corpo e as que se reportam à alma (Ibid., I, 23-25). Neste sentido geral, a
palavra foi usada também por Locke: "A P. é a primeira faculdade da alma exercida em torno das nossas idéias; por isso,
é a primeira e mais simples idéia a que chegamos por meio da reflexão. (...) Na P. pura e simples, o espírito
geralmente é passivo, não podendo deixar de perceber o que em ato percebe" (Ensaio, II, 9,1). Da mesma maneira,
Leibniz entende a P. como o que a alma do homem e a alma do animal têm em comum, como "a expressão de muitas
coisas em uma", e distingue-a da apercepçâo ou pensamento pelo fato de esta última ser acompanhada pela reflexão
(Nouv. ess., II, 9, 1; cf. Op., ed. Erdmann, pp. 438, 464, etc). Não é diferente o sentido geral que Kant atribui à
palavra, quando dá nome de P. à "representação com consciência", distinguindo-a em sensação (se fizer referência
apenas ao sujeito) e conhecimento (se for objetiva) (Crít. R. Pura, Dialética, Livro I, seç. 1). É bastante óbvio que P.
nesse sentido significa o mesmo que pensamento em geral; o próprio Locke notava esta identidade de significado,
mesmo preferindo pessoalmente a palavra P., porque pensamento, em inglês, indica "a operação do espírito sobre as
próprias idéias", enquanto na P. o espírito é geralmente passivo (Ensaio, II, 9, 1).
2° O segundo significado do termo é mais restrito; expressa o ato cognitivo objetivo, que apreende ou manifesta um
objeto real determinado (físico ou mental). Este é o significado originário do termo, tal qual foi usado pelos estóicos
como equivalente de compreensão (KaTÓcÀr|i|riç); "Os estóicos definem a sensação deste modo: a sensação é P. por
meio do sen-sório ou da compreensão" (Aécio, Plac, IV, 8, 1; cf. Epicuro, Fr. 250; Plotino, Enn., VI, 7, 3, 29, etc).
Cícero traduzia como perceptio o termo grego, tendo particularmente em vista o sentido de representação cataléptica
(Acad., II, 6, 17; Definibus, III, 5, 17). Em sentido análogo, esse termo foi usado por S. Agostinho (De Trin., IV, 20)
e por S. Tomás de Aquino; este último designava com ele "certo conhecimento experimental" (S. Th., I, q. 63, a. 5, ad
2Q). Essa palavra foi reintroduzida no uso filosófico por Telésio e Bacon (como já dissemos), e com eles seu
significado começou a distinguir-se do de sensação. Mas foi só Descartes que estabeleceu o significado novo e mais
complexo do termo. Falando das percepções externas, ele afirmava que, conquanto elas sejam produzidas por
movimentos provenientes de coisas externas, "nós as relacionamos com as coisas que
PERCEPÇÃO
754
PERCEPÇÃO
supomos ser suas causas, de tal maneira que acreditamos ver um archote e ouvir um sino quando apenas
sentimos os movimentos que deles vêm" (Pass. de l'âme, I, 23). A partir de então a distinção entre
sensação e P. torna-se fundamental na teoria da percepção. Essa distinção é expressa por C. Bonnet (Essai
analytique sur les facultes de Vâme, 1759, XIV, 195-96) e pela escola escocesa do senso comum,
especialmente por Reid (Jnquiry into the Human Mind, 1764, VI, 2Q). Em virtude dela, a sensa- ■ ção é
reduzida à idéia simples de Locke: a uma unidade elementar produzida diretamente no sujeito pela ação
causai do objeto. A P., por outro lado, torna-se um ato complexo que inclui uma multiplicidade de
sensações, presentes e passadas, e também a sua referência ao objeto, ou seja, um ato judicativo.
Identificando P. e intuição empírica, que é o conhecimento objetivo, o resultado da atividade judicante
exercida sobre o multíplice sensível, Kant (.Prol., § 10) já considerara incluído na P. o ato judicativo. A
presença de um juízo na P. torna-se tema comum na filosofia do séc. XIX. Hegel levava essa tese ao
extremo quando considerava a P. (e a coisa que é seu objeto) como um produto do Universal (da
Consciência ou do Pensamento): "Para nós ou em si mesmo, o Universal, como princípio, é a essência da
P., e em face dessa abstração o que percebe e o que é percebido são o não-essencial" (Phãnomen. des
Geistes, I, Consciência II, trad. it., I, p. 97). Mas à parte essa tese extremista (que no entanto foi repetida
até há pouco tempo pelas escolas idealistas), a distinção entre sensação e P. e o reconhecimento do caráter
ativo ou judicativo da P. tiveram como base a sua referência ao objeto externo. Foi o que fizeram
Hamilton, que se inspirava na doutrina da escola escocesa (Lectures onMetaphysics, 5a ed., 1870, II, pp.
129 ss.), e Spencer, que muito contribuiu para difundir esse ponto de vista (Principies ofPsy-chology,
1855, § 353). Bolzano (Wissenschafts-lehre, 1837, I, p. l6l), Brentano (Psychologie vom empirischen
Standpunkte, 1874,1, 3, § 1), Helmoltz (Die Tatsachen in der Wahmehmung, 1879, p. 36) enfatizaram a
ação do pensamento ou do intelecto na P.; Brentano identificava P. e juízo ou crença (loc. cit). Em sentido
semelhante, Husserl fazia a distinção entre P. e outros atos intencionais da consciência, com base em sua
característica de "apreender" o objeto (Jdeen, I, § 37). Na percepção, a coisa mesma está presente em seu
ser, assim como está presente na coisa o sujeito que percebe (cf. G. Brand, Welt, ich und Zeit, 1955, 3). É só aparentemente
diferente a noção de Bergson da "P. pura". Bergson diz: "A P. outra coisa não é senão uma seleção. Ela
nada cria: sua tarefa é eliminar do conjunto das imagens todas as imagens sobre as quais eu não teria
nenhuma pretensão e, depois, eliminar das imagens conservadas tudo o que não interessa às necessidades
dessa imagem particular que denomino corpo" (Matièreetmémoire, p. 235). Deste modo, a P. delinearia,
no interminável campo das imagens conservadas na consciência, o objeto destinado a servir às
necessidades da ação e que delimita a ação possível do meu corpo. Mas, mesmo assim, a tarefa da P.
continua sendo apreender ou delinear um objeto.
O conceito de P. ao qual essas doutrinas fazem referência é bastante uniforme: a P. é o ato pelo qual a
consciência "apreende" ou "situa" um objeto, e esse ato utiliza certo número de dados elementares de
sensações. Este conceito, portanto, supõe: Ia a noção de consciência como atividade introspectiva e autoreflexiva; 2S a noção do objeto percebido como entidade individual perfeitamente isolável e dada; 3 S a
noção de unidades elementares sensíveis. O abandono desses três pressupostos caracteriza a nova fase do
problema da P., própria da psicologia e da filosofia contemporâneas.
3a Segundo o terceiro conceito, P. outra coisa não é senão a interpretação dos estímulos, o reencontro ou a
construção do significado deles. Essa definição é uma fórmula simplificada e genérica para expressar as
características mais evidentes que as teorias psicológicas contemporâneas atribuem à P.; F. H. Allport
enumerou (e analisou criticamente) treze dessas teorias (Theories ofPerception and the Concept of
Structure, 1955). No entanto, é preciso observar que, por terem sido quase todas elas propostas por
psicólogos pesquisadores que as formularam como generalizações experimentais, raramente representam
alternativas que se excluam mutuamente, mas na maioria das vezes só evidenciam ou consideram fatores
ou condições fundamentais que certa ordem de investigações trouxe à tona. Apesar disso é possível
distinguir dois grupos de teorias: d) as que insistem na importância dos fatores e das condições objetivas;
ti) as que insistem na importância dos fatores e das condições subjetivas.
PERCEPÇÃO
755
PERCEPÇÃO
d) Ao primeiro grupo de teorias pertence, em primeiro lugar, a psicologia da forma (Ges-talttheorié), que
é substancialmente uma teoria da percepção. O gestaltismo inicia-se com a obra de Max Wertheimer
sobre a P. do movimento (1912) e tem como outros expoentes Wolfgang Kõhler {GestaltPsychcology,
1929) e Kurt Koffka {Beitrãge Zur Psychologie der Gestalt, 1919)- Seu objetivo é opor-se aos
pressupostos 2- e 3a da concepção tradicional de percepção. Mostrou, em primeiro lugar, que não existem
(a não ser como abstração artificial) sensações elementares que façam parte da composição de um objeto,
e, em segundo lugar, que não existe um objeto de P. como entidade isolada ou isolável. O que se percebe
é uma totalidade que faz parte de uma totalidade. O gestaltismo dedicou-se a determinar as "leis" com
base nas quais essas totalidades são constituídas, as "leis de organização", que são: da proximidade, da
semelhança, da direção, da boa forma, do destino comum, do fechamento, etc.; elas podem ser vistas em
ação mesmo em experiências muito simples, como p. ex. as que revelam a tendência a agrupar numa
única percepção sinais semelhantes ou suficientemente próximos, ou então constituam uma figura regular.
A afirmação fundamental dessa teoria é que a P. sempre se refere a uma totalidade, cujas partes, se
consideradas separadamente, não apresentam as mesmas características: maiores simplicidade e clareza
possíveis e maiores simetria e regularidade possíveis. Tais características por vezes levaram os
gestaltistas a admitir a teoria do "todo determinante", segundo a qual o todo transcende suas partes e as
determina dinamicamente de acordo com suas próprias leis. Assim, o todo assemelha-se à "coisa" de que
fala Husserl, a propósito da P. transcendente, porquanto a essência da coisa integra em si e ao mesmo
tempo transcende a totalidade de suas manifestações. Esta é a teoria da P. substancialmente aceita em
Pheno-ménologie de Ia perception (1945) de M. Merleau-Ponty. Importante variante dessa teoria é a do
campo topológico de Lewin, segundo a qual o indivíduo, reduzido a um ponto sem dimensões, está
submetido à ação das forças que agem no campo e que ele sente como alheias ao seu corpo. Nesta
condição, o indivíduo é considerado em "locomoção", isto é, como que movendo-se para uma meta
positiva ou como afastando-se de uma meta negativa. O espaço em que ocorre esse movimento é o
denominado "espaço de vida", ou seja, a região onde o indivíduo tem experiência da sua ação, espaço que
não tem propriedades métricas ou direções determinadas, sendo por isso topológico, no sentido de poder
ter em qualquer momento qualquer dimensão ou forma geométrica, ainda que mantenha as propriedades
que possibilitam o movimento (LEWIN, Principies of Topological Psychology, 1936). Podem ser
consideradas variantes dessa teoria: a de Hebb, para quem o campo perceptivo corresponde a um campo
fisiológico, a um "mecanismo de ação neutra seletiva" que, para cada P. particular, se situaria em algum
ponto do sistema nervoso central {The Organization of Behavior, Nova York, 1949), e a teoria do "campo
tônico-sensorial", segundo a qual "as propriedades per-ceptivas de um objeto são função da maneira como
os estímulos provenientes do objeto modificam o estado 'tônico-sensoriaP existente do organismo"
(WERNER e WAPNER, "Toward a General Theory of Perception" em Psychological Review, 1952, pp. 32438). Todas as teorias aqui mencionadas, concentradas como estão nos conceitos de "totalidade" ou de
"campo", privilegiam de certo modo o aspecto objetivo da percepção.
ti) Um segundo grupo de teorias tem em vista principalmente o aspecto subjetivo da P. Para estas teorias,
não é válido nem mesmo o 1Q pressuposto da 2- concepção de P., o da consciência. Estas doutrinas com
efeito não recorrem à noção de consciência nem à consideração introspectiva. Uma quantidade enorme de
observações experimentais evidenciou a importância, para a P., do estado de preparação ou predisposição
do sujeito, aquilo que geralmente se chama de "disposição" (set) per-ceptual. O fato fundamental é que
estar disposto para certo estímulo e para certa reação a um estímulo facilita o ato de perceber e possibilita
a sua realização com maior prontidão, energia ou intensidade. A disposição, em outras palavras, é um
processo seletivo que determina preferências, prioridades, diferenças qualitativas ou quantitativas naquilo
que se percebe; não é diferente do próprio processo perceptivo, nem é um mecanismo inato ou prefixado,
mas um esquema variável aprendido ou construído, ainda que nem sempre voluntariamente (cf. o cap. 9
da obra citada de Allport). As mais recentes teorias da P. levam em consideração esses fatos. Com base
neles, a teoria transacional, p. ex., considera a P. como uma tran-
PERCEPÇÃO
756
PERCEPTO
sação, como um acontecimento que ocorre entre o organismo e o ambiente, e não pode portanto ser reduzido à ação
do objeto ou do sujeito, nem à ação recíproca dos dois. Como transação, a natureza da P. deriva da situação total em
que está inserida e tem suas raízes tanto na experiência passada do indivíduo quanto em suas expectativas de futuro
(DEWEY e BENTLEY, Knowing and the Known, 1949; CANTRIL, AMES, HASTORF, ITTELSON, "Psychology and Scientific
Research", em Science, 1949, pp. 461, 491, 517; ITTELSON e CANTIL, Perception: a Transactional Approach, 1954).
Desse ponto de vista, é fácil evidenciar o caráter ativo e seletivo da P., o fato de ela valer-se de indícios com base nos
quais reconstrói o significado do objeto e, também sua outra característica fundamental, que é o fato de ser
constituída de probabilidades, e não de certezas. Essas características são apresentadas pelo funcionalismo, chamado
de "New Look" da teoria da P., e levaram à teoria da motivação e à teoria das hipóteses. A primeira, que é chamada
também de teoria do "estado diretivo", funda-se no reconhecimento da influência que as necessidades físicas, as
expectativas do indivíduo (p. ex., um castigo ou um prêmio) e a sua personalidade exercem sobre o objeto percebido
e sobre a rapidez e a intensidade da P. (BRUNER e KRECH, Perception and Personality. a Symposium, Durham, 1950).
Na segunda teoria, confluem todos os dados experimentais em que se fundamentaram as teorias do presente grupo e
boa parte dos dados experimentais em que se fundamentavam as teorias do primeiro grupo. A idéia fundamental da
teoria da hipótese é que as percepções (aliás, assim como a lembrança ou o pensamento) constituem hipóteses que o
organismo aventa em determinadas situações e que são confirmadas, abandonadas ou modificadas de acordo com
essa situação. A disposição {sei), da qual falava uma das teorias, é justamente a preparação para uma hipótese desse
gênero. A disposição constitui a expectativa perceptual, que se baseia na experiência precedente e antecipa a futura.
Em geral, na P., as disposições são estabelecidas desde muito tempo, através da atividade perceptiva anterior, e pode
estar pronta para entrar em ação quando o organismo ingressa em dada situação. Através dela, o organismo escolhe,
organiza e transforma as "informações" que lhe chegam do ambiente. Essas informações são indícios ou sinalizações
que servem para "evocar" a hipótese ou para confirmá-la ou desmenti-la. As principais correlações funcionais entre as variáveis que a teoria
comporta são as seguintes: I) Quanto mais forte é a hipótese, tanto maior é a probabilidade da sua evocação e tanto
menor a soma de indícios necessária para confirmá-la. Disso resulta que, quando a hipótese é fraca, para a sua
confirmação é necessária uma enorme quantidade de informações apropriadas. II) Quanto mais forte é a hipótese,
tanto maior é a soma de indícios necessária para invalidá-la; e quanto mais fraca a hipótese, tanto menor é a
quantidade de indícios contrários necessários para invalidá-la (cf. o art. de L. POSTMAN, em Social Psychology at the
Crossroads, org. ROHRER e SHERIF, Nova York, 1951; e ALLPORT, op cit., cap. 15). O que essa teoria faz é resumir, de
forma menos dogmática, tanto os dados experimentais recolhidos por um expressivo número de observadores quanto
as características essenciais atribuídas à P. pelas doutrinas contemporâneas da psicologia, a partir da Gestalttheorie.
Essas características podem ser recapitula-das da seguinte maneira: 1Q a P. não é o conhecimento exaustivo e total do
objeto, como julgavam as teorias do número 2, e sim uma interpretação provisória e incompleta, fundamentada em
indícios ou sinalizações. 2- A percepção não implica nenhuma garantia .de validade, nenhuma certeza; mantém-se na
esfera do provável. 3a Como qualquer conhecimento provável, para ser validada, a P. precisa ser submetida à prova,
sendo então confirmada ou rejeitada. 4Q A P. não é um conhecimento perfeito e imutável, mas possui a característica
da corrigibilidade.
PERCEPÇÃO INTELECnVA. Foi assim que Rosmini chamou o ato fundamental do conhecimento, enquanto
síntese entre a idéia do ser em geral e a idéia empírica que deriva da sensação (das coisas externas) ou do sentimento
(que o eu tem de si) {Nuovo saggio sull'origine delle idee, 1830, §§ 492, 537, etc).
PERCEPCIONISMO (in. Percepcionism- fr. Percepcionisme, ai. Perceptionismus; it. Per-cezionismó). É a doutrina
que admite a realidade dos objetos da percepção. O mesmo que realismo ingênuo (v. REALISMO).
PERCEPÇÕES PEQUENAS. V. INCONSCIENTE.
PERCEPTO (in. Percepi). Na psicologia contemporânea, o P. é a experiência pessoal de um objeto, a maneira como
o objeto se mostra ao
PERCOLUÇÃO
757
PERFEITO
sujeito. Esse nome foi cunhado por analogia com concept (conceito).
PERCOLUÇÃO. PERFORMATTVO. PERFECCIONISMO (in. Perfectionism; fr. Perfectionisme, ai.
Perfektionismus, Perfekti-bilismus; it. Perfezionismó). Esta palavra é (raramente) empregada em dois significados: ls
para indicar o ideal moral que consiste em perseguir a própria perfeição moral ou de outrem, ou seja, a capacidade de
agir em conformidade com o dever, que implica também a cultura das faculdades físicas e mentais do homem. Neste
sentido, é P. o ideal moral expresso por Kant na introdução ao segundo volume da Metafísica dos costumes-, 2S para
indicar a crença no progresso, acompanhada pelo compromisso de contribuir para ele. Neste sentido, a palavra às
vezes é usada na filosofia anglo-saxônica contemporânea.
PERFECTIHABIA. Foi assim que Ermolao Bárbaro traduziu para o latim o termo grego "enteléquia" (cf. LEIBNIZ,
Monad., § 48).
PERFEIÇÃO (in. Perfection; fr. Perfection; ai. Volkommenheit; it. Perfezionè). Esta palavra foi usada pelos
filósofos somente em relação aos significados 1Q e 3Q do adjetivo correspondente: não se considera P. a P. relativa,
ou seja, o estado de uma coisa excelente entre as de sua espécie. S. Tomás de Aquino diz: "A P. de uma coisa é
dúplice, ou seja, primeira e segunda. A primeira P. é aquela em virtude da qual uma coisa é perfeita na sua substância,
e esta P. é a forma do todo que emerge da integridade das partes. A segunda P. é a do fim; mas o fim é a operação
(assim como o fim do citarista é tocar citara) ou é a coisa à qual se chega através da operação (assim como o fim do
construtor é a casa que ele constrói). A primeira P. é causa da segunda: a forma é com efeito o princípio das
operações" {S. Th., I, q. 73, a. 1). Esse mesmo conceito era com exatidão exposto por Kant: "A P. indica às vezes um
conceito que pertence à filosofia transcendental, o da totalidade dos elementos diferentes que, reunidos, constituem
uma coisa; mas pode ser entendido também como pertencente à teologia, e então significa o acordo das propriedades
de uma coisa com um fim" {Met. der Sitten, Intr., V, A; cf. Crít. do Juízo, % 15). Estas determinações reduzem a P.:
1Q à integridade do todo; 2S à realização do fim. Mas tendem na realidade a privilegiar o primeiro conceito, que, ao
ser aplicado à totalidade do ser, levou a tradição filosófica a identificar P. e realidade.
S. Tomás de Aquino mesmo descreveu a P. de Deus e da criatura como consistente na posse do ser: "Deus, que é a
totalidade do seu ser, possui o ser segundo a virtude integral do ser, e não pode carecer de nenhuma nobreza que
pertença a coisa alguma. Assim como toda a nobreza e a P. inerem a uma coisa porque a coisa é, também o defeito
inere a ela porque, de algum modo, ela não é" {Contra Gent., I, 28). Deste ponto de vista, uma coisa é tanto mais
perfeita quanto maior a sua posse do ser; e como Deus possui todo o ser, é totalmente perfeito. Essas equações
constituíam lugares-comuns da escolástica. medieval. Duns Scot repete-as, afirmando que a forma nas criaturas
implica alguma perfeição porque é forma partilhada e parcial, enquanto a forma não tem imperfeição em Deus porque
não é nem participação nem parte (Op. Ox., I, d. 8, q. 4, a. 3, n. 22). Descartes recorreu exatamente a esse conceito de
P. ao afirmar que as idéias "que representam substâncias são sem dúvida algo mais e contêm em si mais realidade
objetiva, ou seja, participam por representação de mais graus de ser ou de P. do que as que representam só modos ou
acidentes" {Méd., III). Spinoza identificava explicitamente realidade e P. {Et., II, def. 6), e Leibniz declarava entender
por P. "a grandeza da realidade positiva tomada precisamente, pondo-se de lado os limites das coisas que a possuem"
{Monad., § 41). Kant falava neste sentido de uma P. transcendental, que é "a integridade de cada coisa em seu
gênero", e de uma P. metafísica, como "integridade de uma coisa simplesmente como coisa em geral", distinguindo
delas a P. como aptidão ou conveniência de uma coisa a vários fins {Crít. R. Prática, I, I, cap. I, escol. II).
O conceito de P. foi fixado, no curso ulte-rior da filosofia, pelas seguintes determinações: como integridade do todo
ou correspondência ao objetivo; no primeiro significado, foi constantemente identificado com o conceito de ser. Fora
de sua persistência metafísica e teológica, a noção de P. é pouquíssimo utilizada na filosofia contemporânea. Quando
é utilizada, a referência aos significados tradicionais é evidente: assim acontece, p. ex., em Bergson, que identifica a
P. com o absoluto, e ambos com a totalidade do ser ("Introduction à Ia métaphisique", em Lapenséeetle mouvant, 3a
ed, 1934, p. 204).
PERFEITO (gr. TéÀeioç; lat. Perfect; fr. Par-fait; ai. Vollkommen; it. Perfeito). Aristóteles
PERFORMATTVO
758
PERSONALIDADE
distinguia três significados do termo: ls aquilo a que não falta nenhuma de suas partes, ou além do qual não se pode
achar nenhuma parte que lhe pertença; 2Q o que possui, em sua espécie, uma excelência que não pode ser
sobrepujada, sendo, pois, P. o flautista ou o ladrão que não encontrem rivais; 3 B o que atingiu seu objetivo, desde que
se trate de um bom objetivo {Met., V, 16, 1021 b 12 ss.). No primeiro sentido, P. é o completo, aquilo a que não falte
nenhuma das partes integrantes. No segundo, P. é o excelente em relação a outras coisas da mesma espécie; no
terceiro, P. é o real ou atual, porque cumpriu seu objetivo. Esses significados não mudaram ao longo da história da
filosofia. É claro que, enquanto o 2- significado é relativo e, portanto, não metafísico — porque exprime só a
excelência relativa de uma coisa numa ordem estabelecida de coisas —, os outros dois são absolutos e pertencem à
tradição metafísica.
PERFORMATTVO (in. Performative- fr. Performatif; it. Performativó). Foi esse o nome dado por L. Austin à
classe de enunciados que, apesar de terem forma de enunciados descritivos, não o são e preenchem duas condições: Ia
não descrevem, não relatam e não constatam nada, e tampouco são verdadeiros ou falsos; 2 a pronunciar o enunciado é
realização de uma ação ou de uma parte dela, mais precisamente de uma ação que não é normalmente descrita como
um simples "dizer algo". Exemplos disso são o clássico "Sim" com que os noivos respondem à pergunta sacramentai
durante a cerimônia nupcial, ou as frases seguintes: "Dou a este navio o nome de 'Rainha Elizabeth'", pronunciada na
cerimônia de lançamento de um navio ao mar, ao se quebrar uma garrafa contra o casco-, "Deixo meu relógio como
herança a meu irmão", ou frases semelhantes, freqüentes em testamentos; "Aposto um milhão que amanhã chove" (cf.
How to do Things ivith Words, 1962, p. 5).
Austin chamou o P. de ilocução(illocution), para distingui-lo da locução, que é uma expressão com denotação e
conotação, e da perlo-cução, que é a forma persuasiva de uma expressão {Ibid., pp. 98 ss.).
PERIEKON. V. HORIZONTE.
PERIPATETISMO. V. ARISTOTELISMO.
PERIPÉCIA (gr. 7tepi7téxeta; in. Peripety, fr. Péripétie, ai. Peripetie, it. Peripeziá). Segundo Aristóteles, é um dos
elementos fundamentais da tragédia, mais precisamente do enredo trágico. Consiste na mudança súbita de condições ou destino, que deve ocorrer de modo verossímil e necessário (Poet.,
11, 1452 a 22).
PERMANÊNCIA (in. Permanence; fr. Permanence, ai. Beharrlichkeit; it. Perma-nenzd). Segundo Kant "a P.
expressa, em geral, o tempo como correlato constante da presença da aparência, da mudança e da concomitância". Em
outros termos, P. é o tempo enquanto duração {Crtt. R. Pura, Anal. dos princ, cap. II, seç. 3, Primeira analogia) (v.
ANALOGIAS DA EXPERIÊNCIA).
PERPETUIDADE. V. ETERNIDADE.
PERSEIDADE (lat. Perseitas; in. Perseity, fr. Perséité, it. Perseitâ). Termo empregado na Escolástica (mas
raramente) para indicar o estado e a condição do que é por si (v.).
PERSONALIDADE (in. Personality; fr. Personnalité, ai. Persõnlichkeit; it. Personalitã). 1. Condição ou modo de
ser da pessoa. Neste sentido esse termo já foi usado por S. Tomás de Aquino (5. Th., I, q. 39, a. 3, ad 4a) e é
geralmente usado pelos filósofos (que muitas vezes o empregam como sinônimo de pessoa).
2. No significado técnico da psicologia contemporânea, P. é a organização que a pessoa imprime à multiplicidade de
relações que a constituem. É neste sentido que Nietzsche falava de pessoa, observando que "alguns homens
compõem-se de várias pessoas e a maioria não é pessoa. Onde predominarem as qualidades medianas importantes
para que um tipo se perpetue, ser pessoa será luxo. (...) trata-se de representantes ou de instrumentos de transmissão"
{Wille Zur Macht, ed. 1901, § 394). Estes conceitos de Nietzsche são semelhantes aos da psicologia contemporânea.
H. J. Eysenck diz: "P. é a organização mais ou menos estável e duradoura do caráter, do temperamento, do intelecto e
do físico de uma pessoa: organização que determina sua adaptação total ao ambiente. Caráter designa o sistema de
comportamento conativo {vontade) mais ou menos estável e duradouro da pessoa. Temperamento designa seu sistema
mais ou menos estável e duradouro de comportamento afetivo {emoção); intelecto, seu sistema mais ou menos
estável e duradouro de comportamento cognitivo {inteligência); físico, seu sistema mais ou menos estável e
duradouro de configuração corpórea e de dotação neuro-endócrina" {The Structure of Human Personality, 1953, p.
2). Nesta definição, em que entram elementos já fixados por Roback, Allport, McKinnon, o ele-
PERSONALISMO
759
PERSUASÃO
mento dominante é constituído pelo conceito de organização, estrutura ou sistema, elemento que permite prever o
comportamento provável de uma pessoa. Não muito diferente desta é a outra definição, puramente funcional, cuja
finalidade é possibilitar as investigações relativas à P.: "P. é o que permite a previsão do que fará uma pessoa numa
dada situação (R. B. CATTEL, Personality, 1950, p. 2). Neste sentido, o eu distingue-se da P. como a sua parte
conhecida ou aberta à pessoa, à qual esta faz referência usando o pronome eu; essa parte pode não coincidir — e
geralmente não coincide — com a totalidade da P. (v. Eu).
PERSONALISMO (in. Personalism; fr. Per-sonnalisme, ai. Personalismus-, it. Personalismo). Este termo foi e é
usado para designar três doutrinas diferentes, mas interligadas.
Ia A primeira é doutrina teológica, que afirma a personalidade de Deus como causa criadora do mundo, em oposição
ao panteísmo, que identifica Deus com o mundo. Foi nesse sentido originário que o termo foi empregado primeiro
por Schleiermacher {Reden, 1799), e depois por Goethe, Feuerbach, Teich-müller, etc.
2a A segunda é uma doutrina metafísica, segundo a qual o mundo é constituído por uma totalidade de espíritos finitos
que, em seu conjunto, constituem uma ordem ideal em que cada um deles conserva sua autonomia. Esta concepção
foi apresentada pela primeira vez por G. H. Howison, com o nome de P., em polêmica com Royce e, em geral, com o
idealismo absoluto (na discussão publicada com o título The Conception of God, 1897). Em seguida, esse termo foi
usado para designar a mesma concepção fundamental por Renouvier ÇLe personnalísme, 1903), por W. E. Hocking e
por outros escritores dos Estados Unidos, onde foi criada, inclusive, uma revista destinada a defendê-la {The
Personalist, 1919)- O P., neste sentido, outra coisa não é senão um espiri-tualismo monadológico de cunho leibniziano-lotzista, e de fato o termo P. designa nos Estados Unidos a doutrina que na Europa é chamada de espiritualismo
(v.).
3a A terceira é uma doutrina ético-política que enfatiza o valor absoluto da pessoa e seus laços de solidariedade com
as outras pessoas, em oposição ao coletivismo (que tende a ver na pessoa nada mais que uma unidade numérica), e ao
individualismo (que tende a enfraquecer os laços de solidariedade entre as pessoas).
Foi com esse sentido que Dühring empregou esse termo em Geschichte der National— Õko-nomieide 1899) —; com
esse mesmo sentido, voltou a ser usado depois da Segunda Guerra Mundial por E. Mounier (Ze■ personnalísme,
1950) e, na sua esteira, por numerosos pensadores católicos, defensores do P. metafísico. Na oratória mais ou menos
confusa, que é a característica dominante desta corrente, a nota conceituai que se consegue discernir é o conceito de
pessoa como auto-relação ou consciência. PERSPECTIVA (in. Prospect; fr. Perspective, ai. Perspektive, it.
Prospettivá). Antecipação do futuro: projeto, esperança, ideal, ilusão, utopia, etc. Esse termo expressa o mesmo
conceito designado por possibilidade (v.), mas de um ponto de vista mais genérico e menos compromissado, visto
que podem ser perspectivas coisas que não têm consistência suficiente para serem possibilidades autênticas. Na
filosofia contemporânea, esse. termo foi empregado especialmente por Ortega y Gasset, Blondel e Mannheim, mas
sem clara formulação conceituai. Por perspectivismo (ai. Perspektivismus) Nietzsche entendeu a condição em virtude
da qual "cada centro de força — e não só o homem — constrói todo o resto do universo partindo de si mesmo, ou
seja, atribuindo ao universo dimensões, forma e modelo proporcionais à sua própria força" ( Werke, ed. Króner, XVI,
§ 636). Esse termo às vezes foi usado para designar a filosofia de Ortega y Gasset.
PERSPICÁCIA (gr. ày^ívota; lat. Perspi-cacitas; in. Perspicacity, fr. Perspicacité, ai. Scharfsinn; it. Perspicaccià).
Rapidez mental, segundo Platão (Carm., 160 a); justeza de metas, segundo Aristóteles {Et. nic, VI, 9, 1142 b 6). A
primeira definição capta a rapidez do processo intelectivo; a outra, seu êxito; parecem definições complementares.
Kant, porém, definiu a P. como "a capacidade de notar as mínimas semelhanças e dessemelhanças", que gera
observações chamadas sutilezas ou simplesmente pedantismo, quando inúteis (Antr., I, § 44) (v. SAGACIDADE).
PERSPICUIDADE (lat. Perspicuitas; in. Perspicuity, fr. Perspicuité, ai. Perspicuitãt; it. Perspicuita). É o termo
latino que traduz o termo grego èvápTEia (cf. CÍCERO, Acad., II, 6,17) (v. EVIDÊNCIA).
PERSUASÃO (in. Persuasion; fr. Persua-sion; ai. Uberredung; it. Persuasioné). 1. Crença cuja certeza se apoia em
bases principalmente subjetivas, ou seja, pessoais e incomunicáveis.
PERSUASÃO
760
PESSIMISMO
A distinção entre persuasão e ensinamento racional já foi estabelecida por Platão, que dizia: "O pensamento é gerado
em nós por via de ensinamento; a opinião, por via da persuasão. O primeiro baseia-se sempre num raciocínio
verdadeiro; a outra carece desse fundamento. O primeiro continua firme em face da P.; a outra deixa-se modificar"
{Tim., 51, e). Kant expôs claramente este mesmo conceito: "A crença que tem fundamento na natureza particular do
sujeito chama-se persuasão. É simples aparência porque o fundamento do juízo, que está unicamente no sujeito, é
considerado como objetivo. Portanto, esse juízo só tem validade pessoal e a crença não pode ser comunicada" (Crít.
R. Pura, Doutrina do método, cap. II, seç. 3). Deste ponto de vista, a pedra de toque que permite distinguir P e
convicção (v.) é "a possibilidade de comunicar a crença e reconhecê-la válida para a razão de qualquer homem"
{Ibid.); a convicção é comunicável; a P. não é. A distinção kantiana foi aceita e simplificada por C. Perelmann e por
L. Olbrechts-Tyteca: "Propomos chamar de persuasiva a argumentação que pretenda servir apenas a um auditório
particular, e chamar de convincente z que acredita poder obter a adesão de qualquer ser racional" (Traité de
Vargumentation, 1958, § 6). Às vezes, P. foi distinguida de convicção por, supostamente, envolver o sentimento além
da razão e, portanto, só ela ser capaz de despertar o que Pascal chamava de "autômato", que são os comportamentos
afetivos e habituais do homem. Pascal dizia: "Somos autômatos tanto quanto espírito; disso resulta que o instrumento
de que se constitui a P. não é apenas a demonstração" (Pensées, 252). D'Alembert expressou muito bem esse ponto de
vista: "A convicção tem mais a ver com o espírito; a P., com o coração. Diz-se que o orador não deve apenas
convencer, ou seja, provar o que enuncia, mas também persuadir, ou seja, impressionar e comover. A convicção
supõe alguma prova; a P., nem sempre. (...) Persuadimo-nos facilmente do que nos agrada; ficamos às vezes
entristecidos ao nos convencermos daquilo em que não queríamos crer" (CEuvres postbumes, 1799, II, p. 89). Outras
vezes a P. foi considerada a forma superior da certeza por estar ligada à verdade objetiva. Foi o que fez Heidegger,
que a entendeu como "um modo de ser da certeza", mais precisamente o que se funda testemunho da "coisa
descoberta", que é verdadeira (Sein und Zeit, § 52). Analogamente, Jaspers
pôs a P. acima da "confirmação pragmática" e da "evidência coercitiva", como o terceiro e último grau da verdade
objetiva (Vernunft und Existem, 1935, III, § 3). Por outro lado, insistiu-se sobre o caráter "emocional" da P., no
sentido de que ela apelaria para motivos "não racionais" (C. L. STEVENSON, Ethics and Language, 1944, cap. 6). O
que emerge dessas indicações é o caráter pessoal e, em certa medida, incomunicável da P., ou melhor, dos motivos
que fundamentam a crença na qual ela consiste.
2. Ato ou procedimento de persuadir, de induzir à persuasão.
PERSUASIVO (gr. 7u8avóv; lat. Persuasible, in. Persuasive, fr. Persuasif, ai. Überzeugend; it. Persuasivó). Critério
de verdade defendido pelos céticos da Nova Academia, em primeiro lugar por Carnéades. Persuasiva é a
representação que se mostra verdadeira, que pode ser falsa, mas que na maioria das vezes é verdadeira. Carnéades
dizia: "Visto que raramente topamos com uma representação verdadeira, não devemos recusar-nos a crer na
representação que na maioria das vezes diz a verdade: com efeito, juízos e ações são regulados pela maior ou menor
freqüência" (SEXTO EMPÍRICO, Adv. math., VII, 175)- A representação persuasiva, segundo os discípulos de
Carnéades, também deve ser coerente eponderada, ainda que essas características nada acrescentem à sua capacidade
persuasiva Obid, VII, 184).
PESQUISA. V. INVESTIGAÇÃO.
PESSIMISMO (in. Pessimisni; fr. Pessimis-me, ai. Pessimismus; it. Pessimismo). Em geral, crença de que o estado
das coisas, em alguma parte do mundo ou em sua totalidade, é o pior possível. Esse termo começou a ser empregado
na Inglaterra, no início do séc. XIX, como antítese do otimismo. Portanto, a tese do P. poderia ser expressa como a
inversão da tese do otimismo, com a asserção de que nosso mundo é o pior dos mundos possíveis. Mas expresso desta
forma o P. é uma metafísica, e pode-se falar em P. só a propósito da filosofia de Schopenhauer e de seus seguidores.
Comu-mente, porém, fala-se em P. também em sentido mais limitado e parcial, quando ocorre pelo menos uma das
teses seguintes:
Ia Na vida humana as dores superam os prazeres, e a felicidade é inatingível. Desta forma, o P. foi defendido pelo
cirenaico Egesias, chamado de "persuasor da morte" (DIÓG. L., II, 8, 94).
2a Na vida humana os males superam os bens, de tal modo que ela é um complexo de
PESSOA
761
PESSOA
acontecimentos ruins, ignóbeis ou repugnantes. O P. foi defendido dessa forma pelo Padre Apologista Arnóbio, no
início do séc. IV: para ele, a própria existência do homem é inútil à economia do mundo, que permaneceria o mesmo
se o homem não existisse (Adv. nationes, II, 37).
3a A vida é, em geral, mal ou dor. Esta é a tese do P. metafísico, da forma defendida pelo budismo antigo e por
Schopenhauer (Die Welt, I, § 57 ss.).
4a O mundo é, em sua totalidade, manifestação de uma força irracional: segundo Schopenhauer, de uma "vontade de
vida" que se dilacera e se atormenta (Die Welt, § 61); segundo E. Hartmann, de um princípio inconsciente que, ao
tornar-se progressivamente ciente, destrói as ilusões que regem o mundo (Philosophied.es Unbewussten, 1869).
Todas as formas do P. negam a possibilidade de progresso e, em geral, de qualquer melhora no campo específico em
que vigoram. O que elas não negam, no entanto, é o caráter finalista do mundo: admitido e defendido tanto por
Schopenhauer (Die Welt, I, § 28) quanto por Hartmann (Op. cit.- trad. fr., II, p. 65). O mais estranho é que a essência
do otimismo (v.) está justamente no finalismo, e o P. pretende ser a antítese do otimismo.
PESSOA (gr. Ttpóaomov, úrcóaraoiç; lat. Persona; in. Person; fr. Personne, ai. Person; k. Persona). No sentido
mais comum do termo, o homem em suas relações com o mundo ou consigo mesmo. No sentido mais geral
(porquanto essa palavra foi aplicada também a Deus), um sujeito de relações. É possível distinguir as seguintes fases
desse conceito: Ia função e relação-substância; 2a auto-relação (relação consigo mesmo); 3a heterorrelação (relação
com o mundo).
Ia Essa palavra deriva de persona, que, em latim, significa máscara (no sentido de personagem: in. Character, fr.
Personnage-, ai. Rollé) e foi introduzida com esse sentido na linguagem filosófica pelo estoicismo popular, para
designar os papéis representados pelo homem na vida: Epicteto diz: "Lembra-te de que aqui não passas de ator de um
drama, que será breve ou longo segundo a vontade do poeta. E se lhe agradar que representes a P. de um mendigo,
esforça-te por representá-la devidamente. Faze o mesmo, se te for destinada a P. de um coxo, de um magistrado, de
um homem comum. Visto que a ti cabe apenas representar
bem qualquer P. que te seja destinada, a outro pertence o direito de escolhê-la" (Manual, 17, trad. Leopardi; cf.
Dissertazioni, I, 29, etc). O conceito de papel, neste sentido, pode ser reduzido ao de relação: um papel outra coisa
não é senão um conjunto de relações que ligam o homem a dada situação e o definem com respeito a ela. Por isso, a
noção de P. revelou-se útil quando foi preciso expressar as relações entre Deus e o Cristo (considerado como o Logos
ou Verbo), e entre ambos e o Espírito, mas ao mesmo tempo foi fonte de mal-entendidos e heresias. Com efeito, por
um lado a relação parecia ter sido somada — acidentalmente somada — à substância da coisa; este pelo menos era
seu conceito na filosofia tradicional e, em particular, na aristotélica (v. RELAÇÃO). Por outro lado, a própria palavra
P., lembrando a máscara de teatro, parecia implicar o caráter aparente e não substancial da pessoa. Daí nasceram as
longas disputas trinitárias que caracterizam a história dos primeiros séculos do Cristianismo e que levaram às
decisões do Concilio de Nicéia (325). Para evitar a associação entre a noção de P. e a de máscara, os escritores gregos
adotaram, em vez de pró-sopon, a palavra hypóstasis, que, em seu significado de "suporte", revela as preocupações
que sugeriram a escolha. Mas sobre o caráter acidental que a relação parece ter por natureza, muitos padres da Igreja
acharam melhor simplesmente negar que a P. fosse relação, e insistir na sua substancialidade. Era o que fazia, p. ex.,
S. Agostinho, ao afirmar que P. significa simplesmente "substância", e que por isso o Pai é P. em relação a si mesmo
(ad sé), e não em relação ao Filho, etc. (De Trin., VII, 6). Com base nisso, Boécio dava a definição de P. que se
tornou clássica em toda a Idade Média: "P. é a substância individual de natureza racional" (De duabus naturis et una
persona Christi, 3 P. L., 64, col. 1345). Mas, como nota S. Tomás de Aquino (S. Th., I, q. 29, a. 4, contra), o próprio
Boécio admitia que "todo atinente às P. significa uma relação"; além disso, não havia outra maneira de esclarecer o
significado das pessoas divinas, senão a de esclarecer as relações entre elas, com o mundo e com os homens. S.
Tomás de Aquino, portanto, em um de seus textos mais notáveis pela clareza e força filosófica (prescindindo do
significado teológico-religio-so), ao elucidar o dogma trinitário, restabelece o significado do conceito de P. como
relação, mesmo afirmando simultaneamente a substan-
PESSOA
762
PESSOA
cialidade da relação in divinis. "Não há distinção em Deus, a não ser em virtude das relações de origem. Contudo, em
Deus a relação não é como um acidente inerente ao sujeito, mas é a própria essência divina, de tal modo que subsiste
do mesmo modo como subsiste a essência divina. Assim como a divindade é Deus, a paternidade divina é Deus Pai,
que é P. divina: portanto, a P. divina significa a relação enquanto subsistente, isto é, significa a relação na forma da
substância, que é a hipóstase subsistente na natureza divina, embora aquilo que subsiste na natureza divina outra coisa
não seja senão a natureza divina" (S. Th., I, q. 29, a. 4). Deste modo, ao lado do caráter substancial ou hipos-tático da
P., era energicamente ressaltado o seu significado de relação. Isto no que se refere às P. divinas. No que concerne à P.
em geral, S. Tomás de Aquino afirmava que, à diferença do indivíduo, que por si é indistinto, "a P., numa natureza
qualquer, significa o que é distinto nessa natureza, assim como na natureza humana significa a carne, os ossos e a
alma que são os princípios que individualizam o homem" (Ibid., I, q. 29, a. 4). Portanto, segundo S. Tomás de
Aquino, mesmo no sentido comum a P. é distinção e relação.
2- A partir de Descartes, ao mesmo tempo em que se enfraquece ou diminui o reconhecimento do caráter substancial
da P., acentua-se a sua natureza de relação, especialmente de auto-relação ou relação do homem consigo mesmo. O
conceito de P. neste sentido identifica-se com o de Eu como consciência, e é analisado sobretudo no que se refere
àquilo que se chama de identidade pessoal, ou seja, unidade e continuidade da vida consciente do Eu. Lo-cke afirma
que a P. "é um ser inteligente e pensante que possui razão e reflexão, podendo observar-se (ou seja, considerar a
própria coisa pensante que ele é) em diversos tempos e lugares; e isso ele faz somente por meio da consciência, que é
inseparável do pensar e essencial a ele" (Ensaio, II, 27, 11). A P. é aqui identificada com a identidade pessoal, com a
relação que o homem tem consigo mesmo, e esta última com a consciência. Leibniz está de acordo com Locke nesse
aspecto, mas insiste também na identidade física ou real como outro componente da P., além da identidade moral ou
da consciência (Nouv. ess., II, 27, 9). A relação consciente do homem consigo mesmo torna-se, a partir de então,
característica fundamental da pessoa. Wolff diz: "A P. é o ente que
conserva a memória de si mesmo, ou seja, lembra-se que é o mesmo que foi antes, neste ou naquele estado" (Psychol.
rationalis, § 741). E Kant analogamente afirma: "O fato de o homem poder representar seu próprio eu eleva-o
infinitamente acima de todos os seres vivos da terra. Por isso, ele é uma P., e por causa da unidade de consciência
persistente através de todas as alterações que podem atingi-lo, é uma só e mesma P." (Antr., § 1). Hegel entendia por
P. o sujeito autoconsciente enquanto "simples referência a si mesmo na própria individualidade" (Fil. do dir., § 35).
Lotze diz: "A essência da P. não se reporta a uma oposição passada ou presente do eu ao não eu, mas consiste no
imediato ser por si" (Mikrokosmus, I, 1856, p. 575). E Renouvier diz: "A consciência toma o nome de P. quando é
levada ao grau superior de distinção e extensão no qual atinge o conhecimento de si mesma e do universal, bem como
o poder de formar conceitos e aplicar as leis fundamentais do espírito, que são as categorias" (Nouvelle monadologie,
1899, p. 111). Visto que a P. é, neste sentido, simplesmente a relação do homem consigo mesmo (o que é a definição
da consciência) identifica-se com a consciência, e essa identificação é o único dado conceptual que se pode achar na
exaltação retórica da P. que caracteriza algumas formas contemporâneas de personalismo (v.).
3a Contra a interpretação acima de P. estão obviamente as posições filosóficas que se recusam a reduzir o ser do
homem à consciência e fazem polêmica contra a forma mais radical dessa interpretação, que é o hegelianismo. Neste
sentido, a antropologia da esquerda he-geliana e do marxismo, apesar de não se ter preocupado, abertamente, em
esclarecer o conceito de P., constitui o início de uma renovação desse conceito ou a evidenciação de um aspecto sobre
o qual a tradição filosófica se calara: a P. humana é constituída ou condicionada essencialmente pelas "relações de
produção e de trabalho", de que o homem participa com a natureza e com os outros homens para satisfazer às suas
necessidades (cf. MARX, Deutsche Ideologie, I). Por outro lado, a doutrina moral kantiana já caracterizara o conceito
de P. em termos de heterorrelação, ou seja, relação com os outros. Quando Kant dizia que "os seres racionais são
chamados de pessoas porque a natureza deles os indica já como fins em si mesmos, como algo que não pode ser
empregado unicamente como meio" (Grundlegung
PESSOA
763
PIET1SMO
Zur Met. der Sitten, II), declarava que a natureza da P., do ponto de vista moral, consiste na relação intersubjetiva. No
entanto, foi só com a fenomenologia que o conceito de P. como he-terorrelação ingressa explicitamente na filosofia.
Husserl, considerando o eu como o "pólo da vida intencional ativa e passiva e de todos os hábitos criados por ela"
{Cart. Med., § 44), acentuava essa relação com outra coisa, em que consiste a intencionalidade. Mas é sobretudo com
Scheler que a P. é explicitamente definida como "relação com o mundo". Segundo ele, a P. é definida essencialmente
por essa relação, assim como o eu é definido pela relação com o mundo externo, o indivíduo pela relação com a
sociedade, o corpo pela relação com o ambiente. Segundo Scheler, "o mundo nada mais é que correlação objetiva da
P.; portanto, a cada P. individual corresponde um mundo individual" {Formalismus, 1913, p. 408). As esferas
objetivas que se podem distinguir no mundo (objetos internos, objetos externos, objetos corpóreos, etc.) tornam-se
concretos apenas enquanto partes de um mundo correlativo a uma P., enquanto domínio das possibilidades de ação da
própria P. A P., neste sentido, não deve ser confundida com a alma, com o eu ou com a consciência: um escravo, p.
ex., é todas essas coisas, mas não é P. porque não tem possibilidade de agir sobre o próprio corpo, e assim um
elemento de seu mundo escapa-lhe ilbid., p. 499). "A P." — diz ainda Scheler — "só se dá onde se dá um poder fazer
por meio do corpo, mais precisamente um poder fazer que não se fundamenta apenas na lembrança das sensações
ocasionadas pelos movimentos externos e pelas experiências ativas, mas que precede o agir efetivo ilbid., p. 499)Não obstante os numerosos e nem sempre coerentes vaivéns metafísicos a que Scheler submeteu sua doutrina, seu
conceito de P. como de "relação com o mundo" foi fecundo, inclusive porque assumido como ponto de partida da
análise existencial de Heidegger {Sein und Zeit, § 10); esta se centrou precisamente no conceito da P. humana, de
existência, como relação com o mundo.
Esse conceito de P., que, como vimos, não coincide com o de eu, foi formulado em termos análogos e é geralmente
empregado nas ciências sociais. A definição habitualmente recorrente nessas ciências, de P. como "o indivíduo
provido de status social", faz referência à rede de relações sociais que constituem o
status da pessoa. A consideração da P. como unidade individual, com a qual se lida no domínio considerado por essas
ciências, corresponde à mesma determinação conceituai do termo como agente moral, sujeito de direitos civis e
políticos ou, em geral, membro de um grupo social. O homem é P. porque, nos papéis que desempenha, é
essencialmente defiido por suas relações com os outros.
PESSOA JimÍDICA/CIVIiycOLETIVA (lat. Persona civilis; in. furistic person; fr. Personne juridique, ai.
Juristische Person; it. Persona civilé). Segundo Hobbes, P. neste sentido é "aquilo a que se atribuem palavras e ações
humanas, próprias ou alheias": se à P. são atribuídas ações próprias, trata-se de uma P. natural; se lhe são atribuídas
ações alheias, trata-se de P. fictícia {De bom., 15, § 1). Esta definição de Hobbes é a mais genérica e ao mesmo tempo
a mais exata das definições da P. civil e jurídica já dada pelos filósofos. O próprio Hegel define a P. neste sentido
como genérica "capacidade jurídica" {Fil. do dir, § 36).
PETIÇÃO DE PRINCÍPIO (lat. Petitio principií). É a conhecidíssima falácia (v.), já analisada por Aristóteles
{Top., VIII, 13,162 b; El. sof, 5, 167 b; An.pr., II, 16, 64 b), que consiste em pressupor, na demonstração, um
equivalente ou sinônimo do que se quer demonstrar (cf. PEDRO HISPANO, Summ. log., 753).
G. P.
PICNÁTOMOS (ai. Pyknatomerí). Foi esse o nome que Haeckel deu aos átomos, dotados de movimento e
sensibilidade, que ele julgava elementos constitutivos de todas as formas de ser, por serem produzidos por
condensação (picnose) da matéria primitiva (WELTRÀTSEL, 1899; trad. it., 1904, p. 296 ss.).
PIEDADE. V. COMPAIXÃO.
PIETISMO (in. Pietism; fr. Piétisme-, ai. Pietismu; it. Pietismó). Reação contra a ortodoxia protestante que ocorreu
no norte da Europa, especialmente na Alemanha, na segunda metade do séc. XVII. Foi comandada por Felipe Spener
(1635-1705), e um de seus expoentes foi o pedagogo August Franke (1663-1727). O P. pretendia voltar às teses
originais da Reforma protestante: livre interpretação da Bíblia e negação da teologia; culto interior ou moral de Deus
e negação do culto externo, dos ritos e de qualquer organização eclesiástica; compromisso com a vida civil e negação
do valor das denominadas "obras" de natureza religiosa. Deste último aspecto deriva a aceitação de muitos
ensinamentos de caráter prático e utilitário nas
PBRRONISMO
764
PLÁSTICA, NATUREZA
instituições educacionais pietistas (cf. A RITSCHL, Geschichte des Pietismus, 3 vol., 1880-86).
PIRRONISMO (in. Pyrrhonism; fr. Pyrrho-nisme, ai. Pyrrhonismus-, it. Pirronismó). Forma extrema do ceticismo
grego, tal como foi defendida por Pírron de Élis, que viveu no tempo de Alexandre Magno (Pírron acompanhou-o em
sua expedição ao Oriente) e morreu por volta do ano 270 a.C. Conhecemos sua doutrina pelos Silloi (versos jocosos)
de Tímon de Fliunte e pelas exposições de Diógenes Laér-cio e Sexto Empírico. A tese fundamental do P. é a
necessidade de suspender o assentimento. Visto que para o homem as coisas são ina-preensíveis, a única atitude
legítima é a de não julgá-las verdadeiras ou falsas, nem belas ou feias, nem boas ou ruins, etc. Não julgar também
significa não preferir ou não evitar: assim, a suspensão do juízo é já por si mesma ataraxia, ausência de perturbação.
Diógenes Laércio conta que Pírron caminhava sem olhar para nada e sem afastar-se de nada, arrostando carros, se os
encontrasse, precipícios, cães, etc. (DIÓG. L., LX, 62).
Mais tarde houve um retorno ao P., entre o fim do último século a.C. e o fim do II século d.C. por obra de
Enesidemos de Cnossos (que ensinou em Alexandria), de Agripa e do médico Sexto Empírico. Este último, que
atuara entre os anos 180 e 210 d.C, deixou três obras: Hipotipose pirrônica, Contra os dogmáticos e Contra os
matemáticos, que constituem uma síntese de todo o ceticismo antigo. A tese pirrônica da suspensão do assentimento é
rigorosamente mantida, mas, como guia para a conduta da vida, são adotadas a aparência sensível e as normas da vida
comum {Pirr. hyp., I, 21) (cf. MARIO DAL PRA, IO scetticismo greco, 1950).
PISTIS SOPHIA. Segundo a cosmogomia dos gnósticos, é o último dos Eons (v.) (emanações), ou eon decaído, que
dá origem à matéria (HIPÓLITO, Philosophumena, VI, 30 ss.) (cf. GNOSTICISMO).
PUAGORISMO (in. Pythagoreanism, fr. Py-thagorisme, ai. Pythagoreismus, it. Pitagorismo). Doutrina da antiga
escola pitagórica; pouco ou nada deve ao seu fundador, Pitágoras, sobre quem pouco se sabe com certeza e que
provavelmente nada escreveu. As teses características do P. foram as seguintes:
\- metempsicose{v.), nas quais se baseavam as crenças místicas e os ritos da seita;
2- os números constituem os princípios ou os elementos constitutivos das coisas; esta doutrina, por meio do
platonismo, também presidiram os primórdios da ciência moderna;
3a os corpos celestes (que para os pitagó-ricos eram dez, por razões de simetria) giram todos em torno de um fogo
central {Lestia), do qual o sol seria um reflexo. Esta é a primeira manifestação daquilo que, na idade moderna, viria a
ser o sistema de Copérnico. (Cf. Ipi-tagorici, testimonianze e frammenti, aos cuidados de Maria Timpanaro Cardini,
Florença, 1958 e a bibliografia aí contida.)
PLANO (in. Plane, fr. Plan; ai. Schicht, it. Piano). Esta noção é empregada em filosofia para designar graus ou
níveis do ser, caracterizados por qualidades próprias, não redutíveis às de outros graus ou níveis. O conceito de P. foi
introduzido com esse sentido por Boutroux: "No universo é possível distinguir diversos mundos, que seriam como P.
sobrepostos uns aos outros. Acima do mundo da pura necessidade, que é a quantidade sem qualidade, idêntico ao
nada, podem-se distinguir: o mundo das causas, o mundo das noções, o mundo físico, o mundo vivo e o mundo
pensante" {De Ia contingence des lois de Ia nature, 1874, ConcL). Segundo Boutroux, cada P. é caracterizado: l s por
certa dependência do P. inferior; 2- pela irredutibilidade de suas qualidades fundamentais e de suas leis específicas à
qualidade ou às leis do P. inferior. Nisso consistiria a contingência da realidade. Concepção análoga foi apresentada
por N. Hartmann, que distinguiu quatro P. da realidade: inorgânico, orgânico, psíquico e espiritual {Der Aufbau der
realen Welt, 1940). Hartmann também admite que cada P. da realidade é regido por leis próprias e irredutíveis, mas,
ao contrário de Boutroux, acentua a dependência dos P. superiores em relação aos inferiores. P. ex., as leis do mundo
psíquico não são redutíveis às do mundo orgânico, mas as pressupõe, ácrescentado-se-lhes: representam, por isso, um
supradeterminismo, que se soma ao determinismo das leis inferiores. Portanto, a conclusão a que chega a análise da
estratificação do ser feita por Hartmann não é a contingência, e sim a supranecessidade (v. LIBERDADE).
PLÁSTICA, NATUREZA (in. Plastic nature, fr. Nature plastique, ai. Plastisch Natur, it. Natura plástica). A força
P. ou formadora, dirigida por Deus e dele dimanada, mas diferente, à qual está confiada a tarefa de or-
PLATONISMO
765
PNEUMA
ganizar a matéria. É o conceito de natureza ectipa, admitido pelos platônicos de Cambrid-ge (v. ÉCTIPO).
PLATONISMO (in. Platonism; fr. Platonis-me, ai. Platonismus, it. Platonismó). Os elementos da doutrina de Platão
considerados característicos desde Aristóteles podem ser re-capitulados da seguinte maneira:
1Q A doutrina das idéias, segundo a qual são objetos do conhecimento científico entidades ou valores que têm um
status diferente do das coisas naturais, caracterizando-se pela unidade e pela imutabilidade (v. IDÉIA). Com base nesta
doutrina, o conhecimento sensível, que tem por objeto as coisas na sua multiplicidade e mutabilidade, não têm o
mínimo valor de verdade e podem apenas obstar à aquisição do conhecimento autêntico.
2- A doutrina da superioridade da sabedoria sobre o saber, ou seja, do objetivo político da filosofia, cuja meta final é
a realização da justiça nas relações humanas e portanto em cada homem (v. SABEDORIA).
3fi A doutrina da dialética como procedimento científico por excelência, como método através do qual a investigação
conjunta consegue, em primeiro lugar, reconhecer uma única idéia, para depois dividi-la em suas articulações
específicas (v. DIALÉTICA).
Estes são também os três aspectos polêmicos que opôs Aristóteles e Platão; por marcarem a diferença entre P. e
aristotelismo, serviram para caracterizar este último ao longo dos séculos. E óbvio que não esgotam a doutrina
original de Platão, que, portanto, não coincide com o "P".
É preciso notar que as teses acima expostas não caracterizam o denominado P. da Renascença. Este, na realidade, é
um neoplatonismo que lança mão das teses fundamentais do neoplatonismo antigo (v.).
PLEROMA (gr. JiA.iípco(4.a). Segundo o gnóstico Valentim (séc. II), a totalidade da vida divina plena ou perfeita
(IRENEU, Adv. haer., I, 11, D.
PLURALISMO (in. Pluralism- fr. Pluralis-me, ai. Pluralismus; it. Pluralismo). 1. A partir de Wolff, este termo foi
contraposto a egoísmo (v.) como "a maneira de pensar em virtude da qual não se abarca o mundo no eu, mas nos
consideramos e nos comportamos apenas como cidadãos do mundo" (Kant, Antr., I, § 2). Mas enquanto o termo
egoísmo continuou designando uma atitude moral, visto que, para a
doutrina metafísica correspondente, prevaleceu solipsismo(y?>, o termo P., no uso que dele se fez em seguida,
assumiu um significado metafísico, passando a designar a doutrina que admite pluralidade de substâncias no mundo.
A expressão típica dessa doutrina é a mo-nadologia de Leibniz, e foi neste sentido que o termo voltou a ser usado por
alguns espiritualistas modernos (J. Ward, TheRealm ofEnds or Pluralism and Theism, 1912; W. James, A Plu-ralistic
Universe, 1909). James insistiu particularmente na exigência proposta pelo P.: a de não considerar o universo como
massa compacta, em que tudo está determinado no bem ou no mal e não há lugar para a liberdade, mas sim como
uma espécie de república federativa na qual os indivíduos, apesar de solidários entre si, conservem autonomia e
liberdade. O universo pluralista, segundo James, é um pluriverso ou multiverso, sua unidade não é a implicação
universal ou integração absoluta, mas continuidade, contigüidade e concatena-ção: é uma unidade de tipo sinequia,
no sentido atribuído a esta palavra por Peirce {A Plu-ralistic Universe, p. 325). Um universo assim distingue-se do
universo monadológico de Leibniz justamente pelo caráter não absoluto nem necessitante da unidade que o constitui.
Até mesmo Deus, no universo pluralista, é finito.
2. Na terminologia contemporânea, designa-se freqüentemente com este nome o reconhecimento da possibilidade de
soluções diferentes para um mesmo problema, ou de interpretações diferentes para a mesma realidade ou conceito, ou
de uma diversidade de fatores, situações ou evoluções no mesmo campo. Assim, fala-se em "P. estético" quando se
admite que uma obra de arte pode ser considerada "bela" por motivos diferentes, que nada têm a ver um com o outro;
fala-se em P. sociológico quando se admite ou se reconhece a ação de vários grupos sociais relativamente
independentes uns dos outros.
PNEUMA (gr. 3ive0(J.a; lat. Spiritus; in. Pneuma-, fr. Pneuma; ai. Pneuma-, it. Pneumd). Este termo só ganhou
significado técnico com os estóicos, que com ele designaram o espírito, ou sopro animador, com que Deus age sobre
as coisas, organizando-as, vivificando-as e diri-gindo-as. Diógenes Laércio diz: "Para os estóicos a natureza é um
fogo artífice destinado a gerar, isto é, um P. da espécie do fogo e da atividade formativa (VII, 156; Plut., De stoic.
PNEUMÁTICOS
766
POESIA
repugn., 43, 1054). Virgílio aludia a essa concepção com versos famosos: "Spiritus intus alit Totamque infusa per
artus, Mens agitat molem et totó se corpore miscet" (En., VI, 726), aos versos recorria Giordano Bruno para ilustrar
sua concepção do Intelecto artífice ou "ferreiro do mundo" (De Ia causa, princípio e uno, II). Os magos do
Renascimento falavam no mesmo sentido do espírito através do qual a alma do mundo age sobre todas as partes do
universo visível (Agripa, De occulta philosophia, I, 14). No livro da Sabedoria(l, 5-7, etc), o P. é entendido no
sentido estóico. E em sentido análogo, S. Paulo fala do "corpo pneumático", que ele contrapunha ao "corpo psíquico"
ou animal como corpo vivo e vivificante que ressurgirá depois da morte (I Cor., XIV, 44 ss.). Na tradição cristã, P. é
o Espírito Santo, do qual S. Tomás de Aquino dizia: "O nome espírito nas coisas corpóreas parece significar certo
movimento ou impulso, visto que chamamos de espírito a respiração e o vento. Mas é próprio do amor mover e
impelir a vontade do amante em direção ao ser amado. E como a pessoa divina age pelas vias do amor, graças ao qual
Deus é convenientemente amado, ela chama-se Espírito Santo" (S. Th., I, q. 36, a. 1). Finalmente, da mesma doutrina
do espírito vivificante deriva a dos espíritos "psíquicos", "animais" ou "corpóreos", que foram admitidos pela
medicina antiga (v. PNEUMÁTICOS) e pela medieval, sendo mencionada muitas vezes pelos filósofos: os espíritos
animais foram mencionados por S. Tomás de Aquino (In Sent., IV, 49, 3; cf. S. Th., I, q. 76, a. 7, ad. 2S) e mais tarde
por Telésio (De rer. nat., V, 5), por Bacon (Nov. Org., II, 7; De augm. scient., IV, 2), por Hobbes (De corp., 25, 10) e
especialmente por Descartes, que reexpôs a doutrina de seu próprio ponto de vista (Pass. de 1'âme, I, 10).
No sentido comum de ar ou sopro, essa palavra é usada por alguns filósofos que consideram a alma como ar: p. ex.,
por Anaxímenes, cuja doutrina é um corolário do princípio de que tudo é ar (Fr, 2, Diels), e por Epicuro (Ad Herod.,
63).
PNEUMÁTICOS (gr. TrveuuáxiKoi; lat. Spi-ritales-, in. Pneumatics-, fr. Pneumatiques-, ai. Pneumatiker, it.
Pneumaticí). Foram indicados com este termo: Ia os seguidores da escola médica de Galeno, que, inspirando-se nos
estói-cos, identificavam no pneuma (v.) o princípio da vida; distinguiam: o pneuma psíquico, que reside no cérebro, o
pneuma zoótico ou animal, que reside no coração, e o pneuma físico ou natural, que reside no fígado, atribuindo a cada um deles funções
especiais no organismo; 2a alguns padres da Igreja e alguns gnósticos, que ressaltaram a distinção presente no Novo
Testamento (v. PNEUMA) entre corpo psíquico ou animal e corpo P., insistindo na superioridade deste último; 3 a
alguns químicos dos sécs. XVII e XVIII (Boyle, Black, Cavendish e outros), que iniciaram as investigações sobre os
gases e descobriram certo número de elementos e compostos gasosos.
PNEUMATOLOGIA (in. Pneumatology, fr. Pneumatologie, Pneumatique; ai. Pneuma-tologie, Pneumatik, it.
Pneumatologid). Leibniz introduziu o termo P. para indicar "o conhecimento de Deus, das almas e das substâncias
simples em geral" (Nouv. ess., Avant-propos, Op., ed. Erdmann, p. 199). Este termo pretendia significar "ciência dos
espíritos" e foi retomado por Wolff para indicar o conjunto da psicologia e da teologia natural (Log., 1728, Disc.
Pref., § 79). Crusius adotava o termo P. para indicar "a ciência da essência necessária de um espírito e das distinções
e qualidades que podem ser atribuídas apriori" (Entwurf der not-wendigen Vernunftwahrheiten, § 424). Ros-mini
excluía da P. a consideração de Deus e a restringia ao estudo dos "espíritos criados", isto é, da alma humana e dos
anjos (Psicol, 1850, § 27). D'Alembert restringia o termo à significação "da primeira parte da ciência do homem", que
é "o conhecimento especulativo da alma humana", que ele indicava também com o nome de metafísica particular.
Para D'Alembert, o conhecimento das operações da alma constituía o objeto da lógica e da moral (Discours
préliminaire de lEncyclopédie, em ÇEuvres, ed. Condorcet, 1853, p. 116). Kant observava a respeito que a psicologia
racional nunca poderá tornar-se pneumatologia, ou seja, ciência propriamente dita, da mesma maneira como a
teologia não pode tornar-se teosofia (Crít. do Juízo, § 89)- Esse termo hoje está completamente em desuso.
PODERES DO ESTADO. V. ESTADO POESIA (gr. 7COÍT|aiç; lat. Poesia; in. Poetry, fr. Poésie, ai. Dichtung; it.
Poesia). Forma definida da expressão lingüística, que tem como condição essencial o ritmo. Podem-se distinguir três
concepções fundamentais: Ia a P. como estímulo ou participação emotiva; 2- a P. como verdade; 3- a P. enquanto
modo privilegiado de expressão lingüística.
POESIA
767
POESIA
\- A concepção de P. como estímulo emotivo foi exposta pela primeira vez por Platão: "A parte da alma
que, em nossas desgraças pessoais, tentamos refrear, que tem sede de lágrimas e gostaria de suspirar e
lamentar-se à vontade — pois é essa a sua natureza — é justamente a parte a que os poetas dão satisfação
e prazer. (...) Quanto ao amor, à cólera e a todos os movimentos dolorosos ou agradáveis da alma, que são
inseparáveis de todas as nossas ações, pode-se dizer que sobre eles a imitação poética produz os mesmos
efeitos, visto que, embora fosse preciso estancá-los, ela os irriga e nutre, transformando-nos em servos
das faculdades que, ao contrário, deveriam obedecer-nos para que nos tornássemos mais felizes e
melhores" (Rep., X, 606 a-d). Platão observa que o lado emocional da arte não é menor por tratar de
emoções alheias, porque "necessariamente as emoções alheias passam a ser nossas" (Ibid., 606 b). Não há
dúvida, portanto, de que para Platão a característica fundamental da P. imitativa (assim como da razão de
sua condenação) é a participação emocional em que ela se baseia, bem como o reforço das emoções que
ela consegue com tais participações. Giambattista Viço não só estendeu ao universo inteiro a participação
emotiva, considerada própria da P., como também eliminou o caráter condenatório que se encontra em
Platão. "O sublime trabalho da P." — escreveu ele — "é dar sentido e paixão às coisas insensatas, sendo
propriedade das crianças de tomar nas mãos coisas inanimadas e, brincando, conversar com elas como se
fossem pessoas vivas. Esta dignidade filológico-filosófica comprova que os homens do mundo criança
foram, por natureza, poetas sublimes" (Scienza nuova, 1744, Degn. 37). Portanto, segundo Viço, a P. está
ligada aos "robustos sentidos" e às "vigorosíssimas fantasias" dos homens primitivos ou brutos; seu
tríplice objetivo é "achar fábulas sublimes que se adaptem aos interesses populares", "perpetuar ao
máximo" e "ensinar o vulgo a agir virtuosamente" (Ibid., II., cf. Lettera a Gherardo degli Angioli). Deste
ponto de vista, P. e filosofia são antípodas, e "quanto mais robusta é a fantasia, tanto mais fraco é o
raciocínio" (Ibid., Degn. 36). Esse mesmo conceito de P. como estímulo ou participação emocional achase na teoria da empatia (v.), que considera a atividade estética como a projeção das emoções do indivíduo
no objeto estético. Segundo o principal defensor dessa teoria, Theodor Lipps, a
empatia (v.) é um ato original, essencialmente independente da associação de idéias e profundamente
arraigado na própria estrutura do espírito humano (Àsthetik I, 1903, pp. 112 ss.): deste modo, é postulada
como uma faculdade à parte, à qual está confiada a função de animar a materialidade bruta do mundo
exterior, tornando o mundo mais familiar e agradável ao homem. Com base na distinção entre o uso
simbólico da linguagem e o seu uso emocional, atribuiu-se à P. "a forma suprema da linguagem emotiva",
cujo único objetivo é estimular "emoções e atitudes" (I. A. RICHARDS, Principies of Literary Criticism,
1924; 14a ed., 1955, p. 273). A função simbólica (ou científica) da linguagem consiste em simbolizar a
referência ao objeto e em comunicar essa referência ao ouvinte, levando-o a reconhecer a referência ao
mesmo objeto. A função emotiva, por sua vez, consiste em exprimir emoções, atitudes, etc, e em evocálos no ouvinte: funções que podem ser incluídas na da "evocação", que é o estímulo da emoção (C. K.
OGDEN, I. A RICHARDS, The Meaning ofMeaning, 1923, 10a ed., 1952, p. 149). Obviamente, este ponto de
vista não passa de repetição quase literal da concepção platônica. E não tem significado diferente o modo
como C. Morris definiu o discurso poético: "principalmente discurso valora-tivo e apreciativo", cujo
objetivo é "lembrar e sustentar valores já conhecidos" ou "explorar novos valores" (Signs, Language
andBehavior, 1946, V, 7).
2- A concepção de P. como verdade começa com Aristóteles, que a considerou como tendência à
imitação, para ele inata em todos os homens como manifestação da tendência ao conhecimento (Poet., 6,
1448 b 5-14). Segundo Aristóteles, a imitação poética tem validade cognoscitiva superior à imitação
historiográfica, porque a P. não representa as coisas realmente acontecidas, mas "as coisas possíveis,
segundo a verossimilhança e a necessidade" (Ibid., 1451 a 38). Por isso, ela "é mais filosófica e mais
elevada que a história, porque exprime o universal, enquanto a história exprime o particular. Com efeito,
temos o universal quando um indivíduo de certa índole diz ou faz certas coisas com base na
verossimilhança e na necessidade, e é essa a intenção da P., que dá nome à personagem justamente com
base nesse critério. Por sua vez temos o particular quando dizemos, p. ex., o que Alcibíades fez e o que
lhe aconteceu" (Ibid., 9, 1451 b 1, 10). Estas famosas
POESIA
768
POESIA
observações de Aristóteles eqüivalem a colocar a P. na esfera da verdade filosófica, já que esta capta a essência
necessária das coisas, e no domínio das vicissitudes humanas a essência é constituída pelas relações de
verossimilhança e necessidade, que são objeto da poesia. A P., portanto, não possui um grau de verdade inferior à
filosofia, mas sim a mesma verdade, no domínio que lhe é próprio, o dos feitos humanos. Esta concepção de P.
dominou a tradição filosófica, na qual podemos distinguir duas interpretações fundamentais: A) a P. tem uma verdade
de grau ou natureza diferente da verdade intelectual ou filosófica; B) a P. contém a verdade filosófica absoluta.
A) A primeira posição está na origem da estética moderna. Baumgarten afirmou que o objeto estético, a beleza, é "a
perfeição do conhecimento sensível enquanto tal", e que por isso ele não coincide com o objeto do intelecto, que é o
conhecimento distinto (Aesthetica, 1750-58, § 14). Como perfeição do conhecimento sensível, a beleza é universal,
mas de uma universalidade diferente do conhecimento, porque abstrai da ordem e dos signos, realizando uma forma
de unificação puramente fenomenal Qbid., % 18). Segundo Baumgarten, a P. é, particularmente, "um discurso
sensível perfeito", de tal maneira que seus vários elementos (representações, nexos, palavras ou sinais que as
expressam) tendem ao conhecimento das representações sensíveis (Medita-tiones philosophicae de nonnulis ad
poema pertinentibus, 1735, §§ 1-9). A qualificação "sensível" esclarece o caráter da P.; graças a isso, ela tem por
objeto representações claras, mas que se confundem, ao passo que as representações claras e distintas, ou seja,
completas e adequadas, não são sensíveis, portanto não são poéticas; desse modo, filosofia e P. não se encontram,
pois a primeira exige as distinções de conceitos que a segunda alija de seu domínio (Medit., cit., § 14). Analogamente
Viço afirmava: "A sabedoria poética, que foi a primeira da gentilidade, teve de começar com alguma metafísica, não
a metafísica arrazoada e abstrata dos eruditos de agora, mas sensiva e imaginativa tal como deve ter sido a de tais
primeiros homens, pois eles eram de nenhum raciocínio, mas de sentidos robustos e vigorosíssimas fantasias" {Sc.
nuova, 1744, II, Delia sapienza poética). Mas foi Hegel quem expressou melhor essa tese: "A P. é mais antiga que a
linguagem prosaica artisticamente formada. Ela é a representação originária da verdade, é o saber no qual o universal não foi ainda separado por sua existência viva no
particular, no qual a lei e o fenômeno, o fim e o meio ainda não foram contrapostos, para serem depois novamente
interligados pelo raciocínio, mas compreendem-se um no outro e um através do outro. Por isso, a P. não se limita a
exprimir através da imagem um conteúdo que já é conhecido por si em sua universalidade, mas, ao contrário, de
acordo com seu conceito imediato, ela permanece na unidade substancial, onde ainda não ocorreu tal separação nem
tal relação" (Vorle-sungen über die Àsthetik, ed. Clockner, III, p. 239). Com isso, para Hegel, a P. (assim como toda a
arte) continua aquém ou abaixo da filosofia, pois é só nesta que a Idéia se revela ou se realiza em sua verdadeira
natureza, que é universalidade ou razão, não imediação ou imagem; mas a P. pertence à esfera da verdade absoluta,
ao lado da filosofia e da religião (à qual está subordinada). No idealismo de origem romântica, o conceito de P.
continuou sendo substancialmente o expresso por Hegel. Croce, depois de insistir na prioridade da arte sobre o
conhecimento intelectual propriamente dito, portanto em sua relativa autonomia em face da filosofia (com a qual,
porém, nunca negou que a arte compartilhasse o status de conhecimento), acabou insistindo cada vez mais nas
características de totalidade e universalidade da expressão artística, que a aproximam da verdade filosófica. Ao
contrário do sentimento, "a expressão poética é uma teorese, um conhecer, e por isso mesmo, enquanto o sentimento
adere ao particular e, por mais elevado e nobre que seja em sua origem, move-se necessariamente na unilateralidade
da paixão, na antinomia do bem e do mal e na ansiedade do prazer e da dor, a P. reata o particular ao universal, acolhe
com igualdade dor e prazer, superando-os, e, acima do embate das partes contra as partes, eleva a visão das partes no
todo, a harmonia sobre o contraste, a extensão do infinito sobre a angústia do finito. Este cunho de universalidade e
de totalidade é o seu caráter" (La poesia, 1936, pp. 8-9). Assim, o valor da P. estava justamente em sua teoreticidade,
ou seja, na sua validade cognoscitiva; e vinha a ser o que Hegel já havia dito que era: uma verdade filosófica que se
manifesta na imediação da imagem, e não na universalidade do conceito. B) Ao lado dessa concepção, há outra que,
apesar de estreitamente aparentada, não vê na
POESIA
769
POESIA
P. a aproximação da verdade absoluta, mas a própria verdade absoluta. Schiller já se expressara sobre a poesia nesses
termos. Na obra Sobre a poesia ingênua e sentimental (1795-96), afirmou que o poeta é a natureza, ou seja, sente
naturalmente e portanto imita a natureza, ou sente-se afastado da natureza e vai à sua procura nostalgicamente,
configurando-a como ideal. No primeiro caso, o poeta é ingênuo, como na antiga Grécia; no segundo caso, é
sentimental, como na era moderna. Mas em ambos os casos, a P. é o absoluto. Com efeito, a P. ingênua é
representação absoluta, concluída, total e definitiva; a P. sentimental é representação do absoluto, de um ideal de
perfeição consumado, conquanto longínquo (Werke, ed. Kar-peles, XII, pp. 122 ss.). Schiller valeu-se desse aspecto
para afirmar resolutamente a superioridade da P. sobre a filosofia: não hesitava em dizer que "o único homem
verdadeiro é o poeta, diante do qual o melhor filósofo não passa de caricatura" {Epistolãrio Goethe-Schiller, 71-1795;
trad. Santangelo). Essa tese representa sem dúvida um filão importante e bem determinado da concepção romântica
da poesia. Schelling dizia: "A faculdade poética é a intuição originária na sua primeira potência; e vice-versa, a única
intuição produtiva que se repete na mais elevada potência é o que chamamos de faculdade poética" {System des
transzendentalen Idealismus, 1800, VI, § 3). A faculdade poética atualiza a unidade das atividades consciente e
inconsciente, que constitui a natureza do Eu absoluto. "O que chamamos de natureza é um poema, fechado em
caracteres misteriosos e admiráveis. Mas se o enigma pudesse ser revelado, reconheceríamos nele a odisséia do
Espírito, que, por maravilhosa ilusão, buscando-se, foge de si mesmo" (Ibid). Na filosofia contemporânea, esse ponto
de vista foi reexpresso por Heidegger: "AP. é a nominação fundadora do ser e da essência de todas as coisas; não é
um simples dizer qualquer, mas é dizer pelo qual é revelado inicialmente tudo o que nós debatemos e tratamos depois
na linguagem de todos os dias. Por conseguinte a P. nunca recebe a linguagem como matéria a ser manipulada,
pressuposta, mas, ao contrário, é a P. que começa a possibilitar a linguagem. A P. é a linguagem primitiva de um
povo, e a essência da linguagem deve ser compreendida a partir da essência da P." (Holderlin und das Wesen der
Dicbtung, 1936, § 5). Como linguagem originária, a P. é a própria verdade, isto é, a manifestação ou revelação do Ser (Holzwege, 1950, pp. 252 ss.).
3a A terceira concepção fundamental à primeira vista é menos filosófica que as outras, porque não consiste em
atribuir à P. determinada tarefa em dada metafísica, nem em ligá-la a determinada faculdade ou categoria do espírito,
ou em reservar-lhe um lugar na enciclopédia do saber humano, mas apenas em descobrir certas características que a
P. possui em suas realizações históricas mais bem-sucedidas, e em resumi-las numa definição generaliza-dora.
Todavia, é este o único procedimento que pode gerar uma definição funcional da P., que sirva para expressar e
orientar o trabalho efetivo dos poetas. Portanto, para essa definição os poetas contribuíram mais que os filósofos,
apesar de estes também terem por vezes conseguido captar alguns de seus aspectos importantes. Obviamente, deste
ponto de vista, a P., pelo menos à primeira vista, é apenas um modo privilegiado de expressão lingüística:
privilegiado em virtude de uma função especial a ele atribuída. O privilégio atribuído ao modo poético de expressão é
freqüentemente determinado como "liberdade". Depois de dizer que "as artes da palavra" são a eloqüência e a P.,
Kant afirma: "A eloqüência é a arte de tratar uma função do intelecto como livre jogo da imaginação; a P. é a arte de
dar a um livre jogo da imaginação o caráter de função do "intelecto" (Crít. do Juízo, § 51). Aqui, a noção de "jogo"
serve para ressaltar o caráter livre da atividade poética em face de qualquer outro fim utilitário; a noção de "função do
intelecto" serve para designar a disciplina a que se sujeita a P., mesmo na liberdade de seu jogo. Deste ponto de vista,
a função da expressão poética é a libertação da linguagem de seus usos utilitários e a sua elaboração numa disciplina
autônoma. Dewey insistiu nas mesmas características da expressão poética: "Se, entre prosa e poesia, não há uma
diferença passível de ser definida com exatidão, entre prosaico e poético há um abismo, pois são termos extremos que
limitam tendências da experiência. O prosaico realiza o poder que as palavras têm de exprimir "por meio da
extensão"; o poético, o de exprimir por meio da intensão. O prosaico lida com descrição e narração, acumulando
detalhes; o poético inverte o processo: "condensa e abrevia, dando assim às palavras uma energia e expansão quase
explosiva". Por isso, na P. "cada palavra é imaginativa, assim como, na verdade,
POESIA
770
POESIA
também o foi na prosa até que, pelo desgaste do uso, as palavras foram reduzidas a simples enumeradores"; "a força
imaginativa da literatura é uma intensificação da função idealizante cumprida pelas palavras na linguagem comum"
(Art as Experience, 1934, cap. 10; trad. it., pp. 284-85). A maior intensidade de que fala De-wey não é emotiva, mas
expressiva: é a maior força do significado das palavras que não estão desgastadas pelo uso. Ora, confiar à P. a função
de conservar e restabelecer na linguagem a força de significação, de purificá-la, mantê-la eficiente, renová-la e
aperfeiçoá-la é o que, de há um século a esta parte, têm afirmado muitos dos poetas que refletiram sobre o próprio
trabalho. As teses fundamentais da concepção da P. elaborada e pressuposta pelos poetas modernos podem ser
recapituladas da seguinte maneira:
PAP.é independente de qualquer objetivo prático ou utilitário. Este caráter foi expresso pela fórmula da arte pela
arte, à qual aderiram no século passado artistas como Flaubert, Gau-tier, Baudelaire, Walter Pater, Oscar Wilde e
Allan Poe. O alvo contra o qual se dirige essa fórmula é a subordinação da P. à emoção, à verdade ou ao dever; seu
significado positivo é a liberdade da P. no sentido afirmado, p. ex., por Kant. Flaubert diz: "Compor versos
simplesmente, escrever um romance, cinzelar mármore, eram coisas boas nos tempos em que não existia a missão
social do poeta. Agora qualquer obra deve ter significado moral, ensinamento bem dosado; é preciso que um soneto
tenha alcance filosófico, que um drama pise nos calos dos monarcas e que uma aquarela enobreça os costumes. A
mania de advogar insinua-se em toda a parte, juntamente com a so-freguidão de discutir, perorar, arengar" (Lettre ã
Louise Colet, 18 de setembro de 1846). No editorial introdutivo do periódico Vartiste (14 de dezembro de 1856),
Gautier proclamava: "Cremos na autonomia da arte; para nós a arte não é um meio para um fim. Um artista que corre
atrás de um objetivo que não seja a beleza em nossa opinião não é artista". A fórmula da arte pela arte é, portanto,
substancialmente a defesa da P. contra qualquer tentativa de torná-la instrumento de propaganda de um objetivo
qualquer.
2- A beleza é o único fim da poesia. Visto que a arte não pode estar subordinada ao bem, à verdade ou a coisas que
pretendam ter tais características, resta-lhe como único fim a beleza, mais precisamente a beleza formal, que
independe dos conteúdos que lhe são oferecidos pela emoção ou pelo intelecto. Flaubert diz: "Poeta da forma! Eis a
grande palavra inju-riosa que os utilitários lançam em face dos verdadeiros artistas. (...) Não há belos pensamentos
sem belas formas e vice-versa... A quem escreve em bom estilo censura-se o descuido da idéia, do fim moral; como
se a tarefa do médico não fosse curar, a do pintor pintar, a do rouxinol cantar e como se a finalidade da arte não fosse,
antes de tudo, o belo" {Lettre à Louise Colet, 18 de setembro de 1846). E Poe afirmava: "A P., enquanto arte da
palavra, é a criação rítmica da beleza. Seu único árbitro é o gosto: com o intelecto ou com a consciência ela só tem
relações colaterais. A não ser por acaso, ela não cuida absolutamente do dever nem da verdade" ("The Poetic
Principie", Works, ed. Harrison, XIV, p. 275).
3Q O caráter da beleza é objetivo; ela está além da experiência emotiva. Flaubert dizia: "Quanto menos se sente uma
coisa tanto mais se tem capacidade para exprimi-la tal qual ela é (tal qual ela é sempre, em si mesma, na sua
universalidade, livre de todas as suas contingências efêmeras). É preciso, porém, ter a faculdade de fazer-se senti-la, e
isso é o gênio" {Lettre â Louise Colet, 6 de julho de 1852). E T. S. Eliot, apoiando esse conceito, escrevia: "AP. não é
um livre movimento da emoção, mas uma fuga da emoção; não é a expressão da personalidade, mas a fuga da
personalidade. Naturalmente, porém, só os que possuem personalidade e emoção sabem o que pretendemos dizer
quando aludimos à necessidade de fuga dessas coisas. (...) A emoção da arte é impessoal. E o poeta não pode alcançar
essa impessoalidade sem entregar-se inteiramente à obra que deve ser feita" (The Sacred Wood, 1920; trad. it., pp.
124-25). No mesmo sentido Ungaretti disse: "Toda a minha atividade poética, desde 1919, desenvolvia-se nesse
sentido, um sentido mais objetivo, (...) uma projeção e uma contemplação dos sentimentos nos objetos, uma tentativa
de elevar a idéias e a mitos a minha própria experiência biográfica" {La terra promessa, Nota de Leone Piccioni).
4Q A P. tem caráter construtivo-, a beleza tem caráter construído. Estas foram teses de Poe, Baudelaire e Valéry. O
primeiro descreveu a construção poética como uma espécie de trabalho artesanal ("The Philosophy of Compo-sition"
em Works, ed. Harrison, XIV, p. 196). Baudelaire, por sua vez, insistiu no conceito da
POESIA
771
POESIA
arte como composição: "Todo o universo visível é só um armazém de imagens e de signos aos quais a
imaginação atribuirá um lugar e um valor relativo; é uma espécie de forragem que a imaginação precisa
digerir e transformar" ("Salon de 1859", CEuvres, ed. Le Dantec, II, p. 232). Mas foi Valéry quem mais
enfatizou o caráter da arte como construção: "As criações do homem são feitas com vistas ao próprio
corpo — e dá a esse princípio o nome de utilidade— ou com vistas à própria alma — e isso ele procura
com o nome de beleza. Mas, por outro lado, quem constrói ou cria, comprometido como está com o resto
do mundo e com o movimento da natureza, que tendem perpetua-mente a dissolver, corromper ou
arruinar o que ele faz, precisa discernir um terceiro princípio, que tenta comunicar às próprias obras,
capaz de exprimir a resistência que estas deverão opor ao seu destino de obras perecíveis. Em suma, ele
cria a solidez e a duração. Eis as grandes características de uma obra completa. Só a arquitetura exige-as
e eleva-as ao ponto culminante. Considero-a a arte mais completa" (Eupalinos, trad. it., pp. 141-42).
Assim, o caráter arquitetônico da arte é condicionado pela resistência que ela encontra nas forças naturais
e pela vitória sobre essa resistência. Por outro lado, um corolário do caráter construtivo ou arquitetônico
da atividade poética é o controle sobre a inspiração, já ressaltado por Baude-laire: "Alimento
substancioso e regular é a única coisa necessária para os escritores fecundos. A inspiração é
decididamente irmã do trabalho cotidiano. Esses dois contrários não se excluem, tanto quanto não se
excluem os contrários que constituem a natureza. A inspiração obedece, tanto quanto a fome, a digestão,
o sono" ("Conseilsauxjeuneslittérateurs", 6, CEuvres, ed. Le Dantec, II, p. 388).
5Q A P. tem caráter comunicativo. Flaubert dizia: "O poeta deve simpatizar com tudo e com todos para
compreendê-los e descrevê-los" (Lettre àMlle. Leroyer de Chantepie, 12 de dezembro de 1857). E
Baudelaire: "Prefiro o poeta que está em permanente comunicação com os homens de seu tempo,
trocando com eles pensamentos e sentimentos que se traduzem em linguagem nobre e suficientemente
correta. Situado num dos pontos da circunferência da humanidade, o poeta retransmite na mesma linha,
com vibrações mais melodiosas, o pensamento humano que lhe foi transmitido. O verdadeiro poeta deve
ser uma
encarnaçâo" ("Pierre Dupont", CEuvres, ed. Le Dantec, I, p. 404).
6B Deve-se buscar a perfeição formal, que é a exatidão ou precisão expressiva. Flaubert queria que a P.
fosse "tão exata quanto a geometria" (Lettre ã Louise Colet, 14 de agosto de 1853) e afirmava: "Quanto
mais uma idéia é bela tanto mais a frase é harmoniosa. A exatidão do pensamento faz (ou melhor, é) a
exatidão da palavra" (Lettre ã Mlle. Leroyer de Chantepie, 12 de dezembro de 1857). Mallarmé insistiu
nesse aspecto da P.: "A arte suprema consiste em mostrar, com a posse impecável de todas as faculdades,
que se está em êxtase, sem demonstrar de que maneira se chega ao cume" (Lettre à Henri Cazalis, 27 de
novembro de 1863). Valéry escreveu a respeito: "Procurei a exatidão nos pensamentos, para que,
patentemente gerados pela observação das coisas, se transformassem, como por um processo espontâneo,
nos atos da minha arte. Distribuí minhas atenções, refiz a ordem dos problemas; começo onde antes eu
terminava, para ir um pouco mais adiante. (...) Avaro de fantasias, concebo como se perseguisse"
(Eupalinos; trad. it, p. 91). E Ungaretti disse no mesmo sentido: "Eu sonhava com uma P. em que os
mistérios da alma, não atraiçoados nem falseados em seus impulsos, se conciliassem com uma extrema
sabedoria do discurso" (Quaranta sonetti di Shakespeare, Nota intr.). Mallarmé estendeu a preocupação
da exatidão à própria escrita: "O arcabouço intelectual do poema dissimula-se e sustenta-se — acontece
— no espaço que isola as estrofes e o branco do papel: silêncio significativo, de composição tão bela
quanto a dos próprios versos" (Lettre non datée à Charles Morice, cf. Propôs sur Iapoésie, ed. Mondor,
p. 164).
7a Finalmente, como recapitulaçâo de todos os aspectos acima enumerados da P., também lhe é atribuída
a função de manutenção de uma linguagem eficiente. Essa função foi explicada com toda a energia e
clareza possíveis por Ezra Pound: a função da literatura "não é a coerção ou a persuasão por vias
emocionais" nem a coação a adotar certas opiniões. "Sua função tem a ver com a clareza e o vigor de
qualquer pensamento ou opinião. Diz respeito à preservação e ao esmero dos instrumentos, à saúde da
própria substância do pensamento. Com exceção de casos raros e limitados de invenção nas artes plásticas
ou na matemática, o indivíduo não pode pensar e comunicar o
POÉTICA
772
POLISSBLOGISMO
seu pensamento, o governante e o legislador não podem agir eficazmente e redigir suas leis sem as palavras, e a
solidez e a validade dessas palavras dependem dos cuidados dos malditos e desprezados literatos" {Literary Essays;
trad. it., p. 47). Desse ponto de vista, "a manutenção de uma linguagem eficiente é tão importante para as finalidades
do pensamento quanto em cirurgia é importante manter os bacilos do tétano distantes das ataduras"; essa função cabe
à P., que "é simplesmente linguagem carregada de significado no máximo grau possível" {Ibid., p. 49). A P. executa
essa função de três maneiras; por isso, são três as espécies de P.: melopéia, na qual "as palavras, além do seu
significado comum, comportam alguma qualidade musical que condiciona o alcance e a direção desse significado";
fanopéia, que "é a projeção de imagens sobre a fantasia visual"; e logopéia, na qual as palavras são usadas não só em
seu significado direto, mas também em vista de usos e costumes, do contexto, das concomi-tâncias habituais, das
acepções conhecidas e da ironia {Ibid., p. 52). Não há dúvida de que essas observações de Pound constituem o ponto
culminante da estética contemporânea da poesia.
POÉTICA. V. ESTÉTICA. POIÉTTCO (gr. JCOIT|TI.KÓÇ,; in. Poietic; fr. Poiétique, ai. Poietik, it. Poieticó).
Produtivo ou criativo, enquanto diferente de prático. Segundo Aristóteles, a arte é produtiva, enquanto a ação não é
{Et. nic, VI, IV, 1140 a 4). Plotino chamava as causas eficientes de P. {Enn., VI, 3, 18, 28). V. ENCICLOPÉDIA.
POLARIDADE (in. Polarity, fr. Polarité, ai. Polaritàt; it. Polaritã). Conexão necessária de dois princípios opostos
entre si. Neste sentido, o conceito foi empregado por Schelling na obra Sobre a alma do mundo (1798). A alma do
mundo, segundo Schelling, age na natureza por meio das duas forças opostas de atração e repulsão, cujo conflito
constitui o dualismo e cuja unificação constitui a P. da natureza {Wer-ke, I, II, p. 381). Por vezes o conceito de P. foi
generalizado, transformando-se em princípio. Na filosofia contemporânea, isso foi feito por Morris R. Cohen, que
não o entendeu como princípio da identidade, "mas da necessária co-presença e da subordinação recíproca das
determinações opostas". Na física, esse princípio seria representado pela lei de ação e reação e pela lei segundo a qual
onde há força há também resistência. Na biologia, seria expresso
pelo aforismo de Huxley, de que o proto-plasma só consegue viver morrendo continuamente. Na ética, seria expresso
pela interdependência do sacrifício e da realização pessoal {Introduction to Logic, IV, 2; trad. it., p. 125).
POLÊMICO (in. Polemic; fr. Polemique, ai. Polemisch; it. Polemico). Kant entendeu por "uso P. da razão" a defesa
de seus enunciados contra as negações dogmáticas. As negações dogmáticas dos enunciados racionais são as
negações cépticas, consideradas por Kant como as posições do dogmatismo negativo, simplesmente preparatório com
respeito à crítica da razão que é o exame das limitações e dos limites exatos da razão {Crít. R. Pura, Doutrina
transcendental do método, cap. I, seç. 2).
POLIÁDICO (in. Polyadic). Na lógica contemporânea, são qualificados com este termo os enunciados (ou relações)
constituídos por três termos ou mais.- p. ex., o enunciado "Fulano deve dinheiro a Sicrano", em que aparecem três
termos, Fulano, Sicrano e dinheiro (cf. p. ex., DEWEY, Logic, XVI; trad. it., pp. 413 ss.). POLIGÊNESE. V.
ORTOGÊNESE. POLIGONIA. Gioberti falou em "P. do catolicismo", que é a refração da palavra revelada na
individualidade de cada um, que, apesar disso, continua una, assim como o polígono é uno, apesar de ter um número
infinito de lados {Riforma cattolica, ed. Balsamo-Crivelli, pp. 147-48). O mesmo que multilateridade.
POLILEMA (in. Polilemma; fr. Polilemme, ai. Polilemma; it. Polilemma).Termo moderno para indicar um dilema
(v.) com três alternativas ou mais (Troxler, Logik., II, 1829, p. 102; B. Erdmann, Logik, 1892, § 75).
POLIMATIA (gr. 7r.OAA)ucc8ía). Saber muitas coisas. Heráclito disse: "Saber muitas coisas não ensina a ter
inteligência; senão teria ensinado isso a Hesíodo e a Pitágoras, e ainda mais a Xenofonte e a Hecateu" {Fr. 40, Diels).
Kant chamou de P. o domínio dos conhecimentos racionais, enquanto poli-história seria o saber histórico ou dos
fatos, e pansofia seria o conjunto dos dois {Logik, Intr., § VI).
POLISSEMIA (in. Polysemy, fr. Polysémie, ai. Polysémie, it. Polisemid). Diversidade de referências semânticas (dos
"significados") possuídas pela mesma palavra (cf. BRÉAL, Essai de sémantique, cap. 14; S. ULLMANN, The Principies
ofSemantics, 2a ed., 1957, pp. 63, 114, 174).
POLISSILOGISMO (in. Polysyllogism; fr. Polysyllogisme, ai. Polysyllogismus-, it. Polisillo-gismó). Termo
empregado no séc. XVIII para
POLITEÍSMO
773
POLÍTICA
indicar um silogismo multíplice ou composto, ou seja, uma cadeia de silogismos. Essa cadeia pode estar ordenada de
tal modo que todo silogismo sirva de fundamento para o que o segue e de conseqüência para o que o precede. O
silogismo da série que contém a razão da premissa de um outro silogismo é chamado prossilogismo; o que contém a
conseqüência de outro silogismo é chamado epissilogismo (v.). Toda concatenação de raciocínios, portanto, é
constituída por prossi-logismos e epissilogismos (WOLFF, Log., §§ 492-94; KANT, Logik, § 86; HAMILTON, Lectures
on Logic, § 68; B. ERDMANN, Logik, § 85).
POLITEÍSMO (in. Polytheism; fr. Polythéis-me, ai. Polytheismus; it. Politeismó). (Sobre a noção de P., v. DEUS, 3,
a). O P. está bem longe de ser uma crença primitiva e grosseira, inconciliável com a reflexão filosófica. Visto que já
está presente na distinção entre divindade e Deus, na realidade são politeístas muitas filosofias às vezes consideradas
tipicamente mono-teístas, como p. ex. a de Aristóteles. O P. foi às vezes explicitamente defendido por filósofos
modernos. Hume já observava, em História natural da religião (1757), que a passagem do P. para o monoteísmo não
deriva da reflexão filosófica, mas da necessidade humana de adular a divindade para obter sua benevolência, e que o
monoteísmo é acompanhado muitas vezes pela intolerância e pela perseguição, visto que o reconhecimento de um
único objeto de devoção leva a considerar absurdo e ímpio o culto de outras divindades (Essay, II, pp. 335 ss.). Na
era moderna, a superioridade do P. foi ressaltada por Renouvier (Psychologie rationelle, 1859, cap. 25) e James 04
Pluralistic Universe, 1909), mas muitas outras doutrinas são politeístas, inclusive a de Bergson. Max Weber
considerou o P. como a luta entre os diversos valores ou as diversas esferas de valores, entre os quais o homem deve
tomar posição, luta que nunca termina com a vitória de um só valor. Neste sentido, o mundo da experiência nunca
chega ao monoteísmo, mas se detém no P. iZwischen zwei Gesetze, 1916, em Gesammelte Politische Schriften, pp. 60
ss.).
POLÍTICA (gr. 7CoA,ittKií; lat. Política; in. Politics; fr. Politique, ai. Politik, it. Política). Com esse nome foram
designadas várias coisas, mais precisamente: Ia a doutrina do direito e da moral; 2- a teoria do Estado; 3a a arte ou a
ciência do governo; 4a o estudo dos comportamentos intersubjetivos.
Ia O primeiro conceito foi exposto em Ética, de Aristóteles. A investigação em torno do que deve ser o bem e o bem
supremo, segundo Aristóteles, parece pertencer à ciência mais importante e mais arquitetônica: "Essa ciência parece
ser a política. Com efeito, ela determina quais são as ciências necessárias nas cidades, quais as que cada cidadão deve
aprender, e até que ponto" (Et. nic, L, 2, 1094 a 26). Este conceito da P. teve vida longa na tradição filosófica.
Hobbes, p. ex., dizia: "A P. e a ética, ou seja, a ciência do justo e do injusto, do equânime e do iníquo, podem ser
demonstradas apriori, visto que nós mesmos fizemos os princípios pelos quais se pode julgar o que é justo e
equânime, ou seus contrários, vale dizer, as causas da justiça, que são as leis ou as convenções" ÇDehom., X, § 5).
Neste sentido, Althusius dava a seu tratado sobre o direito natural o título de Política methodice digesta (1603), e
todas as obras sobre direito natural foram consideradas tratados de P. (v. DIREITO).
2a O segundo significado do termo foi exposto em Política de Aristóteles: "Está claro que existe uma ciência à qual
cabe indagar qual deve ser a melhor constituição: qual a mais apta a satisfazer nossos ideais sempre que não haja
impedimentos externos; e qual a que se adapta às diversas condições em que possa ser posta em prática. Como é
quase impossível que muitas pessoas possam realizar a melhor forma de governo, o bom legislador e o bom político
devem saber qual é a melhor forma de governo em sentido absoluto e qual é a melhor forma de governo em
determinadas condições" (Pol, IV, 1,1288 b 21). Neste sentido, segundo Aristóteles, a P. tem duas funções: Ia
descrever a forma de Estado ideal; 2a determinar a forma do melhor Estado possível em relação a determinadas
circunstâncias. Efetivamente, a P. como teoria do Estado seguiu o caminho utópico da descrição do Estado perfeito
(segundo o exemplo da República de Platão) ou o caminho mais realista dos modos e dos instrumentos para melhorar
a forma do Estado, o que foi feito pelo próprio Aristóteles numa parte de seu tratado. As duas partes, todavia, nem
sempre são facilmente distinguíveis e nem sempre foram distintas. Quando, a partir de Hegel, o Estado começou a ser
considerado "o Deus real" (v. ESTADO) e o caráter da divindade do Estado foi aceito pela historiografia, a P., enquanto
teoria do Estado, pretendeu ter caráter descritivo e normativo ao mesmo tempo.
POLÍTICA
774
POLITICISMO
Assim, Treitschke esboçava a sua tarefa no seguinte sentido: "A tarefa da P. é tríplice: em primeiro lugar deve
investigar, através da observação do mundo real dos Estados, qual é o conceito fundamental de Estado; em segundo
lugar, deve indagar historicamente o que os povos quiseram, produziram e conseguiram e por que conseguiram na
vida política; em terceiro lugar, fazendo isto, consegue descobrir algumas leis históricas e estabelecer os imperativos
morais" (Politik, 1897, intr.; trad. it., I, pp. 2-3). Como já na obra de Treitschke, a P. como teoria do Estado muitas
vezes foi teoria do Estado como/orf#, pois este é de fato o significado de qualquer divinização do Estado (v.).
3a A P. como arte e ciência de governo é o conceito que Platão expôs e defendeu em Político, com o nome de
"ciência regia" (Pol., 259 a-b), e que Aristóteles assumiu como terceira tarefa da ciência política. "Um terceiro ramo
da investigação é aquele que considera de que maneira surgiu um governo e de que maneira, depois de surgir, pôde
ser conservado durante o maior tempo possível" (Ibid., IV, 1, 1288 b 27). Foi este o conceito de P. cujo realismo cru
Maquiavel acentuou com as palavras famosas: "E muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram
vistos nem conhecidos como existentes. Porque é tanta a diferença entre como se vive e como se deveria viver, que
quem deixa o que faz pelo que deveria fazer aprende mais a arruinar-se do que a preservar-se, pois o homem que em
tudo queira professar-se bom é forçoso que se arruine em meio a tantos que não são bons. Donde ser necessário ao
príncipe que, desejando conservar-se, aprenda a poder ser não bom e a usar disso ou não usar, segundo a necessidade"
(Princ, XV). Neste sentido, Wolff definia a P. como "a ciência de dirigir as ações livres na sociedade civil ou no
Estado" ÍLog., Disc, § 65). Esta é a ciência ou a arte política à qual se faz referência mais freqüentemente no discurso
comum. Referindo-se justamente a este conceito, Kant dizia: "Embora a máxima 'A honestidade é a melhor P.'
implique uma teoria infelizmente desmentida com freqüência pela prática, a máxima igualmente teórica 'A
honestidade é melhorque qualquer F'.' é imune a objeções; aliás é a condição indispensável da P." iZum ewigen
Frieden, Apêndice, I). Hegel, por outro lado, dizia: "Já se discutiu muito sobre a antítese entre moral e P. e sobre a
exigência de a segunda conformar-se à primeira. Sobre isso cumpre
apenas notar, em geral, que o bem do Estado tem um direito completamente diferente do bem do indivíduo, e que a
substância ética, o Estado, tem sua existência, seu direito, imediatamente numa existência concreta, e não abstrata, e
que somente essa existência concreta (e não uma das muitas proposições gerais, consideradas como preceitos morais)
pode ser o princípio de sua ação e de seu comportamento. Aliás, a visão do suposto erro que sempre deve ser
atribuído à P. nesta suposta antítese baseia-se na superficialidade das concepções de moralidade, de natureza do
Estado e de suas relações do ponto de vista moral" (Fil. do dir., § 337). Estas palavras de Hegel outra coisa não são
senão a reiteração do princípio do ma-quiavelismo. O que Hegel chama de existência do Estado outra coisa não é
senão a realidade efetiva de Maquiavel, que a P. deveria sempre ter presente. Apesar de Hegel ter declarado superada
a antítese entre P. e moral, o conflito entre as duas exigências ainda está vivo na prática política e na consciência
comum, e as formas de equilíbrio, por elas alcançadas, ainda hoje são provisórias e instáveis.
4a Finalmente, o quarto significado de P. começou a ser usado a partir de Comte, e identifica-se com o de sociologia.
Comte deu o nome de Sistema deP. positiva (1851 -54) à sua obra máxima sobre sociologia, pois julgou que os
fenômenos políticos, tanto em coexistência quanto em sucessão, estão sujeitos a leis invariáveis, cujo uso pode
permitir influenciar esses mesmos fenômenos. Foi nesse sentido que G. Mosca entendeu por P. a ciência da sociedade
humana. Justificou esse termo da seguinte maneira: "Chamamos de ciência política o estudo das tendências acima
mencionadas ["leis ou tendências psicológicas constantes, às quais os fenômenos sociais obedecem"] e escolhemos
essa denominação porque foi a primeira a ser usada na história do saber humano, porque ainda não caiu em desuso e
também porque a nova denominação sociologia, adotada depois de Auguste Comte por muitos escritores, ainda não
tem significação bem determinada e precisa, compreendendo, no uso comum, todas as ciências sociais {Elementos de
ciência política, 1922,1, 1, § II). Mas neste sentido o termo hoje é impróprio.
POLITICISMO (fr. Politisme, ai. Politismus-it. Politicismò). A prevalência ou a excessiva importância que as
exigências políticas às vezes assumem na vida moderna, em detrimento
POLTTOMIA
775
POR SI
de outras exigências, como as científicas, artísticas, morais, religiosas, etc.
POLTTOMIA(fr. Polytomie, ai. Polytomie, it. Politomià). Divisão não dicotômica. Kant observa que a P. exige
intuição: ou a intuição a priori, como acontece com a matemática, ou a intuição empírica, como nas ciências naturais.
Em outros termos, a P. é sempre empírica, enquanto a dicotomia, por ser fundada no princípio da contradição, é a
priori (Logik, § 115).
POLTVALENTE, LÓGICA. V. TERCEIRO EXCLUÍDO, PRINCÍPIO DO.
POLTZETÊTICA. V. INTERROGAÇÃO MÚLTIPLA.
PONTE DOS ASNOS (lat. Pons asinorum; in. Asses' bridge, fr. Pontauxânes; ai. Eselsbrü-cke, it. Ponte degli
asint). Foi chamado deste modo, devido à aparente dificuldade, um diagrama construído pelo lógico Pedro Tartareto
(cuja atividade literária termina entre os anos 1480 e 1490), cujo fim era ajudar o estudante a encontrar o termo médio
entre as várias figuras do silogismo. Esse diagrama é registrado por Prantl (Geschichte der Logik, IV, p . 206). Por
vezes esse termo foi estendido, designando alguma dificuldade de um ensinamento ou doutrina.
PONTO (lat. Punctum; in. Point; fr. Point; ai. Punkt; it. Puntó). Ao lado do P. matemático e do P. físico, Leibniz
admitiu o P. metafísico, que é a substância espiritual como elemento constitutivo do mundo. Distinguia do seguinte
modo as três espécies de P.: "Os P. físicos são indivisíveis só aparentemente; os P. matemáticos são exatos, mas são
apenas modos; só os P. metafísicos ou de substância, constituídos pelas formas ou almas, são ao mesmo tempo exatos
e reais; sem eles não haveria nada de real porque nas verdadeiras unidades não haveria multiplicidade" (Système
nouveau de Ia nature, 1695, § 11). Os P. metafísicos não são outra coisa senão as mônadas (v.).
PÔR (gr. TtGfjvm; lat. Ponere, in. Posit; fr. Poser, ai. Setzen; it. Porre). Este verbo foi usado na linguagem
filosófica com dois diferentes significados: Ia asseverar ou assumir como hipótese; 2a P. como ser, produzir.
Ia O primeiro significado já era empregado por Platão e Aristóteles: o primeiro no sentido de estabelecer uma
hipótese (Teet., 191 c), o segundo no sentido de estabelecer uma premissa (An. pr., I, 1, 24 b 19) ou de admitir uma
tese (Top., II, 7, 113 a 28). Correspondentemente, a palavra posição vale genericamente como asserção, e Kant afirma
que a existência
pode ser posta, ou seja, asseverada ou reconhecida, mas não deduzida (Dereinzig mógli-che Beweisgrund zu einer
Demonstration des Daseins Gottes, I, § 2).
2a Este verbo foi usado por Fichte no sentido de pôr como ser, produzir ou criar: "O ser cuja essência consiste
puramente em pôr-se como existente é o Eu, como sujeito absoluto. E porque se põe, é; e porque é, põe-se. O Eu,
portanto, é absoluta e necessariamente para o Eu" (Wissenschaftslehre, 1794, § 1). Este uso é mantido por toda a
tradição do idealismo romântico e, em geral, por toda filosofia que identifique razão com realidade, portanto ato
lógico de P. com ato real de produzir.
POR ACIDENTE (gr. Karà o~ou|tepT|KÓç,; lat. Per accidens). Aquilo que é ou acontece sem conexão necessária
com o sujeito do acontecimento, como quando acontece um músico construir; com efeito, entre ser músico e ser
construtor não há conexão (cf. Aristóteles, Met., V, 7, 1017 a 10).
POR IMPOSSÍVEL. V. ABSURDO. PORÍSTICO (in. Poristic; fr. Poristique, ai. Poristie, it. Poristico). De
porisma = corolário. Este termo designa aquilo que é corolário ou concerne a um corolário.
POR SI (gr. Ka8'aí)"CÓ; lat. Per se, in. By itself; fr. Parsoi; ai. Fürsictí). O que existe em virtude da sua substância e
não por outra coisa; o que existe na consciência e pela consciência. Estes são os dois significados fundamentais do
termo, que remontam respectivamente a Aristóteles e a Hegel.
Aristóteles (Met., V, 18, 1022 a 24 ss.) enumerava cinco significados deste termo:
Ia Diz-se que uma coisa é por si o que ela é em virtude de sua essência necessária ou substância. P. ex., Cálias é por si
o que ele é substancialmente, isto é, homem;
2a Diz-se que uma coisa é por si o que ela é em virtude de uma parte de sua essência necessária, de uma parte de sua
definição (já que a definição expressa a essência necessária). Neste sentido, diz-se que Cálias é por si animal, porque
"animal" faz parte da definição de Cálias;
3e Em terceiro lugar, diz-se que uma coisa é por si o que ela é em virtude de uma de suas qualidades ou
determinações primárias. Neste sentido, diz-se que o homem é vivo por si, porquanto a vida é uma de suas
determinações primárias (sendo parte da alma, que é substância do homem);
\ Mi**"-.
•'•••'••' ' •
POSIÇÃO
. (<
776
.
POSITIVISMO
4a Diz-se por si o que não tem, ou do qual não se considera, uma coisa externa. Neste sentido, o homem é por si
enquanto homem, ou seja, porque sua causa é sua própria substância, e não porque ele é animal, bípede, etc; 5 a Diz-se
que é por si a coisa que é o que a ela pertence propriamente ou que pertence somente a ela. Neste sentido, pode-se
dizer que a alma pensa por si.
Estes cinco significados na realidade são todos integráveis no primeiro, segundo o qual se diz que é por si a coisa que
existe em virtude de sua substância. Com efeito, o 2a significado refere-se às partes da substância; o 3a significado
refere-se às qualidades ou determinações que derivam da substância; o 4S e o 5S significados referem-se à causalidade
própria da substância. O significado fundamental ou genérico, segundo o qual é por si o que é em virtude da sua
substância, é o mais freqüente na história da filosofia. Este é, p. ex., o significado da expressão atribuída a S. Tomás
de Aquino ou a Duns Scot. S. Tomás de Aquino afirma que "Deus é o próprio ser subsistente por si" {S. Th., I, q. 44,
a. 1), visto que o ser pertence à essência ou substância de Deus Ubid., I, q. 3, a. 4), e que a alma não pode corromperse porque é "forma subsistente por si" {Ibid., I, q. 75, a. 6). Duns Scot reserva o ser por si à forma total e perfeita que
compreende todas as partes, mas que não é parte {Quodl., q. 9, n. 17). Ambos os filósofos designam, portanto, como
por si o ser substancial, apesar de Duns Scot restringir o significado mais que S. Tomás de Aquino.
POSIÇÃO (gr. Bécriç; lat. Positia, in. Posit; fr. Position; ai. Setzung, Position; it. Posizioné). 1. Assunção não
demonstrada: Ia da premissa de um raciocínio; 2a da existência de alguma coisa. ls No primeiro sentido, o termo é
constantemente usado por Aristóteles (cf. An.post., I, 2, 72 a 15) e por toda a tradição lógica mesmo recente, na qual
às vezes é explicitamente redefinido (cf. H. REICHENBACH, The Rise of Scientific Philosophy, 1951, p. 240).
2a Kant foi o primeiro a distinguir P. relativa, que é o reconhecimento do ser predicativo (ser expresso pela cópula)
que põe em relação duas determinações de uma coisa, e a P. absoluta, que é o reconhecimento da existência da coisa.
Kant dizia: "Em um existente, nada é posto além do que já está no puro possível (trata-se com efeito de seus
predicados), mas através de um existente é posto algo mais que um puro possível, porque se trata da P. absoluta da
mesma coisa" {Der einzig mõgliche Beweis-grund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, 1763, § 3). Para Kant,
a P. é o reconhecimento (empírico) de uma existência. No idealismo romântico, a partir de Fichte, a P. foi entendida
como criação. Diz Fichte: "Aquilo cujo ser (ou essência) consiste apenas em pôr-se como existente é o Eu como
sujeito absoluto. Porque se põe, é; e porque é, põe-se" {Wissenschaftslehre, 1794, § 1). O conceito de P., neste
sentido, não se distingue do de criação. Volta a distinguir-se de criação em Husserl, para quem a P. é a afirmação da
existência do objeto intencional. Ele distinguiu P. atual, que se tem quando o objeto intencional está presente, da P.
potencial, que se tem quando ele não está presente ildeen, I, § 113). Husserl usa também o termo posicionalidade
(alemão Positionalitát) para indicar em geral o caráter, comum a todas as vivências, de pôr o objeto intencional
(como existente, desejado, ou pretendido, etc). Às vezes são chamados de P. os próprios objetos físicos não definíveis
em termos de experiência, mas reconhecidos como existentes apenas como intermediários úteis entre a experiência e
a linguagem (QUINE, From a Logical Point of View, II, 6).
2. Na lógica terminista medieval, uma obrigação (v.), mais precisamente a que consiste em sustentar uma proposição
como verdadeira (Ockham, Summa log., III, III, 40).
POSITIVISMO (in. Positivism; fr. Positivis-me, ai. Positivismus; it. Positivismo). Este termo foi empregado pela
primeira vez por Saint-Simon, para designar o método exato das ciências e sua extensão para a filosofia {De Ia religion Saint-Simonienne, 1830, p. 3). Foi adotado por Augusto Comte para a sua filosofia e, graças a ele, passou a
designar uma grande corrente filosófica que, na segunda metade do séc. XIX, teve numerosíssimas e variadas
manifestações em todos os países do mundo ocidental. A característica do P. é a romantização da ciência, sua
devoção como único guia da vida individual e social do homem, único conhecimento, única moral, única religião
possível. Como Romantismo em ciência, o P. acompanha e estimula o nascimento e a afirmação da organização
técnico-industrial da sociedade moderna e expressa a exaltação otimista que acompanhou a origem do industrialismo.
É possível distinguir duas formas históricas fundamentais do P.: o P. social de Saint-Simon, Comte e John Stuart
Mill, nascido da exigência
POSITIVISMO JURÍDICO
|IIBLI0TECA GiWTIJi]
POS-PREDICAMENTOS
de constituir a ciência como fundamento de uma nova ordenação social e religiosa unitária; e o P. evolucionista de
Spencer, que estende a todo o universo o conceito de progresso e procura impô-lo a todos os ramos da ciência (para o
positivismo evolucionista, v. EVOLUCIONISMO). As teses fundamentais do P. são as seguintes:
1- A ciência é o único conhecimento possível, e o método da ciência é o único válido: portanto, o recurso a causas ou
princípios não acessíveis ao método da ciência não dá origem a conhecimentos; a metafísica, que recorre a tal
método, não tem nenhum valor.
2a O método da ciência é puramente descritivo, no sentido de descrever os fatos e mostrar as relações constantes entre
os fatos expressos pelas leis, que permitem a previsão dos próprios fatos (Comte); ou no sentido de mostrar a gênese
evolutiva dos fatos mais complexos a partir dos mais simples (Spencer).
3a O método da ciência, por ser o único válido, deve ser estendido a todos os campos de indagação e da atividade
humana; toda a vida humana, individual ou social, deve ser guiada por ele.
O P. presidiu à primeira participação ativa da ciência moderna na organização social e constitui até hoje uma das
alternativas fundamentais em termos de conceito filosófico, mesmo depois de abandonadas as ilusões totalitárias do
P. romântico, expressas na pretensão de absorver na ciência qualquer manifestação humana.
POSITIVISMO JURÍDICO (in. Juridical positivism; fr. Positivismejuridique, it. Positivismo giurídicó). Foi esse o
nome que Hans Kel-sen deu à sua doutrina formalista do direito e do Estado {General Theory ofLaw and State, 1945;
cf. especialmente o apêndice "A doutrina do direito natural e o P. jurídico") (v. DIREITO,-ESTADO).
POSITIVISMO LÓGICO (in. Logical Positivism; fr. Positivisme Logique, ai. Neuposi-tivismus; it. Positivismo
lógico). (V. EMPIRISMO
LÓGICO.)
POSITIVO (in. Positive, fr. Positif, ai. Po-sitiv, it. Positivo). 1. O que é posto, estabelecido ou reconhecido como um
fato. Leibniz chamava de "verdades P." as verdades de fato, que se distinguem das verdades de razão porque
constituem "leis que aprouve a Deus dar à natureza" {Théod., Discours, § 2). No mesmo sentido, fala-se em religião
P. como religião
estabelecida de fato, que vigora como um complexo de instituições históricas, ao contrário da religião natural, que
pode não vigorar de fato. Fala-se de direito P. como direito vigente em determinado Estado, em contraposição ao
direito natural, que pode não ter validade de fato. As expressões "fato P." e "realidade P." têm valor análogo porque
designam o fato ou a realidade reconhecida ou reconhecível como tal em virtude de um método objetivo. Portanto,
nesta acepção, o significado fundamental do termo é aquilo que vigora de fato ou tem realidade efetiva. Comte
expressava esse significado ao afirmar: "Considerada na sua acepção mais antiga e mais comum, a palavra P. designa
o que é real em oposição ao que é quimérico" {Discours sur Vesprit positif, § 31)- O positivismo chamou de P. o
método da ciência porque visa ao reconhecimento puro e simples dos fatos e de suas relações (v. POSITIVISMO). Em
sentido não diferente deste, Schelling chamou de P. o conhecimento que considera o ato com que a realidade é posta.
Distinguiu as condições negativas do conhecimento, que são aquelas sem as quais o conhecimento não é possível, das
condições P., que são aquelas graças às quais o conhecimento se realiza. As primeiras são as formas racionais do ser e
dizem o que o ser pode ou deve ser; as segundas expressam a existência e consistem substancialmente na vontade de
Deus de manifestar-se {Werke, II, III, pp. 57 ss.).
2. O mesmo que afirmativo. Neste sentido, o termo recorre em locuções como "declarações P." ou "notícias P.", ou
mesmo para designar doutrinas que caracterizem seus objetos com afirmações, e não com negações; p. ex., "teologia
P.", em oposição a teologia negativa; "existencialismo P.", etc.
3. O mesmo que positivista, no sentido em que, a partir de Comte, se diz "filósofos positivos".
PÓS-PREDICAMENTOS (gr. LIETÒ tàc, KOCTriTopíaç; lat. Postpredicaments, in. Postpredi-caments; fr. Postprédicaments, ai. Postprãdi-kamente, it. Postpredicamenti). Começaram a ser chamados com este termo pelos
glosadores de Aristóteles (p. ex., por Filópono, séc. VI em Cat., 39 a, 33) os conceitos que Aristóteles anunciou
depois das categorias, no livro que tem este nome; são eles: de oposição {oppo-sito), de prioridade {prius), de
simultaneidade {simul), de movimento {motus) e de ter {ha-
'• "M.f* :*
POSSE
778
POSSÍVEL
beré) {Cat., 10-15). Para estes conceitos, v. os verbetes relativos.
POSSE (in. Possession; fr. Possession; ai. Besitz-, it. Possessó). 1. Alguma garantia da possibilidade de dispor de
uma coisa ou de usá-la. Este é o conceito de Kant: "O que é meu de direito {meum júris) é aquilo a que estou tão
ligado que o seu uso por outra pessoa, sem o meu consentimento, se daria em meu prejuízo. A P. é a condição
subjetiva da possibilidade de uso em geral" {Met. der Sitten, I, § 1). A noção de P., portanto, diz respeito à relação
entre o homem e as coisas, e expressa certa garantia (que pode ter significados e limites muito diferentes) da
possibilidade de uso que determinado indivíduo tem em relação a determinada coisa. E imprópria a noção de P. com
referência às relações entre as pessoas.
2. Na significação mais generalizada, esse termo designa qualquer relação predicativa e existencial; dizemos, p. ex.,
"A coisa x possui a qualidade a" ou "O objeto x possui existência". Neste sentido, o uso do termo corresponde ao que
se encontra em Aristóteles, em oposição a privação (cf. Met., X, 4, 1055 a 33) (V. PRIVAÇÃO).
POSSIBILIDADE. V. POSSÍVEL.
POSSÍVEL (gr. TO fruvoaóv; lat. Possibilis; in. Possible, fr. Possible, ai. Mõglich; it. Possibilé). O que pode ser ou
não ser. Esta definição nominal geralmente é pressuposta pelas definições conceptuais desse termo, mas só estas
últimas permitem tratar dos problemas peculiares a essa noção. As definições conceptuais de possível podem ser: A)
negativas (de natureza lógica); B) positivas. Por sua vez estas últimas podem ser Ia de possibilidade real; 2° de
possibilidade objetiva. As três classes de definições daí resultantes correspondem quase perfeitamente às três espécies
de P. distinguidas por Aristóteles em Metafísica: "O P. significa: 1Q o que não é necessariamente falso; 2- o que é
verdadeiro; 3Q o que pode ser verdadeiro" {Met., V, 12, 1019 b 30).
I9 As definições negativas de P. são de natureza lógica; definem o P. como aquilo que não é necessariamente falso ou
não inclui contradição. Era com esse sentido que Aristóteles definia o P. no trecho citado. Este conceito passou à
tradição filosófica com a denominação de "P. lógico", distinto do "P. real". S. Tomás de Aqui-no chama-o de "P.
absoluto" e diz que resulta ex habitudine terminorum, isto é, da não repugnância entre predicado e sujeito (5. Th., I,
q. 25, a. 3). Duns Scot chama-o de P. lógico, considerando-o próprio da "composição do intelecto", porquanto os
termos desta não incluem contradição {Op. Ox., I, d. 2, q. 6, a. 2, n. 10). Ockham julga que o P., neste sentido, outra
coisa não é senão o não-impossível {Summa log., II, 25). Foi este o conceito ressaltado por Leibniz: "Quando vos
digo que há uma infinidade de mundos P., pressuponho que não impliquem contradições, assim como se podem
escrever romances que nunca se realizarão, mas que são possíveis. Para que uma coisa seja P., basta que seja
inteligível" {Carta aBourguet, 1712, em Op., ed. Gerhardt, III, p. 558). Neste sentido, Leibniz distinguia o P. do
compossível(y), que é a possibilidade objetiva. A noção de P. neste sentido continua na escola wolffista (Wolff, Ont.,
§ 85; Crusius, Vernunft-wahrheiten, § 56; Lambert, Dianoiologie, % 39); Kant considerava-a válida em seus limites,
mas opunha-lhe a noção de possibilidade objetiva {Dereinzig mógliche Beweisgrund zu einerDe-monstration des
Daseins Gottes, 1763, II, 1).
As duas teses fundamentais desta noção do P. são as seguintes: I) redução do P. ao não-impossível; II) inferência do
P. a partir do necessário, no sentido de que o necessário deve ser possível. Trata-se de dois princípios estreitamente
interligados. Aristóteles enunciou-os pela primeira vez no famoso tratado sobre o P., que se encontra em De
interpretatione. O necessário deve ser P. — raciocinou Aristóteles — porque, se não fosse P., seria impossível, o que
é contraditório {De int., 13, 22 b 28 ss.). A identificação do P. com o não-impossível já está clara nesse raciocínio,
mas em todo caso tornou-se explícita com Aristóteles. Ele observa que, tanto no caso de possibilidades pertencentes a
entes imutáveis quanto de possibilidades pertencentes a entes mutáveis, é sempre verdadeira a proposição "não é
impossível que seja" {De int., 13, 23 a 13). A mesma doutrina era repetida por S. Tomás de Aquino, que, no entanto,
se restringia explicitamente ao P. lógico {Contra Gent., III, 86). As mesmas teses estão presentes nas doutrinas
contemporâneas sobre o P. Peirce diz: "É essencial ou logicamente P. tudo que uma pessoa, que não conhece fatos
mas está a par do raciocínio e tem familiarida-de com as palavras que ele contém, seja incapaz de declarar falso"
{Coll. Pap., 4, 67). Aqui a noção de falso substituiu a de contraditório, mas o P. continua sendo reduzido àquilo que
não é falso. Carnap, por sua vez, define o P. como o
POSSÍVEL
779
POSSÍVEL
"não impossível" (Meaning and Necessity, § 39-3)- Essa é a definição mais freqüente na lógica contemporânea.
Obviamente, a noção de P. neste sentido implica um conceito bem definido de impossibilidade, isto é, da contradição
ou falsidade lógica. Mas este conceito não parece estar à disposição dos lógicos, visto o seu desacordo sobre a noção
contrária e complementar de impossibilidade, que é a noção de necessidade (v.).
2a A definição de P. como possibilidade real identifica o P. com o potencial (v.) e vê no potencial o que se destina
infalivelmente a realizar-se. Foi graças a essa interpretação que Deodoro Cronos, famoso filósofo de Mégara,
afirmava, com o argumento vitorioso (v.), que tudo o que é P. se realiza, e o que não se realiza não é P.
(ARISTÓTELES, Met., 9, 3, 1046 b 24 ss.; EPICTETO, Diss., II, 19,1; CÍCERO, De fato, 6 ss.). Deodoro Cronos inferia
deste princípio a tese da necessidade de tudo o que é: nada do que foi, é ou será, pôde ser, pode ou poderá ser
diferente de como foi, é ou será. Mas o próprio Aristóteles, que combatia a tese de Deodoro Cronos baseando-se nos
outros significados de P., às vezes admitia a tese fundamental desta concepção de possibilidade: "Não pode ser
verdade que alguma coisa é P. mas não será, pois neste caso não existiriam impossibilida-des" (Met., IX, 4, 1047 b 3).
Esta concepção do P. foi acolhida pela Escolástica árabe a partir de Avicena. A divisão de Avicena entre o ser
necessário e o ser P. é na verdade a divisão entre aquilo que extrai seu ser de si mesmo (Deus) e aquilo que extrai seu
ser de outro (as coisas criadas). Deste ponto de vista, o P. é possível enquanto não é nada; assim que começa a ser,
este é o sinal de que estão presentes todas as condições ou causas do seu ser, e ele tornou-se necessário: no sentido de
necessário em relação a outra coisa (Met., II, 1-2; Algazel, Met., I, 8; etc). Este "necessário em relação a outra coisa"
era o contingente (v.).
Esta doutrina foi repetida muitas vezes na história da filosofia. Uma de suas melhores expressões está em Hobbes:
"Chama-se de impossível o ato para cuja produção nunca haverá potência plena. Pois a potência plena é aquela para a
qual concorrem todas as condições necessárias à produção do ato; se nunca houver a potência plena, sempre faltará
alguma das condições sem as quais o ato não pode produzir-se, de tal modo que esse ato nunca poderá produzir-se,
portanto será um ato impossível. O ato que não é impossível, é possível. Portanto, todo ato P. deve verificar-se de tempos em tempos: se
nunca se verificasse, nunca concorreriam todas as condições necessárias à sua produção, e ele seria então, por
definição, um ato impossível, o que contraria a hipótese" (De corp., 10, § 4). Esta elaboração do conceito de P. outra
coisa não é senão a repetição do argumento vitorioso de Deodoro Cronos, que reaparece toda vez que se reduz o P. a
uma potencialidade, na qual devam estar presentes todas as condições de realização, estando, pois, destinada
infalivelmente a realizar-se. Este é o conceito de P. encontrado em Hegel, que distinguia possibilidade real e mera
possibilidade; esta seria "a vã abstração da reflexão em si", ou seja, uma simples representação subjetiva, ao passo
que se tem a possibilidade real quando ocorrem todas as condições de uma coisa, de tal maneira que a coisa deve
tornar-se real; é óbvio que, neste caso, possibilidade real não se distingue de necessidade (Ene, § 147). A noção de
possibilidade real neste sentido é freqüentemente empregada pelos seguidores de Hegel, sejam eles idealistas ou
marxistas. Muitas vezes esta noção foi empregada para designar a predeterminação dos eventos históricos em suas
condições, portanto para fundamentar a possibilidade de previsão infalível da evolução futura da história. Foi deste
modo que G. LUKÁCS usou esse conceito (Geschichte und Klassenbewusstsein, 1923; trad. fr., 1960, p. 104 ss.). Com
o mesmo significado de potencialidade, esse conceito está pressuposto num livro de S. Buchanan, em que a
possibilidade é definida como "a idéia reguladora da análise do todo em suas partes", sendo as partes definidas como
"a potencialidade do todo" (Pos-sibility, 1927, pp. 81 ss.).
Finalmente, o último exemplo deste conceito é a denominada "lei modal fundamental" de N. Hartmann, que
compreende as seis teses seguintes: "Ia o que é realmente P. é também realmente factível; 2- o que é realmente
factível é também realmente necessário; 3a o que é realmente P. é também real e reciprocamente necessário; 4 a aquilo
cujo não ser é realmente P. é também realmente infactível; 5 a o que é realmente infactível é também realmente
impossível; 6a aquilo cujo não ser é realmente possível é também realmente impossível" (Móglichkeit und
Wirklichkeit, 1938, p. 126). Estas teses não passam de redução explícita do conceito de possibilidade real no conceito
de necessidade:
POSSÍVEL
780
POSSÍVEL
redução à qual na verdade não poderíamos objetar.
Faz parte desta noção do P. a redução do conceito de P. à ignorância ou à imaginação postfactum. O
primeiro caminho foi seguido por Spinoza: "Chamo de P. as coisas singulares, porquanto, considerando
as causas pelas quais devem ser produzidas, ignoramos se elas estão determinadas a produzi-las" {Et., IV,
def. 4; CogitMet., I, 3). O segundo caminho foi seguido por Bergson: "O P. é a miragem do presente no
passado; e como sabemos que o futuro acabará por tornar-se presente e que o efeito da miragem
continuará a produzir-se, dizemos que em nosso presente atual, que será o passado de amanhã, a imagem
do amanhã já está contida, apesar de não chegarmos a alcançá-la. Nisso está precisamente a ilusão" ("Le
Possible et le réel", 1930, em Lapenséeetle mouvant, 3a ed, 1934, p. 128).
3B O terceiro conceito de P. é de possibilidade objetiva, que remonta a Platão. A possibilidade de agir ou
de sofrer uma ação foi assumida por Platão como a definição do ser em geral (V. SER), contra os
materialistas, por um lado, e contra os idealistas, por outro. "Digo que é existente tudo aquilo que tem por
natureza a possibilidade de fazer uma coisa qualquer ou de sofrer uma ação (inclusive tudo o que existe
em medida mínima e por uma vez só, e com respeito à coisa mais insignificante). Por isso, faço a seguinte
definição: os entes não são outra coisa senão possibilidades" (Sof., 247 e). Aristóteles definia a
possibilidade neste sentido como "aquilo que pode ser verdadeiro" (Met., V, 12, 1019 b 32). E S. Tomás
de Aquino defendia essa possibilidade contra o neces-sitarismo árabe: "O P. ou contingente, que se opõe
ao necessário, tem em seu conceito que não deve realizar-se necessariamente quando não é, visto que ele
se segue necessariamente da sua causa" (Contra Gent., III, 86). Ockham incluía o mesmo conceito entre
os significados do termo P., como "aquilo que não está em ato, mas poderá estar", ou que "não é nem
necessário nem impossível" (Summa log., II, 25). O conceito de compossível(v), de Leibniz, é outra
expressão dessa mesma noção de possibilidade, defendida por Kant já antes de suas "Críticas", quando,
opondo-se à escola wolffista, ele mostrava a insuficiência do conceito de possibilidade lógica: "Existir
possibilidade e no entanto não existir nada de real é contraditório, porque, se nada existe, nada de
pensável é dado, e estaremos em contradição se ainda quisermos que haja alguma coisa de P." (Dereinzig
móglicheBeweisgrundzu einer Demonstration des Daseins Gottes, I, 2, 2). Ou, em outros termos,
"subtraindo-se do P. o material e os dados, também se nega a possibilidade" (Ibid., I, 2, 3). Aqui, Kant
parece negar até mesmo a legitimidade da noção de P. lógico. Em outro ponto, admite também esta
possibilidade: "O conceito é P. todas as vezes que não se contradiz. É este o caráter lógico da
possibilidade, e com isso o seu objeto é distinto do nihil negativum. Mas não pode ser um conceito vazio.
(...) Esta é uma advertência a não deduzir imediatamente a possibilidade (real) das coisas da possibilidade
(lógica) dos conceitos" (Crít. R. Pura, Dialética, II, cap. 3, seç. 4, n. [A 597, B 625D. A possibilidade
objetiva ou real baseia-se, então, nos dados da experiência e é uma possibilidade que só a experiência, e
não o simples conceito, autoriza a admitir. Todavia, não se trata de uma possibilidade real no sentido de
que falamos ao ne 2, isto é, de uma potencialidade destinada infalivelmente a realizar-se: "As proposições
de que as coisas podem ser P. sem ser reais e que, portanto, não se pode deduzir a realidade a partir da
possibilidade ajustam-se à razão humana" (Crít. do Juízo, § 76). Kant chama de real ou transcendente a
possibilidade que se baseia nos dados da experiência, mas não a identifica com a necessidade: ela só
significa que ao conceito pode corresponder um objeto (Crít. R. Pura, Anal. dos Princ, cap. III [A 244, B
3031).
Se Kant insistia na conexão do P. objetivo com a experiência, Kierkegaard insistia, em polêmica com
Hegel, na indeterminação do P. Respondendo negativamente quando lhe perguntaram se o passado era
mais necessário que o futuro, Kierkegaard afirmou que o P. não se toma necessário pelo fato de realizarse, mas que permanece P.: "O passado não é necessário no momento em que devêm; não se tornou
necessário por devir (o que seria uma contradição); e torna-se ainda menos necessário através do
entendimento da pessoa". Neste caso, com efeito, o passado ganharia o que o intelecto perdesse: não seria
entendido pelo que é, mas por uma outra coisa (PhilosophischeBroken, IV, Intermédio, § 4; trad. fr., pp.
162 ss.). Toda a especulação de Kierkegaard baseia-se nessa noção de possibilidade objetiva e
indeterminada, com a qual esclarece as noções de angústia (v.) e de desesperança (v.). No entanto,
POSSÍVEL
781
POSSÍVEL
Kierkegaard às vezes utiliza expressões que não são rigorosamente compatíveis com a indeterminação objetiva das
possibilidades, como p. ex. "Tudo é P." ou "todas as possibilidades". Considerando as possibilidades como infinitas,
acaba-se por excluir sua indeterminação e limitação: de fato, o que falta a uma delas para realizar-se infalivelmente
pode ser suprido pelas outras, se elas forem infinitas; as possibilidades transformam-se, então, em potencialidades
necessárias.
Na filosofia contemporânea, porém, o conceito de possibilidade objetiva é entendido no seu sentido empiricamente
determinado e finito. Peirce fala em "possibilidades substanciais" (em oposição às possibilidades lógicas), como as
que se fundam em informações referentes aos fatos e a suas leis; e diz que tais possibilidades coincidiriam com a
necessidade só na hipótese de uma informação onisciente (Coll. Pap., 4, 67). Dewey entende a possibilidade, no
âmbito da matemática e, em geral, da investigação científica, como possibilidades de operações ou de
transformações {Logic, XV e XX, 3). Wittgenstein afirma que possibilidade é o que se expressa por uma proposição
sensata, que se distingue da tautologia, que é a proposição da lógica ou da matemática, que "nada diz", e da
contradição {Tractatus, 5, 525). Em outros termos, para Wittgenstein, a proposição sensata é apenas a expressão da
possibilidade de um fato. Lukasiewicz e Tarski formularam os princípios de uma lógica da P., cujo fim seria evitar o
determinismo (v. os textos citados em TERCEIRO EXCLUÍDO, PRINCÍPIO DO). Reichenbach, por sua vez, distinguiu da
possibilidade lógica a possibilidade física e a possibilidade técnica: a primeira significa algo que não contradiz as leis
empíricas; a segunda, algo que pertence ao reino dos métodos práticos conhecidos ("Verifiability, Theory of
Meaning", em Proceedings of the American Academy ofArts and Sciences, 1951, [80a, p. 53). Além disso, pôs a
possibilidade física como fundamento da probabilidade {Theory ofProbability, § 74). Mas está claro que esse ponto
de vista pode ser generalizado, e que só se pode identificar uma possibilidade objetiva em contextos particulares, ou
seja, com base em condições e regras vigentes em determinado campo. P. ex., no que diz respeito ao homem, a
possibilidade física que ele tem de realizar determinada ação não coincide necessariamente com as possibilidades
jurídicas
ou morais que lhe são oferecidas pelo sistema social em que vive.
Muitas das possibilidades que seu organismo físico permitem efetivar são-lhe obstadas pelas normas jurídicas e
morais. Portanto, para cada possibilidade objetiva é indispensável a referência a um contexto de condições e de regras
técnicas determinadas, e falar-se em possibilidade sem especificar esse contexto só pode dar ensejo a equívocos.
Aliás, o mesmo se pode dizer das ciências: uma possibilidade ló-gico-matemática nem sempre é uma possibilidade
física, ou seja, passível de efetivação com base em leis da física, e assim por diante (cf. J. R. LUCAS, The Concept
ofProbability, 1970, p. 6 e passim).
No campo da metodologia historiográfica, a noção de possibilidade objetiva foi considerada indispensável por Max
Weber (Kritische Studien aufden Gebiet der Kulturwissenscha-ftlichen Logik, 1906; cf. especialmente a segunda
parte; trad. in., em The Methodology of the Social Sciences, pp. 164 ss.; trad. it. em II método delle scienze storicosociali, pp. 207 ss.) sendo empregada também em obras mais recentes (p. ex., W. DRAY, Laws and Explana-tion in
History, 1957, VI, 3; cf. HISTÓRIA; HISTORIOGRAFIA). NO campo das ciências biológicas, essa noção foi utilizada por
Gold-stein {Der Aufbau des Organismus, 1934; trad. fr. 1951) e tende a ser utilizada no domínio psiquiátrico (cf., p.
ex., M. TORRE, "La categoria dei possibile in psicopatologia", em Note e Riviste dipsichiatria, 1957). Além disso, a
genética e a teoria da evolução utilizam constantemente esse conceito, designando-o às vezes com outro nome (p. ex.,
com o nome de oportunidade, cf. G. SIMPSON, The Meaning of Evolution, cap. XII, "The Opportunism of Evolution"). Na sociologia, os conceitos que, implícita ou explicitamente, recorrem à noção do P. são os mais numerosos.
Lévy-Bruhl falou do "limite do P." como constitutivo da experiência racional, por isso como deficiente ou ausente na
mentalidade primitiva {Les carnets, 1949; trad. it., p. 98 ss.). Toda a teoria da probabilidade, seja qual for a sua
interpretação, baseia-se nessa noção de P. (cf., p. ex., REICHENBACH, Theory of Probability, § 74; e POPPER, que fala
da probabilidade como "vector no espaço das possibilidades"; v. PROBABILIDADE). Finalmente, é quase supérfluo
lembrar a importância que a noção de possibilidade objetiva tem na filosofia existencialista, em que constitui o
principal
POST HOC ERGO PROPTER HOC
782
POTÊNCIA
instrumento de análise (v. EXISTENCIALISMO). Está claro que, de acordo com esta terceira interpretação, o oposto de P.
não é impossível, mas não-possível.
POST HOC ERGO PROPTER HOC. Célebre falácia (v.) que constitui um caso particular da falácia non causapro
causa (cf. ARISTÓTELES, El. sof, 5, 167 b); esta consiste em estabelecer uma conexão causai, portanto necessária, com
base numa conexão meramente acidental ou secundária. No caso de post boc ergo propter hoc, o sofisma consiste em
estabelecer uma conexão de causa e efeito entre Ae Bpelo simples fato de B vir depois de A.
G.
P.
POSTULADO (gr. aixr|u.a; lat. Postulatum; in. Postulate, fr. Postulai; ai. Postulai; it. Pos-tulató). Em geral, uma
proposição que se admite ou cuja admissão se deseja, com o fim de possibilitar uma demonstração ou um
procedimento qualquer. Esse termo nasceu na matemática e é elucidado por Aristóteles em correlação com
axioma(v.). Enquanto os axiomas são evidentes por si e têm de ser admitidos necessariamente, mesmo não sendo
demonstráveis, o P., apesar de demonstrável, é assumido e utilizado sem demonstração. Além disso, o P. é uma
proposição ainda não admitida ou aceita por aquele a quem é endereçada (senão seria inútil pedir-lhe que a
admitisse); nisso difere da hipótese (v.), que também é uma proposição demonstrável, não demonstrada, mas
considerada verdadeira por aquele a quem é dirigido o discurso {An. post., 10, 76 b 24 ss.). A distinção entre axioma
e P. foi adotada por Euclides em seus Elementos, enquanto os axiomas expressam verdades evidentes e são chamados
por Euclides de noções comuns, os P. expressam o que se propõe ser admitido e concernem à existência de
determinados elementos geométricos. A distinção entre P. e axioma deixou de ser usada na lógica e na matemática
moderna (v. AXIOMÂTICA).
Kant chamou de "P. do pensamento empírico" os princípios correspondentes a priori às categorias da modalidade,
segundo os quais é possível tudo o que está de acordo com as condições formais da experiência (intuições puras e
categorias); o que está de acordo com as condições materiais da experiência (com as sensações) é real; e aquilo cuja
conexão com a realidade é determinada segundo as condições universais da experiência é ou existe necessariamente
(Crít. R. Pura, Anal. dos princ, cap. II, seç. III, 4) Depois, chamou de "P. da razão prática" as condições que tornam possível a moralidade, isto é, a liberdade, a imortalidade e a existência de Deus (Crít.
R. Prática, Dialética, seç. II).
POTÊNCIA (gr. 5óvau.tç; lat. Potentia, in. Power, fr. Puissance, ai. Vermõgen; it. Poten-zá). 1. Em geral o princípio
ou a possibilidade de uma mudança qualquer. Esta foi a definição do termo dada por Aristóteles, que distinguiu este
significado fundamental em vários significados específicos, mais precisamente: a) capacidade de realizar mudança
em outra coisa ou em si mesmo, que é a P. ativa; b) capacidade de sofrer mudança, causada por outra coisa ou por si
mesmo, que é a P. passiva; c) capacidade de mudar ou ser mudado para melhor e não para pior; d) capacidade de
resistir a qualquer mudança (Met., V, 12, 1019 a 15; IX, 1, 1046 a 4). Estas distinções praticamente não mudaram ao
longo da tradição filosófica (v. ATO). A tradição medieval repetiu-as sem variações, e, ainda no séc. XVIII, Wolff as
repetia em fórmulas epigráficas que em nada mudam os velhos conceitos (Ont., 1729, § 716). Mesmo Locke, em sua
famosa análise dessa noção, não lhe altera o conceito (Ensaio, II, 21, 1).
O conceito, todavia, implica uma ambigüidade fundamental porque pode ser entendido: A) como possibilidade; B)
como preformação e portanto predeterminação ou preexistência do atual. Em Aristóteles e em todos aqueles que
seguem a metafísica aristotélica, ambos os significados estão presentes e muitas vezes são confundidos. Assim,
quando Aristóteles defende o conceito da potência contra a negação do mesmo feita por Deodoro Cronos (v.
POSSIBILIDADE), entende a P. no sentido A), ao passo que, ao afirmar "que não pode ser verdade dizer que algo é
possível mas não será" (Met., IX, 4, 1047 b 3), ou ao afirmar a superioridade do ato sobre a P., com base no princípio
de que sem o ato a P. não existiria (o ovo não existiria sem a galinha), está entendendo a P. como preformação e
predeterminação, e considerando-a como um modo de ser menor ou preparatório do ato (Ibid., IX, 8, 1049 b 4).
Confusão análoga acha-se no ensaio de Bergson "O possível e o real" (1930), pois nele Bergson, rejeitando o conceito
de possível como "não-im-possível", ou seja, como "não impedido de ser", identifica-o no entanto com o de potencial
e considera o potencial como "a miragem do presente no passado" (La pensée et le mouvant, 3a ed., 1934, pp. 12830). Visto
POTENCIAÇÃO, LÓGICA DA
783
PRAGMÁTICO
que o conceito de potencial faz constante referência à atualidade ou realidade, enquanto o de possível não possui
necessariamente essa referência, as noções de preformação, preexistência e predeterminação podem ser consideradas
estreitamente conexas com a de potência.
2. Faculdade ou poder da alma (v. FACULDADE).
3. Domínio ou predomínio, como na expressão "vontade de P.".
POTENCIAÇÃO, LÓGICA DA. Tentativa de lógica simbólica, que consiste em eliminar as leis de tautologia e de
absorção e em introduzir os símbolos de potência e de coeficiente. Este tipo de lógica deveria fundar-se no princípio
de que qualquer relação modifica os entes relativos, contrário ao princípio habitualmente admitido pela lógica
simbólica contemporânea (cf. P. Mosso, Principi di lógica dei P., Turim, 1924; A. PASTORE, La lógica dei P.,
Nápoles, 1936).
POVO (lat. Populus; in. People, fr. Peuple, ai. Volk, it. Popoló). Comunidade humana caracterizada pela vontade dos
indivíduos que a compõem de viver sob a mesma ordenação jurídica. O elemento geográfico não é suficiente para
caracterizar o conceito de P.; como dizia Cícero, "P. não é uma aglomeração qualquer de homens, reunidos de
qualquer maneira, mas uma aglomeração de gente associada pelo consentimento ao mesmo direito e por comunhão de
interesses" (Rep., I, 25, 39). Portanto, ao P. contrapõe-se a plebe, que é o conjunto das pessoas que, mesmo vivendo
com o P., participam da mesma ordenação jurídica. Por outro lado, o conceito de P. distingue-se do de nação (v.)
porque este contém um conjunto de elementos necessitantes que se somam à noção de destino comum, ao qual os
indivíduos não podem subtrair-se legitimamente. O conceito de nação começou a formar-se a partir do conceito de P.
quando, com Montesquieu, começaram a ser ressaltadas as causas naturais e tradicionais (clima, religião, tradições,
usos e costumes, etc.) que contribuem para formar o que Montesquieu chamou de "espírito geral" ou "espírito da
nação" (Esprit des lois, XIX, 4-5). A diferença entre P., nação e plebe era estabelecida com bastante clareza por Kant
{Antr., II, O Caráter do povo), mas o conceito de P. era confundido muitas vezes com o de nação no nacionalismo do
séc. XIX (v. NACIONALISMO; ESPÍRITO NACIONAL).
PRAGMÁTICA (in. Pragmatics, fr. Pragmatique, ai. Pragmatik, it. Pragmática). Uma das partes da semiótica (v.), mais precisamente a que compreende o
conjunto de investigações que têm por objeto a relação dos signos com os intérpretes, ou seja, a situação em que o
signo é usado. Esse aspecto da semiótica já havia sido ressaltado por C. S. Peirce, Ogden e Ri-chards, mas foi
principalmente Morris que considerou a P. como parte integrante da semiótica; seu ponto de vista é amplamente
aceito na lógica contemporânea (cf. C. MORRIS, Foun-dations of the Theory of Signs, 1938, cap. V; CARNAP,
Foundations of Logic and Mathe-matics, 1939, § 2). As outras partes da semiótica são semântica e sintaxe (v.).
PRAGMÁTICO (gr. TipaTLia-UKÓÇ; in. Prag-matic, fr. Pragmatique, ai. Pragmatiscb; it. Pragmático). Esse
adjetivo foi usado pela primeira vez por Políbio, para quem há nítida distinção entre a história "P.", que cuida dos
fatos, e a história que se ocupa das lendas, como a que fala da genealogia das famílias e da fundação das cidades (IX,
1, 4). Políbio acrescenta também que a história P. é a mais útil para ensinar como o homem deve proceder na vida
social. Depois, esse adjetivo foi usado com freqüência na história política, especialmente alemã, a propósito de
decisões constitucionais cujo caráter deveria ser ressaltado, sendo então chamadas de "sanções P.". Kant dizia:
"Chamam-se P. as sanções que não derivam propriamente dos direitos dos Estados considerados como leis
necessárias, mas de compromisso para com o bem-estar geral. Uma história é composta pragmaticamente quando nos
toma prudentes, vale dizer, quando ensina à sociedade de hoje a maneira de obter mais benefícios que a sociedade de
ontem, ou pelo menos tantos benefícios quanto ela obteve" (Grund-legung zur Met. der Sitten, II, Nota). Kant chama
também de P. os imperativos hipotéticos da prudência que visam ao bem-estar ilbid., II, Nota). Ele chama de P. a fé
fundada em juízo subjetivo da situação, como p. ex. a do médico que não conhece bem a doença que deve tratar (Crít.
R. Pura, Doutrina do Método, cap. 2, seç. 3). E chama sua antropologia de P. porque ela considera o que o próprio
homem faz de si mesmo, e não o que ele é por natureza {Antr., Pref.).
Na linguagem contemporânea essa palavra voltou a ter o seu sentido inicial. Quando não
PRAGMATISMO
784
PRAGMATISMO
se refere a pragmatismo, designa simplesmente o que é ação ou que pertence à ação.
PRAGMATISMO (in. Pragmatism; Pragma-ticism; fr. Pragmatisme, ai. Pragmatismus, it. Pragmatismo). Esse
termo foi introduzido na filosofia em 1898, por um relatório de W. James a Califórnia Union, em que ele se referia à
doutrina exposta por Peirce num ensaio do ano 1878, intitulado "Como tornar claras as nossas idéias". Alguns anos
mais tarde, Peirce declarava ter inventado o nome P. para a teoria segundo a qual "uma concepção, ou seja, o
significado racional de uma palavra ou de outra expressão, consiste exclusivamente em seu alcance concebível sobre
a conduta da vida"; dizia também que preferira esse nome a pra-ticismo ou praticalismo porque, para quem conhece o
sentido atribuído a "prático" pela filosofia kantiana, estes últimos termos fazem referência ao mundo moral, onde não
há lugar para a experimentação, enquanto a doutrina proposta é justamente uma doutrina experi-mentalista. Todavia,
no mesmo artigo, Peirce declarava que, em face da extensão do significado de que o P. fora alvo por obra de W.
James e de F. C. S. Schiller, preferia o termo pragmaticismo, para indicar sua própria concepção, estritamente
metodológica, do P. ("What Pragmatism Is", TheMonist, 1905; Coll. Pap., 5,411-37). Desta maneira, Peirce acabava
distinguindo duas versões fundamentais de P., que podem ser assim caracterizadas: Ia um P. metodológico, que é
substancialmente uma teoria do significado; 2a um P. metafísico, que é uma teoria da verdade e da realidade.
Ia O P. metodológico rÁo pretende definir a verdade ou a realidade, mas apenas um procedimento para determinar o
significado dos termos, ou melhor, das proposições. Peirce dizia no artigo do ano de 1878, geralmente considerado
data de nascimento do P.: "É impossível ter em mente uma idéia que se refira a outra coisa que não os efeitos
sensíveis das coisas. Nossa idéia de um objeto é a idéia de seus efeitos sensíveis. (...) Assim, a regra para atingir o
último grau de clareza na apreensão das idéias é a seguinte: Considerar quais são os efeitos que concebivelmente
terão o alcance prático que atribuímos ao objeto da nossa compreensão. A concepção destes efeitos é a nossa
concepção do objeto" {Chance, Love and Logic, I, 2, § 1; trad. it., p. 39). O princípio dessa regra metodológica é que
"a função do pensamento é produzir hábitos de ação", crenças. A
regra proposta por Peirce era, portanto, sugerida pela exigência de achar um procedimento experimental ou científico
para fixar as crenças, entendendo por científico ou experimental o procedimento que não recorre ao método da
autoridade nem ao método aprioriilbid., I, 1, § 2, pp. 9 ss.). Pode-se dizer que pertence ao mesmo tipo o P. de Dewey,
que, para evitar qualquer equívoco, preferiu o termo instru-mentalismo (v.). "A essência do instrumenta-lismo
pragmático" — escreveu ele — "é conceber o conhecimento e a prática como meios para tornar seguros, na
experiência, os bens, que são as coisas excelentes de qualquer espécie" {TheQuestforCertainty, 1929, p. 37). Deste
ponto de vista, Dewey compartilhava o experimentalismo de Peirce, porque para ele "a experimentação faz parte da
determinação de qualquer proposição justificada" (Logic, 1939, p. 461), ao mesmo tempo em que evidenciava o
caráter instrumental e operacional de todos os procedimentos do conhecer, considerados como meios para passar de
uma situação indeterminada para uma situação determinada, ou seja, ao mesmo tempo distinta e unificada (Logic,
cap. VI). É, portanto, bastante óbvio o parentesco desse tipo de P. com a metodologia científica contemporânea, em
particular com o operacionismo (v.), por um lado, e com as teses fundamentais da lógica simbólica, por outro. Os
pragmatistas italianos Giovanni Vailati e Mário Calderoni ressaltaram este aspecto. O primeiro observava a propósito
que o principal ponto de contato entre lógica e P. "está na tendência comum a ambos de considerar o valor e o próprio
significado de uma asserção como algo intimamente vinculado ao emprego que se pode ou se deseja fazer deles na
dedução e na construção de determinadas conseqüências ou grupos de conseqüências" ("Pragmatismo e lógica
matemática", 1906, em // método delia filosofia, p. 198). Estas palavras definem bem o caráter funcional do P. de
inspiração metodológica.
2a A concepção de P. metafísico encontra-se em W. James e em F. C. S. Schiller; suas teses fundamentais consistem
em reduzir verdade a utilidade, e realidade a espírito. A segunda destas teses foi compartilhada pelo P. metafísico
com boa parte da filosofia contemporânea; o próprio James reconheceu e gabou a concordância substancial de sua
filosofia com a dos espiritualistas franceses, especialmente a de Bergson. A primeira tese é característica dessa
PRAGMATISMO
785
PRATICO
forma de pragmatismo. Seu pressuposto é o principio que ela tem em comum com o P. metodológico: a
instrumentalidade do conhecer. Mas este pressuposto é entendido e realizado por ela de modo totalmente diferente.
Em primeiro lugar, ela procura evidenciar a dependência de todos os aspectos do conhecimento (ou do pensamento)
em relação a exigências da ação, portanto em relação às emoções em que tais exigências se concretizem. Também a
"racionalidade", segundo James, é uma espécie de sentimento ("O sentimento da racionalidade" em The Will to
Believe, 1897). Deste ponto de vista, as ações e os desejos humanos condicionam a verdade: qualquer tipo de
verdade, inclusive a científica. Portanto não é legítimo, deste ponto de vista, recusar-se crer em doutrinas que tenham
condições de exercer ação benéfica na vida do homem só porque elas não são apoiadas por provas racionais
suficientes. Em casos como estes, afirmava James, é preciso correr o risco de acreditar. E F. C. S. Schiller levava esta
doutrina às suas conseqüências extremas, ressuscitando palavras de Protágoras, "o homem é a medida de todas as
coisas", e afirmando a relatividade do conhecimento em relação à utilidade pessoal e social {Humanism, 1903).
Enquanto Schiller se limitava a este relativismo, James abria caminho, através dele, ao teísmo e às doutrinas
espiritualistas tradicionais, com a alegação de que elas são úteis à ação e benéficas à vida humana. Embora procurasse
limitar o dogmatismo dessas doutrinas, insistindo no caráter pluralista do universo (v. PLURALISMO) e no caráter finito
da divindade (v. DEUS), O P. foi para ele essencialmente uma via de acesso à metafísica tradicional. Um dos motivos
que James aduzia para justificar o exercício da vontade de crer é que a crença pode produzir sua própria justificação:
é o que acontece às vezes nas relações humanas, quando acreditar que alguém é nosso amigo leva-nos a ter
comportamento amistoso para com essa pessoa, conquistando a sua amizade. Dificilmente se pode fazer uso teológico
ou metafísico dessa proposição; no entanto, ela tornou-se um princípio importante da sociologia contemporânea.
Quanto ao resto, enquanto o P. metodológico teve continuação nos estudos de lógica e de metodologia e em algumas
correntes do neo-empirismo, o P. gnosiológico confluiu para as correntes espiritualistas (cf. H. W. SCHNEIDER, A
HistoryojAmerican Philosophy, 2a ed., 1957).
A este P. metafísico vinculam-se as outras manifestações fora do circuito anglo-saxão; em primeiro lugar, vincula-se
com a filosofia de Hans Vaihinger, exposta na obra Filosofia do como seCPhilosophie desAls Ob, 1911), na qual ele
afirma o caráter fictício de todo conhecimento e o caráter biológico da preferência por um conhecimento e não por
outro. Vincula-se também ao P. pluralista de A. Aliotta {A guerra eterna e o drama da existência, 1917), em que está
presente a mesma tônica espiritualista do P. de James (cf. de ALIOTTA, O sacrifício como significado do mundo,
1947). Finalmente, vincula-se ao fideísmo pragmatista de Miguel de Unamuno, na forma exposta no Comentário ao
Dom Quixote (1905) e em Do sentimento trágico da vida (1913), e de José Ortega y Gasset (O tema do nosso tempo,
1923; Sobre Galileu, 1933; História como sistema, 1935, etc), que, porém, especialmente nas últimas obras, revela a
influência do existencialismo de Heidegger.
PRÁTICO (gr. TtpaKTiKÓÇ; lat. Practicus, in. Practical; fr. Pratique, ai. Praktisch; it. Pratico). Em geral, o que é
ação ou diz respeito à ação. Há três significados: le o que dirige a ação; 2Q o que pode traduzir-se em ação; 3S o que é
racional na ação.
1Q O primeiro é o significado filosófico tradicional. Platão já distinguia a ciência prática (p. ex., construção civil), que
é "inerente por natureza às ações", da ciência cognitiva (como a aritmética), que não se relaciona com a ação ÇPol.,
258 d-e). Aristóteles dizia que "nas ciências P. a origem do movimento está em alguma decisão de quem age porque
'P.' e 'escolha' são a mesma coisa" (Met., VI, 1, 1025 b 22). Para Aristóteles, as ciências P. eram a política, a
economia, a retórica e a ciência militar; a ética é parte fundamental da política {Et. nic, I, 2, 1094 b). Este significado
continuou uniforme na tradição filosófica. P. ex., quando S. Tomás de Aquino diz que teologia é, em parte, ciência
prática (_S. Th., I, q. 1, a. 4) e quando Duns Scot afirma que ela é totalmente ciência P. (Op. Ox., Prol., q. 4, n. 31),
estão fazendo referência ao significado tradicional: P. é o que dirige a ação. De modo semelhante, Wolff definia a
filosofia P. como a ciência que "dirige as ações livres mediante regras generalíssimas" iPhilos. prac-tica, § 3), e,
como Aristóteles, dividia-a em Ética, Economia e Política. Este significado prevalece no uso filosófico do termo.
2° No segundo significado, que pertence à linguagem comum mais que à filosófica, P. é
PRAXIOLOGIA
786
PRAZER
tudo aquilo que é fácil ou imediatamente tradu-zível em ação, no sentido, p. ex., de produzir sucesso ou proporcionar
vantagem. Neste sentido, uma idéia é chamada de "P." porque pode ser concretizada e levar ao sucesso. Homem P. é
o que tem idéias P., que são realizáveis com facilidade ou com probabilidades de vantagem ou sucesso. Este
significado geralmente não tem lugar na linguagem filosófica.
3Q O terceiro significado é o mais restrito e foi empregado por Kant. Este entende por P.: "Tudo o que é possível por
meio da liberdade". Mas a liberdade nada tem a ver com o arbítrio animal; assim, o que é independente de estímulos
sensíveis, portanto pode ser determinado por motivos representados apenas pela razão, chama-se de livre arbítrio-, e
tudo o que a ele se liga, como princípio ou como conseqüência, chama-se P." (Crít. R. Pura, Doutrina do Método,
cap. II, seç. I). Esse uso restrito do termo, característico de Kant, não teve seguidores.
PRAXIOLOGIA (in. Praxiology; fr. Pra-xéologie, it. Prassiologià). Termo criado por Kotarbinsky, para designar "a
teoria geral da atividade eficaz", que deveria compreender a totalidade dos domínios da atividade útil dos sujeitos
agentes, do ponto de vista da eficácia de suas ações (.Praxiology, An Introduction to the Science of EfficientAction,
Oxford, 1965; a obra polonesa original é de 1955). V. TECNOLOGIA.
PRÂXIS. Com esta palavra (que é a transcrição da palavra grega que significa ação), a terminologia marxista designa
o conjunto de relações de produção e trabalho, que constituem a estrutura social, e a ação transformadora que a
revolução deve exercer sobre tais relações. Marx dizia que é preciso explicar a formação das idéias a partir da "práxis
material", e que, por conseguinte, formas e produtos da consciência só podem ser eliminados por meio da "inversão
prática das relações sociais existentes", e não por meio da "crítica intelectual" (A ideologia alemã, 2; trad. it., p. 34)
(v. MATERIALIS-MO HISTÓRICO). Por "inversão da P.", Engels entendeu a reação do homem às condições materiais da
existência, sua capacidade de inserir-se nas relações de produção e de trabalho e de transformá-las ativamente: esta
possibilidade é a subversão da relação fundamental entre estrutura e superestrutura, em virtude da qual é somente a
primeira (a totalidade das relações de produção e de trabalho) que determina a
segunda, constituída pelo conjunto das atividades espirituais humanas (cf. ENGELS, Anti-dübring, 1878).
PRAZER (gr. rjSovií; lat. Voluptas; in. Plea-sure, fr. Plaisir, ai. Lust; it. Piaceré). P. e dor constituem os tons
fundamentais de qualquer tipo ou forma de "emoção". A determinação de suas características depende da função que
se atribui às emoções, e por isso está relacionada com a teoria geral das emoções. Aqui é preciso observar que, na
tradição filosófica, essa palavra tem um significado diferente do de felicidade, mesmo quando ligada a ela: o P. é
indício de um estado ou condição particular ou temporária de satisfação, enquanto a felicidade é um estado constante
e duradouro de satisfação total ou quase total (v. FELICIDADE).
A mais famosa definição do P. foi a de Aristóteles, que, aliás, utilizava os conceitos de Platão (Rep., IX, 583 ss.; Fil.,
53 c): "P. é o ato de um hábito conforme à natureza" (Et. nic, VII, 12, 1153 a 14), sendo preciso lembrar que hábito
significa "disposição constante". Essa definição servia para desvincular o P. de sua conexão com sensibilidade, visto
que um hábito pode ser sensível ou não. A partir do Renascimento as definições de P. basearam-se em sua função
biológica. Para Telésio, é aquilo que favorece a conservação do organismo (De rer. nat., IX, 2). Descartes definiu a
alegria, considerada uma das seis emoções fundamentais, como "a emoção prazerosa da alma, na qual consiste a
fruição do bem que as impressões do cérebro lhe representam como seu" (Pass. de Vâme, § 91). Spinoza afirmava:
"Entendo por alegria a paixão graças à qual a mente eleva-se a uma perfeição maior" (Et., III, 11), o que é uma
paráfrase da definição aristo-télica. Enquanto Hobbes voltava à definição biológica, vendo no P. o sinal de um
movimento proveitoso ao corpo, transmitido pelos órgãos sensoriais ao coração (De corp., 25, 12), Nietzsche
afirmava: "O P.: sensação de maior potência" (WilleZurMatcht, ed. Krõner, § 660). Em oposição a essas teorias, que
podem ser chamadas de positivas, encontra-se a teoria negativa de Schopenhauer, segundo a qual o P. é simplesmente
a cessação da dor, de tal modo que ele é conhecido ou sentido apenas me-diatamente, através da lembrança do
sofrimento ou da privação passada (Die Welt, I, § 58). A psicologia moderna manteve as características tradicionais
atribuídas ao P.: reiterou sua função biológica, mas ao mesmo tempo, com
PRAZER, PRINCIPIO DO
787
PREDICAT1VO
base na observação, também confirmou o caráter ativo que Aristóteles reconhecia no P. (cf. J. C. FLUGEL, Studies in
Feeling and Desire, 1955, p. 118 ss.).
PRAZER, PRINCÍPIO DO (in Pleasure principie, ai. Lustprinzip, it. Principio dipiacerè). Esse foi o nome que
Freud deu a um dos dois princípios fundamentais que regem o funcionamento mental, mais precisamente o que dirige
a atividade psíquica para libertar-se da dor. O outro princípio seria o da realidade, graças ao qual a busca do prazer
não se dá pelas vias mais curtas, mas obedecendo às condições impostas pelo mundo externo (Triebe und
Triebschicksale, 1915).
PREAMBULA FIDEI. Foi esse o nome que S. Tomás de Aquino deu ao conjunto das verdades cuja demonstração é
necessária à própria fé, em primeiro lugar a da existência de Deus (In Boet. de Trinit., a. 3) (v. DEUS, PROVAS DE;
TOMISMO).
PRÉ-ANIMISMO. V. ANIMISMO.
PRECISÃO (in. Precision; fr. Précision; ai. Prãcisione, it. Precizioné). Procedimento pelo qual se considera cada
parte de um todo, sem considerar o todo e as outras partes, de tal maneira se chegue a determiná-la em seus caracteres
próprios. Foi desse modo que a Lógica de Arnauld (I, 5) definiu a P., considerando, portanto, uma forma particular de
abstração (v.). O resultado desse procedimento obviamente é a caracterização exata das partes de um todo; portanto,
na linguagem corrente, "P." tornou-se sinônimo de exatidão, e "preciso", de exato. Peirce falou, no sentido próprio, de
abstração precisiva (v. ABSTRAÇÃO).
PRÉ-CISÃO (in. Prescissiori). Abstração "pré-cindente", que Peirce distingue da abstração hipostática, como a
operação de escolha que está implícita no mais simples fato de percepção: p. ex.: perceber uma cor significa
prescindir da forma e em todo caso isolar essa determinação "cor" das outras, às quais a cor esteja unida (Coll. Pap.,
1.549 n; 2.428; 4.235) (v. ABSTRAÇÃO).
PREDESTINAÇÃO (lat. Praedestinatia, in. Predestination-, fr. Prédestination; ai. Prà-destination; it.
Predestinazioné). Na teologia cristã, é a escolha que Deus faz dos eleitos, daqueles que se salvarão: segundo S.
Agostinho, foi feita antes da criação do mundo (Deprae-destinatione, 10). Para os problemas relativos a ela, v.
GRAÇA. A P. é sempre P. à salvação, mas às vezes também foi defendida (e condenada
pela Igreja) a P. dupla, para a salvação e para a condenação. Esta doutrina foi defendida, p. ex., pelo monge
Godescalco de Corbie e combatida por Hinkmar (sec. IX). Na era moderna, foi defendida pelos Calvinistas (v.
PRETERIÇÃO). PREDETERMINISMO (in. Predeterminism; fr. Prédeterminisme, ai. Prádeterminismus, it.
Predeterminismó). Termo empregado por Kant para designar o determinismo rigoroso, aquele segundo o qual "as
ações voluntárias, enquanto acontecimentos de fato, têm suas razões suficientes no tempo anterior que, juntamente
com o que ele contém, não está mais em nosso poder" (Religion, I, cap. IV, Observação Geral) (v. DETERMINISMO).
PREDICADO (in. Predicate, fr. Prédicat; ai. Prãdikat; it. Predicató). Na lógica aristotélica, a proposição consiste
em afirmar (ou negar) algo de alguma coisa: portanto, divide-se em dois termos essenciais, o sujeito, aquilo de que se
afirma (ou se nega) alguma coisa, e o P. (raTr|-Yopoú(J.evov), que é justamente o que se afirma (ou nega) do sujeito:
assim em "Sócrates é branco", "Sócrates" é o sujeito; "branco", o predicado. O P. pode ser essencial, próprio, ou
simplesmente acidental. Através de Boécio, essa doutrina passou à Lógica medieval (cf. PEDRO HISPANO, 1.07:
"Subiectum est de quo aliquid dicitur; praedicatum est quod de altero dicitur") e, dela, a toda a Lógica ocidental. Na
lógica contemporânea, com a crise da concepção predicativa da proposição (segundo a qual a proposição consiste na
atribuição de um P. a um sujeito), o termo "P." passou a ter uso oscilante. Russell (Princ. math., I2, pp. 51 ss.) dá o
nome de "P." às funções proposicionais de primeira ordem, que contêm somente variáveis individuais (substituíveis
apenas por nomes próprios, que denotam indivíduos). Hilbert e Ackermann (Grundzüge der theoretischen Logik),
retornando de alguma maneira ao uso clássico, entendem propriamente por "P." o functor de uma proposição
funcional qualquer com uma ou mais variáveis. Analogamente, mas com maior precisão, Carnap (cf. p. ex.,
Einfuhrung in die Symbolische Logik, 1954, pp. 4 ss.) usa "P." para indicar o símbolo de propriedades ou relação
atribuídas a indivíduos.
G. P.
PREDICAMENTO. V. CATEGORIA.
PREDIÇÃO. V. PREVISÃO.
PREDICATTVO (in. Predicative, fr. Prédi-catif, ai. Prüdicativ-, it. Predicativó). 1. Chama-se P. o uso do verbo ser
como cópula de uma
Baixar