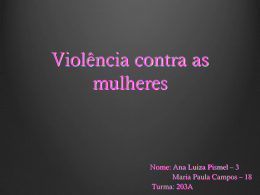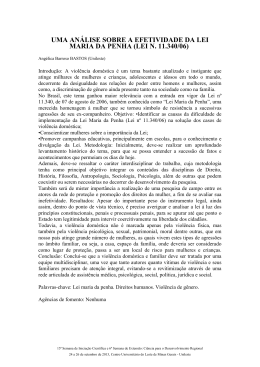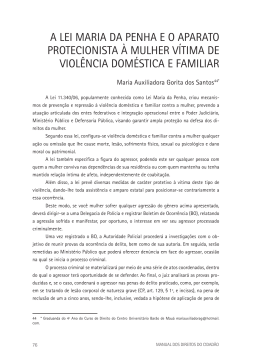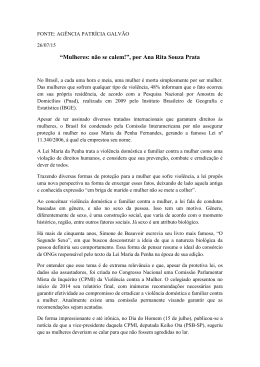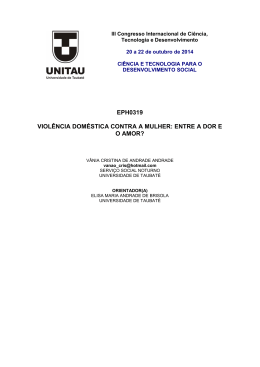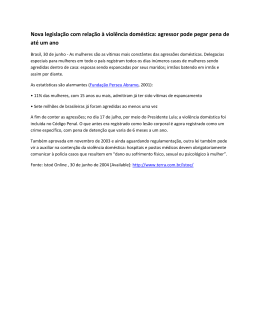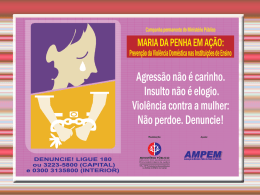CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ FACULDADE CEARENSE CURSO DE SERVIÇO SOCIAL MARIA JANAINA VALENTIM DO NASCIMENTO SOUSA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA: A VISÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FORTALEZA FORTALEZA 2014 MARIA JANAINA VALENTIM DO NASCIMENTO SOUSA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA: A VISÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FORTALEZA Monografia apresentada ao curso de graduação em Serviço Social do Centro de Ensino Superior do Ceará, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Serviço Social. Orientadora: Profª Ms.Rebeca Torres FORTALEZA 2014 MARIA JANAINA VALENTIM DO NASCIMENTO SOUSA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA: A VISÃO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM FORTALEZA Monografia apresentada como prérequisito para obtenção do título de Bacharel em Serviço Social, outorgado pela Faculdade Cearense - FAC, tendo sido aprovada pela Banca Examinadora. Data da aprovação:___/___/___ BANCA EXAMINADORA __________________________________________________ Professora Ms. Rebeca Torres Alves Costa __________________________________________________ Professor Dr. Emanuel Bruno Lopes de Sousa _________________________________________________ Professor Esp. Francisco Nazareno Matos Ribeiro Dedico este trabalho a toda minha família, que sempre incentivou e contribuiu no processo da minha formação. A todos os amigos que sempre me apoiaram e que acreditaram no meu sucesso. AGRADECIMENTOS Primeiramente a Deus, por me dar forças nos momentos mais difíceis e por me fazer acreditar que todos os meus sonhos dariam certo. À minha mãe, pelo exemplo de ser humano que ela é e por me ensinar desde criança que é através do conhecimento que se transformam as pessoas e o mundo. Às minhas irmãs, que me incentivaram e me apoiaram, além de entenderem minha ausência durante a construção deste trabalho. Ao meu “grupinho” Ana Patrícia, Ana Wládia, Emanuela Sales, Juliana Melgaço e Marileide Gomes, formado no início do semestre e que permaneceu até os últimos dias. Grandes amigas que sempre me apoiaram em todos os momentos felizes e tristes dessa longa jornada. À orientadora, Rebeca Torres, que é uma pessoa maravilhosa e que tive o prazer de conhecer durante o estágio. Ela me passou valores importantes para minha conduta profissional e me direcionou para a escolha do campo. Ao Sérgio Krienbuehl, um anjo que Deus me enviou no percurso dessa caminhada sempre dedicado e disposto a me apoiar, aliviando minhas angustias e fazendo do seu amor meu porto seguro. Ao meu grande amigo Guilherme Snard, por suas inúmeras colaborações no decorrer do curso. Ao meu amigo Paulo Henrique, que colaborou imensamente comigo, fazendo a leitura dos meus capítulos e me dando valiosas sugestões. Aos meus mestres, por compartilharem seus conhecimentos comigo e com toda a minha turma durante esses quatro anos. À banca examinadora: professor Bruno Lopes e Nazareno Matos, pela generosidade em aceitar participar da realização deste trabalho, contribuindo de forma valorosa com seus comentários e sugestões. Aos funcionários do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza, que me receberam com muita atenção e respeito. Às mulheres vítimas de violência atendidas no Juizado, que aceitaram participar da pesquisa e que tiveram uma importante participação para a construção deste trabalho. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Simone Beauvoir RESUMO A violência doméstica é um problema que atinge de forma muito recorrente às mulheres e advém, principalmente, da desigualdade existente nas relações de poder entre homens e mulheres, aliada à discriminação de gênero que ainda se observa bastante presente na sociedade. Essa violência, muitas vezes, pode ser compreendida como resultado das diferenças de gênero impostas pela sociedade, onde se estabelece aos homens uma relação de força e poder e impõem sobre as mulheres papéis de submissão. Para a modificação desse cenário, foram necessários inúmeros movimentos por parte das mulheres, que passaram a exigir uma maior representatividade na sociedade. Uma das conquistas obtidas refere-se à criação da Lei Maria da Penha que modificou o tratamento dado às mulheres vítimas de agressões domésticas, bem como aumentou a punição dos agressores. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivos identificar os tipos de violência sofrida pelas mulheres atendidas pelo Juizado de Violência Doméstica, bem como observar as percepções que essas mulheres, atendidas pelo Juizado de Violência Doméstica têm de seus agressores, além de analisar o que as vítimas de violência doméstica entendem a respeito da Lei Maria da Penha. Foi realizada uma pesquisa de campo, tendo como lócus o Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza, e os sujeitos da pesquisa foram as usuárias da Instituição. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que permite uma abordagem crítica do objeto pesquisado, aliada a uma entrevista semi-estruturada, com coleta de depoimentos de mulheres que sofreram violência doméstica e foram atendidas pelo já citado Juizado. A análise das entrevistas realizou-se por meio da técnica de análise temática. Também foi realizada uma pesquisa bibliográfica para promover a discussão sobre a violência doméstica, bem como se analisou os conceitos que permeiam a questão do gênero, além de se elencar as modificações geradas pela Lei 11.340/06. Os resultados obtidos através desta pesquisa evidenciam que a maioria das mulheres entrevistadas tem consciência de que vivenciaram diversas modalidades de violência, porém muitas só denunciam ou se desligam de seus cônjuges após sofrerem a violência física. Palavras-chaves: Gênero. Violência doméstica. Lei Maria da Penha. ABSTRACT Domestic violence is a problem that affects a lot of women and arises mainly from the existing power relations between men and women inequalities as well as gender discrimination that is still observed very present in society. This violence often can be understood as the result of gender differences imposed by society, which establishes a relationship to men of strength and power and impose on women submission roles. To change this scenario, numerous movements for women, who began to demand greater representation in society were necessary. One of the achievements refers to the creation of the Maria da Penha Law that modified the treatment of women victims of domestic violence, as well as increased the punishment of the offenders. Thus, this study aims to identify the types of violence experienced by women attending by the Claims Court Domestic Violence, as well as observe the perception these women, victims served by the Juvenile Court of Domestic Violence, have about their aggressors, and analyze what victims of domestic violence understand about the Maria da Penha Law. A field survey was made, having as a locus the Domestic Violence Court for the District of Fortaleza, and the research subjects were the users of the institution. This is a qualitative research approach that allows a critic review of the researched object, combined with a semi-structured interview, collecting testimonials from women who have suffered domestic violence and were attended by the mentioned Claims Court. The data analysis was performed using the technique of thematic analysis. A bibliographic research was carried out to promote discussion on domestic violence, were also carried out and analyzed the concepts underlying the issue of gender, in addition, were listed the changes generated by the Law 11.340/06. The results obtained from this research show that the majority of respondents are aware that experienced various forms of violence, but many just complain or become detached from their spouses after suffering physical violence. Keywords: Gender. Domestic Violence. Maria da Penha Law. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS JVDFM - Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher MPE - Ministério Público Estadual OMS – Organização Mundial de Saúde SPM - Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres SSPDS - Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS Tabela 1 - Dados gerais das mulheres entrevistadas ............................................... 27 Gráfico 1 - O que você entende por violência? ......................................................... 54 Gráfico 2 - Você já havia sofrido violência outras vezes? ......................................... 57 Gráfico 3 - Quais tipos de violência você sofreu? ..................................................... 60 Gráfico 4 - Você tem algum sentimento em relação ao seu agressor? ..................... 62 Gráfico 5 - Quanto você conhece a respeito da lei Maria da Penha? ....................... 65 Gráfico 6 - Você sente segurança em relação às medidas adotadas? ..................... 66 Gráfico 7 - O seu agressor estava sob efeito de alguma droga? .............................. 71 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 12 2 ESTUDO DA CATEGORIA GÊNERO E SUA RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ................................................................................................ 15 2.1 Conceituações e discussões sobre a categoria Gênero ................................. 15 2.2 Conceituações do termo violência .................................................................. 20 2.3 Violência contra a mulher ............................................................................... 22 2.4 Características da população entrevistada ..................................................... 26 3 LEI MARIA DA PENHA: UMA CONQUISTA DE TODAS AS MULHERES ......... 30 3.1 Políticas Públicas voltadas para as Mulheres ................................................. 31 3.2 Movimentos feministas: a busca pelos direitos das mulheres ........................ 34 3.3 A Lei Maria da Penha: um avanço significativo para as mulheres .................. 38 3.3.1 Aspectos e inovações da Lei nº 11.340/06 ..................................................... 39 4 A VISÃO INSTITUCIONAL POR MEIO DAS FALAS .......................................... 44 4.1 Contextualização do campo de pesquisa ....................................................... 44 4.2 Aproximação com o objeto ............................................................................. 45 4.3 Percurso metodológico ................................................................................... 48 5 PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PARTIR DAS USUÁRIAS DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE FORTALEZA ........................................................ 53 5.1 Análise de conteúdo dos Resultados da Pesquisa ......................................... 53 5.1.1 A partir da verbalização da pergunta: O que você entende por violência? ..... 53 5.1.2 No que concerne as verbalizações da pergunta: Você já havia sofrido violência outras vezes? ............................................................................................. 56 5.1.3 No que concerne as verbalizações da pergunta: Quais tipos de violência você já sofreu? ..................................................................................................................60 5.1.4 No que concerne a verbalização da pergunta: Você tem algum sentimento em relação ao agressor? ................................................................................................. 62 5.1.5 Segundo as verbalizações da pergunta: O quanto você conhece da Lei Maria da Penha?..................................................................................................................65 5.1.6 A partir da verbalização da pergunta: Você sente segurança em relação às medidas adotadas? ................................................................................................... 66 5.1.7 Verbalizações acerca das seguintes perguntas: O agressor estava sob efeito de alguma droga? Se estava, qual era? .................................................................... 71 5.1.8 Verbalizações sobre a pergunta: Como você percebe seu agressor? ............ 73 5.1.9 Assim, as verbalizações acerca da pergunta: Como você se percebe após a violência sofrida?....................................................................................................... 74 5.1.10 De acordo com as verbalizações: Quais tipos de lesões você sofreu? .......... 77 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 78 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 82 APÊNDICES.............................................................................................................. 87 ANEXOS ................................................................................................................... 89 12 1 INTRODUÇÃO Atualmente, a violência doméstica representa uma ameaça na vida de inúmeras mulheres e independe da idade, do grau de instrução, da classe social, da raça ou etnia e da orientação sexual. É um fato que vem e prejudicando a vida de muitas pessoas em todo o mundo. A violência não conhece fronteiras e é uma realidade experimentada em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Diante desse quadro, surge a Lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que visa à adoção de medidas mais efetivas para a punição daqueles que cometem crimes contra as mulheres. Este trabalho justifica-se por uma crença pessoal de que a violência doméstica é um problema que representa um retrocesso às conquistas obtidas pelas mulheres. No quarto semestre do Curso de Serviço Social, em decorrência da elaboração de meu projeto de pesquisa, surgiu à necessidade pessoal de compreender os elementos que cercam a violência contra a mulher, principalmente, os fatores que levavam a violência doméstica. Aliado a isso, minha experiência de estágio supervisionado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS/AD) do bairro Rodolfo Teófilo, estimulou ainda mais meu interesse sobre o assunto e como a sociedade precisa discutir de forma mais eficiente soluções. O presente trabalho tem como objetivos: identificar quais tipos de violência as mulheres sofrem e as percepções das mesmas em relação à violência sofrida; observar como as mulheres vítimas de violência percebem os seus agressores; entender, a partir das falas das vítimas como elas se percebem após sofrerem violência; analisar o que as vítimas de violência doméstica entendem a respeito da Lei Maria da Penha. Para isso, dividimos o presente trabalho em 5 capítulos. É importante ressaltar que, realizar um trabalho com a Assistente Social do CAPS/AD no qual estagiava, que condiz os relatórios que eram elaborados sobre os casos de violência doméstica que eram julgados pelo Juizado de Violência Doméstica, tornou-se mais evidente meu interesse em saber sobre aspectos relacionados à violência doméstica. Entre esses aspectos estão os tipos de violência sofrida pelas mulheres, as percepções que as mesmas têm a respeito da violência sofrida, bem como de seus agressores, e o conhecimento que essas mulheres têm sobre a Lei Maria da Penha. 13 O espaço geográfico utilizado para a coleta de dados, foi o Juizado de violência doméstica da Comarca de Fortaleza. Logo que fiz a primeira visita no local tive a certeza que seria um ambiente bastante favorável para o estudo. O referido Juizado possui no seu quadro de funcionários pessoas que atendem de maneira respeitosa as usuárias que são atendidas na instituição. Para compor a natureza empírica do estudo, constou um total de 10 mulheres que participaram da fase de aplicação das entrevistas, e esse número, levando em consideração o ponto de saturação das entrevistadas apresentou resultados suficientes para responder aos objetivos da pesquisa. As participantes tinham entre 20 e 60 anos e demonstraram interesse em colaborar com o estudo. Todas foram atendidas no Juizado de Violência Doméstica no período de setembro a outubro de 2013. Das mulheres entrevistadas apenas uma inicialmente se mostrou resistente para participar da pesquisa, logo deixamos a mesma bem à vontade, esclarecemos mais uma vez em que consistia o estudo e deixamos que ela escolhesse livremente se queria ou não colaborar com a pesquisa. As entrevistas foram realizadas em uma das salas de espera, porém em um determinado dia o Juizado estava com um grande fluxo de pessoas, e apesar dessa sala ser mais reservada, durante uma entrevista tivemos que interromper a mesma várias vezes, pois havia muito barulho por parte de profissionais que utilizavam o ambiente para atender ligações telefônicas. O primeiro capítulo trata-se da parte introdutória, na qual são explanadas, de forma sucinta, os objetivos do trabalho, o interesse por desenvolver tal pesquisa, bem como todas as temáticas abordadas no decorrer do estudo. No segundo capítulo, abordamos a categoria gênero visando uma reflexão desse conceito por meio das interpretações de vários autores. Apresentaremos a relação entre gênero e o feminismo, além de explanar acerca das políticas públicas para às mulheres. Nesse capítulo também são abordadas as conceituações sobre o termo violência. Também são explanados os conceitos e as distinções entre violência de gênero e violência doméstica. No terceiro capítulo, é abordada a Lei Maria da Penha. É apresentado o aspecto histórico de seu surgimento, sendo, inclusive, narrado de que forma ocorreu a criação dessa Lei. Também nesse capítulo são apresentadas algumas dificuldades e inovações oriundas da legislação em questão e quais os benefícios trazidos por ela. 14 No quarto capítulo, explanamos os aspectos metodológicos da pesquisa. Apresentamos de que forma ocorreu nossa aproximação em relação ao objeto de estudo, além de ser feita toda uma contextualização com o cenário utilizado na pesquisa. Também são apresentadas as vertentes metodológicas pela qual a presente pesquisa se pautou, sendo elas de caráter qualitativo. Ainda nesse capítulo é traçado um perfil das mulheres entrevistadas, visando uma aproximação do leitor com as mesmas. No último capitulo discorremos sobre as análises obtidas através da pesquisa de campo. Nesse ponto são observados os aspectos apresentados pelas mulheres entrevistadas interligando-os com as questões teóricas explicitadas pelos autores anteriormente citados. São analisadas as formas de violência sofridas pelas mulheres, suas percepções de violência, a maneira que elas se percebem após sofrerem violência, assim como percebem seus agressores e a visão que as mesmas têm sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. Através da realização da pesquisa, busca-se levantar questionamentos sobre a Lei Maria da Penha e sua eficácia no que tange a violência contra a mulher, e especificamente, a violência doméstica contra a mulher. Com essa discussão na sociedade em geral, haverá maior possibilidade de serem elencadas soluções que visem sanar a violência sofrida por inúmeras mulheres representadas neste trabalho pelas mulheres atendidas pelo Juizado de Violência Doméstica. 15 2 ESTUDO DA CATEGORIA GÊNERO E SUA RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 2.1 Conceituações e discussões sobre a categoria Gênero A discussão da categoria gênero é bastante complexa e, por isso, ao abordarmos o referente termo, procuramos chamar atenção para o significado da representação social do ser homem e ser mulher, dos valores que a sociedade atribui aos termos masculino e feminino, bem como fazer uma explanação das relações de desigualdades entre os sexos que se fizeram presentes na sociedade desde os tempos mais remotos perpetuando até os dias atuais. De forma geral, as gramáticas normativas da Língua Portuguesa apresentam o termo gênero como sendo a categoria de flexão das palavras de acordo com seu sexo, ou seja, masculino e feminino. Contudo, para Teles (2002, p.16): A sociologia, a antropologia e outras ciências humanas lançaram mão da categoria gênero para demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, que repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos historicamente, e criaram pólos de dominação e submissão. Impõe-se o poder masculino em detrimento dos direitos das mulheres, subordinando-as às necessidades pessoais e políticas dos homens, tornando-as dependentes. Dentro desse contexto, no Brasil, as discussões sobre gênero ganham ênfase a partir de 1980. Entre as obras publicadas nesse período, destacou-se o artigo de título Gênero: uma categoria útil para análise histórica, da historiadora Joan Scott (1989), que até os dias atuais serve de referência para estudiosos que desejam explorar o assunto. Para Saffioti (2004) o conceito de gênero é amplo, mas não necessariamente explicita a desigualdade entre homens e mulheres. Apesar disso, segundo a autora, muitas feministas agregam a esse termo a noção de patriarcado, que “como o próprio nome indica, é o regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens” (SAFFIOTI, 2004, p. 44). 16 Assim, o conceito de gênero foi incorporado pelo feminismo e pela produção acadêmica a partir de 1970. Nesse período surge uma considerável discussão a respeito das diferenças entre os sexos estabelecidas pela sociedade. De acordo com Meyer (2003), os registros históricos evidenciam que foi através de estudos realizados por mulheres e sobre mulheres que surgiu o termo gênero e, devido a um impulso do movimento feminista, surge uma complexa discussão a respeito desta categoria. Assim afirma SAFFIOTI (2004, p. 95): Na década de 1970, mas também no fim da anterior, várias feministas, especialmente as conhecidas como radicais, prestaram um grande serviço aos então chamados estudos sobre mulher, utilizando um conceito de patriarcado cuja significação raramente mantinha qualquer relação com o constructo mental weberiano. Como foi citado no parágrafo anterior, a categoria gênero passa a ser discutida junto ao movimento de mulheres, porém, não foi uma mulher quem formulou o conceito de gênero, sendo este elaborado por Robert Stoller, no ano de 1968. Contudo, de acordo com Saffioti (2004, p. 131-2) mesmo que não usando diretamente o vocábulo, foi Simone de Beauvoir, na formulação de sua famosa frase “ninguém nasce mulher, mas se torna uma mulher” quem disseminou essa ideia. Ainda sobre a categoria enfatiza Pateman (1993 p. 131- 2): A pluralidade do slogan e sua força para feministas emergem da complexidade da posição das mulheres nas sociedades liberal-patriarcais contemporâneas. O privado ou pessoal e o público ou político são sustentados como separados e irrelevantes um em relação ao outro; a experiência cotidiana das mulheres ainda confirma esta separação e, simultaneamente, a nega e afirma a conexão integral entre as duas esferas. A separação entre a vida doméstica privada das mulheres e o mundo público dos homens, tem sido constitutivas do liberalismo patriarcal desde sua gênese e, desde meados do século XIX, a esposa economicamente dependente tem estado presente com o ideal de todas as classes sociais da sociedade. Nos dias atuais, movimentos que tem à frente mulheres têm debatido bastante sobre a categoria em questão, sendo perceptível que o conceito de gênero explica as diversas relações entre homens e mulheres na sociedade. Como salienta Osterne (2008, p. 127): 17 Após exame mais acurado sobre a presença da mulher na complexidade sexual, passou ao uso da categoria gênero, como a significar a mudança no patamar analítico (...). Gênero foi um termo usado desde a década de 1970, para refletir a diferença sexual. Registra-se o fato de que foram as feministas americanas as primeiras a usar o vocábulo, com o objetivo de destacar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra em sim, indica rejeição ao determinismo biológico implícito no uso dos termos como sexo ou diferença sexual e punha em evidência o aspecto relacional entre os homens e as mulheres. Dessa forma, as noções de gênero têm se mostrado relevantes para a compreensão de diversos problemas e dificuldades que o público feminino encontra na vida política, no trabalho, na vida sexual e familiar. Relata Costa (2005) que a identidade feminina, vem sendo construída historicamente e, tem apresentado diversas formas e modalidades culturais, sendo o sistema patriarcal responsável por essas representações. Segundo a autora, a maneira como são passados os valores de geração para geração, ditando moldes de vida, crenças e ideologias já determinadas, configuram a identidade feminina; sendo assim, reproduz um modelo de feminilidade nos moldes do sistema dominante. É válido salientar, que a historiadora Scott (1998) traz importantes considerações a respeito dessa categoria, pois para ela, o gênero nos permite entender as diferenças entre os sexos, sendo que gênero tem relevantes vínculos com as relações de poder. Para a autora, é indiscutível as diferenças entre os sexos, porém o que deve ser avaliado são as maneiras como essas diferenças são construídas culturalmente. Ainda de acordo com Scott (1998) explana que: gênero é uma categoria histórica de símbolos culturais evocadores de representações, de conceitos normativos como grade de interpretação de significados, organizações e instituições sociais e identidade subjetiva. Logo, os comportamentos de homens e de mulheres podem variar de acordo com o contexto, social e cultural, e também podem variar de acordo com o momento histórico, seja de uma cidade ou de um país. É importante nesta discussão, apresentar as noções de sexo e gênero. Para Rubin (apud SAFFIOTI, 2004), os sistemas sexo e gênero são os conjuntos, práticas, valores sociais, normas, representações e símbolos que as sociedades elaboram a partir das diferenças sexuais, sendo que cedem sentidos e significados ao cumprimento dos impulsos sexuais, à reprodução humana, e ao modelo mais totalizante, ao relacionamento das pessoas. Sendo assim, gênero é o conjunto de arranjos, onde o sexo biológico é modelado pela intervenção social humana. 18 Assim, torna-se possível perceber que o termo gênero está voltado para as relações sociais entre os sexos, além de denunciar as desigualdades existentes entre eles. Já o sexo é algo biológico, com funções determinadas pela natureza, como por exemplo, o fato de que somente a mulher é capaz de ter um bebê e somente o homem é capaz de produzir espermatozoides. Neste ínterim, desde criança nos são passados valores e aprendemos em casa, na escola e em todos os ambientes sociais que a divisão sexual do mundo se separa em feminino e masculino. Meninas devem brincar de boneca ou outras brincadeiras que remetem ao mundo doméstico; meninos podem brincar de carrinho ou outros que tenham relação com o cenário público. É como salienta Baggio (2009, p. 83): A cultura incorpora nas pessoas, desde crianças, a diferença entre masculino e feminino. A família e a escola desde cedo marcam as diferenças entre os meninos e meninas. Dessa forma, percebe-se que os papeis, tanto masculino como feminino, começam a ser construídos desde que os bebês estão sendo gerados, quando a família na expectativa, começa a preparar o enxoval de acordo com o sexo. Após o nascimento, a primeira coisa a ser identificada é o sexo, e a partir desse momento o ser começa a receber mensagens sobre o que a sociedade espera deste menino ou menina. É possível perceber por meio da citação anterior, que ser menino ou menina, independentemente de sexo, é uma adequação social que nos é imposta desde cedo. De acordo com Carvalho (1998) as únicas diferenças existentes entre homens e mulheres são biológicas e sexuais, logo as demais são criadas pelos seres sociais, ou seja, são provenientes de relações de opressão, e que, todavia, devem ser extintas para que possa haver relações de igualdade. Outro ponto importante a ser comentado no que se refere a gênero, é a necessidade de se distinguir este do conceito de patriarcado, pois o termo gênero engloba tanto homens quanto mulheres; assim como a violência de gênero abrange tanto a violência de homens contra mulheres, de mulheres contra homens, e de homem-homem e mulher-mulher. Sendo assim, gênero não se resume a uma categoria específica, enquanto o conceito de patriarcado remete a dominação dos homens sobre as mulheres. É como enfatiza Pateman (1993, p. 16-17): 19 A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. O contrato social é uma história de liberdade; contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o direito do patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua liberdade, mas também para assegurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social: é social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres. Ainda sobre a discussão, Saffioti (2004) revela que faz parte da ideologia de gênero, mais precisamente patriarcal, que muitos estudiosos defendem, de que o contrato social se difere do contrato sexual, vinculando este último exclusivamente è esfera privada. Conforme essa ideia o patriarcado não tem relação com o mundo público, não sendo assim relevante. Porém, de acordo com a autora, os espaços públicos e privados estão extremamente ligados, sendo que a liberdade civil vai depender do direito patriarcal. Outro ponto discutido por Saffioti (2004) é a tendência transformadora pela qual o termo patriarcado vem passando, de acordo com as gerações. Segundo ela, as regalias vividas pelo homem antigamente refletem nas desigualdades vividas entre homem e mulheres, como se essas diferenças entre os sexos fossem reflexos de um patriarcado já não existente na sociedade atual. Assim, existem alguns resquícios em determinadas famílias desse conceito de patriarcado, mas isso se dá de maneira mais amena do que nos tempos remotos. O poder que era atribuído apenas ao patriarca, hoje é divido com a mulher. Apesar disso, muitos homens ainda querem exercer poder sobre suas mulheres, e quando são contrariados agem com violência para com suas esposas, acabando, muitas vezes, por tirar a vida de suas parceiras. As marcas do patriarcado ainda são bastante fortes em nossa sociedade, pois os homens são educados para se impor e muitos não aceitam serem contrariados. É importante entender que as diferenças de gênero resultam de fatores históricos impostos pela sociedade. Desde a antiguidade há uma divisão de tarefas e papeis entre homens e mulheres, onde se estabelece aos homens uma relação de força e poder e impõe sobre as mulheres papeis de submissão e obediência. Então, 20 Osterne (2008) afirma que desde os tempos mais remotos, as mulheres são excluídas da cidadania, não só em função dos interesses familiares, mas também em face de sua diferença em relação aos homens; prova disso é a exclusão das mulheres da vida política. Diante do conceito de gênero exposto por Saffioti (2004), a violência de gênero pode ser entendida como “uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher” (TELES, 2002, p. 18). É possível perceber que os papeis impostos aos sexos no decorrer da história corroboram para a imposição de ideologias como o patriarcado, resultando, assim, em relações violentas entre os sexos. Ou seja, os processos sociais é que determinam os estereótipos e permitem que as relações de poder entre homens e mulheres elevem os primeiros e subjuguem os últimos. Tais processos acontecem, principalmente, nos lares e por meio dos companheiros das mulheres, caracterizando, assim, a violência e suas respectivas tipificações, elementos estes que serão abordados na sessão a seguir. 2.2 Conceituações do termo violência Os conceitos de violência são amplos, pois esta pode ser interpretada como um acontecimento que vai além do ordenamento social, tanto no âmbito das relações pessoais como nos das relações institucionais (OSTERNE, 2008). Por isso, torna-se desafiante estudar esta temática que se apresenta cada vez mais presente na sociedade atual, principalmente em relação às modalidades de violência contra as mulheres. A etimologia da palavra, de acordo com Inácio (2003, p. 126), procedese do latim vis, que significa uso da força, ainda apontando ele que [...] se recorrermos às palavras violatio, onis, violo e are, que estão associados ao termo violentio, veremos, porém, que o termo revela um sentido negativo e maléfico, indesejável. As palavras violatio e onis significam dano, prejuízo, profanação, violação, perfídia e a palavra violo e are indicam fazer violência à, maltratar, danificar, devastar, desonrar, transgredir, infringir, ferir, lesar, ofender, macular. Sobre o termo em questão, Saffioti (2004, p. 17) explana que um dos conceitos de violência adquiridos pela população resulta do fato de que as pessoas estão habituadas aos atos violentos. Assim, essa noção trata “da violência como 21 ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral”. Muitas vezes, o ato de violência é a forma encontrada pelo agressor para estabelecer poder sobre a vítima e sobre essa relação; Arendt (1994) apresenta uma importante distinção entre poder e violência, na qual o uso da violência acarreta em uma perda de poder. “Poder e violência são opostos: onde um domina absolutamente o outro está ausente; a violência aparece onde o poder está em risco, mas deixa o seu próprio curso; ela conduz a desaparição do poder” (ARENDT, 1994, p. 44). Ainda de acordo com a autora, o poder é a capacidade que o ser humano tem para desenvolver ações em conjunto, enquanto a violência destaca-se por sua característica instrumental. São através de instrumentos como armas de fogo que se aumenta o vigor individual, e isso nada tem a ver com o poder. Com relação a este último, Arendt (1994, p. 88) explica que: O poder só é efetivado quando a palavra e o ato se divorciam, quando as palavras não são vazias e os atos não são brutais; quando as palavras não são empregadas paradas para agregar intenções, mas para revelar realidades, e os atos não usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades. A violência é considerada um problema social que afeta toda a população de uma forma geral, não escolhendo classe social, idade ou etnia. Apesar de a violência ser algo presente no cotidiano das pessoas, “há a dificuldade de se assumir a existência de pessoas violentas em todas as classes sociais e dentro do seio familiar, chegando ao ponto de se desacreditar nos testemunhos de vítimas” (HIRIGOYEN, 2006). Constantemente, as grandes mídias apontam que os índices de violência estão alarmantes, sendo, segundo elas, junto com o desemprego, uma das maiores preocupações dos brasileiros. Antes, o que era uma marca dos grandes centros urbanos, atualmente faz parte da maioria das cidades do país, inclusive de cidades pequenas do interior. De acordo com pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (apud CAVALCANTI, 2007), a classificação da violência pode ser feita de três maneiras: violência interpessoal, violência contra si mesmo e violência coletiva. 22 A violência interpessoal refere-se às de cunho físico ou psicológico e estão presentes, principalmente: entre os jovens; entre aqueles que praticam violência doméstica; na violência contra crianças e adolescentes; e na violência sexual. Com relação à violência contra si mesmo, como o próprio nome diz, é aquela em que a pessoa pratica um ato violento contra o próprio corpo, como o caso dos suicidas e daqueles que se automutilam. Por fim, a violência coletiva engloba duas outras classificações: a violência social, que decorre de desigualdades socioeconômicas; e a violência urbana, que acontece nas cidades, seja por parte do crime organizado ou não. Entende-se como violência a relação, processo ou condição em que há violação da integridade física, psicológica ou social, mediante uso de força física, poder real ou ameaça a um indivíduo, classes grupos ou nações, contra si próprio ou contra a coletividade, que resulte ou possa resultar em morte, danos físicos, psicológicos, emocionais e espirituais, deficiência de desenvolvimento ou privação. (CECILIO et al., 2012). Os tipos de violência citados não ocorrem de forma isolada e, muitas vezes, são confundidos por acontecerem simultaneamente. Outro tipo de violência, que devido a sua manifestação, torna-se difícil de especificar, é a violência contra a mulher, que será abordada no tópico a seguir. 2.3 Violência contra a mulher Desde a antiguidade, as mulheres eram consideradas parte dos bens da família, da mesma forma que escravos, os móveis e os imóveis. Dessa forma, a ideia da aplicação de castigos contras as mulheres era considerada legítima, visto que as mesmas deveriam obedecer, sem expressar nenhum tipo de questionamento, àqueles que eram seus “donos”, fossem pais, irmãos ou maridos (CAVALCANTI, 2007). Até os dias atuais, ainda é visto na sociedade a obediência feminina e constantemente, são divulgados na mídia casos de agressões contra as mulheres, deixando latente a necessidade de medidas mais enérgicas para cessar esse 23 crescimento. De acordo com uma resolução1 da Assembleia Geral das Nações Unidas (1993): A violência contra as mulheres é uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, que conduziram a dominação e a discriminação contra as mulheres pelos homens, e impedem o pleno avanço das mulheres [...]. Assim, percebe-se que o fenômeno da violência sofrida pelas mulheres está diretamente associado à violação dos direitos humanos, tendo em vista que afeta os seus direitos, tais como sua vida, sua saúde e sua integridade física. Pode-se considerar violência contra a mulher qualquer ato que gere agressão ou discriminação contra a mesma, apenas pelo fato desta ser mulher, além de causar-lhe qualquer tipo de sequela, seja física, moral ou psicológica. Como apontam Cunha e Pinto (2007, p. 24): Qualquer ato, omissão ou conduta que serve para infligir sofrimentos físicos, sexuais ou mentais, direta ou indiretamente, por meios de enganos, ameaças, coações ou qualquer outro meio, a qualquer mulher e tendo por objetivo e como efeito intimidá-la, puni-la ou humilhá-la, ou mantê-la nos papeis estereotipados ligados ao seu sexo, ou recusar-lhe a dignidade humana, a autonomia sexual, a integridade física, moral, ou abalar a sua segurança pessoal, o seu amor próprio ou a sua personalidade, ou diminuir as suas capacidades físicas ou intelectuais. De acordo com a Lei 11.340/06, do Código Penal Brasileiro, existem cinco tipos de violência que são praticadas contra as mulheres: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. A violência física, de acordo com o Código Penal (2006), pode ser definida como qualquer agressão de cunho físico que prejudique a integridade e a saúde da mulher. Tais agressões podem ocorrer por meio de beliscões, empurrões, chutes, tapas, puxões de cabelo ou ferimentos com armas. Ou seja, este tipo de violência pode ser entendida como sendo aquela que ocasiona desde pequenos traumas aos maiores, tendo, às vezes, como consequência a própria morte. O álcool e as drogas também são constantemente apontados como desencadeadores da violência doméstica, pois interferem drasticamente no discernimento do indivíduo. Apesar disso, Cavalcanti (2007, p. 34) afirma que: 1 Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de dezembro de 1993, que trata sobre a eliminação da violência contra as mulheres. 24 Embora o álcool, as drogas ilegais e o ciúme sejam apontados como principais fatores que desencadeiam a violência doméstica, a raiz do problema está na maneira como a sociedade valoriza o papel masculino nas relações de gênero. Isso se reflete na forma de educar meninos e meninas. Enquanto os meninos são incentivados a valorizar a agressividade, a força física, a ação, a dominação e a satisfazer seus desejos, inclusive os sexuais, as meninas são valorizadas pela beleza, delicadeza, sedução, submissão, dependência, sentimentalismo, passividade e o cuidado com os outros. É válido salientar que a violência psicológica é tão grave quanto à física, pois agride o lado emocional da mulher, deixando marcas que, apesar de não poderem ser visualizadas, comprometem a integridade racional e emocional da mulher (OSTERNE, 2008). Este tipo de violência ocorre, muitas vezes, junto com a violência moral, e esta se refere a qualquer ato de difamação ou calúnia, ou seja, condutas que interfiram na reputação e na dignidade da mulher. Outro tipo de violência é a violência sexual, que é entendida “como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força” (CÓDIGO PENAL, 2006). O Código também considera como violência sexual atos que induzam a mulher a comercializar seu corpo, que a impeçam de utilizar métodos contraceptivos, por meio de coação ou chantagem. Por fim, a violência patrimonial é caracterizada como qualquer ato que gere retenção, subtração, destruição dos bens da mulher, como por exemplo, a destruição de objetos de uso doméstico ou impedir que a mulher utilize seus documentos. Outro tipo de violência, mas que não está expresso no Código Penal é a chamada violência simbólica. A violência simbólica se expressa através da força da ordem masculina que já se encontra naturalizada nas convenções sociais. Assim, a dominação não é questionada pela mulher, pois esta a vê como algo já definido pela sociedade, ou seja, é como se fosse seu papel exercer determinada função ou aceitar determinada imposição (BOURDIEU, 2012). Para Inácio (2003, p. 127), a violência simbólica é [...] responsável pelas medidas de repressão e, também, pela tolerância, conivência e impunidade que se observa em relação à criminalidade. Em particular, no que se refere aos crimes praticados contra a mulher na esfera familiar, esta dimensão simbólica é construída pelo ordenamento de gênero tradicional, nas quais se legitimam várias formas de opressão feminina. 25 Vários são os tipos de violência praticada contra as mulheres e muitas e profundas são as sequelas que ficam nas mesmas, fazendo com que elas, muitas vezes, sintam medo de procurar a justiça, pois, na maioria dos casos, os agressores são seus companheiros, evidenciando, assim, a violência doméstica. Assim, a violência tem sido percebida como um fenômeno bastante perverso e constantemente presente na sociedade, e entre as suas modalidades, a violência doméstica é uma das mais cruéis, por ser a mais silenciosa. Este tipo de violência manifesta-se por meio das pessoas em quem se tem mais confiança, ou seja, dos próprios familiares, de quem se espera receber carinho e respeito, e não insultos ou agressões físicas. Além disso, a situação tornase mais difícil pelo fato da violência acontecer dentro de locais que antes eram considerados seguros, mas que se tornam espaços de pesadelos: a própria casa das vítimas (AMARAL, 2002). Apesar de a violência doméstica abranger todos os elementos familiares que sofrem algum tipo de agressão, são as mulheres as principais vítimas desse tipo de violência. Isso decorre da desigualdade entre homens e mulheres, principalmente nas relações de poder e de gênero (TELES, 2002). A autora ainda afirma que a violência doméstica é algo presente na vida de milhares de mulheres, independente de classe social ou etnia, apesar de os registros policiais serem mais frequentes nas camadas mais baixas. Dentro desse contexto, muitos são os fatores que levam os homens a agredirem suas companheiras: fatores psicológicos, pois alguns homens vivenciaram aspectos violentos durante sua formação humana; fatores econômicos, como por exemplo, um homem que se sente inferior em relação a sua mulher pelo fato desta ganhar mais do que ele; fatores de relacionamento, como agressões que têm como motivo o ciúme, entre outros (CAVALCANTI, 2007). De acordo com Walker (1979 apud BRASIL, 2002), a violência conjugal acontece como um ciclo, onde inicialmente, ocorrem pequenas ações violentas, como humilhações e agressões verbais. Depois, passa a existir o que o autor chama de violência aguda, onde o controle masculino é praticamente inexistente e o homem agride a mulher com a intenção de “lhe dar uma lição”. Posteriormente, o casal vive um período de paz, pois após a agressão, o homem pede perdão à companheira e acredita que a violência não irá se repetir, pois a mulher “aprendeu a lição”. 26 Tal ciclo demonstra a dependência afetiva, pois “o casal que vive em uma situação de violência, torna-se um par simbiótico, tão dependente um do outro que, quando tenta separar-se, o outro se torna drasticamente afetado” (WALKER apud BRASIL, 2002, p. 27). Parte das pessoas que vivenciam esse tipo de situação convivem constantemente com a sensação de medo e têm uma probabilidade maior de apresentarem algum tipo de distúrbio, como por exemplo, agressividade excessiva ou timidez excessiva. Muitas mulheres não suportam a pressão de viver uma situação como essa, e por não enxergarem uma saída, acabam cometendo suicídio; muitas adquirem sequelas permanentes, sejam elas físicas ou mentais (CAVALCANTI, 2007). No próximo item, será exposto o perfil das entrevistadas que participaram desse estudo, visando uma aproximação entre o leitor e os sujeitos da pesquisa. Todas as participantes da pesquisa apresentam condições de vida semelhantes, pois moram em bairros periféricos da cidade de Fortaleza e quase todas exerciam alguma atividade remunerada. . 2.4 Características da população entrevistada Estabelecemos um perfil para as participantes do estudo, de maneira que, focamos mulheres que sofreram qualquer tipo de agressão do companheiro, pois a demanda do juizado é ampla, vai desde vítimas que sofreram violência de irmãos, esposos, namorados e até mesmo de filhos, porém, buscamos selecionar apenas as mulheres que sofriam violência dos esposos, para dessa forma ter um equilíbrio no material colhido no campo. A tabela 1 elenca dados das entrevistadas como nome (fictício), idade, escolaridade, se exerce atividade remunerada, qual o valor ganho pela atividade exercida e quantos filhos possui. Dessa forma, temos uma visualização geral dos dados coletado, possibilitando, assim, visualizar o perfil das entrevistadas. Entrevistada Idade Escolaridade Possui atividade Remunerada? Renda Mensal Quant. de Filhos 27 Bia 35 Maga 40 Gabi 39 3º série Ens. Fundamental Ens. Médio completo 5º série Ens. Fundamental 1º ano Ens. Médio Ens. Médio Liana 29 completo Ens. Médio Raniely 24 completo 4º série Arlete 52 Ens. Fundamental Ens. Médio Karol 22 completo Ens. Médio Joana 27 completo Ens. Médio Ana 31 completo Tabela 1 - Dados gerais das mulheres entrevistadas Fonte: Elaborada pela pesquisadora. Kaliane 38 Sim R$ 678,00 Sim R$728,00 Sim R$1.500,00 Sim R$824,00 Sim R$1.600,00 Sim R$900,00 Sim R$ 3.000,00 (conjunta) Não R$1.500,00 Sim R$ 1.100,00 Sim R$ 930,00 02 04 02 01 01 01 02 01 01 02 A seguir, detalhamos os dados expressos na tabela 1, apresentando mais detalhadamente cada entrevistada, e a maneira que ocorreu o contato com cada uma delas, durante a minha presença no Juizado. Bia A entrevistada de nome fictício Bia, tem 35 anos e possui duas filhas da relação que ela mantinha com o agressor. Estudou até a 3ª série do ensino fundamental e trabalha como atende em um restaurante, recebendo uma remuneração de R$ 678,00. Ela vivia acerca de onze anos com o agressor e a principal renda da família era dele, que trabalhava de carteira assinada como frentista, ganhando mais de um salário mínimo. Maga A pesquisada de nome fictício Maga tem 40 anos e possui três filhos oriundos da relação que mantinha com o agressor e mais um filho de outro relacionamento. Possui o ensino médio completo e atua como professora, ganhando uma renda mensal de R$728,00, sendo esta a principal renda da família. Ela vivia há 15 anos com o agressor usuários de drogas, que não possuía emprego fixo, 28 contribuindo apenas com a renda de pequenos trabalhos que realizava esporadicamente. Gabi A entrevistada Gabi tem 39 anos possui dois filhos com o agressor, sendo que o mais novo tem seis anos. Estudou até a 5ª série do ensino fundamental e se profissionalizou como manicure e depiladora, profissão em que ganha cerca de R$1.500,00; esta é a principal renda da família. Vivia há 25 anos com o agressor, que tinha emprego fixo como vendedor e era usuário de drogas. Kaliane A pesquisada aqui chamada de Kaliane tem 38 anos, e possui uma filha da relação com o agressor. Estudou até o 1º ano do ensino médio e trabalha como vendedora, o que lhe dá uma renda média de R$824,00, mensais. A principal renda da família era do agressor que tinha carteira assinada e ainda ganhava comissão. Ela convivia com ele há três anos. Liana A entrevistada tem 29 anos e uma filha fruto da relação com o agressor. Possui o 2º grau completo e trabalha como cabeleireira, o que lhe fornece uma renda mensal de R$1.600,00, sendo a responsável pela maior parte da renda familiar. Ela vivia com o agressor há cinco anos. Ele era usuário de drogas e não possuía emprego fixo, contribuindo pouco com a renda da família e apenas quando conseguia algum serviço temporário. Raniely Essa pesquisada tem 24 anos e possui um filho com o agressor. Possui o 2º grau completo e trabalha como revendedora de cosméticos, ganhando uma renda média de R$900,00, o que se refere a maior parte da renda familiar. Estava há quatro anos convivendo com o agressor, que possuía renda fixa, mas em menor valor do que a dela. 29 Arlete Esta entrevistada tem 52 anos e duas filhas com o agressor. Cursou até a 4ª série e trabalhava em um negócio que montou junto com o ex-companheiro, tendo uma renda compartilhada em torno de R$ 3.000,00. Convivia há 27 anos com agressor. Karol A pesquisada de nome fictício Karol tem 22 anos e não possui filhos com agressor. Está cursando administração e sua renda mensal é oriunda de seu pai de acordo com suas despesas, em torno de R$1.500,00. Namorava com o então companheiro há um ano. Joana A entrevistada tem 27 anos e um filho com o agressor. Possui ensino médio completo e trabalha como vendedora, de onde retira uma renda mensal de R$1.100,00, que era a principal da família. Convivia há sete anos com o agressor que tinha emprego fixo, mas com renda menor que a dela. Ana Esta entrevistada tem 31 anos, dois filhos com o agressor, e um de outro relacionamento. Concluiu o ensino médio e tem uma renda mensal de R$930,00, oriunda de seu trabalho como representante de vendas. Estava há 4 anos convivendo com o agressor, que possuía renda fixa maior que a dela, sendo a principal da família, e que era usuário de drogas Ao observarmos especificamente a idade das entrevistadas, percebemos de acordo com o gráfico apresentado, que elas estão, principalmente, na faixa etária dos 20 anos, com 40%, e dos 30 anos, com 40%, entre 40 e 50 anos, representando 10% e com também 10% estão na faixa dos 50 e 60 anos. Ou seja, a violência doméstica pode acontecer com mulheres de todas as idades, mas tem ocorrido com 30 mulheres mais jovens. Diante de toda a violência contras as mulheres, há muito tempo existem movimentos que lutam contra essa situação e que buscam a efetivação de políticas públicas voltadas para as mulheres. Tais políticas são essenciais para a proteção e amparo das mulheres que, independentemente de terem sofrido ou não violência. Portanto no próximo capítulo será abordada a temática que permeia as políticas públicas voltadas para as mulheres. 3 LEI MARIA DA PENHA: UMA CONQUISTA DE TODAS AS MULHERES 31 3.1 Políticas Públicas voltadas para as Mulheres As políticas públicas são de suma importância para qualquer setor da sociedade, pois de acordo com Rua (1997), as políticas públicas são atividades políticas que compreendem o conjunto de ações e decisões relacionadas à posição imperativa de valores. Alves (1991) aponta as políticas públicas como respostas do Estado às demandas da sociedade, que por sua vez, elenca suas necessidades e pressiona no sentido de sanar essas necessidades. Os resultados desse processo entre Estado e sociedade civil devem ser vistos como processos sociais contínuos, sendo responsável pelo fortalecimento das políticas sociais. Além disso, por mais óbvio que possa parecer, as políticas públicas são públicas – e não privadas ou apenas coletivas. A sua dimensão pública é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual incidem, mas pelo seu caráter “imperativo”. Isto significa que uma das suas características centrais é o fato de que são decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público (RUA, 1997, p. 2). Importantes transformações ocorreram nas relações entre Estado e sociedade no Brasil a partir dos anos 1970. Nos anos 1980, com a mudança de regime, as políticas públicas foram marcadas por mudanças, resultado de processos estabelecidos ao longo das décadas anteriores. A década dos anos 80 inicia-se com duas importantes vitórias das forças de oposição à ditadura militar: a anistia política e o retorno ao voto, com as eleições de 82. As sementes plantadas pelas feministas deixaram raízes, como se observa tanto no tocante às creches quanto nas importantes mudanças da legislação, especialmente na área da família, que foram incorporadas à Constituição de 1988 (MORAES, 2006, p. 3). Farah (2004) explana que as políticas públicas podem ser consideradas como um curso do Estado que está orientado por certos objetivos que refletem ou traduzem certos interesses. Assim, as políticas públicas para as mulheres, inicialmente, resultaram dos movimentos feministas, sendo que o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina só foi criado em 1983 e a primeira Delegacia da Mulher em 1985, no Estado de São Paulo. O movimento de mulheres inicia parcerias com o Estado no sentido da implementação de políticas públicas para trabalhar com esse problema. Em 1983 é criado o Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo; 32 em 1985 é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e a primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), também no Estado de São Paulo. A instituição das DDMs permitiu que delegacias especiais para crimes contra a mulher, com funcionárias exclusivamente mulheres e devidamente treinadas, fossem implantadas, dando enorme visibilidade ao problema. O Brasil foi o primeiro país no mundo a propor este tipo de intervenção (SCHRAIBER; D‟OLIVEIRA, 2006). Essas delegacias especiais representaram um avanço igualitário para as mulheres, expressando a participação política para a defesa de um grupo historicamente reprimido e discriminado, porém ainda era preciso avançar bastante no tocante às legislações. Apesar das primeiras delegacias de atendimento específico para as mulheres terem sido criadas no ano de 1985, devemos estar cientes de que as legislações naquela época não estavam voltadas para à violência contra mulher. Para o jurídico, as delegacias deveriam realizar investigações baseadas em princípios legais e as práticas policias deveriam se norteadas pelas leis, logo, a violência contra a mulher, fosse familiar, doméstica ou de gênero, não estava incluída nas tipificações das leis criminais. Até a promulgação da Lei 11. 340/06, as mulheres não tinham uma lei específica que as amparassem, e as práticas violentas contra elas não tinham uma interpretação do jurídico e nem da sociedade como sendo resultado de estrutura de dominação construída historicamente (GREGORI, 2007). A criação do Programa de Assistência Integral da Mulher também foi consequência das mobilizações das mulheres (COSTA, 2005). A autora também aponta que a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República foi criada em 2003, inaugurando um novo momento na história do Brasil no que se refere à formulação e articulação de políticas que visem a equidade entre homens e mulheres. Em 2004, o Governo Federal deu um importante passo ao realizar a I Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, na cidade de Brasília. Esta Conferência reuniu cerca de 120 mil mulheres de todo o Brasil, tornando um marco relevante para a afirmação dos direitos das mulheres. Neste encontro, as mulheres apresentaram propostas para a elaboração do Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que expressou como principal objetivo assegurar os direitos das mulheres, afirmando-as como cidadãs. Esse Plano pautou-se pelos seguintes pontos: igualdade e respeito à diversidade, sendo mulheres e homens 33 iguais em seus direitos; educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos. De acordo com a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres (2004), o Plano Nacional de Políticas Públicas para as mulheres pode ser um instrumento para a afirmação dos direitos das mulheres, desde que seja bem utilizado. Porém, torna-se necessário que as mulheres conheçam o Plano, e este, por sua vez, deve visar combater a realidade de desigualdade vivida entre homens e mulheres no Brasil, reconhecendo o papel fundamental do estado no combate a esta situação de desigualdade (COSTA, 2005). O Plano tem 199 ações, distribuídas em 26 prioridades que foram definidas durante a Conferência, e que foram organizadas por um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, sendo composto por representantes dos Ministérios da Saúde, Educação, Trabalho e Emprego, Justiça, entre outros ministérios (COSTA, 2005). No que diz respeito à cidade de Fortaleza, é de responsabilidade da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Fortaleza desenvolver as políticas elaboradas a nível nacional, coordenando e formando parcerias com outros setores da sociedade. Vinculada à Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Coordenadoria foi criada em 2007 e tem, entre outras funções, implementar ações que visem a educação e a cultura sem discriminação, além de saúde e assistência a mulher vítima de violência doméstica. Também é dever da Coordenadoria promover a equidade de gênero, levando em consideração que: [...] ao propor políticas públicas “de gênero”, é necessário que se estabeleça o sentido das mudanças que se pretende, sobretudo, com vistas a contemplar a condição emancipatória e a dimensão de autonomia das mulheres. Para que as desigualdades de gênero sejam combatidas no contexto do conjunto das desigualdades sócio-históricas e culturais (COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FORTALEZA, 2012). De forma geral, a sociedade, e mais precisamente a população feminina, está cada dia mais ciente de que se está passando por um processo de transformação em relação à posição da mulher na sociedade. Ou seja, as políticas públicas para as mulheres devem inserir em suas discussões às relações de gênero, combatendo o preconceito para que assim, sejam reconhecidas as diferenças de gênero. Além disso, devem nortear a sociedade de forma que sejam estabelecidos 34 os direitos das mulheres de forma real e eficaz, e não apenas no papel. Então, durante muito tempo as mulheres foram vistas como seres inferiores em relação aos homens, não podendo expressar seus desejos e vontades. Assim, as mulheres, constantemente, sofriam agressões dos mais diversos setores da sociedade, fossem essas agressões físicas ou psicológicas, e não tinham nenhuma lei que pudesse ampará-las (CAVALCANTI, 2007). Para que esse cenário se modificasse, foram necessários inúmeros movimentos por parte das mulheres, que passaram a exigir uma maior representatividade na sociedade, que será aprofundado no item subsequente. 3.2 Movimentos feministas: a busca pelos direitos das mulheres Desde os tempos mais remotos, o machismo sempre existiu em diversas partes do mundo. A mulher não tinha direito de herdar, lhe era vedada a possibilidade de estudar, bem como de participar do mundo público (PINTO, 2009). Os movimentos feministas foram responsáveis por inúmeras conquistas das mulheres, incorporando os direitos da mulher nas legislações vigentes. De acordo com Pinto (2009), as primeiras manifestações feministas ocorreram na Inglaterra, no final do século XIX, quando algumas mulheres se pronunciaram realizando consideráveis manifestações em Londres, para que fossem incluídas no mundo político sendo a elas concedido o direito de votar. O feminismo desse período era formado por mulheres de classe média, que receberam a educação da área de Humanas, da Crítica Literária e da Psicanálise. Essas mulheres ficaram conhecidas como sufragistas e muitas delas foram presas e algumas pagaram com a própria vida. No Brasil, os movimentos feministas também conseguiram vitórias, é como salienta Ostos (2012, p. 05): O ano de 1932 foi, certamente, um marco para as mulheres brasileiras, que conquistaram diversos direitos, tanto políticos, quanto sociais. O Código Eleitoral estipulou o direito de voto para as mulheres e diversos decretos introduziram avanços inegáveis na legislação trabalhista, favorecendo a população feminina que laborava na indústria e no comércio: concessão do direito à licença-maternidade; proibição do trabalho da mulher grávida durante quatro semanas antes e após o parto; direito da mulher em período de aleitamento a descansos diários, ao longo de seis meses depois do parto; direito a repouso de duas semanas caso a gestante sofresse aborto natural; proibição do trabalho feminino em subterrâneos e outras atividades perigosas e insalubres; igualdade salarial para ambos os sexos, desde que no desempenho das mesmas funções; proibição do trabalho noturno às 35 mulheres, entre dez da noite e cinco da manhã (DECRETO nº 21.417A, 17/05/1932). Para Ostos (2012), os benefícios de algumas dessas medidas são notórios, e muitas dessas conquistas só acorreram devido às repetidas batalhas travadas pelas trabalhadoras em prol de uma vida mais humana e igualitária, na qual não vigorasse a exploração desumana a que eram submetidas nos ambientes empregatícios. É válido salientar que os gêneros masculino e feminino sempre existiram e contribuíram para a formação da sociedade. De acordo com Carloto (2001), a existência de gêneros representa a desigual distribuição de responsabilidades, e estas, por sua vez, muitas vezes representam o preconceito. O modo masculino de contribuir para a sociedade diferencia-se do feminino, pois os homens são voltados para atuarem no meio público, enquanto as mulheres deveriam atuar no espaço doméstico. Além disso, as questões de gênero estão internalizadas em homens e mulheres, como aponta Saffioti (1992, p. 10): “o machismo não constitui privilégio de homens, sendo a maioria mulheres suas portadoras. Não basta que um dos gêneros conheça e pratique atribuições que lhes são conferidas pela sociedade, é imprescindível que cada gênero conheça as responsabilidades do outro gênero”. O cenário em que o feminismo ganhou força no Brasil foi bem distinto do europeu e americano, pois enquanto nos Estados Unidos e na Europa o momento era bem propício para surgimentos de movimentos literários, no Brasil a realidade foi diferente. Em meio à ditadura militar da década de 1960, em um ambiente militar, o movimento feminista dá os primeiros passos para a árdua batalha por direitos antes reservados aos homens. Foi no momento de repressão política, na década de 1970, que surgem as primeiras iniciativas das feministas. Porém, o ponto de partida do feminismo brasileiro era similar aos movimentos da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, o direito de votar e de serem votadas (BIANCHINI, 2009). Já na década de 1970, o movimento feminista consolidou-se entre a sociedade em geral disseminando a ideia de transformação social, através de inúmeros grupos que se formaram, como aponta Álvarez (apud BIANCHINI, 2009, p. 09): [...] nesse processo de transição, o intenso labor que as feministas enfrentaram ao serem obrigadas constantemente a lidar com a discriminação, a repensar sua relação com os partidos políticos dominados 36 pelos homens, com a igreja progressista, com um Estado patriarcal, capitalista e racista. Nos anos de 1980, a redemocratização abriu espaço para que o feminismo fosse cada vez mais atuante no que tange a luta pelos direitos das mulheres. Nesta mesma década, a ONU (Organização das Nações Unidas) reconheceu a questão da desigualdade em relação ao sexo feminino como sendo social, e favoreceu a abertura de grupos feministas como o Brasil Mulher, o Nós Mulheres e o Movimento Feminista pela Anistia. A aproximação do movimento das mulheres com esses outros grupos foi bastante proveitosa. Inicialmente, o feminismo brasileiro era formado por mulheres intelectuais da classe média, porém sua pluralidade expandiu-se pelas classes populares e pelas organizações de bairro, provocando assim novas discussões. Diante desse panorama, cita Pinto (2009, p. 17): Com a redemocratização no ano de 1980, o feminismo no Brasil entra em fase de efervescência na luta pelos direitos das mulheres: há inúmeros grupos e coletivos em diferentes regiões tratando de uma gama muito ampla de temas – violência, sexualidade, direto no trabalho, igualdade no casamento, direito à terra, direito à saúde, luta contra o racismo, opções sexuais. Na década de 1990, as discussões acerca da luta das mulheres ganharam notoriedade no espaço acadêmico com a realização de um seminário 2 na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) que discutia as torturas praticadas durante o regime militar, entre elas as vivenciadas por mulheres, como aponta Sarti (2001, p. 38): De forma insólita, em 1996, o espaço acadêmico se abriu para um evento eminentemente político que debatia a tortura durante a ditadura militar no Brasil. Neste seminário foi discutida a presença da mulher como protagonista na resistência à ditadura e, pela primeira vez, como vítima de uma violência específica. Os depoimentos femininos foram contudentes em revelar o corpo ferido e torturado com base naquilo que identifica o ser mulher em nossa sociedade, dada a forma específica de violência que a repressão submeteu as mulheres militantes. Elas foram atingidas não apenas sexualmente, mas também por uma manipulação do vínculo entre mãe e filhos, uma vez que esse vínculo torna a mulher particularmente vulnerável e suscetível à dor. Dessa forma, as lutas dos movimentos feministas sempre tiveram como principal objetivo a mudança da posição da mulher na sociedade e o interesse era 37 que fossem superadas as relações de desigualdade existentes entre os sexos feminino e masculino, que sempre deixavam em desvantagem o sexo feminino, causando uma condição de inferioridade para a mulher em relação ao homem (BIANCHINI, 2009). Importante ressaltar que, de acordo com o Ministério Público (2012), as questões referentes aos direitos da mulher vêm sendo discutidas desde a Revolução Francesa (1789), porém, apenas no século XX, as mulheres foram reconhecidas como cidadãs e, consequentemente, sujeitos de direitos. Entre as principais convenções que discutiram a condição feminina estão: as duas Convenções Interamericanas, sendo que uma tratou sobre a concessão dos direitos civis, e a outra sobre a concessão dos direitos políticos à mulher, e que ocorrem em 1950 e 1952, respectivamente; a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979; e, em 1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, mais conhecida como Convenção de Belém do Pará. As conquistas oriundas dos movimentos feministas, como por exemplo, o direito ao voto, são provas do poder articulador das mulheres, enquanto seres participantes da sociedade. A partir da força desses movimentos, o governo brasileiro passou a repensar o cenário de políticas públicas para as mulheres, principalmente no que se refere ao enfrentamento da violência contra a mulher, que culminou com a criação da Lei 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Dessa forma, as políticas progredirão cada vez mais e as conquistas femininas serão ainda maiores, principalmente no que tange a legislação que assegure seus direitos, como é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que será abordada a seguir. As políticas públicas, no que se refere ao modo como são tratadas as mulheres vítimas de violência doméstica, passaram por um longo processo histórico para que avanços como a implantação da Lei 11. 340 /06, ou Lei Maria da Penha, se concretizassem. Sendo assim, entendemos ser relevante a abordagem do assunto no tópico seguinte. 2 Seminário A Revolução Possível: homenagem às vítimas do regime militar. Organizado pelo instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMPI, em abril de 1996. 38 3.3 A Lei Maria da Penha: um avanço significativo para as mulheres Uma política pública que atendesse ás necessidades das mulheres vítimas de violência doméstica sempre foi uma luta da classe feminina, e tal fato foi concretizado com a criação da Lei Maria da Penha. Assim, Maria da Penha Maia Fernandes é a responsável por ter escrito um importante capítulo na luta pelos direitos das mulheres, no que se refere à violência contra as mesmas. Dentro desse contexto, é importante descrever a mulher que inspirou a Lei. Maria da Penha, uma biofarmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará, casada com Marcos Antônio Heredia Viveiros, recebeu enquanto dormia, no dia 29 de maio de 1983, um disparo de arma de fogo feito pelo então marido, fato este que a deixou paraplégica. Quando retornou do hospital, ainda fragilizada e em recuperação, sofreu uma nova agressão por parte de seu esposo: dessa vez uma descarga elétrica enquanto tomava banho3. Após as agressões, Maria da Penha denunciou o marido ao Ministério Público, e ele foi condenado a 15 anos de prisão, em 1991. Mas, em decorrência das inúmeras apelações feitas por parte da defesa do réu, este se manteve em liberdade. Inconformada com a situação, Maria da Penha resolve busca justiça junto aos órgãos internacionais e apresenta seu caso a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). Sua situação foi melhor analisada na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, mais conhecida como Convenção do Pará4. Esta apelação resultou na condenação do Brasil por negligência e a recomendação de que houvesse uma legislação brasileira específica para tratar da violência contra a mulher. Em decorrência dessa sanção, ocorreu a criação da Lei nº 11.340/06, que ficou popularmente conhecida como Lei Maria da Penha devido a luta dessa mulher não apenas pelo seu direito à vida, mas pelo direito de milhares de mulheres. Apesar de toda a batalha, o agressor Marco Antônio, que foi preso em 2002, permaneceu por apenas 2 anos na prisão, recebendo a progressão para o regime aberto, pois a legislação da época do crime assim permitia. 3 As informações de toda essa seção estão disponíveis em: <http://www.mariadapenha.org.br>. Convenção realizada pela Organização dos Estados Americanos, que tinha como objetivo rever o conceito de violência contra a mulher, bem como as ações que permeiam essa violência. 4 39 3.3.1 Aspectos e inovações da Lei nº 11.340/06 Para tanto, a condenação do Brasil pela OEA representou um marco na luta das mulheres contra a violência sofrida por elas. Depois da apelação de Maria da Penha junto ao órgão internacional, o Brasil passou a implementar algumas medidas que visavam efetivar ações que resolvessem o caso em questão. Assim, houve a criação de diversos órgãos, como o Grupo de Trabalho Interministerial, formado por outros órgãos governamentais, como por exemplo, a Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres (SPM) e o Ministério da Saúde. Do trabalho realizado por esses órgãos, elaborou-se o Projeto Lei nº 4.559, que versava em seu texto acerca da definição de violência doméstica contra a mulher, estabelecia medidas protetivas de urgência e estabelecia ser a violência uma violação dos direitos humanos. A Lei nº 11.340/06, em seu Art. 1º, expressa os direitos fundamentais da mulher, além de comprometer o Governo que deverá buscar os meios necessários para garantir que os direitos adquiridos sejam respeitados, como se observa a seguir: Art. 1º: Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do § 8º do art. 226 da, da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. De forma geral, o principal objetivo da Lei em questão é coibir todo e qualquer tipo de violência que aconteça dentro do meio familiar, focando na proteção da mulher, para que esta não sofra nenhuma agressão por parte de seu companheiro, ou por qualquer outro membro familiar (CUNHA; PINTO, 2007). Outro fator de suma importância trazido por essa Lei refere-se ao atendimento que deve ser disponibilizado para a mulher que é acometida por algum tipo de violência, pois se deve buscar, de todas as formas, minimizar os traumas sofridos por ela. De acordo com a Lei, a mulher não pode sofrer sanções em seu emprego e, caso seja necessário, poderá afastar-se para recuperar-se. Além disso, 40 ela deve ser inserida em programas assistenciais do Governo e deverá ter assessoria jurídica de forma gratuita. No que se refere ao agressor, a Lei Maria da Penha também trouxe modificações quanto ao tratamento e punição do mesmo. Dentre elas, a questão penal que pode chegar até 3 anos, além da necessidade de participação em programas que visem a reeducação do réu. É válido salientar, que nenhuma das penas aplicadas ao agressor poderá ser substituída por cestas básicas ou semelhantes. A estrutura para atender a mulher vítima de violência também foi modificada com a implementação da Lei, sendo criados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM). Os juizados visam agilizar o processo que envolve violência contra a mulher, prestando um atendimento mais humanizado e que priorize o bem estar da agredida, como aponta Souza (2008, p. 56): A opção por criar um juizado com uma gama de competências tão ampla está vinculada à ideia de proteção integral à mulher vítima de violência doméstica e familiar, de forma a facilitar o acesso dela à Justiça, bem como possibilitar que o juiz da causa tenha uma visão integral de todo o aspecto que a envolve, evitando adotar medidas contraditórias entre si, como ocorre no sistema tradicional, no qual as adoções de medidas criminais contra o agressor são de competência do Juiz Criminal, enquanto que aquelas inerentes ao vínculo conjugal são de competência, em regra, do Juiz de Família. A Lei Maria da Penha também estabelece em seu Artigo 11, diretrizes para as Delegacias que devem ser seguidas caso essas recebam mulheres vítimas de violência. Entre os pontos elencados estão: a proteção, por parte do corpo policial, da vítima e de seus respectivos familiares; o direcionamento da vítima para a unidade de saúde mais próxima, além de serem orientadas acerca das medidas que podem ser realizadas por elas, visando garantir seus direitos e resguardar-se do agressor. Já o Artigo 12 da referida Lei, explana de forma detalhada os procedimentos que devem ser seguidos pela autoridade policial no ato da denúncia da vítima, além de esclarecer que a mesma pode realizar exame de corpo de delito em qualquer unidade de saúde (SOUZA, 2008). A Lei nº 11,340/06 também estabelece mudanças no âmbito judicial, sendo que a principal delas, refere-se a criação dos Juizados Especializados, que por sua vez deverão atender de forma humanizada àquelas que o procuram. É dever 41 dos juizados acelerar os processos, principalmente os de medida protetiva de urgência que, segundo o Artigo 19 da Lei 11.340/06, poderão ser concedidos pelo juiz (SOUZA, 2008). Outro ponto relevante gerado pela criação da Lei Maria da Penha, relaciona-se às medidas protetivas de urgências, que têm por objetivo garantir a integridade física e psicológica da mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica. Para que isso ocorra, pode-se, caso seja necessário e solicitado pelo juiz, utilizar-se força policial, salientando-se que estas medidas são revisadas periodicamente por um juiz que verifica se há a necessidade de se expandir o período de duração. Dessa forma, as medidas protetivas referem-se tanto ao agressor quanto à agredida. As que são aplicadas à agredida, tem-se, de acordo com o Artigo 23 da Lei Maria da Penha: Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; IV - determinar a separação de corpos. As que são aplicadas ao agressor, estão no Artigo 22, da Lei nº 11.340/06 e traz, entre outros pontos: Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente,nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; [...]. 42 A Lei nº 11.340/06 também explana a função do Ministério Público e de sua participação nos Juizados de Violência Doméstica, apontando que o órgão deve fiscalizar denúncias que tratem de violência contra a mulher e necessite, caso seja preciso, força policial ou qualquer outro serviço que a vítima necessite. Também cabe ao Ministério acompanhar ou solicitar medidas protetivas de urgência, de acordo com o caso analisado. Para acompanhar todo o andamento do processo e amparar a vítima de violência doméstica no que tange as questões legais, torna-se relevante que haja a presença de um advogado, fato este resguardado pela Lei Maria da Penha no Artigo 27, podendo ser solicitado o apoio da Defensoria Pública, como explana o Artigo 28: Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei. Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Segundo Cabette (2009), a prisão preventiva também pode ser utilizada como meio de punição quando não houver a obediência por parte do agressor em relação à medida protetiva que lhe restringe, conforme apresentado no Artigo 20 da Lei nº 11.340/06: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Na cidade de Fortaleza, segundo Cavalcante (2011), após a criação da Lei Maria da Penha, as mulheres que sofrem violência doméstica têm a disposição alguns serviços à sua disposição. Inicialmente, elas registram um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher e faz a solicitação da medida protetiva; as medidas protetivas são recebidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Fortaleza, onde são registradas e despachadas pela juíza, que autoriza a intimação das mulheres agredidas e dos agressores. A partir do Juizado, encaminha-se a vítima de violência para outros órgãos, como os Centros de Referência. Há também em Fortaleza a Defensoria Pública da Mulher, que 43 fornece assistência jurídica, e o Hospital da Mulher, rede de saúde específica para a parcela feminina da sociedade. As inovações acarretadas pela criação da Lei Maria da Penha são, indiscutivelmente, benéficas para àquelas mulheres vítimas de violência doméstica, pois as auxiliam durante todo o processo penal que é desencadeado a partir da denúncia apresentada pela agredida. Apesar disso, muitos são os avanços necessários para que se possa observar uma verdadeira efetividade da Lei no que concerne sua aplicação, pois mesmo existindo uma grande estrutura para atender a mulher vítima de violência doméstica, essa rede necessita funcionar melhor e possuir profissionais cada vez mais especializados. É preciso que os órgãos competentes façam seu papel e coloquem em prática o que a lei determina, além de trabalharem para reinserir a mulher vítima de violência na sociedade. 44 4 4.1 A VISÃO INSTITUCIONAL POR MEIO DAS FALAS Contextualização do campo de pesquisa Para entender um pouco mais sobre do campo de realização desta pesquisa, torna-se necessário fazer uma breve exposição a respeito da Lei Maria da Penha. A Lei Federal nº 11.340/06 foi sancionada em 7 de agosto de 2006, pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, e reconhecida como um avanço ao combate à violência contra a mulher. Ela aumentou os mecanismos de proteção das vítimas e triplicou a pena para casos de agressões domésticas. Esta Lei foi elaborada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres com a participação de um consórcio de ONG e juristas, a partir das recomendações da OEA, com embasamento nas convenções ratificadas pelo Brasil. Ela significa para as mulheres, seus filhos e suas filhas, a possibilidade de uma vida sem violência já que apresenta mecanismos para prevenir, coibir e proteger as vítimas de violência doméstica e punir o agressor (SENADO FEDERAL. Lei Maria da Penha: um avanço no combate à violência doméstica contra a mulher. anexo II. Brasília: Ed. SEEP, 2001). Por determinação da Lei Maria da Penha foram criados os Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, dentre eles encontrase o Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza, espaço que se configura o campo de investigação desta pesquisa. O referido juizado foi inaugurado um ano depois de ser sancionada a Lei Maria da Penha, no dia 18 de dezembro de 2007. O Juizado de Violência Doméstica constitui o recorte espacial da pesquisa, logo neste campo tornou-se limitado à abrangência empírica do objeto estudado. O referido Juizado fica situado na avenida da Universidade, nº 3281, no bairro Benfica, sendo que seu horário de funcionamento ocorre a partir das 08:00 da manhã, seguindo suas atividades até as 18:00 da noite. No que se refere à equipe do Juizado, esta tem em sua composição principal: a Dra. Fátima Maria Rosa de Mendonça, que é a Juíza Titular e a responsável pela permissão que foi a mim concedida para que pudesse realizar esta pesquisa; a Dra. Verônica Martins Telles, que é Promotora de Justiça; e a Dra. Ana Lúcia da Silva de Monteiro, que ocupa o cargo de diretora de secretaria. 45 O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é uma unidade jurídica criada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Dos Territórios (TJDFT), por meio da Resolução nº 05, de 20 de setembro de 2006, do Conselho Administrativo, para julgar especificamente casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, como ordena a Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Após sua criação, este Juizado tornou-se subordinado ao Tribunal de Justiça do Ceará. A referida instituição é um órgão especializado e organizado de forma que as mulheres vítima de violência doméstica sejam atendidas de forma respeitosa e humanizada. Sua especialização é em decorrência da dupla competência que é concedida ao magistrado no julgamento de causas civis, ou seja, causas de famílias, e também em causas criminais. O atendimento diferenciado também é caracterizado pela existência de equipes multiprofissionais, que é formada, atualmente, por uma psicóloga, que auxilia as vítimas em sua recuperação psicológica, além de prestar apoio para as famílias das mesmas, e uma assistente social que auxilia as mulheres que procuram o Juizado nas mais diversas questões, como por exemplo, a inclusão das mesmas em programas governamentais, e verifica as condições familiares necessárias para que a vítima possa fazer uso de direitos que lhe são conferidos. Tanto a Psicóloga quanto a Assistente Social possuem estagiárias, uma para cada área, porém identificamos que a equipe multiprofissional é insuficiente, haja vista a enorme demanda do Juizado. De forma geral, a equipe citada tem o dever de assessorar a juíza na tomada de decisões, além de identificar as necessidades das mulheres atendidas no local. 4.2 Aproximação com o objeto Realizar uma pesquisa é algo que demanda tempo, dedicação, organização e exige do pesquisador um apego ao objeto pesquisado. Deve haver uma harmonia entre ambos, pois dessa forma a atividade torna-se prazerosa e tende a fluir sem muitas dificuldades. Eu5 sempre fui fascinada pelo processo revolucionário e pela trajetória de luta que muitas mulheres travaram e que teve 46 como consequência o reconhecimento de direitos que antes eram concedidos apenas aos homens, como por exemplo, o direito ao voto. De acordo com Gil (2008), a pesquisa é um processo que traz formas e sistemas de desenvolvimento do método científico, sendo o principal objetivo da pesquisa, apresentar esclarecimentos sobre problemas existentes respaldando-se em procedimentos científicos. A relevância social sobre a temática violência doméstica contra a mulher é considerada importante, pois se acredita que é essencial ter um olhar cuidadoso e atento por parte das autoridades governamentais, através da criação de políticas públicas, que visem à prevenção e o combate deste fenômeno. Como a própria Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 226, parágrafo 8º, “a assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações”. Observamos com esse artigo que o papel do Estado brasileiro é fundamental ao enfrentamento da violência, porém, percebe-se que ainda existe um número elevado de mulheres que são violentadas diariamente por existir uma omissão por parte das autoridades competentes. Dessa forma, é relevante destacar também o papel da sociedade em fiscalizar a implementação de políticas públicas para as mulheres, principalmente no que tange à proteção das mesmas contra a violência doméstica. O interesse em realizar esta pesquisa sobre violência doméstica contra a mulher advém da crença da pesquisadora em questão que esse problema representa um retrocesso aos direitos que as mulheres adquiriram até os dias atuais. Aliado a isso, há a crença de que a violência é uma forma de manifestação das desigualdades entre gêneros, logo, configura-se, também, violência contra os direitos humanos. É como afirma (QUEIROZ, 1992, p.15): A concentração do interesse do pesquisador em determinados problemas, a perspectiva em que se coloca para formulá-los, a escolhas dos instrumentos de coleta e análise do material não são nunca fortuitos; todo estudioso está sempre engajado, de forma profunda e muitas vezes inconsciente, naquilo que executa. 5 Nesta sessão, utilizou-se a primeira pessoa do singular no desenvolvimento do texto por se tratar da experiência da pesquisadora. 47 Comecei a estudar sobre o assunto a partir do projeto de pesquisa, que realizei no quarto semestre do curso de Serviço Social e, na época, fui orientada a pesquisar sobre algo que despertasse meu interesse. Sendo assim, ficou cada vez mais evidente que eu sentia a necessidade de entender os elementos que permeiam esse problema, me interessava saber: Quais os tipos de violência sofrida pelas mulheres? Quais as percepções das mulheres vítimas de violência em relação aos seus agressores? Como as vítimas se percebem após a violência sofrida? Qual o conhecimento das mulheres vítimas de violência doméstica sobre a Lei Maria da Penha? Durante minha experiência de estágio supervisionado da Faculdade Cearense no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS/AD) do bairro Rodolfo Teófilo realizei um trabalho, juntamente com minha supervisora de campo, que consistia na elaboração de relatórios contendo informações sobre os usuários que lá cumpriam penas alternativas, sendo estas designadas pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza. Essa atividade estimulou ainda mais o meu interesse em desenvolver estudos sobre violência e ampliou os meus questionamentos a respeito do problema. Então, pensei em realizar minha pesquisa na própria unidade em que estagiava, mas, infelizmente, percebi que não seria possível, pois teria que conseguir autorização por parte do Conselho de Saúde. Este processo demanda bastante tempo, sendo maior do que o prazo de entrega do trabalho de conclusão de curso estipulado pela instituição de ensino a qual estou vinculada. Tal fato inviabilizou a realização da pesquisa naquele local, pois aconteceria um choque entre as datas. Nas interpretações de Turatto (2003), o campo torna-se o espaço natural de interação entre pesquisador e o objeto da pesquisa. Esse espaço é o local no qual as pessoas falam com propriedade sobre o tema pesquisado e, por conseguinte, é visto pelo pesquisador como o ambiente ideal para se analisar as posturas dos sujeitos observados de forma a encontrar respostas para as indagações levantadas durante o processo de pesquisa. Foi durante uma conversa com uma Assistente Social do CAPS/A/D, onde expus a problemática que enfrentava no que se relacionava a dificuldade de encontrar um local para que a mesma fosse realizada. Na ocasião, ela sugeriu que a 48 pesquisa de campo fosse desenvolvida no Juizado de Violência Doméstica de Fortaleza. Eu já conhecia um pouco da instituição, pois juntamente com a Assistente Social do CAPS, já havia, elaborado relatórios dos usuários que cumpriam pena na unidade, inclusive, algumas vezes, cheguei a levar alguns relatórios para o juizado supracitado. No mesmo dia, liguei para o juizado, realizei um primeiro contato para saber quais eram as possibilidades para a execução dessa etapa da minha pesquisa, solicitando a autorização para o meu ingresso naquele espaço para a realização do estudo. Logo, fui orientada a levar um ofício à instituição, e assim o fiz. No primeiro dia em estive no local, ainda na sala de espera, naquele momento em que fiz o primeiro contato com as vítimas pude constatar que seria o ambiente adequado para atender os objetivos da pesquisa que são: Identificar quais tipos de violência as mulheres sofrem e as percepções das mesmas em relação à violência sofrida; observar como as mulheres vítimas de violência percebem os seus agressores; entender, a partir das falas das vítimas, como elas se percebem após sofrerem violência; analisar o que as vítimas de violência doméstica entendem a respeito da Lei Maria da Penha. 4.3 Percurso metodológico A natureza da pesquisa é predominantemente qualitativa, logo, buscamos analisar os sentidos e os significados relacionados à violência contra a mulher, pois havia o interesse de se trabalhar com percepções e entender as motivações, os significados, os princípios e valores, que permeiam o universo das mulheres vítimas de violência. Sendo assim, não se trata de uma escolha, mas sim de uma consequência própria desta pesquisa. Assim fala Queiroz (2008, p. 23): As técnicas qualitativas procuram captar a maneira de ser do objeto pesquisado, isto é, tudo o que o diferencia dos demais; a sociologia já tem sido por isso chamada de “ciência das diferenças”. Por meio da separação das diversas partes que compõem um todo (quer seja um grupo ou uma sociedade) é ele composto, para ser recomposto de acordo com as divisões do projeto previamente traçado. 49 O caráter qualitativo da pesquisa permitiu entender além do que era expresso verbalmente pelas entrevistadas, pois o contato direto com os atores da pesquisa possibilita certo conhecimento sobre eles, tornando possível extrair respostas de olhares e até mesmo do próprio silêncio. As entrevistas realizadas com as mulheres vítimas de violência atendidas pelo Juizado de Violência Doméstica foram submetidas à análise temática, que de acordo com Berelson (apud OLIVEIRA, 2008, p. 569): [...] a análise de conteúdo parte de uma literatura de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: aquele que ultrapassa os significados manifestos. Para isso, a análise de conteúdo em termos gerais relaciona estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a superfície dos textos descrita e analisada com os fatores que determinam suas características: variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de produção de mensagem. Para o desenvolvimento do presente estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo. Iniciamos com a bibliográfica para que fossem expostos estudos sobre as categorias que compõem o objeto de estudo gênero e violência doméstica. Para Gil, (2008, p. 24), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” Todo esse processo é de fundamental importância para a formulação do estudo, pois como aponta Minayo (1998, p. 19): Se quisermos, portanto, trilhar a carreira de pesquisador, temos de nos aprofundar nas obras dos diferentes autores que trabalham os temas que nos preocupam, inclusive dos que trazem proposições com as quais ideologicamente não concordamos. No geral, este tipo de pesquisa caracteriza-se como bibliográfica por ser de natureza acadêmica, e como é perceptível, o estudo teve início com a parte teórica, sendo referenciado por livros e artigos científicos que abordavam o tema pesquisado. Não obstante a natureza qualitativa do estudo recorreu-se a recursos quantitativos, pois tivemos acesso a dados estatísticos referentes à quantidade de mulheres que são agredidas, sendo utilizados recursos quantitativos para apresentar o número de vítimas. Porém, esclarecemos aqui que a recorrência desses dados não torna a pesquisa quantitativa, pois não foram produzidos por nós, sendo 50 utilizadas fontes que tratam da temática com o intuito de expor em que nível se encontra tal problema. Já a característica de campo da pesquisa se dá por ter ocorrido um estudo empírico no Juizado citado anteriormente, junto às mulheres vítimas de violência doméstica atendidas na instituição. Segundo Gondim (1987, p. 34): É altamente recomendável, para a elaboração de projetos de pesquisa que incluirão trabalho de campo, que se realize um levantamento empírico preliminar, por meio de observações sobre a instituição, o grupo ou as pessoas que se quer estudar. Foram realizadas idas antecipadas ao local de pesquisa, e esse ato possibilitou mais segurança à pesquisadora e proporcionou uma melhor relação com a equipe que atua na instituição. Primeiramente, utilizou-se a observação simples, que de acordo com Gil (2008, p. 102), “é muito útil quando é dirigida ao conhecimento de fatos ou situações que tenham certo caráter público, ou que pelo menos se situem estreitamente no âmbito das condutas privadas”. Antes de entrevistar qualquer pessoa, observei toda a estrutura do Juizado, bem como os funcionários, a maneira que as mulheres eram atendidas pela equipe e, principalmente, as próprias mulheres, que são as protagonistas desta pesquisa. Para Cardoso (2000, p. 19): Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo - ou no campo – esteja na dominação teórica do seu olhar. Isso porque, a partir do momento em nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o qual dirigimos o nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Para compreender como estava organizada a estrutura da equipe que compõe a instituição, foi agendada uma entrevista com a Assistente Social do Juizado. Na ocasião, a mesma me informou que a equipe multidisciplinar é bem reduzida, tornando-se desproporcional em relação à demanda existente. Para este estudo foram realizadas entrevistas, que segundo Haguette (1995 apud ALMEIDA et al., 1999) correspondem a um “processo de interação social, no qual o entrevistador tem a finalidade de obter informações do entrevistado, através de um roteiro contendo tópicos em torno de uma problemática central”. O tipo de entrevista aplicada para a coleta de informações foi a semi-estruturada, pois esta possibilita ao entrevistado narrar suas experiências relacionadas ao tema 51 abordado pelo entrevistador. A elaboração das questões ocorreu de forma que as mesmas tivessem como suporte o referencial teórico e que permitissem que as mulheres vítimas de violência doméstica contassem sua história de forma livre. Antes de realizar as entrevistas, todas as participantes foram previamente observadas durante os momentos em que eram atendidas no Juizado, bem como foi realizado um estudo a respeito da história de cada uma, de acordo com os registros da instituição. Tal fato foi necessário para que a presente pesquisadora tivesse a noção de que as mesmas se encaixavam nos objetivos da pesquisa em desenvolvimento. Dessa forma, para levantar dados qualitativos foi empregada a técnica de entrevistas com roteiros semi-estruturados, que são questões que buscam focar em determinado tema, com perguntas abertas, norteadas por um roteiro previamente elaborado, que contemplava perguntas sobre o relacionamento entre a vítima e o agressor, sua autopercepção sobre violência, a percepção que a mesma tinha em relação ao autor da violência, e o que ela entendia a respeito da Lei Maria da Penha, que para Gil é (2008, p. 109): A entrevista é das técnicas de coletas de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais. Psicólogos, sociólogos, pedagogos, assistentes sociais e praticamente todos os outros profissionais que tratam de problemas humanos valem-se dessa técnica, não apenas para coleta de dados, mas também com voltados para diagnóstico e orientação. Foi pedida a autorização de cada participante dessa pesquisa para a realização das entrevistas. Todas assinaram um termo de consentimento e todas têm suas identidades preservadas, sendo utilizados apenas nomes fictícios, alguns escolhidos pelas mesmas. Para registrar as informações colhidas durante essa etapa, utilizou-se um diário de campo, que consiste no registro das observações cotidianas e uma reflexão sobre as mesmas (GIL, 2008), nele foi anotado desde horário de funcionamento até os questionamentos que iam surgindo no decorrer da pesquisa. Outro instrumento utilizado, também foi um gravador de áudio, para poder registrar as falas de cada participante. Todas as entrevistas foram devidamente transcritas e cada depoimento foi conservado de acordo com o que foi dito e escutado. Realizou-se assim, uma leitura densa de cada depoimento transcrito para buscar as categorias 52 interpretativas, que para Osterne (2010), “Constituem os elementos do sistema que servem de estrutura ao conhecimento científico”. Destarte, caracterizam-se como um momento heurístico, as análises de conteúdo, os quais uniram teoria e prática na perspectiva de responder os questionamentos levantados. Para analisarmos o conteúdo colhido no campo de pesquisa, utilizamos o tipo de análise temática, que de acordo com Bardin (1995, p. 77), “quer dizer, da contagem de um ou vários temas ou itens de significação, numa unidade de codificação previamente determinada”. Dessa forma, elencamos cada pergunta e cada resposta de todas as participantes, onde realizamos uma leitura densa e pormenorizada, com o intuito de analisarmos cada fala para identificarmos as categorias e construirmos as respostas para os objetivos deste trabalho. Para tanto, estabelecemos discussões com os autores que abordavam a temática em questão. Assim, Bardim (1995, p.81) enfatiza que: Poder-se-iam assim multiplicar os desmembramentos temáticos, classificando e ventilando as significações do discurso em categorias em que os critérios de escolha e de delimitação seriam orientados pela dimensão da análise, ela própria determinada pelo objeto pretendido. Desse modo, a partir da fala das mesmas, tornou-se possível identificar os tipos de violência sofridas, bem como suas percepções sobre os tipos de violências. Também possibilitou analisarmos o que elas entendem sobre a Lei Maria da Penha e como as mesmas percebem seus agressores após o ato de violência. Finalizaremos o presente estudo com os resultados obtidos na pesquisa e com as considerações, fazendo uma comparação entre os levantamentos bibliográficos e as informações colhidas em campo. No próximo item, detalharemos através de categorias levantadas por meio das verbalizações das entrevistadas que participaram do presente estudo e analisaremos as percepções que as mesmas apresentam acerca da violência sofrida. 53 5 PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PARTIR DAS USUÁRIAS DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE FORTALEZA 5.1 Análise de conteúdo dos Resultados da Pesquisa De acordo com Schraiber et al. (2005), o conceito de violência pode ser entendido como os atos que ultrapassam os direitos das pessoas: direito ao respeito e dignidade. Quando acontecem atos de violência nas relações, ocorre uma violação dos direitos passando a ser prejudicial a quem vivencia. Destarte, os danos podem ser físicos ou psicológicos, mas são tão sérios quanto o homicídio, pois abrem espaço para uma série de agravos que acarretam, geralmente, com a morte da mulher, vítima da violência. Dessa forma, esta questão deve ser vista tanto no âmbito social, como no âmbito da saúde pública. Para compreendermos o que pensam as mulheres vítimas pela violência, direcionamos a pergunta expressa no tópico a seguir. 5.1.1 A partir da verbalização da pergunta: O que você entende por violência? A maioria das entrevistadas disse entender por violência as agressões físicas, morais e psicológicas, 60%; 30% citaram como violência as agressões físicas e morais; e apenas 10% entendeu que violência se referia às agressões físicas, sexuais e psicológicas. 54 Gráfico 1 - O que você entende por violência? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. A partir das verbalizações das entrevistadas, evidenciam-se as categorias: violência física, citada por todas as vítimas de violência doméstica, violência moral, violência psicológica, sendo que apenas uma cita a violência sexual e a patrimonial. Violência é quando você agride, são as humilhações, os traumas que ficam pra sempre. Violência pode ser de espancamento, psicológica e sexual. (GABI) Violência é qualquer tipo de agressão, física, verbal ou psicológica, é tudo que cause dor e sofrimento, que faz mal a uma pessoa. (JOANA) Violência pode ser física, psicológica. Quebrar as coisa dentro de casa eu também acho que seja violência. (MAGA) Diante desses relatos, notamos que além das marcas da violência física, as marcas da violência psicológica são perpetuadas e suas consequências tomam uma dimensão incalculável, refletindo de forma negativa na vida das mulheres que sofrem violência. Violência, além de agressão física são as agressões na alma, a ferida que fica e não cicatriza nunca. (KAROL) Tem gente que acha que violência é só a física, só que não é assim não. Violência é quando você agride verbalmente uma pessoa, são palavras. (ANA) 55 Percebemos que nenhum tipo de violência deve ser descartada ou minimizada no que se refere a sua gravidade, pois seus efeitos podem causar sérios prejuízos ao bem estar psíquico do receptor das violências. Assim, todo tipo de violência deve ser combatida de forma veemente em todos os âmbitos. Faz-se necessário compreendermos a terminologia de violência contra a mulher, que de acordo com a convenção de Belém do Pará (1994): Artigo 1º: Para os efeitos desta Convenção deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Artigo 2º: Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica: a. que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; b. que tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar, e c. que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. As mulheres, em determinados momentos, deixam de ser vistas por seus companheiros como mães e companheiras e passam a ser tratadas como mulheres objeto, não sendo considerados seus valores enquanto ser humano, tão pouco seus sentimentos, prevalecendo, assim, o machismo. Percebemos claramente esse fato na fala da entrevistada Ana, que afirma: [...] ele falava que as obrigações de casa era de mulher mesmo, nunca me ajudava, sempre falava coisas que me colocavam pra baixo, dizia que mulher não tinha que dirigir. Uma vez, ele jogou 200 reias em cima da cama e disse: “tá com raiva, pega, mulher só gosta mesmo é de dinheiro” [...]. (ANA) A presença de uma cultura machista ainda é muito presente no Brasil, e isto ainda hoje é visto como um dos principais motivos da violência doméstica contra mulheres. Em um relacionamento afetivo, a mulher é educada para o papel mais passivo e acaba sendo vitimizada, enquanto o homem, por outro lado, é treinado mais para a ação, tendo maior atração, e, por muitas vezes, assumindo o papel de 56 “vilão” (SAFFIOTI, 2004, p. 116). Assim, vão sendo tolerados pela sociedade, como notamos no trecho a seguir: No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sócias nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que considera como desvio. Ainda que não seja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-exploração da categoria social homens exige que sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência (SAFFIOTI, 2004 p. 118). Vários são os atores que discutem acerca da violência simbólica, dentre eles Barros (2004), que afirma que a violência acontece de duas maneiras: simbólica, podendo ser interpretada como subjetiva e física ou verbal (objetiva). A violência simbólica normalmente é expressa nas atitudes das pessoas: gestos machistas, comentários carregados de preconceitos, desconfiança, ausência de incentivos, entre outros. Tratando-se da violência física ou verbal, esta é caracterizada através de atos brutais visíveis, de humilhação, do uso da força e até mesmo por homicídios. Ao direcionarmos para Bourdieu (1999, p. 7), este enfatiza que a “violência simbólica” ultrapassa as relações onde há presença da força física, ocorrendo de forma sutil, prevalecendo também o uso da linguagem e do simbólico, sendo disseminado através de inúmeras situações por diversas instituições. Nessa linha, temos também Grossi (2001, p. 38), que entende que “a violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também daqueles que a exercem, na medida onde uns e outros não têm consciência de exercê-la ou de sofrê-la”. 5.1.2 No que concerne as verbalizações da pergunta: Você já havia sofrido violência outras vezes? No intuito de compreendermos os tipos de violência que as mulheres estão expostas, foi direcionada a seguinte pergunta: Questionando junto às entrevistadas se elas já haviam sofrido agressões anteriormente, fosse do atual companheiro ou não. Lamentavelmente, 80% respondeu afirmativamente, ou seja, que já haviam sido agredidas antes. O gráfico a seguir revela os dados. A partir dos 57 relatos, as vítimas de violência doméstica explicitam que já sofreram violência sexual, violência moral, violência física e violência psicológica. Gráfico 2 - Você já havia sofrido violência outras vezes? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Percebemos claramente na fala da Gabi o quanto a violência sexual é presente, tornando a mulher um mero objeto sexual para satisfazer aos desejos do homem, e que não é respeitada a sua liberdade e a sua dignidade de ser humano. Gabi afirma na entrevista que: Ele já fez cada absurdo comigo, ele me obrigava a fazer sexo à força com ele, eu tinha que fazer sexo oral contra a minha vontade porque ele era muito violento. Uma vez ele me empurrou, quase eu caio em cima do meu filho mais novo. Ele já fez muito absurdo, ficava falando dos defeitos que tenho no corpo no meio da rua, dizia que eu era gorda, velha. (GABI) A fala da entrevistada demonstra diversos tipos de violência doméstica, como a violência sexual, quando ela narra que era obrigada a fazer atos sexuais sem vontade; a violência física, quando a entrevistada conta que sofreu agressões nos olhos e nas costas; a moral, quando o agressor desferia comentários que atingiam de forma negativa a beleza da companheira; e a psicológica, pois seu excompanheiro a torturava diariamente com palavras que a diminuíam em sua autoestima. A partir das falas das entrevistadas vão surgindo novas categorias, uma delas nos chama bastante atenção e ela surge como parte das consequências das violências sofridas. Estamos nos referindo à saúde comprometida da vítima de violência, que não é um caso isolado, pois durante as entrevistas, 30% das 58 participantes dizem estar tomando calmante ou estão com algum problema de saúde proveniente da violência sofrida, assim relata Gabi: [...] por causa da violência que já sofri, eu estou com problemas no ouvido, problemas na visão. O médico passou um exame pra mim fazer que custa um absurdo, mais de 200 reias. Eu estou ainda muito nervosa, estou tomando calmante [...]. Eu já tive depressão por causa dele, é muito sofrimento. (GABI) A violência contra a mulher ocorre diariamente das relações conjugais abusivas, as vítimas nem sempre sofrem agressões físicas constantes. Contudo, os atos têm início através de nervosismos, um simples gesto violento seguido por uma fase amorosa. E de acordo com o Brasil (2011, p. 32), o ciclo vicioso acontece da seguinte forma: Fase I: Acumulação de tensão- stress, espancamento leve, a mulher tenta amenizar, permanecendo fora do caminho do homem; tenta evitar a violência por meio de “comportamento correto”; Fase II: Explosão- espancamento grave, falta de previsibilidade, falta de controle; mulher pode chamar a polícia, procurar apoio com familiares ou terceiros confiáveis; Fase III: Lua de mel- homem é amoroso, bom, carinhoso, e pede desculpas; negação da violência; homem promete mudar. Muitas mulheres tornam-se codependentes de seus parceiros abusivos. De acordo com Beattie (2013), a codependência envolve um sistema vicioso de pensar, segundo a autora a definição de codependente seria a seguinte: “codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la, e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa.”( BEATTIE, 2013, p.58). Dessa forma, para muitas mulheres vítimas de violência doméstica, em um determinado momento o comportamento agressivo do companheiro vai mudar, a preocupação não se volta para o seu própria postura diante de uma relação abusiva, marcada por constantes atos de violência, mas na mudança do outro. Para Beattie (2013), as pessoas codependentes apresentam diversas características como: baixa autoestima, repressão, obsessão, controle, negação da realidade, dependência, falta de comunicação, limites fracos, falta de confiança, raiva, problemas sexuais, cometem excessos, dentre elas elencaremos algumas: Essas pessoas consideraram-se e sentem-se responsáveis por outras pessoas; 59 normalmente veem de uma família problemática, sentem-se oprimidas e pressionadas, sentem repulsa do parceiro, fazem sexo apenas para agradar o parceiro, afastam-se de outras pessoas, dentre outras. Assim, é necessário o rompimento, o desligamento, para que haja uma vida saudável, é preciso ter a primeira iniciativa, o “desligamento é uma ação positiva, que beneficiará todos os envolvidos, mas principalmente o codepende. Assim, afirma Beattie (2013, p.93). [...] melhor fazer tudo numa atitude de amor. Entretanto, por uma serie de razões, nem sempre é possível fazer isso. Se não pode desligar-se com amor, minha opinião é de que é melhor separar-se com raiva do que permanecer ligado. Se nos separamos, ficamos numa posição melhor para lidarmos (ou por meio de) nossos sentimentos. Assim, a partir dos relatos das participantes, surgiu a categoria negação da violência por parte de algumas entrevistadas, característica de codependentes afetivos, que se “protegem” com esse mecanismo de defesa. Essa foi a única vez que ele me bateu, ele me enforcava, eu acho que ele só não me matou porque não tinha uma faca perto [...]. (BIA) Evidenciamos também a constância da violência, a qual era muitas vezes perdoada pelas vítimas. De acordo com Cardoso (1997), muitas mulheres, passam anos convivendo com um parceiro abusivo a fim de preservar a família, e para isso, se submetem de forma passiva à constantes episódios de insultos e de brutalidades. Eu já sofri violência várias vezes, ele já bateu em mim várias vezes, quebrava as coisa dentro de casa. (MAGA) Além das palavras, a gente vivia discutindo. Ele já tinha me batido antes, essa foi a segunda vez. Eu já queria me separar faz 4 anos, quando eu disse que queria me separar dele, ele correu atrás de mim com uma faca. (ANA) Nesses relatos, percebe-se a gravidade das violências, porém, ainda assim, têm vítimas que tentam minimizar a violência. As práticas contínuas de agressividade fazem as mulheres esboçar reações em busca da justiça, porém algumas são movidas pela sensibilidade, pelo “amor” e acabam dando uma segunda chance ao agressor. 60 [...] a mulher é sempre mais amorosa, mas o homem quando quer bater, bate mesmo. [...] ele já tinha me batido outras vezes, eu sempre denunciava, mas aí depois eu perdoava, só que dessa vez foi diferente [...]. (LIANA) Segundo Strey (2000, p. 9), “submissão e resistência sempre fizeram parte da vida das mulheres”. Muitas vezes, as mulheres que são vítimas de violência doméstica não prestam queixa por se deixarem levar pela noção de submissão da mulher perante o homem e quando denunciam muitas vezes se arrependem. 5.1.3 No que concerne as verbalizações da pergunta: Quais tipos de violência você já sofreu? As respostas divergem, apesar de algumas citarem que nunca tinham sofrido violência. Todavia, percebemos através dos relatos de algumas participantes que, anterior a violência física, outros tipos de violência já vinham sendo cometidas pelos companheiros. Gráfico 3 - Quais tipos de violência você sofreu? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Vejamos o que relataram as entrevistadas acerca dos tipos de violências já sofridas: Eu já sofri violência psicológica, de espancamento, sexual, já estive perto da morte várias vezes. (GABI) 61 Ele me bateu duas vezes, mas antes ele já vinha falando um bucado de coisa que eu não gostava. Tem palavras que machucam mais que uma porrada. (ANA) A violência doméstica é um grande problema social “e permanece a acarretar consequências deletérias às suas vítimas. O mais comum é atribuir ao termo características de agressão física, embora existam outras formas mais sutis, como a psicológica” (HIRIGOYEN, 2006, p. 34). Eu nunca tinha sofrido violência antes, depois de onze anos juntos essa foi a primeira vez que ele me agrediu. Depois que eu comecei a trabalhar nesse emprego, ele mudou muito, ele não, entende, tem raiva porque eu tenho que trabalhar de madrugada, ainda tem os vizinhos que fazem fofocas, aí ele fica achando que eu tenho outro homem. Uma vez ele rasgou as minhas roupas de trabalho, queimou minhas calças cumpridas da farda para eu não ir mais trabalhar. Às vezes ele procurava, eu nem queria ter relação porque eu estava cansada, né? Eu não tinha hora para trabalhar, às vezes chegava muito cansada, às vezes tinha que ir sem vontade, só para agradar ele. (BIA) A entrevistada relata que nunca havia sofrido violência, no entanto, através do seu relato, é notória a presença de vários outros tipos de violências manifestadas pelo seu companheiro, como: a violência patrimonial e a violência sexual. Porém, essas outras violências passam despercebidas pela vítima. Para Saffioti (2004, p.111), esses tipos de violências machucam tanto quanto as outras. Há mulheres que, não obstante jamais terem sofrido violência física ou sexual, tiveram suas roupas ou seus documentos rasgados, cortados, inutilizados. Trata-se de uma violência atroz, uma vez que se trata da destruição da própria identidade dessas mulheres. Sua ferida da alma manifesta-se no corpo sob diversas modalidades. Gregori (1993) destaca em seus estudos a contribuição das mulheres no ciclo da violência conjugal, sendo atribuída à vítima uma parcela de responsabilidade, portanto, vistas como culpadas pela violência sofrida. São acusadas, ainda, de serem passivas e de permanecerem nas situações de violência. 62 5.1.4 No que concerne a verbalização da pergunta: Você tem algum sentimento em relação ao agressor? O gráfico a seguir representa a realidade vivenciada por muitas mulheres vítimas de violência doméstica e que têm que conviver com a sensação de medo despertada por seus agressores. As respostam explicitam medo, mágoa, revolta. Gráfico 4 - Você tem algum sentimento em relação ao seu agressor? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Ao observamos o gráfico, confirmamos o que foi relatado pelas entrevistadas, que narraram os seus sentimentos como sendo: Eu sinto uma revolta, um arrependimento tão grande de ter vivido tanto tempo com uma pessoa assim [...]. (ARLETE) Eu tenho medo dele, ainda mais porque ele disse que se fosse preso, depois que ele fosse solto me matava. (MAGA) Eu sinto mágoa, medo, eu não consigo tirar nada de bom dele [...]. (KAROL) As entrevistadas demonstram que apesar da coragem de terem denunciado seus agressores, a sensação de medo é constante, e que apesar de acharem que a Lei Maria da Penha trouxe mudanças positivas para as mulheres que sofrem violência doméstica, as punições ainda não são aplicadas de forma efetiva. 63 De acordo com os dados do Mapa da Violência (2012)6, atualmente o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra as mulheres. Nos últimos 30 anos, aproximadamente 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, tendo sido 43,7 mil apenas na última década. Tal fato demonstra um aumento considerável deste tipo de violência a partir dos anos 90. De acordo com a narração das entrevistadas, o agressor, muitas vezes, apresenta sinais antes de praticar o ato violento, pois a mesma suspeitou desses sinais tendo em vista que seu comportamento estava estranho. Observemos o seu relato: Ele estava muito estranho, acho que ia era me matar, porque tinha feito a mala, disse que ia viajar e antes de me agredir, foi me buscar no trabalho, só que eu não fui com ele, porque eu já tinha feito uma promessa que não andava mais de moto com ele, pois quando ele bebia andava feito doido. Falei pra ele que o namorado da minha filha ia me pegar. (GABI) Segundo o Mapa da Violência (2012), do total de mulheres brasileiras que são agredidas, em números 42.916, cerca de 68,8% foram violentadas no âmbito de suas relações domésticas, afetivas ou familiares, pois, nestes casos, o agressor foi o cônjuge, o ex-cônjuge ou algum outro parente. Os estados do Norte e Nordeste apresentam os maiores índices, como por exemplo, Sergipe, onde 78,26% das mulheres foram agredidas nesse tipo de relação; Tocantins, com 66,64%; Piauí, com 59%; assim como Rondônia e Acre, com índices na faixa dos 58%. De 2010 até 2012, a quantidade de mulheres assassinadas no Estado do Ceará passou de 171 para 197, representando, assim, um aumento de 15,2%. Em Fortaleza, o aumento foi de 14,9%: foram 67 homicídios em 2010, contra 77 no ano de 2012. Os números são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foram confirmados pelo Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público Estadual (MPE). O Núcleo também aponta que desde a criação da Lei Maria da Penha, cerca de 5 mil agressores foram presos em Fortaleza. Segundo dados do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza (2014), apenas em 2013 foram abertos 6.834 novos procedimentos, sendo eles: pedidos de medida protetivas (4.441); inquéritos policiais (1.618); comunicados 6 Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/>. Acesso em: 10 dez. 2013. 64 de prisão em flagrante (255); pedidos de relaxamento de prisão (93); e pedidos de liberdade provisória (350). Dessa forma, é necessário destacar outra categoria importante que é o papel familiar, o apoio da família é bastante relevante, mesmo que exercendo uma função coercitiva, é altamente positivo para que as mulheres vítimas de violência doméstica possam se libertar das relações de violências abusivas. Assim, podemos evidenciar através do relato dessa entrevistada: Às vezes, eu até penso em voltar, mas minha família ficou muito revoltada com ele, não querem nem ouvir falar nele. Além disso, eu tenho medo que possa acontecer outra vez e que ele possa fazer pior. Sempre escuto casos de mulheres que foram mortas pelos companheiros. Gente que jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Por isso, eu tenho medo dele. Eu tenho muito medo. (KAROL) Para Brito & Koller (2002) e Koller, (1999), mulheres vítimas de violência normalmente estão afastadas dos familiares e da comunidade, e esse isolamento favorece o domínio do agressor sobre a vítima, dificultando o término dessas relações conflituosas cercada de violência. Sendo assim, o apoio da família pode ser determinante para o fim de uma relação abusiva, pois ao perceberem que tem um apoio tornam-se mais corajosas e determinadas. Notamos em outras falas das entrevistadas a crença na mudança, e que existe a esperança de que o agressor mude sua conduta após sair do presídio, mesmo ele sendo reincidente nos atos de violência contra mulher. [...] eu quero que ele crie juízo e me deixe viver em paz com a minha filha, espero que ele mude, porque ele nunca tinha sido preso antes, mas sempre gostou de bater em mulher. Eu sou a terceira mulher dele e em todas ele já bateu. (LIANA) Ele não é uma pessoa violenta. Ele fez isso, ele errou, mas eu não tenho raiva dele e nem rancor. Eu posso até voltar para ele, se ele mudar, mas não sei se ele tirou essas coisas da cabeça. Se eu perceber que ele tá diferente, se não beber mais, aí eu volto. Depois dessa, eu não sei como está o coração dele. Ele é uma pessoa boa, respeitador. Mas no dia, acho que ele não me matou porque não tinha uma faca, uma arma. (BIA) No decorrer da entrevista Bia demonstrou o desejo de que o companheiro saísse da prisão, notava que o mesmo podia mudar, pois ele nunca havia sido preso e se sentia envergonhado pelo que fez. Liana, assim como a maioria das entrevistadas, também disse que não sente raiva de seu agressor. 65 5.1.5 Segundo as verbalizações da pergunta: O quanto você conhece da Lei Maria da Penha? Importante frisar que, faz-se necessário apreendermos acerca dos conhecimentos que as entrevistadas possuem em relação à Lei Maria da Penha. Gráfico 5 - Quanto você conhece a respeito da lei Maria da Penha? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Ao interpretarmos o gráfico, percebemos que muitas mulheres responderam que tem um conhecimento razoável da Lei. A maioria cita que já tinha escutado falar a respeito da Lei e relatam, ainda, que jamais tinham imaginado precisar da Lei. A Lei Maria da Penha surge representando avanços significativos para a mulher. De acordo com uma das entrevistadas: [...] para mim a Lei Maria da Penha foi uma das melhores coisas que aconteceu. Faz mais de 20 anos que eu sofro. Em 1996 eu sofri a primeira agressão, fiz um BO, só que nada aconteceu, ele continuou dentro de casa. Mas agora, depois da Lei, é diferente. Taí, ele bateu no meio da rua, a polícia chegou e ele foi preso, desceu para o presídio, agora eu me sinto bem melhor. (Maga) Eu até já conhecia a Lei Maria da Penha de ouvir falar, sabia do que se tratava, que era para proteger mais a mulher. Mas nunca imaginei ter que passar por isso, ter que usar mesmo essa Lei. 66 De acordo com Dias (2012), apesar da popularização da Lei não há, de fato, uma diminuição nos números de violência doméstica. Isso não significa que essa violência aumentou, mas sim que as mulheres agredidas estão mais cientes dos seus direitos. Parcela das entrevistadas afirmaram que a Lei Maria da Penha possui mecanismos para assegurar os direitos das mulheres, relatando que “ (...) é uma Lei maravilhosa, que o governo assinou, que dá todo apoio à mulher, basta só ela se conscientizar e denunciar, dá toda assistência, psicólogos, a mulher não pode mais tirar a queixa.” (LIANA). 5.1.6 A partir da verbalização da pergunta: Você sente segurança em relação às medidas adotadas? Em relação às verbalizações da pergunta sobre a segurança dessas medidas, a partir das falas, percebemos que se almeja um maior rigor nas medidas adotadas. Gráfico 6 - Você sente segurança em relação às medidas adotadas? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. O gráfico 7 reflete que, assim como as mulheres agredidas sentem medo de seus agressores, consequentemente, não se sentem seguras, apesar das medidas impostas para protegê-las. Podemos observar nas falas a seguir: 67 Acho que deveria ser mais severa, como eu já falei deixa muito espaço para o homem. (KAROL) Outra fala denuncia a omissão por parte dos órgãos competentes: Por enquanto, nada aconteceu ainda, faz um mês que eu saí de casa, tem horas que eu tenho vontade de desistir. (ARLETE) Apesar de não existirem estatísticas nacionais que retratem de forma fiel as denúncias realizadas, segundo dados do Mapa da Violência (2012), os números da Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, são impressionantes. No primeiro semestre de 2012, foram contabilizados 388.953 registros, representando uma média de 65 mil mensais, ou 2.150 registros diários. De acordo com o Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza (2013), foram recebidas por esta instituição 266 denúncias, fato que comprova uma maior conscientização das mulheres agredidas sobre denunciar seus agressores. Apesar da quantidade de denúncias, ainda é lenta a efetivação, por parte dos órgãos governamentais, da criação de Delegacias da Mulher. Assim, torna-se fundamental o Conselho Nacional de Justiça, pois este determina a instalação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A omissão por parte dos agentes públicos também foi constatada. Através dos relatos das vítimas de violência doméstica, percebe-se que a autoridade policial, em determinados momentos, mostra-se resistente ao cumprimento do seu dever, e suas condutas vão de encontro a Lei Maria da Penha. Vejamos o que relataram as entrevistadas acerca dessa omissão dos profissionais: Quando os policiais chegaram lá em casa, ele estava me empurrando e mandando eu ir embora pra casa da minha mãe. Os policiais chamaram ele pro canto e começaram a conversar, depois me perguntaram se eu ia dar queixa, se eu ia levar pra frente. Eles disseram: “olha, ele lhe ajuda, se ele for preso, vai descer pro presídio, vai dar Lei Maria da Penha”. Eles não queriam levar ele, fui eu que quis, porque se não, de outra vez ele me matava. (BIA) Eu tenho a medida contra ele, ele tem que ficar distante de mim pelo menos 100 metros, mas ele é muito atrevido. Teve um dia que ele foi jogar bola em frente a minha casa. Eu chamei o Ronda, eles disseram que não podiam fazer nada, eu tinha que vir aqui (Juizado de Violência doméstica). Eles disseram que os policiais foram negligentes, mas não resolveram nada. (KALIANE) 68 Diante desses relatos percebemos que falta qualificação para determinados profissionais que devem zelar pela integridade da população, como aponta Azevedo (1985, p. 33) “o registro de uma queixa constitui a primeira providência no caso de agressão contra a mulher”. As mulheres vítimas de violência doméstica estão amparadas pela Lei 11. 340, Lei Maria da Penha, elas têm o direito à proteção policial sempre que se fizer necessário. Bia conta que quase perdeu a vida por conta da agressão que sofreu de seu então marido, que além de desferir socos em sua face, ainda tentou asfixiá-la. A chegada de agentes da polícia militar não minimizou o sofrimento dessa vítima, pois os policiais não tiveram uma conduta coerente com uma mulher vítima de violência doméstica. Porém, o Artigo 10 da Lei 11.340, diz que: “na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis” (Lei Maria da Penha, p.14, reimpressão 2011). A insegurança foi apontada por várias entrevistadas, os relatos apontam que as mulheres não se sentiam seguras em relação às medidas tomadas, confessam que não acreditam que as providências tomadas impliquem na total segurança delas, impedindo que os agressores se aproximem delas. A delegada disse que eu podia pedir a medida protetiva, mas eu não quis, eu não confio nisso não, um papel não impede nada, é só um papel na minha mão. Ele não é uma pessoa violenta, mas se fosse, esse papel não ia impedir nada. Se ele quisesse me matar o que esse papel ia impedir? Eu acredito nele preso, se ele me agredir de novo, que ele volte para o presídio, passe mais tempo lá. (BIA) [...] Me falaram da medida protetiva, mas eu não quis pedir, não sei se é necessário, porque ele nunca tinha feito isso. Também se ele quiser fazer alguma coisa comigo não acredito que isso vá impedir, é só um papel, não garante nada, né? (KAROL) Não, porque eu não sei o que ele vai fazer quando estiver aqui, ele disse com todas as letras: “olha eu vou preso, mas na hora que eu for solto eu te mato”. Agora eu estou tranquila, porque ele tá preso, mas, e depois? Eu não sei o que vai ser de mim. (MAGA) 69 Dessa forma, tanto o medo quanto a insegurança certamente provenientes das ameaças, das agressões físicas e principalmente da violência psicológica manifestada pelo ex-parceiro também parecem desempenhar um papel relevante nessa realidade (NARVAZ; KOLLER, 2004). A descrença por parte das pesquisadas foi superior, por meio de seus depoimentos, elas explicitaram que só se sentem seguras quando seus excompanheiros estão no presídio. Seus discursos deixam claro que apesar da coragem de terem denunciado seus agressores, a sensação de medo é constante e que, apesar de acharem que a Lei Maria da Penha trouxe mudanças positivas para as mulheres que sofrem violência doméstica, as punições ainda não são aplicadas de forma efetiva. Por outro lado, algumas entrevistadas afirmaram que estão bastante satisfeitas em relação ao desfecho do processo, demonstram crença nas medidas protetivas e relatam estarem sendo muito bem atendidas pelos agentes públicos. Pra mim está perfeito, tá tudo indo muito rápido. Está com um mês que ele foi preso e eu já fui chamada para uma audiência, mas eu só acho que não deve deixar brechas, porque você sabe Janaína, que quando eles prometem de fazer uma coisa, eles fazem mesmo. Está com uma semana que uma mulher que morava uma rua depois da minha, foi assassinada com 10 facadas pelo marido e eu não quero ser mais uma, eu não quero fazer parte dessa estatística. Eu tenho a medida que vale por 5 anos, mas eu acho pouco tempo, ele tem que ficar cem metros de distância de mim, mas também acho muito pouco, porque eu sei que ele é uma pessoa violenta. (GABI) Essa entrevistada demonstrou estar bem satisfeita com o atendimento que até então recebera. Todavia, após dois meses retornar ao Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher para levantar mais informações e melhorar a pesquisa, enquanto aguardava na sala de espera, fui surpreendida por Gabi, umas das entrevistadas anteriormente. Perguntou-me se recordava dela, cumprimentei-a e respondi positivamente, em seguida convidei-a para sentar ao meu lado. Obviamente não me esqueceria do seu rosto, pois foi uma das entrevistadas, que falava com emoção, cada palavra parecia esboçar o peso de tantos anos de sofrimento. Estava com uma aparência bastante abatida e visivelmente mais magra. 70 Relatando que seu ex-marido estava em liberdade, que atualmente vivia na esquina de sua casa para intimidá-la. Segundo ela, sentia medo e já tinha pedido até demissão, pois temia que o ex-companheiro pudesse fazer alguma coisa contra ela. Tinha ido assegurar seus direitos, pois o agressor deve manter-se afastado da vítima 100m de distância, porém ele não estava cumprindo a medida protetiva. Após o relato de Gabi, fiquei bastante preocupada, pois recordara que durante a entrevista ela afirmou categoricamente que seu companheiro era um homem violento, que tinha medo que ao sair do presídio ele colocasse em prática a ameaça que fez contra ela, tinha medo de fazer parte das estatísticas de mulheres mortas no Brasil. No entanto, agora o agressor encontra-se solto e não está cumprindo a medida protetiva. Diante disso, lanço o seguinte questionamento: Até onde vai a efetividade da Lei Maria da Penha? Para as mulheres que sofrem violência doméstica, é de suma importância que as esferas de poder tramitem em consonância, para que as ações impostas pela Lei 11.340/06 sejam efetivadas e com isso as vítimas possam se sentir segurança e possam estar denunciando cada vez mais os casos de violências abusivas por parte de seus companheiros. Outros fatores estão quase sempre presentes às contendas conjugais. O álcool e outras drogas são elementos presentes na sociedade atual e, muitas vezes, estão relacionadas a casos de agressão. Assim, faz-se às seguintes perguntas: 71 5.1.7 Verbalizações acerca das seguintes perguntas: O agressor estava sob efeito de alguma droga? Se estava, qual era? Gráfico 7 - O seu agressor estava sob efeito de alguma droga? Fonte: Elaborado pela pesquisadora. De acordo com o gráfico 8, 70% das entrevistadas afirmaram que seus agressores usavam alguma substância, fossem as drogas ou o álcool, como podemos observar por meio da fala das entrevistadas: [...] ele bebe, usa drogas desde de novo, todo tipo ele já usou: maconha, cocaína, usa crack, mas no dia ele não estava bêbado, acho que também não estava drogado, porque ele gosta de mesmo de bater em mulher, isso é dele. Em todas as outras mulheres que ele já teve ele bateu. (LIANA) Eu não sei se ele usava drogas, mas ele bebe. No dia que aconteceu tudo, ele estava bêbado, nós íamos sair, estava tudo bem, do nada ele começou a discutir, eu nem imaginava que isso fosse acontecer. (KAROL) Ele usa drogas e no dia ele tinha bebido e talvez tinha usado alguma porcaria, porque ele também usa crack, pó. No dia, ele estava com muita força. (GABI) De acordo com a oralidade das vítimas, evidenciamos que assim como o álcool, outras drogas vêm somar para um comportamento agressivo. Sendo assim, “vários estudiosos têm concluído que o álcool é a substância mais ligada às mudanças de comportamento provocadas por efeitos psicofármacos que tem como resultante a violência” (MINAYO; DESLANDES, 1998, p. 37). 72 Saffioti (2004, p. 125) aponta que “as chamadas drogas pesadas, sem dúvida, desempenham importante papel no crescimento da violência, principalmente, da violência contra a mulher”. Zilberman e Blume (2005, p. 52) apontam que: O álcool frequentemente atua como um desinibidor, facilitando a violência. Os estimulantes como cocaína, crack e anfetaminas estão frequentemente envolvidos em episódios de violência doméstica, por reduzirem a capacidade de controle dos impulsos e por aumentar as sensações de persecutoriedade. O uso de álcool parece estar envolvido em até 50% dos casos de agressão sexual. Homens casados violentos possuem índices mais altos de alcoolismo em comparação àqueles não violentos. Estudos relatam índices de alcoolismo de 67% e 93% entre maridos que espancam suas esposas. Entre homens alcoolistas em tratamento, 20 a 33% relataram ter atacado suas mulheres pelo menos uma vez no ano anterior ao estudo, ao passo que suas esposas relatam índices ainda mais elevados. As autoras ainda afirmam que quando os agressores estão sob efeito de álcool ou drogas, existe uma maior tolerância por parte das vítimas, pois estas entendem que a violência só foi praticada porque o agressor estava fazendo uso de alguma substância, e que quando ele voltar ao “normal” a situação de violência não mais acontecerá (ZILBERMAN; BLUME, 2005). É como podemos constatar através do relato dessa vítima que faz parte dessa dinâmica: Quando ele bateu, ele estava bêbado, porque bom ele não tinha coragem, ele precisou beber, né, pra poder ter coragem. Quando a minha filha pediu pra ele não beber, ele disse: „eu vou ficar só na minha, não vou fazer nada com a sua mãe não. Eu acho que ele já estava era planejando. Quando ele está bom ele é uma pessoa, mas quando ele tá bêbado, ele é outra pessoa totalmente diferente, fica ignorante, agressivo. Ele não pode beber, eu já falei até pra ele. O defeito dele é a bebida mesmo. (BIA) De acordo com Minayo e Deslades (1998), a utilização de álcool pelo homem apresenta-se como um significativo fator de risco para a violência do homem contra a mulher. Nesse caso, o álcool aparece como estratégia para justificar a verdadeira personalidade do sujeito, sendo assim, a bebida alcoólica é apontada pela vítima como causa de uma característica que pode ser inerente ao agressor. O álcool, nessas situações, poderia estar sendo interpretado como um meio utilizado para desinibir comportamentos agressivos, sendo estes quase sempre desempenhados por homens. Vale salientar que para Fonseca (2009, p. 47) “não existe consenso sobre se essa associação é casual ou se o consumo do álcool é usado como desculpa para o comportamento violento”. 73 A categoria inconstância no emprego, consequência do uso abusivo de álcool e outras drogas também é apontada nas entrevistas. Ele usa crack e bebe muito também, ele não dura em emprego nenhum por causa das drogas. Sou eu que sustento os meus filhos, eu sou pra tudo dentro de casa. Quase todas as vezes que ele me bateu estava bêbado e drogado. (MAGA) Eu não dependo dele pra nada, financeiramente ele já não me ajudava mais, porque nem sempre ele trabalhava e às vezes que ele trabalhava fazendo bico, o dinheiro só dava pra comprar as porcarias (drogas) dele. (GABI) Diante de todos esses relatos, faz-se necessário perguntarmos às vítimas como elas percebiam o homem responsável pela violência sofrida. As respostas, mais uma vez, divergem, pois surgem percepções negativas dos parceiros, assim como também positivas. 5.1.8 Verbalizações sobre a pergunta: Como você percebe seu agressor? Como podemos observar através da fala dessa entrevistada, logo surge a categoria machismo. “Ele é muito machista como muitos homens por aí, pensa que mulher deve viver dentro de casa, é ignorante (...)” (ANA). Assim, podemos evidenciar também as categorias preconceituoso e violência indireta. Assim, eu percebo ele como um "monstro", além do mal que ele fez pra mim, tem o meu filho mais novo que tem que ser acompanhado por uma psicóloga. Acho que ele é hiperativo, ele viu muitas vezes as confusões, ele me batendo, me chamando de "rapariga". Também esculhambava meu filho mais velho só porque ele é homossexual. (GABI) Quando ele começava a beber, a minha filha mais velha ficava logo nervosa, ela ficava pedindo pra ele não beber, ela dizia: „pai pra que o senhor bebe? Essa menina é muito nervosa. No dia, ela tava deitada comigo, ela viu tudo. (BIA) Ele é um louco, impossível. Da última vez que ele me bateu, não respeitou nem meu filho, quebrou até o braço do menino com as brutalidades dele, o menino se meteu pra me defender e ele não quis nem saber [...]. (KALIANE) 74 Através da verbalização das entrevistadas percebemos que a violência doméstica não atinge apenas a mulher, os demais membros também são vítimas da violência física e psicológica. Muitas crianças que presenciam conflitos conjugais precisam ser acompanhadas por psicólogos. Contudo, surgem as percepções positivas: respeitador, trabalhador, bom pai. Ele errou, mas é uma pessoa muito boa, respeitador, sempre me ajudou dentro de casa, é trabalhador, o defeito dele é a bebida mesmo. Não tenho que falar muita coisa de ruim dele não, só que tem homem que é assim mesmo, não perdoa traição e por causa das fofocas, né? (BIA) Ele é uma pessoa boa, apesar de tudo que aconteceu. Eu sei ele errou, ele não podia ter me batido, nem sei o que teria acontecido comigo se os vizinho não tivessem se metido, mas ele disse que se arrependeu muito, se pudesse voltar no tempo não faria de novo. (KAROL) No entanto, aparecem as categorias desprovido de amor, covarde. Eu percebo ele como um homem violento, ele é um covarde que gosta de bater em mulher. Eu acho que ele não tem amor nem pela mãe dele, nem pela filha, não tem amor por ninguém, acho que nem sabe o que é isso. (LIANA) Além da percepção que as entrevistadas tinham sobre seus agressores, também questionamos a visão que elas tinham sobre si mesmas após as agressões. O olhar que todas as entrevistadas têm de si mesmas está relacionado a pontos negativos; vergonha aparece como consequência das relações abusivas. 5.1.9 Assim, as verbalizações acerca da pergunta: Como você se percebe após a violência sofrida? Eu sinto vergonha dos vizinhos, porque ele foi lá na minha irmã me esculhambou, o que é que os vizinhos vão pensar que eu sou? Isso tudo me dá uma tristeza tão grande. (ALERTE) Eu sinto vergonha, eu passei uns dias sem sair de casa, tinha vergonha de olhar para as pessoas, porque os vizinhos escutaram tudo, foram eles que chamaram a polícia, é muito constrangedor, é horrível lembrar de tudo. (KAROL) 75 Não era a primeira vez que ele me batia, mas eu aguentava porque tinha medo e também vergonha do que os outros iam falar. Vivia de olho roxo, de marcas nas costas. Tinha semana que não podia sair de casa porque tava toda marcada e morria de vergonha. A família dele também me ameaçava, que se eu denunciasse ele, podia me preparar. Até facada ele já me deu (MAGA). Todas as entrevistadas afirmaram que sentem, principalmente, vergonha da situação que estão vivenciando. Muitas, inclusive, evitam sair de casa, pois ficam receosas do que as outras pessoas possam estar comentando a respeito dela. É como salienta Zuwick (2001, p. 89), “a vergonha de que deveria ser portador aquele que a agrediu, volta-se contra a mulher e a silencia, tornando-a parte da rede que sustenta a dominação”. A vergonha também vem sendo referenciada como um dos fatores que dificulta o fim da relação abusiva. Os relatos apresentados demonstram que os agressores não se importam com as marcas que deixam nas companheiras; na verdade, muitos deles gostam de marcar os corpos das mulheres, pois se acham “donos” das mesmas e pensam ter direito de puni-las. Para Bourdieu (2012), quando este trata da violência simbólica, nos remete ao fato da questão da honra e virilidade masculinas, qualidades estas que precisam ser constantemente afirmadas, como aponta o autor: A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão ao combate e ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, acima de tudo, uma carga. Em oposição à mulher, cuja honra, essencialmente negativa, só pode ser defendida ou perdida, sua virtude sendo sucessivamente a virgindade e a fidelidade, o homem „verdadeiramente homem‟ é aquele que se sente obrigado a estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer sua honra buscando a glória e a distinção na esfera pública (BOURDIEU, 2012). Assim, a maioria dos homens que cometem violência doméstica contra suas companheiras, busca uma autoafirmação no sentido de se mostrarem detentores do poder e realmente “homens”, que não hesitam em usar a força quando sua “honra” encontra-se ameaçada. Zilberman e Blume (2005) citam que as fortes emoções como o ciúme e o ódio são elementos que estão envolvidos nas situações que culminam nas agressões. 76 A depressão também foi bastante citada pelas entrevistadas e todas disseram que estão passando ou passaram por momentos depressivos devido à situação de violência doméstica na qual elas estão inseridas. Muitas mulheres têm sua saúde comprometida em virtude das violências vivenciadas pelas vítimas. Ele fez da minha vida um inferno, eu vivo apavorada, eu tenho medo de sair na rua, a minha vida se transformou de uma hora pra outra. Eu vivo depressiva, quando eu ando na rua, eu não posso ouvir um barulho de carro atrás de mim que eu já fico toda me tremendo. (KAROL) Eu estou muito abatida, eu só saio de casa agora para o médico e pra cá (Juizado), a minha labirintite atacou, minha coluna. Às vezes me dá uma, agonia, uma coisa ruim, dá vontade de desistir, deixar isso de mão. (ARLETE) De acordo com Saffioti (2004, p. 116), a partir do momento que as mulheres agredidas, elas assumem a “posição vitimista, não há espaço para se resignificarem as relações de poder”. Assim, por mais difícil que seja a situação de violência doméstica que estas mulheres estão passando, torna-se importante que elas não se deixem perpetuar como vítimas, devendo exigir punições para seus agressores e recuperar sua autoestima. Outra fala nos remete ao sentimento de liberdade, mas essa liberdade está relacionada à prisão do parceiro, para muitas mulheres, a detenção do excompanheiro representa o fim do ciclo vicioso e significa o rompimento de vínculos com o agressor, o fim da relação abusiva. Percebemos isso no relato a seguir: A sensação é muito ruim, agora eu estou melhor, estou rindo, assim, estou bem sabe? Agora eu me sinto livre, eu só quero é ficar em paz mesmo, cuidar da minha filha, eu trabalho, não dependo dele pra nada mesmo. (LIANA) Nesta pesquisa, foi necessário conhecermos os tipos de lesões que as entrevistadas sofreram, para que possamos levantar dados quantitativos e específicos desses tipos de lesões que as mulheres vitimadas pela violência sofrem. As respostas nos remetem às lesões físicas. 77 5.1.10 De acordo com as verbalizações: Quais tipos de lesões você sofreu? De dez entrevistadas, apenas três não sofreram lesões corporais. Segundo Werba (2002), são considerados atos de violência física: tapas, puxões de cabelos, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, amarrar, estrangular, lesões por qualquer objeto, removê-la de casa através da utilização da força, rasgar a roupa do corpo da vítima, deixar em lugares desconhecidos e a omissão de cuidados e proteção. Ele deu em mim de murro, apanhei na cara, quando eu disse que eu queria me separar. Ele já tentou me esfaquear, não fez porque eu corri. (ANA) Eu já levei muito murro na cara, puxões de cabelo e já fui ameaçada com faca. Já levei pedradas. (GABI) Eu já apanhei de capacete, de pau, chutes, murros, ele já me ameaçou de morte, mas eu sempre denunciei, mas depois eu perdoava, mas agora foi diferente. (LIANA) Nenhuma, somente a ferida da alma. (ARLETE) Durante a pesquisa de campo, foi possível observar que são muitos os fatores agregados às ocorrências de atos de violência domésticas e que estes se encontram estreitamente relacionados às questões da dominação masculina. Os papéis disseminados na sociedade de que o homem é o ser dominante e que à mulher cabe o papel de submissa, serve de respaldo para aqueles que se validam da força para exercer essas “funções”. Outro fator que se destacou na pesquisa, estando quase sempre presente nos momentos em que ocorreram as agressões, é o uso do álcool e de outras drogas. De dez vítimas entrevistadas, apenas três não sofreram violência após seu cônjuge fazer uso do álcool. Nos relatos da maioria das vítimas, constatamos que o autor de violência estava alcoolizado ou sob o efeito de qualquer outra droga. 78 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS Mediante um elevado número de mulheres vitimadas pela violência e por ser uma temática relevante no contexto social, buscando responder a vários questionamentos, nossos objetivos com este trabalho de conclusão de curso eram: identificar os tipos de violência sofrida pelas mulheres; analisar quais as percepções das mulheres vítimas de violência em relação aos seus agressores; entender como as vítimas se percebem após a violência sofrida; e identificar o conhecimento das mulheres vítimas de violência doméstica sobre a Lei Maria da Penha. Questionamos às participantes, o que elas entendiam pelo termo violência, a parti da verbalização das entrevistadas, percebemos que a maioria , respectivamente 60% da mulheres citou que entendia por violência as agressões física, psicológicas e morais, 30% as agressões físicas e morais e apenas 10% disse que entendia que violência seria as agressões físicas, sexuais e psicológica. Para tanto, a violência vem se tornando um fenômeno alarmante na sociedade brasileira e a violência doméstica vem se tornando cada vez mais comum. De acordo com os relatos das participantes, podemos evidenciar que a maioria das vítimas antes de sofrerem agressões físicas, sofrem vários outros tipos de violência como a violência simbólica, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência moral. No decorrer do trabalho, percebemos que a violência doméstica contra a mulher ainda é fator bastante presente na sociedade. Os números impressionam e levam ao questionamento de quantas outras mulheres sofrem este tipo de violência em silêncio, pelo medo de denunciar aquele que está lhe agredindo. Outro fator que podemos evidenciar durante a pesquisa, é que a violência doméstica ainda vem sendo justificada nas diferenças de gênero impostas pelas normas sociais. Essas diferenças consistem na desvalorização de um sexo e na autovalorização do outro. De acordo com as verbalizações das participantes aos questionarmos qual sentimos ela tinham em relação ao agressor, as respostas explicitavam medo, mágoa. As entrevistadas demonstraram que, apesar da coragem de terem denunciado seus agressores, a convivência com o medo era constante, pois tinha receio do que podia acontecer quando os agressores tivessem em liberdade. 79 Percebe-se que o homem, em determinadas situações, quer impor seu poder de “macho” através da violência, sendo visível a presença do poder patriarcal. Muitos homens ainda têm pensamentos arcaicos e atitudes machistas conservando, assim, relações desiguais. Eles não aceitam serem contrariados e nem rejeitados, muito menos traídos, e, por isso, utilizam qualquer motivo para justificar seus atos de brutalidade. Através dos relatos das entrevistadas, percebemos que algumas vítimas passam anos convivendo com a presença de vários tipos de violências, porém, em um determinado momento, essas mulheres não suportam mais conviver em relações abusivas e o que mais almejam é o término do relacionamento. Na maioria dos casos, o parceiro abusivo não aceita o fim do relacionamento, assim, passa a perseguir a mulher, a fazer ameaças de tirar-lhe a vida, e, dessa forma, o sofrimento das vítimas de violência doméstica não cessa, e a maioria diz conviver com a sensação de medo. A importância da equipe multiprofissional nos equipamentos que prestam serviços às mulheres vitimadas pela violência é indiscutível, pois a maioria das vítimas de violência doméstica ainda chega muito fragilizada às unidades de atendimento. Portanto, o trabalho interdisciplinar é bastante relevante para o fortalecimento das vítimas. Porém, o número de funcionários ainda é ínfimo em relação à demanda; assim é a realidade do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Fortaleza. Segundo as verbalizações da pergunta, quanto você conhece da Lei Maria da Penha, observamos que cerca de 60% das participantes tinha um conhecimento razoável da Lei, a maioria já havia escutado falar e sentem que Lei Maria da Penha representa avanços significativos para a mulher. Assim, como é de extrema importância que as mulheres tenham conhecimento de seus direitos, torna-se imprescindível a afirmação desses por parte do Estado. Os órgãos públicos devem estar desenvolvendo parcerias para o reconhecimento e a efetividade da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340/06, ou Lei Maria da Penha, é vista como um grande avanço na luta por punições maiores àqueles que cometem crimes contra a mulher. Apesar disso, para que a Lei atinja toda sua eficácia, torna-se necessário que os órgãos governamentais pontualizem suas ações, de forma que todas as esferas possam 80 trabalhar em conjunto e de forma pautável para que a mulher que sofre algum tipo de violência possa ter uma resposta efetiva para seu caso. A promulgação da Lei Maria da Penha modificou o destino de inúmeras mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil. Em decorrência da tragédia pessoal de uma mulher, as vítimas de agressões que possuem marcas permanentes em seu psicológico e em seu corpo, e todo o país vê no ordenamento jurídico nacional uma importante resposta à sociedade internacional acerca dos compromissos firmados por convenções para o combate à violência doméstica contra a mulher. Os avanços trazidos pela Lei Maria da Penha são consideráveis, principalmente no que se refere à criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (JVDFM) e as novas sistemáticas de atendimento adotadas pelas delegacias de polícia. Além disso, a Lei possibilitou à vítima o acompanhamento de um advogado em todas as fases do inquérito e do processo, sendo-lhe garantido o acesso à Defensoria Pública e à gratuidade da justiça. Apesar disso, ainda são muitos os desafios a serem vencidos para que se possa assegurar integralmente os direitos colocados pela Lei 11.340/06, principalmente no que se concerne a efetivação de seus artigos, por parte dos órgãos públicos. Enquanto pesquisadora foi um grande desafio estudar tal temática, pois mexe com a subjetividade dos sujeitos pesquisados e da pesquisadora, pois antes de sermos profissionais, somos seres humanos, visto que muitas vezes era extremamente difícil de conter as emoções diante de cada história narrada pelas vítimas de violência doméstica. Durante o processo de pesquisa, muitas vezes foi preciso conter os sentimentos para não refletir de forma negativa na pesquisa. Muitas vezes também foi necessário desligar o equipamento de áudio, interromper as entrevistas, respeitar o momento de fragilidade das vítimas, pois durante as escutas, muitas mulheres eram tomadas pelo choro e só retornávamos às entrevistas após o reestabelecimento emocional das entrevistadas. Por meio das análises das entrevistas, percebemos que as mulheres que sofrem violência doméstica têm, cada vez mais, criado coragem e denunciado seus agressores. Com esse ato, elas esperam que o poder público cumpra com seu papel de garantir sua integridade física, psicológica e moral. A maioria das entrevistadas 81 que participaram da pesquisa de campo, sentem medo de seus agressores e afirmaram não ser a primeira vez que sofrem violência doméstica. Assim, é interessante fomentar a consciência da sociedade para que a violência doméstica contra a mulher não se torne um caso banalizado. Dessa forma, é relevante a realização de palestras, encontros, oficinas nas comunidades para a debatermos acerca dessa temática. É através da união das próprias pessoas que se torna possível construir uma sociedade mais justa e sem violência. Torna-se imprescindível uma postura diferente por parte da humanidade, na qual se estabeleça relações de igualdade entre os sexos, onde homens e mulheres tenham direitos e deveres iguais, ou seja, sendo igualmente cidadãos. 82 REFERÊNCIAS ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991. AMARAL, Célia C. G.; LETELIER, Celina L.; GÓIS, Ivoneite L.; AQUINO, Sílvia de. Dores visíveis: violência em delegacias da mulher do Nordeste. Fortaleza: UFC, 2002. ALMEIDA, M. C. P.; LIMA, M. A. D. S.; LIMA, C. C. A utilização da observação participante e da entrevista semi-estruturada na pesquisa em enfermagem. IN: Revista Gaúcha de Enfermagem. v. 20, n. esp. Porto Alegre, 1999. p. 130-142. ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Tradução de André Duarte. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,1994. ARRUDA, Inácio. Agenda da Mulher. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/handle/id/385381/Agenda%20da%20Mul her.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 out. 2013. BAGGIO, Maria. O significado atribuído ao papel masculino e feminino por adolescentes da periferia.v. 13. n. 4. jul-set. Rio de Janeiro: Escola Anna Nery, 2009. BBC BRASIL. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/03/130308_violencia_mulher_brasil _kawaguti_rw.shtml>. Acesso em: 13 out. 2013. BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70 Lda, 1995. BEATTIE, Melody. Codependência nunca mais. Tradução Marília Braga -16ª ed. Rio de Janeiro. Best Seller, 2013. BIANCHINI, Alice. A Luta por Direitos das Mulheres. São Paulo: Ed. Carta Forense, 2009. BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Tradução de Maria Helena Kuhner. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. BRASIL. Decreto-lei nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. BRASIL. Lei nº 11.340/2006, de 07 de agosto de 2006. Brasília, 7 de agosto de 2006. 185º da Independência e 118º da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em: 27 out. 2013. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2009. 83 BRASIL. O Brasil no estudo multipaíses sobre saúde da mulher e violência doméstica e sexual contra a mulher: relatório preliminar. Brasília: Ministério da Saúde/ Coor. Nac. de DST e AIDS/UNESCO, 2002. CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Anotações críticas sobre a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: <https://jusnavigandi.com.br>. Acesso em: 10 nov. 2013. CARLOTO, Cássia Maria. O conceito de gênero e sua importância para a análise das relações sociais. In: Serviço Social Revista. v. 3, n. 2. Londrina, jan./ jun. 2001. CAVALCANTE, Silvana Maria Pereira. A Lei Maria da Penha e a política de enfrentamento a violência contra a mulher em Fortaleza. V Jornada Internacional de Políticas Públicas. São Luís, ago. 2011. CARVALHO, Marília Pinto de. Gênero e trabalho docente: em busca de um referencial teórico. In: BRUSCHINI, Cristina; BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa (Orgs.). Horizontes plurais: novos estudos de gênero no Brasil. São Paulo: Editora 34/Fundação Carlos Chagas, 1998. CAVALCANTI, Valéria Soares de Faria. Violência Doméstica. Salvador: Ed. PODIVM, 2007. COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. Boletim da mulher. Prefeitura Municipal de Fortaleza, mar-abr, 2012. CECILIO, L. P. P; GARBIN, C. A. S.; GARBIN, A. J. I.; QUEIRÓZ, A. P. D. G.; ROVIDA, T. A. S. Violência interpessoal: estudo descritivo dos casos não fatais atendidos em uma unidade de urgência e emergência referência de sete municípios do estado de São Paulo, Brasil, 2008 a 2010. In: Epidemol. Serv. Saúde [online]. v. 21, n. 2. jun. 2012, p. 293 – 304. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=5167949742012000200012&Ing=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 abr. 2014. COSTA, Ana Alice. Gênero, poder e emponderamento das mulheres. 2005. Disponível em: <http://www.adolescencia.org.br/empower/website/2008/imagens/ textos_pdf/Empoderamento.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2014. COSTA, Rebeca Torres Alves. A opção por um projeto de vida: um mito?. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso Serviço Social. Universidade Estadual do Ceará, 2005. CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica: Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006) Comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. DEBERT, Guita Grin; GREGORI, Maria Filomena. Violência e gênero: novas propostas, velhos dilemas. Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 23. n. 66. São Paulo, fev. 2008. 84 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. FARAH, Marta Ferreira Santos. Gênero e Políticas Públicas. Estudos Feministas. v. 12. Florianópólis, jan./abr., 2004. GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2008. GOLDENBERG, Mirian. A Arte de Pesquisar: como fazer uma pesquisa qualitativa em ciências sociais. 8° ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. HIRIGOYEN, M. F. A violência no casal: da coação psicológica à agressão física. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. INÁCIO, Miriam de Oliveira. Violências Contra as Mulheres e Esfera Militar: uma questão de gênero? In: Presença ética: ética política e emancipação humana. Revista Anual do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Ética. Ano 3. Recife, dez. 2003. IZUMINO, Wânia P. Justiça e violência contra a mulher: o papel do sistema judiciário na solução dos conflitos de gênero. 2. ed. São Paulo: FAPESP Annablume, 1998. JORNAL O POVO. Juizado de Violência contra Mulher é Criado. Disponível em: <http://www.admin.opovo.com.br>. Acesso em: 18 nov. 2013. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Procedimentos criminais do Juizado da mulher ano 2013. Fortaleza, 2013. LIMA FILHO, Altamiro de Araújo. Lei Maria da Penha. São Paulo: Mundo Jurídico, 2007. MEYER, M. J. M.; WALDON, V.R; (orgs.). Gênero e Saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. MINAYO, Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. MORAES, Maria Lygia Quartim de. Marxismo e feminismo: afinidades e diferenças. Crítica Marxista. Campinas: Unicamp, 2006. OBSERVE. Lei Maria da Penha. Disponível em: <http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha>. Acesso em: 16 mai. 2013. OLIVEIRA, Denize Cristina de. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização. IN: Revista de Enfermagem da UERJ. Rio de Janeiro, out./dez. 2008. Disponível em: <www.uerj.br/v16n4/v16n4a19.pdf>. 85 OSTERNE, Maria do Socorro Ferreira. Violência nas relações de gênero e cidadania feminina. Fortaleza: Ed. UECE, 2008. OSTOS, N. S. C. de. A Questão Feminina: importância estratégica das mulheres para a regulação da população brasileira (1930-1945). 2009. 223 f. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2009. PATEMAN, C. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. PINTO, Celi Jardim. Política da mulher no Brasil: limites e perspectivas. In: SAFFIOTI, H.; MUÑOZ-VARGAS, M. (Org.). Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2009. PORTAL DE NOTÍCIAS DO SENADO FEDERAL. Mulher Vítima de Violência. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2012/07/10/leimaria-da-penha-nao-diminuiu-a-violencia-constatam-levantamento>. Acesso em: 18 out. 2013. PORTAL R7. Pesquisa IBGE: 68% das mulheres agredidas são vítimas de companheiros. Disponível em: http://noticias.r7.com/brasil/noticias/pesquisa-ibge-68das-mulheres-agredidas-sao-vitimas-de-companheiros-20100917.html. Acesso em: 10 nov. 2013. QUEIROZ, M. Isaura Pereira de. O pesquisador, o problema da pesquisa, a escolha de técnicas: algumas reflexões. São Paulo: CERU,1992. p. 13-29. SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, Patriarcado, Violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. SCHRAIBER, Lilia Blima; D‟OLIVEIRA, Ana Flávia P. L.; FALCÃO, Márcia T. C.; FIGUEIREDO, Wagner dos S. Violência dói e não é Direito: a violência contra a mulher à saúde e aos Direitos Humanos. São Paulo: Ed. UNESP, 2005. SCHRAIBER, Lilia B.; D‟OLIVEIRA, Ana Flávia L. P. Violência contra mulheres: interfaces com a saúde. Interface: Comunicação, Saúde, Educação. v. 03. n. 05. ago. 1999. SCOTT, Joan. W. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In: Educação e realidade. v. 16. n. 02. Porto Alegre, jul-dez, 1998. SILVEIRA, Maria Lúcia. Políticas Públicas de Gênero: Impasses e Desafios para Fortalecer a Agenda Política na Perspectiva da Igualdade. Coordenadoria Especial da Mulher de São Paulo. In: Revista Presença de Mulher. ano XVI. n. 45, out. 2003. SOUZA, Sérigo Ricardo de. Comentários a Lei de Combate à Violência Contra a Mulher. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008. TELES, Maria Amélia de Almeida. O que são os Direitos Humanos das Mulheres. São Paulo: Brasiliense, 2006. 86 TURATO, E. R. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2003. UOL. Lei Maria da Penha está difundida, mas percentual de vítimas não cai. Disponível em: <http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2013/03/26/lei-mariada-penha-esta-difundida-mas-percentual-de-vitimas-nao-cai/>. Acesso em: 23 nov. 2013. ZILBERMAN, Monica L.; BLUME, Sheila B. Violência Doméstica: abuso do álcool e substâncias psicoativas. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/rbp/v27s2/pt_a04v27s2>.pdf. Acesso em: 19 jan. 2014. 87 APÊNDICES APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Declaro, por meio deste Termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar da pesquisa de campo referente à pesquisa intitulada: Violência Doméstica e a Efetividade da Lei Maria da Penha: A Visão das Mulheres Atendidas pelo Juizado de Violência Doméstica em Fortaleza desenvolvida pela estudante de Graduação em Serviço Social, da Faculdade Cearense, Maria Janaína Valentim do Nascimento Sousa. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) do objetivo geral, estritamente acadêmico, do estudo que, em linhas gerais, fala sobre Violência Doméstica e as percepções das vítimas sobre violência. Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa e que minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista, a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou sua orientadora – Rebeca Torres. Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, sem prejuízo nenhum a minha pessoa ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Fortaleza, ____ de _________________ de 2013. __________________________________ Assinatura do (a) participante __________________________________ Assinatura da pesquisadora __________________________________ Assinatura da testemunha 88 APÊNDICE B - Roteiro de Perguntas NOME:_____________________________________________________ IDADE:_____________________________________________________ PROFISSÃO:________________________________________________ ESCOLARIDADE:____________________________________________ ESTADO CIVIL:_____________________________________________ RENDA FAMILIAR:__________________________________________ RENDA PESSOAL:__________________________________________ PRINCIPAL RENDA DA FAMÍLIA:______________________________ 1. O que você entende por violência? 2. Quais os tipos de violência que você sofreu? 3. Quanto você conhece a respeito da Lei Maria da Penha? 4. Já havia sofrido violência outras vezes? 5. Como você percebe seu agressor? 6. Como se percebe após ter sofrido violência? 7. Qual seu sentimento em relação ao seu agressor? 8. Você se sente segura em relação ás medidas tomadas? 9. O agressor estava sob efeito de alguma droga? Se estava, qual era? 10. Qual foi o tipo de lesão que você sofreu? 89 ANEXOS ANEXO A – Fotos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Download