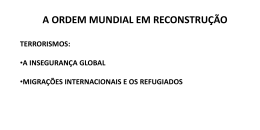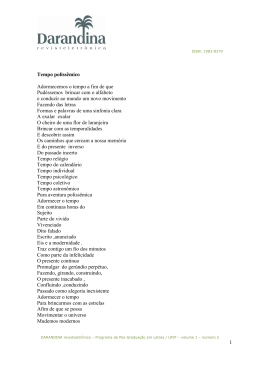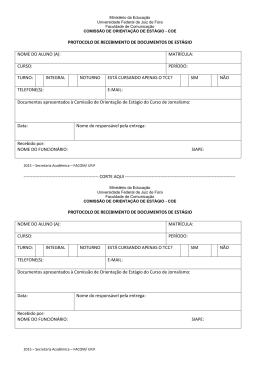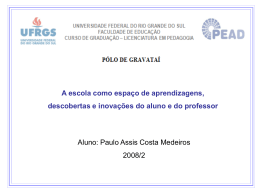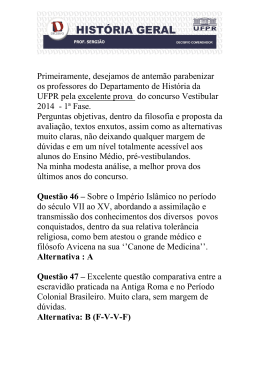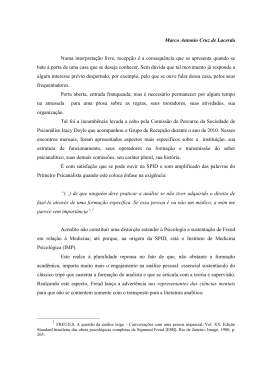TERROR, IMAGEM E SUBJETIVAÇÃO Jô Gondar* • Através dos reality shows ou das imagens de violência a mídia promete a visibilidade completa, como experiência direta do real. Esta experiência é associada ao trauma e aos imperativos totalizantes, imperativos que predominam hoje no campo político e/ou subjetivo. O artigo trabalha a relação entre trauma, fascínio e hipnose, bem como a possibilidade de resistir, pela via da imagem, à destituição do olhar que a visibilidade total promove. > Imagem - Espetáculo - Terror - Trauma - Subjetividade - Olhar A análise da sociedade do espetáculo, realizada por Guy Debord há trinta anos, ganha hoje novos matizes. Na mídia, o espetáculo aparece principalmente sob duas formas que só aparentemente são contraditórias: cultiva-se, por um lado, o catastrófico, o evento único, inesperado e assustador como maneira de despertar nosso interesse ou sensibilidade – terrorismo, violência, transgressão, excesso; por outro, promove-se a banalidade sem glamour dos reality shows e da miséria cotidiana, através de imagens que nos mostram justamente aquilo que não se destaca como único, que não se singulariza. Que elemento comum haveria entre essas duas formas de espetáculo? Seriam elas expressão de uma mesma vontade? Em caso afirmativo, que formas de subjetivação esta vontade produz? E de que maneira elas se constituem? Há, decerto, uma ligação íntima entre as imagens de violência ou de catástrofe e aquelas que são veiculadas num reality show. Ambas expressam aquilo que Badiou identificou como a vontade 1 principal do século XX: a paixão pelo real . Em contraposição ao *Professora Adjunta do Depto. Filosofia e Ciências Sociais e do Mestrado em Memória Social (UNIRIO). Psicanalista. Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 15 Jô Gondar século XIX, movido por ideais científicos, utopias políticas, projetos de emancipação de toda ordem, o século XX teria se desfeito dos enganos que envolviam esses projetos para buscar o núcleo mais duro da existência, identificado com a verdade nua e crua. O olhar não mais investiria a realidade socialmente construída, mas estaria siderado pela experiência direta do real. No que diz respeito à sexualidade, a paixão pelo real é claramente visível: as imagens com as quais somos acossados não realçam os jogos de sedução e as fantasias eróticas, mas expõem o real do corpo, mostrado agora sem jogos ou véus. Há quase cem anos, Artaud havia dito que para se chegar ao osso era preciso arriscar perder a carne. Não imaginou que sua proposta trágica pudesse se transformar em palavra de ordem, o osso não mais sendo visto como figura da densidade vital, mas como dureza da violência pura, da vida nua e desqualificada ou da banalidade corpórea de todos nós. A pós-modernidade não se fartou de denunciar e desconstruir aquilo que se convencionou chamar de realidade. Hoje todos sabem que a realidade é uma construção subjetiva – individual ou coletiva – que ela é tecida por representações imaginárias e/ou simbólicas, que essas representações são contingentes e apoiadas em crenças. O registro imaginário foi apontado como campo de ilusões enganosas e as autoridades simbólicas – que até então sustentavam a estruturação social e subjetiva, garantindo a existência de uma lei e uma verdade universais – foram expostas em sua face derrisória. Mas se a pós-modernidade denunciou a dimensão ficcional de toda realidade, ela não se desfez do anseio por uma garantia, por uma verdade que não fosse ficcional. A garantia perdida estaria hoje sendo buscada na experiência imediata do real, um real sem sentido, mas considerado ainda um terreno firme, último reduto da verdade. Como se ainda pudéssemos manter, mesmo que pelo avesso, a idéia de uma verdade universal, escondida por sob as camadas enganadoras da realidade. Chegaríamos, então, ao osso das coisas – ou à coisa em si – pela violência, pela catástrofe, pelo excesso, tal como aqueles indivíduos que se cortam ou se ferem numa tentativa de recuperar o sentimento de existência real. Ora, poderia se argumentar, se esta espetacularização do real se dá por meio de imagens, sejam elas catastróficas ou banais, é ainda 16 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação de uma mediação que se trata; a mídia não nos ofereceria um real imediato, mas uma perspectiva imagética da realidade. Todavia, há nessas imagens um anseio pela literalidade extrema: são imagens desprovidas de imaginário, ou melhor, imagens que não convocam o imaginário de quem as vê. Seja por sua banalidade árida, seja por seu caráter violento e excessivo, aquele que vê não é capaz de integrar essas imagens em sua própria realidade, a elas conferindo um sentido. É nessa linha que Zizek escreve, a respeito das imagens da explosão do World Trade Center: “Não foi a realidade que invadiu a nossa imagem: foi a imagem que invadiu e destruiu a nossa realidade (ou seja, as coordenadas simbólicas que determinam o que sentimos 2 como realidade)” . Entretanto a banalidade também é violenta: cercado por imagens destituídas de singularidade, o sujeito vê impedida a sua própria possibilidade de singularização, o que resulta em um sentimento de irrealidade ou de inutilidade. As imagens nas quais o sujeito não encontra lugar para o seu próprio imaginário, devido à sua violência extrema ou à invasão de clichês, conduzem ao que Benjamin denominou perda da experiência, e que Deleuze chama de fechamento dos possíveis. Pela aridez ou pelo excesso, a paixão pelo real associa-se a uma falha brutal na possibilidade de criar crenças ou possíveis. Não acreditamos mais no possível e perdemos o gosto de inventá-lo. Tampouco acreditamos no que nos acontece, já que nada parece poder acontecer. 3 Aqui poderíamos parafrasear o ditado: “Ver para não crer” . De fato, a produção maciça de imagens que buscam a literalidade ou o extremo “realismo” termina por dessensibilizar os espectadores, reduzindo a dinâmica subjetiva, individual ou coletiva, à imobilidade. Um sujeito exposto a este excesso de realidade, a essa violência onipresente, vê-se obrigado a mobilizar todo o seu aparato psíquico para dela defender-se. Nesse momento, o psiquismo paralisa a sua atividade associativa e criativa, capaz de transformar o vivido em experiência: toda energia que poderia alimentar o jogo entre imagem e produção de imaginário é despendida na tentativa de manter, em algum nível, a sobrevivência subjetiva diante da catástrofe. A subjetivação traumática Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 17 Jô Gondar Na teoria psicanalítica, o evento catastrófico é aquele que provoca um trauma, definido por Freud como “uma experiência que, em um curto período de tempo, aporta à mente um acréscimo de estímulo 4 excessivamente poderoso para ser manejado ou elaborado (...)” . Trata-se de um problema de economia psíquica; o tom afetivo da experiência excede a tolerância de um sujeito que vê-se, assim, incapaz de elaborar psiquicamente os estímulos, fornecendo-lhe um sentido. É durante a Primeira Guerra que Freud se depara com a disseminação do fenômeno: os soldados retornam fixados em algo que vivenciaram, mas que não conseguem integrar subjetivamente. São lembranças que não se inscrevem no conjunto da memória, imagens literais e congeladas que não se inserem numa cadeia associativa, impossibilitando os sujeitos de falarem sobre o que lhes ocorreu. É desse modo que Freud vê configurar-se uma neurose traumática, denominação que não foi por ele inventada, mas repensada a partir da psicanálise. Até então, a neurose traumática era considerada como decorrente de acidentes, em geral sofridos nas ferrovias ou nas fábricas. Com a guerra esta patologia se propaga, e Freud observa que sua causa não reside nos acidentes ou acontecimentos em si mesmos, mas no modo pelo qual o psiquismo é afetado quando um limiar de excitação ultrapassa a sua possibilidade de dominá-lo. Chama sua atenção os sonhos recorrentes dos indivíduos acometidos de neurose traumática; ao invés de realizar desejos ou buscar prazer, esses sonhos buscam repetir a vivência do trauma. A partir disso, Freud teoriza uma compulsão à repetição que funciona para além do princípio do prazer: ainda que desprazerosa, a repetição compulsiva é uma tentativa de enfrentar mais uma vez a situação traumática visando elaborá-la e integrá-la ao psiquismo. Ao modo de Sísifo, busca-se dar sentido ao que não tem sentido. Contudo, o que Freud pôde perceber nos soldados austríacos que retornavam da Primeira Guerra iria se radicalizar na Segunda, entre os sobreviventes dos campos de extermínio. Como fornecer sentido a uma vivência de terror que aniquila a condição de sujeito? Uma situação narrada por Appelfeld é, a este respeito, exemplar. Conversava ele com um homem que havia sido, ainda adolescente, 18 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação estuprado pelos soldados nazistas. Você se lembra dessa cena com freqüência?, pergunta-lhe Appelfeld. Há quarenta e cinco anos, lhe 5 diz o homem, eu não me lembro de outra coisa . Esta imagem conge lada, lembrança enquistada na memória, seria acompanhada de uma inibição generalizada da atividade criativa do indivíduo, como se ele se encontrasse ainda sob o efeito do afeto paralisante que o trauma lhe provocou. É neste afeto – o terror (Schreck) – que Freud verá o fator determinante da neurose traumática. Diferentemente do medo, que circunscreve o perigo em um objeto preciso; e da angústia, sinal produzido quando ameaça se repetir uma vivência de perigo, o terror pode ser definido como efeito de surpresa num indivíduo despre 6 parado para a irrupção de um acontecimento . Por despreparado, entenda-se: desamparado. Na medida em que o aparato psíquico não é capaz de dominar este excesso que o acossa, o indivíduo vê-se tomado por uma sensação de desamparo e estranheza. O transborda mento de estimulações lhe imporia a idéia de algo fatídico e inescapável que o subjuga, e diante do qual ele se encontra inerme. Este mesmo desamparo diante de forças que lhe pareciam supe riores às suas teria conduzido os indivíduos a buscarem garantias – deuses, leis, autoridades simbólicas. Freud supõe que a instituição de garantias seria condicionada pela condição de desamparo do homem, que delas necessitaria como alicerce para a edificação de suas crenças. Assim, a crença fundamental do mundo moderno, sobre a qual teria se erigido todo um edifício imaginário e fantasmático, é a de que “sobre cada um de nós vela uma Providência benevolente que só aparentemente é severa e que não permitirá que nos tornemos 7 um joguete de forças poderosas e impiedosas (....)” . Ora, o que um sujeito vivencia ao se ver reduzido a um joguete de forças poderosas e impiedosas é justamente a situação traumática. Dá-se uma situação de pane psíquica, na qual o desejo é impedido de constituir-se ou de expressar-se. A autoridade simbólica seria, ilusoriamente, uma instância que protegeria do trauma, passível agora de ser definido como aniquilação do desejo. Seríamos injustos com Freud se não marcássemos a sua denúncia Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 19 Jô Gondar em relação à existência de garantias. Entretanto, essa denúncia só tinha sentido pelo fato de Freud ter vivido numa época na qual era possível se crer num céu ou numa lei que nos protege. Em contrapar tida, nossa época é a da falência da autoridade simbólica e do campo imaginário por ela sustentado. Embora tenhamos deixado de crer nessas figuras de autoridade, deslocamos a busca de garantias para um outro registro: o real. Mas esse real é traumático. Eis, então, o paradoxo: a paixão pelo real pretende utilizar como âncora aquilo que desfaz as possibilidades de acoramento; no limite, visa-se a proteção de quem bate a nossa carteira. Trata-se aí de uma outra estratégia diante do desamparo: ao invés de instituir deuses e regras, instâncias capazes de mediar a relação entre os homens, busca-se a realização direta do real como sinal de autenticidade. Desse modo, aquilo que até então se produzira em situações de exceção – a subjetivação traumática – tornou-se hoje regra geral. A exposição rotineira à violência e ao excesso, associada à falência dos alicerces simbólicos, produz a vulnerabilidade psíquica ao trauma que marca as configu rações subjetivas contemporâneas. Como poderíamos pensá-las? 8 A crueldade e a regra Há uma instância psíquica que aparece hipertrofiada nos modos contemporâneos de subjetivação. Trata-se do supereu, instância que faz liame entre a esfera individual e a coletiva, representando no psiquismo as regras que organizam as relações sociais. O que ocorre quando a lógica que preside a constituição dessas regras se modifica? Inevitavelmente, o supereu apresentará um outro tipo de funciona mento. A passagem de uma forma social baseada em proibições e interdições simbólicas bem definidas para uma outra, como a nossa, calcada na incitação ao real, incrementa a produção de uma vertente superegóica que parece contradizer os seus propósitos de proteção. Quanto a estes, Freud já havia indicado a sua importância enquanto barreira contra o trauma. Assim, definiu a situação traumática como aquela em que o eu se vê “abandonado pelo supereu protetor, de modo que ele não dispõe mais de qualquer salvaguarda contra os 9 perigos que o cercam” . O problema é que, sob determinadas condi 20 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação ções, não apenas o eu se vê abandonado pelo supereu como este último se torna a própria fonte dos perigos. Vejamos este paradoxo com mais detalhes. Em sua vertente clássica, o supereu teria por função estabelecer limites a uma satisfação pulsional desregrada, trabalhando simultaneamente para o equilíbrio social (pela obediência às leis que regulam as relações entre os homens) e para o equilíbrio psíquico (ao levar em conta os mecanismos de regulação que obedecem ao princípio do prazer). Todavia, em determinadas situações este agente da lei no psiquismo seria capaz de assumir uma função oposta, exibindo uma feição sádica. É com este paradoxo que Freud se defronta em O mal-estar na cultura (1930): aqueles que mais se submetem aos mandamentos sociais são os que, surpreendentemente, mais se sentem culpados. Um excesso de submissão às regras, ao invés de aplacar o supereu, poderia torná-lo ainda mais rigoroso: nesse caso, o supereu gozaria do sofrimento que impinge, exigindo uma satisfação sem freios ao invés de inibi-la. Ao ser imposta – ou obedecida – de maneira totalizante, a lei não deixa espaço de negociação entre sua pretensa universalidade e as inclinações particulares dos que a ela se submetem. Sem margem para o desejo, a lei superegóica torna-se sádica, incitando o desregramento, a crueldade e a violência. Não por acaso, Freud sugeriu uma homologia entre os mandamentos do supereu e o imperativo categórico de Kant, imperativo que leva às últimas consequências a obediência à lei. É com relação à vertente cruel do supereu que poderíamos considerar essa homologia pertinente. Kant quer pensar uma lei que não esteja fundada na idéia de bem, mas que valha por si mesma, não tendo outra fonte nem outro objetivo senão a realização de sua pura forma universal. É o que ele nos propõe sob o nome de imperativo categórico: guio minhas ações deste modo porque é assim que devo guiá-las, sem esperar disso qualquer prazer ou qualquer bem; ajo de maneira que a máxima da minha vontade possa valer, ao mesmo tempo, como princípio de legislação universal. Aqui a lei não visa o bem-estar, o prazer, nem garante qualquer recompensa ou proteção para quem a ela se assujeita: ela deve simplesmente ser obedecida, sem nenhuma Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 21 Jô Gondar negociação ou consideração pela subjetividade ou pelas inclinações particulares. Ao contrário: ela implica o aniquilamento da singularidade e do desejo, como se o homem pudesse ser uma máquina de obediência, tendo como sua única vontade a vontade da Lei. Pretendendo defender uma moralidade pura e a pura forma da lei, a proposta de Kant é, ironicamente, sádica. Essa denúncia já teria sido realizada por Adorno e Horkheimer e por Lacan – que propõe um paralelo entre o imperativo categórico e o imperativo de gozo formulado por Sade. De fato, todo propósito de pureza traz em seu bojo a recusa da diferença, conduzindo inevitavelmente a práticas cruéis. Mas poderíamos estender essa aplicação: toda pretensão à universalidade é violenta, exigindo igualmente o aplainamento das arestas singulares, tal qual um leito de Procusto. Uma tal situação é descrita de maneira exemplar por Kafka, particularmente em sua Carta ao pai: “De sua poltrona, você regia o mundo. (...) Você assumia para mim o que há de enigmático em todos os tiranos, cujo direito está fundado, não no pensamento, mas 10 na própria pessoa” . A obra de Kafka trata de um mundo no qual a lei se apresenta aos indivíduos em toda a sua crueza e arbitrariedade, impossibilitando qualquer ilusão de amparo ou garantia. Uma imagem terrificante sobre o pai é capaz de expressar o esmagamento do desejo diante de uma lei tão incompreensível quanto onipresente: Às vezes imagino um mapa-mundi e você estendido transversal mente sobre ele. Para mim, então, é como se entrassem em consideração apenas as regiões que você não cobre ou que não estão ao seu alcance. De acordo com a imagem que tenho de seu tamanho, essas regiões não são muitas nem muito conso11 ladoras (...) . O mundo descrito por Kafka tornou-se hoje o nosso mundo. No campo social e político, Hardt e Negri nos mostram como o capitalismo mundial integrado, por eles chamado de Império, impõe-se como uma onipresença que pretende abarcar todo o espaço, inclusive o das diferenças que lhe poderiam fazer obstáculo. A nova ordem pretende alisar as singularidades culturais e subjetivas para exercerse sem medida: “Com limites e diferenças suprimidos ou deixados 22 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação de lado, o Império é uma espécie de espaço liso pelo qual deslizam 12 subjetividades sem resistência ou conflitos substanciais” . De fato, em um espaço liso, sem marcações e sem atrito, não há lugares definidos para uma instância subjetiva ou para um Outro que a ela se contraponha. Não há afrontamento ou conflito, mas um controle que se exerce em todos os lugares e em nenhum deles. Não é fácil singularizar-se diante dessa onipresença. O que singu lariza uma modalidade subjetiva é a sua forma particular de fazer obstáculo aos imperativos totalizantes, expressando-se através do desejo ou mesmo através de sintomas – que não deixam de ser mani festações desejantes. Mas os imperativos produzidos sob a lógica do controle dificilmente oferecem ao indivíduo uma possibilidade de objeção, já que todas as suas tentativas nesse sentido são rapidamente fagocitadas pela instância ordenadora, servindo, paradoxalmente, para fortalecê-la. Na teoria psicanalítica, o supereu cruel funciona sob esta mesma lógica: qualquer possibilidade de transgressão aumenta a força de uma instância que goza com o ultrapassamento de limites, incitando e se alimentando do próprio desregramento que produz. Os modos de sofrimento predominantes na atualidade dão mostras incisivas desta presença superegóica que, ao invés de proteger do trauma, aumenta a vulnerabilidade ao traumático. Vivemos numa cultura da ação e da produção, na qual os indivíduos se sentem deficitários em relação à performance que lhes é exigida. Uma cultura baseada em imperativos totalizantes, que desprezam as inclinações subjetivas parti culares e exigem o sacrifício do prazer e do desejo – imperativos categóricos no sentido kantiano, e superegóicos, no sentido psicanalítico. Fortalece-se assim, nos indivíduos, uma espécie de carrasco íntimo, impelindo-os a agir para além de seu próprio desejo, o que termina por conduzi-los a funcionamentos auto-destrutivos. Este carrasco íntimo é a forma pela qual o supereu cruel se exerce no psiquismo: incitação ao excesso e ao gozo, exigência desmedida, esboroamento de limites. Em conseqüência, os indivíduos sofrem com a invasão de sensações e sentimentos que não sabem nomear nem detectar porquê e de onde vêm, dificilmente afirmam um desejo ou o endereçam a algo, e muitas vezes respondem à invasão de afetos com passagens Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 23 Jô Gondar ao ato sem mediações ou intervalos de elaboração. O existir é por eles experimentado como solidão e desamparo diante de uma fatalidade inexorável, com a qual se confrontam sem qualquer mediação: “é assim, e não há nada a fazer.”. São indivíduos cujo desejo – índice de singularização – encontra-se esmagado por exigências inegociáveis, diante das quais não encontram brechas para afirmar um território subjetivo próprio. Cercados pela onipresença do imperativo, reagem ora pela apatia ou imobilidade – como nos fenômenos depressivos ora pela mobilização frenética e imediatista, como nas compulsões. Trata-se, sem dúvida, de duas faces do mesmo Janus, dois modos de responder ao fechamento de possíveis ou, em outros termos, ao rolo compressor que se abate sobre os processos de singularização. Terror e imagem Retornemos agora ao problema da imagem e da paixão pelo real que hoje se dissemina. Falamos da imposição de uma lógica totalizante na esfera política e/ou subjetiva. Mas não seria essa lógica própria do registro imagético, independentemente de qualquer paixão pelo real que a partir dela se exerça? De fato, a imagem não possui negativo, o que a torna diferente do símbolo, calcado na relação presença/ ausência, sim e não. Não seria possível, por exemplo, imaginarmos uma paisagem sem árvores ou um ambiente sem fumantes sem que nos venham à mente as árvores e o cigarro. Muito do fascínio da imagem, seja nos outdoors, na televisão ou nas artes visuais, decorre de sua simples positividade, ao ocupar um espaço sem contrapontos. Todavia, o fato da imagem ser sempre positiva não a torna necessariamente absoluta ou totalizante. Porque uma imagem precisa ser vista. O que seria uma imagem publicitária, por exemplo, se não fosse vista por alguém? Porém esse alguém que vê tem um olhar, e esse olhar emite ao mesmo tempo em que recebe e reflete. Dito de outro modo, o olhar não apenas recebe estímulos e os decodifica, mas faz intervir um modo subjetivo na imagem vista. Quem olha se coloca em posição não apenas de ver, mas também de participar do espetáculo que lhe é oferecido: não se limitando a ver, o olhar também interroga, penetra, espera, acede, associa uma imagem com outras, com afetos 24 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação 13 ou com palavras . Nesse sentido, não haveria visibilidade total, ainda que a imagem seja totalmente positiva. Porque o olhar implica uma atitude e uma atividade, criando um jogo de distância e de proximi dade com o visto, ou, em outros termos, uma relação entre a imagem e o imaginário de quem a vê. A imagem pede o olhar, e devido a esse apelo ela não se absolutiza. Contudo, a espetacularização do real que assistimos hoje implica uma mudança na relação vidente-visível e nos jogos de força envolvidos na captação das imagens. Dissemos já que a paixão pelo real demanda, no terreno da imagem, uma visibilidade total. Mas também dissemos que a existência do olhar impediria essa visão absoluta, na medida em que age, joga e participa daquilo que é visto. A não ser... que o olhar transfira para a imagem a sua força. Assim, se no jogo de forças entre o vidente e o visível a balança pender quase que inteiramente para este último, é possível se objetivar – o que não significa que se consiga, de fato – a completa visibilidade. É somente ao preço da eliminação do olhar, enquanto atitude, que se pode pretender tudo ver. Aos espectadores de um reality show se promete que tudo será oferecido à sua visão, que todos os segredos poderão ser por eles desvelados; crêem, desse modo, que são detentores de um olhar absoluto quando, na verdade, são despos suídos de todo olhar. O vidente absoluto é um vidente sem olhar, e, como tal, paralisado e passivo diante de uma imagem que o inunda e o captura, e da qual não consegue desprender-se. Imagem à qual tanto mais se submete quanto se vê impossibilitado de elaborá-la psiquicamente. Ora, é justamente a isso que a psicanálise chama de situação traumática. Para falarmos do traumático em relação à imagem é preciso que ao afeto de terror, percebido por Freud na gênese do trauma, acrescentemos um outro: o fascínio. Ambos provocam como efeito a paralisia e a submissão. Trata-se de estados semelhantes aos que se verificam na hipnose. Neste ponto, Freud sugere uma comparação ainda mais interessante. Diz ele que “a hipnose contém um elemento adicional de paralisia, derivado da relação entre alguém com poderes superiores e alguém que está sem poder e desamparado – o que Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 25 Jô Gondar pode facilitar uma transição para a hipnose de terror que ocorre nos 14 animais” A hipnose de terror envolve uma mescla de paralisia e fascínio, estando o animal impotente e sem possibilidade de fuga diante de seu predador. A paralisia seria um comportamento defensivo, como se o animal mais fraco simulasse a morte na esperança de escapar do ataque do mais forte. Mas existe também uma dimensão do fascínio, como nas situações em que pequenos animais se vêem diante do olhar de uma cobra: o ser impotente se vê diante de um ser percebido como onipotente que o olha, e do qual ele, petrificado, não pode tirar os 15 olhos, pois isso corresponderia à sua sentença de morte . Evidentemente, a hipnose pelo terror não é idêntica em animais e humanos. Freud, contudo, percebe aí alguns elementos comuns: há um fascínio ligado ao terror quando um ser desamparado e impotente se vê – ou é olhado por – um ser onipotente. Assim como ocorre na técnica da hipnose, o olhar do indivíduo poderoso visa o outro sob seu domínio; este olhar é percebido como absoluto e inegociável, o que implica o esmagamento do outro enquanto sujeito. Desse modo, o olhar se torna prerrogativa da imagem que fascina por sua totalidade, enquanto que aquele que a vê se encontra despos suído de um olhar; entretanto, não pode retirar os olhos da imagem fascinante e aterradora, nela diluindo-se e perdendo-se. Por que motivo o olhar do vidente se deslocaria para o visível, para a imagem fascinante, se isto implica a sua aniquilação subjetiva? É que a imagem que fascina responde, de alguma maneira, à condição de desamparo do indivíduo submisso. Assim como o hipnotizador aparece como figura idealizada, promessa de unificação e tranqüilização das aflições de quem a ele se assujeita, a imagem totalizante parece preencher o vazio e o desamparo daquele que a vê sem ser capaz de olhá-la. Assujeitado à imagem que o olha e a ele impõe o seu recorte de mundo, o indivíduo se sente seguro, sem dar-se conta de que esta segurança provém de sua alienação na imagem. A hipnose pelo terror não confronta o sujeito com nenhuma experiência de falta; pelo contrário, fascina-o na medida em que promete satisfazê-lo de maneira absoluta. Ao mesmo tempo em que o ser onipotente e a imagem totalizante causam horror, projeta-se sobre eles um poder de proteção. 26 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação Daí provém o fascínio dos torturadores sobre os torturados, mas também o fascínio e a excitação provocados pelas imagens que não convocam o imaginário. Elas não exigem a atividade do vidente; ao contrário, em sua literalidade extrema, elas funcionam como uma espécie de supereu imagético, ordenando ao sujeito o que ele deve querer, como deve sentir e compreender o que vê. Como se o sujeito tivesse como única vontade aquela que a imagem expressa. As imagens sem imaginário, sejam elas violentas ou banais, surgem como uma vontade que ordena, mas também como um objeto absoluto que alimenta e preenche. Em ambos os casos, elas atraem pela incitação ao gozo. O fascínio pela relação fusional que é aí prenunciada cega para o fato de que a plenitude cobra um preço muito alto – o esmagamento do próprio olhar e de toda referência própria. Quando o terror é espetacularizado, a própria categoria do espetáculo sofre um radical deslocamento. A paixão pelo real é, de fato, uma paixão de abolição. A nós cabe pensá-la, denunciá-la, desmontar os seus elementos de fascínio. Mas se a denúncia é necessária, ela não é suficiente. Pois pensar também é resistir, e mais ainda quando se trata de uma lógica imagética que implica – ou exige – a abolição do desejo. Ainda que o campo de concentração tenha se tornado o nosso modelo de mundo, o paradigma do espaço político em 16 que vivemos , não devemos esquecer que o homem é, como bem 17 expressou Jean-Luc Nancy , a resistência absoluta e inabalável ao aniquilamento. Perguntamos, em um momento anterior desse artigo, como poderíamos manter os processos de singularização diante do aparato de captura do Império. Perguntamos agora – e trata-se da mesma questão, desdobrada – como seria possível produzir imagens que falem de um mundo no qual o terror impera sem que elas estejam dominadas pela mesma estética, a do anseio pela visibilidade total. Um filme de Claude Lanzmann, Shoah, é um exemplo dessa possibilidade. Lanzmann aborda o holocausto, tema que poderia facilmente conduzir à espetacularização do terror. Mas o faz com outra política da imagem, apresentando, no lugar da exibição os18 tensiva de atrocidades, uma estética sóbria . Originalmente, o filme deveria chamar-se O local e a palavra. Ao estabelecer uma distância Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 27 Jô Gondar entre os dois registros, Lanzmann propõe uma recusa ao aviltamento: assim, enquanto ouvimos narrativas dos horrores vivenciados no campo, vemos, ao mesmo tempo, imagens deste campo em seu estado atual, com sua natureza impassível, seus rios, rochas e flores. Nada nessas imagens expõe o sofrimento narrado; nada nos torna cúmplices, pelo gozo, da condição de carrascos ou de vítimas, nada nos hipnotiza. Essa proposital defasagem cria um intervalo estético que impossibilita o prosseguimento do horror numa linha evolutiva, como se pudéssemos, pela visibilidade completa, experimentar o ponto mais extremo da degradação de um homem. Pelo contrário, a defasagem nos acorda, instaurando uma distância que impede a redução daquele que narra à abjeção sofrida no passado, e exigindo nosso trabalho subjetivo sobre o visto e o dito. Justamente porque a sobriedade da imagem contrasta com o excesso da fala, nem tudo se vê e nem tudo se entende, o que abre um espaço-tempo para o olhar e a subjetividade. Certamente existem outros modos de resistir ao terror pela via da imagem. Não se trata de negá-lo e tampouco de passar ao largo dele. Ele aí está e nos cerca. Contudo, também podemos cercá-lo, ou melhor, construir cercamentos em torno do buraco negro. Em nosso afã de tudo ver ou dar a ver, é ele que nos captura e nos hipnotiza: dificilmente permanecemos despertos quando abrimos os olhos em demasia – sem olhar. Mas se o despertar não consiste apenas em ver, manter a reticência pode ser uma forma de estar acordado. Notas 1. Ver BADIOU, Alain. Le siècle. Paris: Éditions du Soleil, 2003. 28 2. ZIZEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p.32. No primeiro capítulo deste livro, Zizek trabalha a idéia de “paixão do real” proposta por Badiou. 3. O mote é usado e desenvolvido por SELIGMAN-SILVA, Márcio. A história como trauma in NESTROVSKI, Arthur e SELIGMAN-SILVA, Márcio (Orgs.) Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000. A questão das representações literais ou excessivamente realistas é associada por SELIGMAN-SILVA à experiência traumática, idéia que utilizamos aqui. 4. FREUD, Sigmund. Conferências introdutórias sobre psicanálise (1916-1917) Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 Terror, Imagem e Subjetivação Conferência XVIII: Fixação em traumas. O inconsciente in ESB, vol.XVI, p.325. 5. Ver APPELFELD, Aharon. Tzili. São Paulo: Summus, 1986. 6. Ver FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer (1920) in ESB, vol.XVIII, p.23-24. Na edição brasileira a palavra Schreck é traduzida como “susto” e não como “terror”. Este último termo expressaria melhor o sentido do original alemão. 7. FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão (1927) in ESB, vol.XXI, p.30. 8. Este item é uma versão modificada do trabalho por mim apresentado em 27/08/2004 no XIII Forum Internacional de Psicanálise, realizado em Belo Horizonte, e intitulado “Quando não há jardim: perversão na cultura e modos de subjetivação”. 9. FREUD, Sigmund. Inibições, sintomas e ansiedade (1926) in ESB, vol.XX, p.153. 10. KAFKA, Franz. Carta ao pai. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Cia.das Letras, 1997, p.15-16. 11. Idem, p.68. 12. HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.218. 13. A respeito do olhar e da imagem ver MERLEAU-PONTY, Maurice. L’oeil et l’esprit. Paris: Gallimard, 1975, sobre o qual se baseia a análise de GIL, José. A imagem nua e as pequenas percepções. Estética e metafenomenologia. 14. FREUD, Sigmund. Psicologia de grupo e a análise do ego (1921) in ESB, vol. XVIII, p.146. Aqui traduzo Schreck por terror e não por susto, como consta na edição brasileira. 15. A relação entre terror e fascínio foi muito bem desenvolvida por PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Pânico e desamparo: um estudo psicanalítico. São Paulo: Escuta, 1999, sobre a qual nos baseamos neste trecho. 16. Ver AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. O poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, particularmente a parte 3: “O campo como paradigma biopolítico do moderno”. 17. NANCY, Jean-Luc. Les deux phrases de Robert Antelme in Lignes n.21, Paris: Editions Hazan, 1994. 18. A propósito do filme de Lanzmann, remeto o leitor à bela análise de Peter Pál Pelbart no artigo “Cinema e Holocausto” publicado em Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785 29 Jô Gondar NESTROVSKI, Arthur e SELIGMAN-SILVA (Orgs.) Catástrofe e representação, op. cit. • Through the reality shows or the images of violence, the media promises total visibility as a direct experience of the Real. This experience is associated with trauma and with totalizing imperatives, that are predominant in political and subjective fields nowadays. The article deals with the relation between trauma, fascination and hypnosis, and with the resistence possibility, through the image, to the dismissal of sight that the total visibility promotes. > Image - Spectacle - Terror - Trauma - Subjectivity - Sight 30 Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.6, n.1/2, p. 15-30, jan./dez. 2003 ISSN 1516-0785
Download