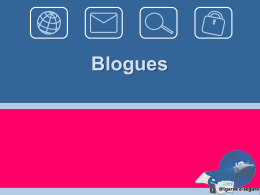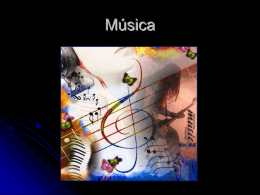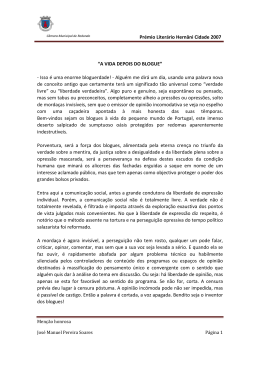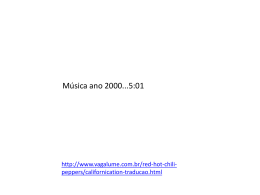O Bem e o Mal revisitados. O discurso do choque de civilizações em quatro blogues portugueses I – Blogues portugueses do mainstream e a apropriação do discurso do choque de civilizações «Estou contente com a notícia [da anulação do rali Lisboa-Dacar, nota nossa]: muitos deram-se conta, ontem, de que estamos em guerra. E, acreditem, ainda é só a fase suave da guerra» Ferreira Fernandes, Diário de Notícias, 5 de Janeiro de 2008 Os blogues têm-se tornado, segundo algumas concepções, uma das ferramentas mais bem sucedidas na revitalização da discussão política e teórica num plano alargado de difusão, reflexão e discussão. A presença de bloggers (autores de blogues na língua inglesa) em cada vez mais espaços televisivos e jornalísticos de opinião e de debate tem expandido a penetração desse espaço internáutico no seio do campo mediático mais vasto. A temática do choque de civilizações e do terrorismo islâmico não foge a essa regra. Porquanto a blogosfera se apresente e represente como um campo idilicamente democrático e plural, não deixa de ser sintomática a coincidência de os blogues com maior número de leitores internáuticos partilharem significativa parte do ideário neoliberal veiculado pelos grandes meios de comunicação social, por políticos, por think tanks e por empresários. Neste aspecto, o poder da ideologia dominante possibilita-lhe atravessar todos os tabuleiros de produção cultural e simbólica, mantendo a sua posição hegemónica no e sobre o conjunto da sociedade. Do nosso ponto de vista, o que poderemos chamar de mainstream da blogosfera portuguesa padece de uma incapacidade para reflectir fora do modelo formatado do neoliberalismo, fechando a maioria das discussões do mesmo espectro ideológico a tendências de aplicação, efectivação e legitimação desse ideário. Como procuraremos mostrar nesta secção, tanto blogues auto-definidos como de esquerda como blogues assumidamente de direita raramente discordam em torno da substância da sua visão do mundo. O caso do choque de civilizações é, a todos os títulos, evidente. Nenhum dos quatros blogues em análise [1] (Tugir e Kontratempos auto-apresentados como de esquerda, O Insurgente e Atlântico auto-apresentados como de direita) fogem ou sequer questionam nos seus textos as teses do choque de civilizações e do papel missionário dos EUA e do Ocidente no mundo. Na verdade, o ocidentalocentrismo das propostas de Huntington é, em muitos casos, quase liminarmente repetido nas suas linhas mestras. Noutros casos, é inter-relacionado com a legitimação da violência indiscriminada sobre povos e países, bem como se assiste a uma ligação a um discurso moralista do Bem contra o Mal, independentemente destes dois pólos não se encontrarem de forma explícita nos textos. Aliás, boa parte do sucesso dos argumentos expressos na blogosfera prende-se com a capacidade que os «intelectuais orgânicos» (Gramsci, 1976, p.25) do neoliberalismo e do choque de civilizações têm para sub-repticiamente construírem um discurso dualista assente em proposições morais, parciais e para-religiosas (o Bem contra o Mal; os ocidentais civilizados contra os islâmicos bárbaros, etc.). O primeiro procedimento da aplicação das teses do choque de civilizações encontrado no blogue Tugir – nomeadamente no respeitante à dicotomia Ocidente versus Islão – centra-se na assunção de que nos encontramos numa situação de guerra. A citação que colocamos em epígrafe, retirada de um dos jornais com maior circulação e maior influência na formação de opinião em Portugal, é esclarecedora. Assim, para os opinion makers da blogosfera, num contexto de guerra só respostas firmes tomadas por governos ainda mais “firmes” e “corajosos” (leia-se, autoritários) poderão estar à altura dos acontecimentos. Múltiplos exemplos podem ser referidos: «Israel soube que estava a surgir uma central nuclear, em território sírio junto da fronteira com o Iraque. Uma central que contava com apoio técnico da Coreia do Norte. Ora, os aviões israelitas foram à Síria destruir a central, numa operação que nem israelitas nem sírios confirmam ou desmentem, cada uma, pelas razões óbvias que se pode deduzir. Os perigos estão a alastrar e de duas uma, ou se previnem as ameaças ou estas podem mostrar-se da pior forma» (Tugir, 18 de Setembro de 2007a) [itálicos nossos]. «Muitos assustam-se com a referência de uma possível intervenção militar no Irão (e há razões para isso), mas ninguém se assusta com a ameaça nuclear iraniana?» (Tugir, 18 de Setembro de 2007b). «A ameaça é real. No Irão quase todos sabem para que servirá um projecto nuclear. Há momentos em que se deve prevenir, antes de remediar» (Tugir,17 de Setembro de 2007a) [itálicos nossos]. «Israel dá, assim, uma mensagem clara não só ao regime de Damasco mas também de Teerão, de que se for necessário a segurança nacional israelita é garantida fora do território de Israel» (Tugir, 17 de Setembro de 2007b). O Irão é imediatamente catalogado como sendo uma terrível ameaça à humanidade, como um Estado em vias de lançar o Ocidente em chamas. O grau de diabolização desse Estado soberano é tal que os autores do blogue Tugir não se coíbem de reproduzir um cartoon do Irão como um malévolo polvo que estende os seus tentáculos a todo o Médio Oriente, sublinhado com a frase: «O polvo cresce e estende-se quanto maior liberdade lhe derem. É o que está a acontecer» (Tugir, 19 de Junho de 2007). Neste blogue a persistência num discurso de firmeza e de força perante o inimigo chega a ser, portanto, obsessiva. Em simultâneo, ressalve-se que se denota a presença da formação de uma arena onde o Ocidente se confronta com um dos mais poderosos estados islâmicos: «o G-8 anunciou hoje que apoiará novas medidas se o Irão não cumprir as resoluções das Nações Unidas (ONU) que exigem que o país suspenda o respectivo programa de enriquecimento de urânio» (Tugir, 30 de Maio de 2007) «”Se o Irão continuar a ignorar as exigências do Conselho de Segurança apoiaremos mais medidas apropriadas, conforme acordado pela resolução 1747”, afirmaram os ministros do G-8 em comunicado conjunto. O tempo de ingenuidade e hesitações da Comunidade Internacional parece estar a terminar em relação ao projecto nuclear iraniano. Já não era sem tempo» (idem). Na última frase percebe-se ainda mais nitidamente a defesa do princípio dominante e hegemónico dos EUA e seus aliados mais poderosos na cena internacional, quando se coincide a Comunidade Internacional – um termo nebuloso mas que procura funcionar como equivalente de sociedade civil mundial – com os interesses dessas mesmas potências, na sua maioria ocidentais. Por outro lado, neste blogue a situação de guerra entre civilizações não só é real como evidente. «Como qualquer pessoa, mesmo sem saber pouco mais do que a sua língua nativa, percebe-se o que pretende o flamejante de Teerão. Basta somar um mais um. Está tudo escarrapachado, preto no branco. Ninguém desmentiu as palavras» (Tugir, 30 de Março de 2007). Presumem então os autores do blogue que existe uma verdade absoluta relativamente ao dossier da suposta tentativa de construção de um arsenal nuclear por parte do Irão? Pelos vistos sim, sendo, dessa maneira, inquestionável a construção de uma imagem dual, de uma imagem a preto e branco, entre “bons” e “maus”, entre evidências não comprovadas e comprovadas intenções de legitimação de um ataque militar sobre um Estado soberano e onde não existem provas cabais sobre o teor supostamente armamentista do seu programa nuclear. O exercício puramente ideológico e manipulador de unilateralmente rotular o Estado em questão como a única nação da região com intenções nucleares e expansionistas é esquecer, por exemplo, o Estado de Israel e a ocupação que tem vindo a efectuar dos territórios palestinianos que já resultou na morte de milhares de civis de ambos os lados, os seus sucessivos incumprimentos de resoluções das Nações Unidas, dos Acordos de Oslo e a posse de armamento nuclear. Na mesma senda ideológica, um outro blogue auto-proclamado de “esquerda” apresenta, em larga medida, as mesmas teses mas com um grau de sofisticação ideológica mais refinado, ao mesmo tempo que exacerba a componente da luta civilizacional do Ocidente contra o Islão na repetida dicotomia entre o Bem e o Mal. Aliás, a linguagem utilizada quase que chega a apelar a sentimentos de profecia e de apocalipse: «os integristas posicionamse para restaurar o grande califado. Caindo a Argélia, caem todos em redor. Esse poderá ser um dos piores pesadelos da Europa e o actual Estado militarizado argelino acaba por ser um mal menor na geopolítica deste tempo» (Kontratempos, 13 de Dezembro de 2007). No mesmo tom, «depois de Bhutto e da delapidação do apoio popular ao ditador Musharraf, falta pouco para os islamistas tomarem o poder no Paquistão. E, com ele, a bomba nuclear. É só uma questão de tempo, cada vez menos tempo» (Kontratempos, 27 de Dezembro de 2007). Basicamente, o realce na tecla profética atinge nesta última frase foros apocalípticos onde o avanço dos islamitas surge como que uma revivescência das atrocidades de Átila, da Mongólia até Roma! Para este discípulo acéfalo da nova ordem do pensamento único neoliberal e imperialista, o avanço do Mal islâmico seria quase irreversível. Quase dizemos nós, na medida em que o autor do blogue considera, mais uma vez, que só a força e a violência militar poderia fazer recuar o avanço islâmico sobre o Ocidente! «Na resposta ao terror cego, o Ocidente tem falhado. Guntánamo, o Iraque, os voos da CIA, a suspensão da Convenção de Genebra: tudo isso são derrotas cavadas. Depois, há os viveiros de integristas. No Afeganistão, George W. Bush desviou preciosos recursos financeiros e militares para o pântano de Bagdade e abriu terreno ao alastramento da mancha taliban» (Kontratempos, 12 de Setembro de 2007) [negritos e itálicos do autor]. O problema não estaria, segundo este autor, na invasão norte-americana do Iraque e que, segundo a revista Lancet, causou centenas de milhares de mortos (Hicks, 2007). O que se aponta de errado na política seguida pela Administração Bush não é, portanto, a sua linha intervencionista e militarista, mas por ter errado no alvo geopolítico de actuação principal. Assim, para o autor do blogue Kontratempos, só uma acção bélica e sem contemplações para os inimigos do Ocidente aparenta ser solução. Para isso, cita David Harris, director executivo do Comité Judeu Americano que descreve com precisão a forma como o Estado de Israel vê e actua em relação aos seus vizinhos islâmicos: «Quando um líder terrorista coloca rampas de lançamento de mísseis em casas, hospitais, escolas e mesquitas, o que pode fazer um exército? Ataca-se a plataforma de mísseis, mesmo sabendo-se que pode haver lá mulheres e crianças, ou não se ataca, correndo o risco de que esses mesmos mísseis vão matar os nossos civis? A questão não é simples. (...) Viver num país mais pequeno que a Bélgica, sabendo quotidianamente que naquele dia pode haver um ataque terrorista, que pode haver um ataque militar. É normal, esta situação? Perante ela, é preciso, primeiro: ter um poder militar forte. Não há escolha nesta parte do mundo» (David Harris citado em Kontratempos, 14 de Setembro de 2006) [negritos do autor do blogue]. A transcrição é longa mas fornece importantíssimas pistas para a compreensão do fenómeno da apropriação e posterior efectivação concreta das teses do choque de civilizações pelos seus mais acérrimos defensores. Neste trecho – abertamente comungado pelo autor do blogue – os chamados danos colaterais são plenamente justificados do ponto de vista humano e militar. O pragmatismo da acção de matar um terrorista justifica plenamente a destruição de bairros civis inteiros de Beirute e de Sídon no Líbano ou do puro e simples esmagamento de casas palestinianos pelas lagartas dos tanques israelitas? Para os apologistas da Guerra Santa inter-civilizacional parece que sim. É igualmente nítida a justificação e a aceitação tácita da violência mais cruel contra povos e Estados islâmicos – e que pouco afectam os chamados terroristas – no excerto de um artigo de Vasco Pulido Valente citado no mesmo blogue: «os políticos que se dedicam a louvar e a mimar os "moderados" do islão não percebem uma realidade básica: o extremismo é o único caminho para uma civilização falhada e o extremismo ganha» (Vasco Pulido Valente citado em Kontratempos, 23 de Setembro de 2007). Por conseguinte, a saída advogada passa por somar níveis de eficácia estratégica e militar e apostar cada vez mais em tentativas de constituir executivos governamentais coesos, unidos e dispostos a enfrentar tenazmente o que denominam de “inimigo islâmico”: «nesta fase, deve exigir-se mais do governo israelita. A nível externo, duas guerras civis em potência -- entre palestinianos e entre libaneses -- obrigam ao isolamento dos radicais e ao apoio dos moderados. A nível doméstico, uma liderança política que não consiga unificar o país e o pesadelo de um exército dividido é tudo o Israel não precisa para enfrentar o desafio fundamental dos próximos meses: um Irão nuclear» (Kontratempos, 29 de Janeiro de 2007). Gostaríamos ainda de aflorar a operação teórico-ideológica de construção da categoria do “Mal”. Atentemos na descrição que o autor do referido blogue realiza acerca dos terroristas islâmicos. «O objectivo [dos terroristas, nota nossa] foi sempre matar matar matar. Para a vertigem fundamentalista, nunca ninguém teve nem terá qualquer opção» (Kontratempos, 13 de Dezembro de 2007). Assiste-se, assim, à criação de um estereótipo do terrorista islâmico, fazendo dele uma pura encarnação do Mal, possuído por uma lógica de actuação estritamente irracional e perpassada por uma pulsão irresistível pelo assassinato. Ou seja, o fenómeno terrorista existiria apenas e tão-somente em si e para si mesmo, despojado de qualquer tipo de determinação complexa, multidimensional e/ou sócio-histórica. Esse seria, consequentemente, um fenómeno isolado de todos os outros (por exemplo, entre vários outros, da lógica do sistema internacional capitalista) e operando como mero depósito psicologista de intenções maquiavélicas. Aliás, essa é uma faceta evidenciada a toda a hora pelos opinion makers mais favoráveis às teses do choque de civilizações. Ainda neste mesmo blogue pode-se ler que: «Os terroristas não têm perfil. Não são “éticos”. Usam a multidão, a tecla do totalitarismo de Arendt, e nenhuma categoria ideológica parece ser capaz de os sustentar. Os integristas que se explodiram contra o WTC não eram pobres, nem excluídos, nem oprimidos. Viviam antes como toupeiras nas sociedades ocidentais, tal como os antigos agentes do KGB, levando uma vida estupidamente integrada, pacata, tolerante. Um dia, explodem. E explodem-se. Levam com eles ódio e pregos, o máximo de mortos para um terror maximalista. (…) Por mais que queiramos perceber de onde eles vêm, como vivem e onde vão actuar, nenhuma das respostas parece chegar com a limpidez e a rapidez necessárias. (…) Mas um dia, inevitavelmente, o relógio estará atrasado e desprevenido» (Kontratempos, 12 de Setembro de 2007). Por aqui se vê que até o esforço de compreensão do fenómeno terrorista é veiculado como algo moroso e, mais grave do que isso, pouco relevante para actuar convenientemente sobre o assunto. Os terroristas atacam e cometem atentados porque sim, ponto. Procurar encontrar fundamentos de determinação causal dos mesmos pareceria ser um empreendimento ineficaz e desfasado da necessidade de actuações militares sobre eventuais alvos terroristas. Quer dizer, o terrorismo seria apenas uma perversidade malévola de gente imoral (ou amoral) – os “terroristas não têm perfil. Não são éticos”. Ficando a análise da origem do terrorismo assente numa base de índole moral, facilmente se pode descambar para, por um lado, pulverizar qualquer tipo de pensamento que se proponha perscrutar a natureza sociológica e histórica do terrorismo e, por outro lado, assumir que os fins (a chamada “guerra ao terrorismo”) justificam inteiramente os meios (utilizar a força bélica e medidas securitárias como únicas formas de enfrentar o terrorismo islâmico). Assim, se se quisesse entravar o terrorismo não valeria a pena interrogar e inquirir as origens do fenómeno, diz-nos este discurso. A resposta é muito simples e, como já se viu, só pode ser uma: o uso da força militar e bélica, procedimento que afecta principalmente as populações civis dos países atingidos e muito menos as ditas (para não dizer, inventadas pelos media dominantes) organizações terroristas. Quando aldeias afegãs ou curdas são bombardeadas, quando cidades iraquianas ou libanesas são arrasadas ou quando edifícios civis, da Cruz Vermelha ou outros são destruídos pelas nuke bombs, não parece de todo crível e intelectualmente honesto afirmar que a conduta dos EUA e seus aliados seja, no mínimo, democrática e humanitária. Por outro lado, atente-se que as chamadas “organizações terroristas”, das duas uma: a) referem-se a criações orgânicas protagonizadas pelos serviços secretos ocidentais e norte-americanos para justificar a invasão e pilhagem das riquezas de outros povos. b) referem-se a organizações progressistas, patrióticas ou revolucionárias que lutam contra o imperialismo norte-americano. Este último quando se defronta com a resistência dos povos, classifica imediatamente as suas organizações sociais, políticas e militares mais consequentes como “terroristas”. O exemplo calunioso das FARC, entre outros, é o mais actual e elucidativo da lógica perversa do imperialismo estadunidense e dos media ocidentais em catalogarem perversamente organizações populares de criminosas e terroristas. Em jeito de parêntesis gostaríamos apenas de referir que chega a ser inegável a proximidade entre o discurso fascista do uso da força como único programa político a executar e a apologia da violência física e militar como única resposta política para conter um inimigo simultaneamente interno e externo. Já Mussolini afirmava que «o Estado deve estar limitado às suas funções políticas e jurídicas. O Estado deve ter apenas polícia para proteger as pessoas decentes dos vilões, um sistema de justiça, um exército pronto para qualquer eventualidade e uma política externa para servir o interesse nacional contra forças terroristas exteriores» (Mussolini citado por Poulantzas, 1970, p.112). A afirmação de Mussolini apesar de não ser directamente relacionada com esta questão chama a atenção para um dos pontos comuns entre o fascismo e as correntes liberais e conservadoras. Na prática, a ênfase colocada na redução do aparelho de Estado a um papel puramente securitário, policial e militar é de uma profunda similitude entre todas as correntes, sem com isto querer afirmar a sua identificação política tácita, mas “tão-somente” a partilha de determinados aspectos sobre o Estado e sobre as formas de resposta política deste último. É partindo do pressuposto que o Estado deveria reduzir o seu papel à esfera do seu aparelho repressivo, policial e militar que deriva a defesa tácita do uso da violência como única ou principal forma de actuação sobre o terrorismo. A política (e as ideologias políticas) não mais seriam do que ilustrações simbólicas de uma real virtude pragmática de aplicação da violência física e militar para resolver questões de ordem política. Só colocando o aparelho de Estado nesta perspectiva de estrutura quase exclusivamente repressora, se poderá lançar luz sobre o papel subsequente da violência como principal instrumento político de actuação interna e/ou externa. Neste domínio como em muitos outros, é muito difícil destrinçar qualquer tipo de distinção conceptual e/ou ideológica de fundo entre todos os quatro blogues o que nos levaria a perguntar onde está a direita e onde está a esquerda, de acordo com a terminologia mais em voga no campo político. Quase que apetece perguntar até que ponto é que uma esquerda que não se distingue em praticamente nada da direita política se pode continuar a chamar de esquerda. De facto, o sistema poder imperialista parece viver da necessidade de se legitimar criando “esquerdas” e “direitas” fictícias e que se resumem a aplicar os ditames de organização e regulação do sistema contra os direitos dos trabalhadores e dos povos. Nos blogues que se afirmam de direita, começando pelo O Insurgente, manifesta-se a última aresta de pensamento veiculada na análise empreendida ao pretérito blogue. Na mesma bitola, o discurso (da apologia) da força continua a receber forte aplauso por parte da blogosfera mainstream. Senão vejamos. «O Irão afirma-se cada vez mais em sua posição de “rogue state” e requer respostas mais duras da parte do Ocidente. Diante da necessidade imperativa de neutralizar uma ameaça concreta à sobrevivência de algum de seus aliados, os Estados Unidos, que são a maior potência militar do mundo, dispõem de condições de agir, porém a um custo possivelmente muito elevado perante a opinião pública internacional» (O Insurgente, 15 de Abril de 2007) [itálicos nossos]. As afirmações em itálicos demonstram mais do mesmo sumo argumentativo que temos vindo a dar conta pelo que não nos debruçaremos detidamente sobre isso. Ressalte-se apenas a última parte do trecho, onde cinicamente se declara que o maior obstáculo para uma possível intervenção militar dos EUA no Irão é o custo mediático e de popularidade para aqueles. Das vidas humanas dos soldados de ambas as partes e de prováveis milhares de civis mortos nada é referenciado no texto – e em nenhum dos que lemos de todos os blogues. A eficácia bélica e o pragmatismo funcional ditam as regras. No mesmo texto, a Europa é criticada por não seguir o exemplo norteamericano e por não se fortalecer militarmente. Assim, a «Europa dedicou-se a construir um paraíso onírico kantiano onde a utilização da força é praticamente impensável e toda e qualquer ameaça deve ser enfrentada através do diálogo e do multilateralismo institucionalizado» (idem). Não é de todo verdade que os países europeus tenham adoptado na sua história métodos exclusivamente diplomáticos para resolver conflitos. Porém, o que há de mais relevante nesta afirmação tem que ver com a desvalorização do factor negocial em detrimento (do elogio aberto e tácito) do recurso da força como o procedimento mais legítimo e racionalmente razoável. No seguimento, reafirma-se, quase de forma obsessiva, a mesma motivação: «Se queres a paz, prepara-te para a guerra (“si vis pacem, para bellum”), já dizia o escritor militar romano Vegetius, por volta de 390 a.C. Assim, deve-se primeiro garantir a sobrevivência através do fortalecimento das capacidades de poder perante os outros Estados da região. Depois, pode-se começar a pensar nos benefícios da paz para o desenvolvimento de relações económicas que promovam o bem-estar e a prosperidade» (idem). Estes dois aspectos – o elogio da força bélica e a criação de um estereótipo do terrorista como agente do Mal – conjugam-se perfeitamente. Um artigo de Rui Ramos, previamente publicado no jornal Público, é muito esclarecedor de como estes dois eixos temáticos se interligam e conciliam na perfeição. Acompanhado por um cartaz de terroristas islâmicos com chamas infernais como pano de fundo, o artigo começa por criticar os contestatários das teses do choque de civilizações – «há quem não tenha desistido de “iraquizar” o Ocidente» (O Insurgente, 12 de Julho de 2007), o que significaria que qualquer opositor à política intervencionista dos EUA seria um colaborador dos extremistas islâmicos. Logo de seguida o autor procede por via da ridicularização desses oponentes: «Não lhes basta conter os terroristas. Querem compreendê-los. É possível contê-los. Mas compreendê-los? Compreender, para os Ocidentais, não é apenas entender: é detectar as causas e razões, e ficar assim habilitado para as eliminar de uma vez e para sempre. O grande princípio ocidental é o de que se há um problema, tem de haver uma solução – de preferência, imediata e sem dor. (…) É a maneira ocidental de compreender os outros: ou são atrasados, ou somos nós próprios. Mas os terroristas não são uma coisa nem outra. São, como sugere o estudo de Shiv Malik sobre a carnicifina de Londres em Julho de 2005, jovens afastados da tradição e alienados das suas famílias e comunidades de origem, mas que não querem integrar-se na versão ocidental da modernidade. Procuram uma ordem nova garantida pela revelação divina. E visto que não parecemos capazes de levar a sério esta dimensão religiosa, como compreendê-los?» (idem). Mais uma vez, tudo o que se assemelhe a um qualquer exercício de indagação teórica é imediatamente cunhado como algo infrutífero e, indo mais além, desnecessário. Para este autor, para conter o terrorismo só «poderemos contar com duas coisas»: 1) «com o debate ideológico dentro das comunidades islâmicas. Não está ao alcance dos que estão de fora fazer muita coisa aí»; 2) «nenhum truque dispensará a força – a força prudentemente usada, mas a força necessária para tornar evidente que a opção terrorista leva à prisão e não à glória, e que dirigir e albergar terroristas é o caminho para grutas em montanhas remotas, e não para os palácios de qualquer capital» (idem). Não só há, novamente, uma desvalorização de todo e qualquer método nãoviolento, como, por outro lado, o artigo encerra vincando uma tirada de tom jocoso sobre os que contestam a política intervencionista dos EUA e seus aliados, e o correlativo enquadramento ideológico do choque de civilizações: «é reconfortante constatar que as polícias, com a sorte do seu lado, se têm mostrado mais eficazes que os nossos sábios para lidar com os terroristas» (idem). Um outro texto publicado no mesmo blogue e da autoria de Claudio Vellez cola metonimicamente o terrorismo ao colectivismo. «Mais do que um embate civilizacional, o terrorismo, no século XXI, volta-se contra todo um modo de vida e representa o que poderíamos chamar de “braço armado” de uma complexa estratégia de construção de um mundo alternativo através da recuperação de um ideal de cunho colectivista que exige a aniquilação gradativa das liberdades individuais» (O Insurgente, 11 de Junho de 2007). O autor diverge de Huntington apenas na contextualização do terrorismo na evolução histórica da humanidade. Onde para Huntington o choque de civilizações surge como um fenómeno trans-histórico, para Vellez é o colectivismo que está na base matricial do terrorismo, islâmico na sua modalidade mais actual. Com efeito, «o pano de fundo ideológico que alimenta os grupos terroristas e as actividades extremistas, contudo, tem a sua origem no holismo que dilui a expressão das individualidades na concepção colectivista que se manifesta, inclusive, na aberração política do totalitarismo» (idem). Apreende-se nestas palavras a interpenetração de três conceitos: colectivismo, terrorismo e totalitarismo como se ambos caminhassem passo a passo desde sempre. Por exemplo, se é verdade que a Alemanha nazi era um Estado totalitário não se pode afirmar pela existência de colectivismo na vigência desse regime. No extremo político da Alemanha hitleriana, a União Soviética se teve uma forte componente colectivista (no sentido de procurar construir uma sociedade alicerçada no primado do colectivo sobre o indivíduo singularizado), muito dificilmente se pode afirmar que houve totalitarismo. O objectivo do autor do blogue O Insurgente parece, assim, claro. Criar uma amalgama confusa de conceitos, colocando no mesmo tabuleiro elementos políticos claramente distintos entre si como os fascismos, o movimento socialista e comunista e o terrorismo islâmico. No blogue Atlântico, propriedade da revista com o mesmo título, o mesmo teor temático encontra-se espelhado nos seus textos. O mesmo tipo de juízos acerca da indeterminação das causas do terrorismo e do carácter de exclusão e niilista dos terroristas é novamente abordado: «Quase todas as conspirações do terrorismo islâmico – desde a revolução xiita no Irão até aos atentados de 11 de Setembro – foram preparadas no Ocidente por muhajiroun (sic) que vivem, muitas vezes ao abrigo das leis de asilo, aparentemente satisfeitos e integrados no seio de comunidade instaladas. Mas como nenhum elo de pertença os poderá jamais vincular a estas comunidades, nunca chegam a adquirir a lealdade nacional de quem os acolheu. (…) Impotentes para organizar uma oposição no país de origem e incapazes de aderir à sociedade em que vivem, acabam por ser atraídos pela violência como prova derradeira da sua identidade (Atlântico, 10 de Setembro de 2007). Assim, a única explicação relativamente à causalidade do fenómeno terrorista fica-se pela atribuição a um único factor (a não inserção de membros das comunidades muçulmanas no Ocidente no restante tecido social externo) nunca desenvolvido e sem nunca colocar em causa o dualismo Bem/Mal. Um último ponto que gostaríamos de focar tem que ver com a avaliação que os intelectuais defensores dos fundamentos do choque de civilizações fazem dos seus contendores e dos que questionam a actual escalada internacional de guerras levadas avante pelos EUA e pelo Ocidente. Num longo texto, Paulo Tunhas (PT) vai criticar o que considera ser o estado de impunidade com que os terroristas islâmicos gozam de «uma boa quantidade de políticos e intelectuais ocidentais» (Atlântico, 10 de Dezembro de 2007). Para o autor só há uma explicação possível e ela só poderá ser de ordem psicológica e mental. Recortando o pensamento de Freud sobre as neuroses em citações descontextualizadas, Paulo Tunhas compara o crítico ou céptico à ortodoxia eurocentrista do choque de civilizações a um indivíduo vivendo num estado neurótico: «Como escreve Freud: “Em cada uma das neuroses, não é a realidade da experiência, mas antes a realidade do pensamento, que forma a base da formação do sintoma”. A intensidade e o afecto são fundamentais no mundo neurótico: apenas as “coisas intensamente pensadas ou afectivamente concebidas” contam para o neurótico, independentemente de estarem ou não de acordo com a realidade exterior. Tal como no caso do primitivo, crê-se que o mundo exterior pode ser mudado por um simples acto de pensamento» (idem). A isto o autor chama de «omnipotência do pensamento» (idem). Mais uma vez o processo de intelecção e de busca pela compreensão do fenómeno em causa é considerado pejorativamente. Na prática, tal comportamento autocentrado na reflexão especulativa resultaria numa confusão entre vítimas e culpados, como se a discussão do fenómeno do terrorismo e dos conflitos no Médio Oriente se engendrasse em termos estritamente morais, ou seja, entre bons e maus, entre justos e injustos, entre culpados e inocentes. Uma consequência verdadeiramente interessante desta atitude é, de facto, a posição singular que ela engendra face à culpa e à inocência. Aqueles a quem é atribuída uma passividade ontológica radical não são, por definição, susceptíveis de culpa. São naturalmente inocentes. São, pelo contrário, estritos depositários da culpabilidade aqueles a quem é exclusivamente atribuída a actividade. Logo a seguir ao 11 de Setembro de 2001, os EUA foram imediatamente considerados por muita gente como os verdadeiros fautores do ataque às Torres Gémeas e ao Pentágono (sem esquecer o alvo falhado do avião que caiu na Pensilvânia)» (idem). A responsabilidade dos EUA no apoio à Al-Qaeda e aos taliban durante a guerra no Afeganistão (1979-1989) e no fomento do integrismo islâmico durante as décadas de 60 a 80 parecem estar esquecidos ou pura e simplesmente omitidos do discurso mais amplamente favorável às administrações norte-americanas. Assim, a discursividade típica destes intelectuais também procura responder às críticas que lhes são endereçadas, o que é perfeitamente legítimo, justo e expectável. Porém, a sua contra-resposta raramente aborda o conteúdo das proposições dos seus contendores, preferindo reduzir as suas réplicas a enunciados de tipo psicologistas. Se no blogue Kontratempos os críticos não passam de uma «brigada de alienados» (Kontratempos, 12 de Setembro de 2007), PT envereda pela mesma formulação teórica, se bem que esculpida e justificada em pormenores pretensamente científicos como a teoria de Freud. Portanto, para Paulo Tunhas o delineamento de críticas como, entre muitas outras, a ligação da Al-Qaeda aos EUA ou o facto de o terrorismo islâmico surgir como contra-efeito da dinâmica da actual globalização capitalista em formações sociais de população maioritariamente muçulmanas, mais não seriam do que fetiches para «satisfazer inconscientemente essa crença infantil, regressiva e narcísica na omnipotência da actividade ocidental» (Atlântico, 10 de Dezembro de 2007). Desenvolvendo a sua análise alavancada na psicologia freudiana aplicada à política internacional, PT aproxima as críticas à grelha ideológica do choque de civilizações e à sua efectivação prática ao que veicula ser o «racismo altruísta» (idem). Ou seja, o crítico está equivocado quanto mais não seja porque considera o islâmico como «estruturalmente passivo e radicalmente inocente, movendo-se apenas por reacção e pecando por angélica ausência de responsabilidade» (idem). Em rigor, para o autor, o crítico das teses do choque de civilizações encerraria o islâmico numa singularidade cultural. O islâmico mais do que uma particularidade cultural, seria, no caso do terrorista, um fanático, um diabólico portador do Mal. Segundo Tunhas, o racismo altruísta derivaria de uma plataforma histórico-psicológica muito precisa: a hiper-reflexividade. «Aquilo que chamei “racismo altruísta” não representa uma tara sem origens determinadas. Ele exibe antes um dos aspectos actuais do desenvolvimento de certas condições sociais e históricas que remontam, pelo menos, à Aufklärung. Pensemos na importância da reflexividade no pensamento de Kant – mas poder-se-ia voltar a Montaigne, e, nos inícios, a Platão, não apenas autores mas símbolos de momentos reflexivos das sociedades. Essa reflexividade evoluiu parcialmente para uma hiper-reflexividade e conduziu à galáxia imprecisa do que se convencionou chamar pós-modernismo. A crença na omnipotência do pensamento coincide com a negação de tudo o que nos provoque desprazer: à realidade é substituído o pensamento, ou, melhor, a projecção do pensamento na realidade, projecção tanto mais eficaz quanto nos provoca um alívio psíquico. No mesmo gesto, nega-se tudo aquilo que pode pôr em causa o nosso narcisismo» (idem). À primeira vista Tunhas parece estar a criticar tão simplesmente o idealismo filosófico, domínio da Filosofia e do pensamento perpassado pela reflexão especulativa e metafísica. Na verdade, Paulo Tunhas critica o racionalismo de um modo geral e a importância histórica da construção de pensamentos explicativos e reflexivos sobre as sociedades dos seus respectivos tempos históricos. Quer dizer, Tunhas desacredita o idealismo filosófico e especulativo no sentido de considerar toda e qualquer postura de interrogação do fenómeno do terrorismo islâmico como uma negação da realidade tal e qual ela é. No fundo, ao uso da racionalidade (seja ela especulativa ou não) Paulo Tunhas contrapõe o irracionalismo da força física, o irracionalismo no uso e recurso da violência bélica e militar sobre o chamado mundo muçulmano. Por conseguinte, toda esta explicação desagua na assunção de que os que procuram compreender o Islão não passam pela prova da realidade. Isto é, todo e qualquer empreendimento teórico e intelectual seria uma «recusa do perigo real» e uma «invenção de perigos substitutos» (idem). Perante este cenário, a dita sociedade civil mais não teria de fazer do que enfrentar o princípio da realidade: combater com tenacidade e, acima de tudo, com violência o terrorismo islâmico. O mesmo é dizer que as guerras, invasões e bombardeamentos dos EUA e seus aliados sobre populações maioritariamente muçulmanas seriam actos perfeitamente legítimos, aceitáveis e sem os quais a dita civilização ocidental correria o risco de ser destruída. Na realidade, trata-se de justificar ideologicamente a intervenção militar em busca de recursos naturais, expansão geoestratégica e de defesa do dólar como moeda mundial, travestida de uma guerra do Bem contra o Mal, do Ocidente contra o Islão. II – Contradições e ambiguidades do discurso do choque de civilizações: algumas coordenadas teóricas sobre a teoria do capitalismo neoliberal As teses do choque de civilizações, tanto na sua versão original de Huntington como na versão adaptada dos blogues portugueses do mainstream, não comportam uma série de elementos que nos parecem essenciais para a compreensão do actual cenário internacional. De facto, mais do que uma tentativa de compreensão e/ou explicação do mundo, o paradigma do choque de civilizações constitui-se como um empreendimento ideológico de justificação e legitimação da política externa dos EUA e seus aliados mais próximos e poderosos. Podemos então relacionar o eurocentrismo, nomeadamente na sua formulação mais ocidentalocêntrica, com as teses do choque de civilizações, na medida em que este último não se distingue da defesa de um projecto político mundial de dominação. De facto, pode-se afirmar que tanto no modelo do choque de civilizações, como no eurocentrismo clássico, inventou-se um Ocidente de sempre, único e singular desde a sua origem. Ora, a construção de um Ocidente imutável e com características próprias e únicas aí existentes desde tempos quase imemoriais, implica igualmente a construção de um antagonista com características próprias e intemporais, apesar de opostas e consideradas como irreconciliáveis com os valores e vivências ocidentais. Por outras palavras, esta construção, arbitrária e mítica do Ocidente impunha em simultâneo a construção também artificial de outras (os Orientes ou o Oriente) em bases igualmente míticas, mas necessárias para a afirmação da preeminência dos factores de continuidade sobre a mudança. O eurocentrismo/ocidentalcentrismo presente no modelo do choque de civilizações reproduz uma lógica que em alguns aspectos se pode considerar como nova. Na verdade, a sua vertente mais recente concentra-se mais na atribuição de dimensões e propriedades inatas a um universo geográficocultural, consagrando a passagem de um racismo genético e biologizante (Alemanha nazi) para um racismo geográfico e cultural. Desmontadas e desconstruídas por boa parte da evolução da Genética e da Biologia as noções da hierarquização biológica de raças e povos, o eurocentrismo reconverteu-se em novos moldes, sem nunca perder a sua trave-mestra – a pretensa superioridade civilizacional do Ocidente sobre as restantes civilizações. Esta assunção da superioridade do Ocidente mantém-se. Explicitando, o que a nosso ver é factor de novidade prende-se com o menor enfoque dado à dimensão biológica, mas com o maior peso da proveniência cultural e da identidade cultural subjacente a uma determinada região do globo. Onde antes o cultivo de ódios em relação ao mundo exterior ao Ocidente assentava numa discursividade preponderantemente biológica, hoje o seu mais forte instrumento de transmissão é a fetichização da cultura. Se no colonialismo do século XIX as loas poéticas de Ruyard Kipling relativamente ao “fardo do homem branco” em dominar a periferia do sistema-mundo assentavam na inferioridade biológica dos povos não-ocidentais (considerando os negros e os índios como seres mais próximos dos animais do que dos seres humanos), a versão mais recente do ocidentalcentrismo aborda tudo o que diz respeito à subjectividade de uma determinada comunidade humana – religião, costumes, hábitos, visões do mundo, arte, linguagem, modos de sociabilidade, tradições, etc. – como algo congelado num circuito fechado, inscrevendo um carácter de perenidade e imutabilidade a essa mesma comunidade humana. Por outro lado, e de modo simultâneo, comunidades culturais com traços culturais e sociais distintos, são facilmente amalgamados num conjunto religioso-cultural mais vasto, como por exemplo, o Islão ou o Ocidente. Desta forma, dá-se apenas importância a um ou dois conjuntos de variáveis culturais – nomeadamente a religião – para obscurecer as diferenças enormes ao nível cultural, económico, político e social que comporta o chamado mundo muçulmano. No fundo, a uma variável generalizante – no caso do Islão, a religião muçulmana – reduzem-se e omitem-se todas as outras diferenças culturais, políticas e sociais dentro da chamada civilização islâmica. Estamos perante um método superficial que consiste em retirar conclusões totalizantes a partir de um detalhe unilateralmente captado. Mesmo o reconhecimento de diferenças e divergências internas no seio do Islão é invariavelmente subsumido e tomado como irrelevante no quadro do choque de civilizações. O racismo geográfico e cultural do imperialismo em relação ao chamado Islão ancora-se, portanto, na assunção de que nenhuma sociedade pertencente a este bloco civilizacional foi, é e será alguma vez capaz, por si só, de implementar valores democráticos e de liberdade. Neste ponto podemos afirmar que duas arestas ideológicas se tocam inequivocamente: o liberalismo e o eurocentrismo/ocidentalcentrismo. Por um lado, este racismo geográfico e cultural resgata teses assentes na equivalência imediata e inquestionável entre democracia, liberdade e liberalismo. Fora do mercado, do trabalho assalariado e do Estado dominado e controlado por elites [2] que se revezam entre si para controlarem o poder político, nada é democrático e portador de mecanismos de construção democrática da sociedade. Logo, qualquer modelo alternativo que fuja aos mecanismos liberais e capitalistas de ordenamento das sociedades é inevitável e imediatamente classificado de não-democrático. Por outro lado, se se reconhecer que ao Islão está vedado qualquer papel autónomo na construção das suas sociedades em termos de democracia e liberdade, então só o Ocidente o poderá levar a cabo. No fundo, a construção ideológica de um Oriente mítico, que tanto pode ser o Islão, o Japão, a Índia ou a China e cujas características são tratadas como definitivas e definidas simplesmente por oposição às características atribuídas ao Ocidente capitalista, pavimenta uma visão e um discurso que abona pela intervenção “missionária” do Ocidente naqueles territórios e populações. O pai ideológica das teses do choque de civilizações, Samuel Huntington, é inteligente o suficiente para não abraçar de forma irracional e imediata as teses eurocêntricas do século passado que propugnavam pela homogeneização de todo o planeta à imagem e semelhança do Ocidente. O autor do choque de civilizações compreende que esse é um objectivo que, no curto e médio prazo, não está ao alcance dos EUA e dos seus aliados europeus. Contudo, isso não significa que haja um afrouxamento da assunção da superioridade do Ocidente sobre as outras civilizações. Na realidade, a defesa dos EUA e do Ocidente como potência e civilização hegemónicas, respectivamente, mantém-se intacta. O que Huntington e todos os autores pró-imperialistas chamam a atenção é para os limites actuais (e assumidos como meramente conjunturais) da dominação capitalista – incapaz de criar um mercado mundial homogéneo – e da dominação imperialista – incapaz de submeter pelas armas todas as populações e Estados não-ocidentais a um controlo absoluto e inquestionável por parte do Ocidente capitalista. De um ponto de vista sócio-económico, onde o colonialismo era a modalidade de expropriação directa e abertamente violenta dos recursos sociais de produção, a partir das duas últimas décadas, neoliberalismo e ocidentalcentrismo combinam-se como uma nova forma de reconfiguração da dominação económica e política das periferias do sistema capitalista internacional. Basicamente, o controlo económico da periferia passa pelo amarrar das dinâmicas internas do mercado em cada território (os mercados nacionais da periferia) ao funcionamento do mercado mundial. Nesse sentido, o controlo da periferia sustenta-se no reforço das relações económicas que subterrânea e invisivelmente reconvertem e reconfiguram os mercados nacionais periféricos, transformando-os em zonas especializadas de produção de excedente económico, de acordo com os interesses dos grandes conglomerados económicos e dos Estados do Ocidente. No que toca ao Islão, registe-se o impacto das dinâmicas neoliberais nos países do Médio Oriente. De facto, naquelas formações sociais existe uma evidente degradação do seu padrão de desenvolvimento. Na sua generalidade, são países com uma estrutura económica fundamentalmente assente na exploração e exportação de petróleo e gás natural e quase sem outro tipo de indústria, como vastas áreas do Norte de África e do Médio Oriente. Mesmo que em partes deste segmento da economia internacional as relações capitalistas de produção não sejam preponderantes, o seu grau de ligação aos mercados internacionais é inquestionável. Tão ou mais importante que o fornecimento de matérias-primas para o centro – que é, sem dúvida, um importante ramo de actividade destes países –, o que está aqui em causa é o bloqueamento do desenvolvimento destes países. De facto, este componente da periferia é atravessado por modos de produção não-capitalistas que têm um papel essencial a dois níveis: a) na equalização da taxa de lucro médio internacional a partir da competição entre capitais com diferentes composições orgânicas; b) no fornecimento de uma força de trabalho que se produziu de forma praticamente gratuita para o centro do sistema capitalista internacional, particularmente provenientes dos países do Magrebe. Num outro ângulo, importa referir que os EUA e as principais nações da Europa ocidental lutaram activamente contra projectos de libertação e desenvolvimento nacional (Egipto de Nasser, Argélia de Ben Bella, Iraque antes de Saddam, Líbia de Kadhafi, Síria do Baas, Afeganistão e o Partido Democrático e Popular, Indonésia e a aliança do Partido Comunista Indonésio com sectores democratas daquele país, etc.). Todos esses projectos desenvolvimentistas ou populares, com evidentes diferenças entre todos eles, foram levados a cabo com o intuito de criar economias que permitissem estreitar o fosso na produção e distribuição de recursos económicos à escala mundial. Por intermédio da aposta em vias próprias de industrialização com sectores económicos diversificados e autosustentados, e com a tentativa de construção de aparelhos de Estado autónomos das directrizes das embaixadas dos anteriores países colonizadores, os projectos nacionalistas (e por vezes pró-socialistas) árabes e muçulmanos eram alavancas essenciais para quebrar a lógica de expropriação e de subdesenvolvimento que a organização capitalista da economia internacional lhes impunha. O apoio incondicional do chamado Ocidente a grupos integristas islâmicos nos anos 70 (Afeganistão) ou a futuros inimigos (como Saddam Hussein no Iraque) provam que a ofensiva contra a criação de um modelo nacional de desenvolvimento nos países muçulmanos, é uma peçachave para se compreender o afundamento das burguesias nacionais e laicas daqueles Estados bem como da possibilidade de se ter implementado modelos alternativos e democráticos de desenvolvimento económico, político e social. O mesmo se passou com as forças e camadas sociais populares que participaram activamente nesses projectos. Ao invés, o imperialismo apostou sempre em fomentar o crescimento de classes dominantes locais compradoras, isto é, desligadas de um projecto de desenvolvimento industrial e provenientes do sector económico mais atrasado (a agricultura) e com uma cultura religiosa fanática. No fundo, classes dominantes sem objectivos económicos de criar um padrão de desenvolvimento económico e social autónomo, mas que se cingem à partilha da exploração de recursos energéticos com as classes dominantes ocidentais e a sectores de monocultura agrícola ou industrial. São estas classes dominantes locais que em países como a Arábia Saudita apoiam a linha política definida por Washington. São estas mesmas elites árabes locais que, em contextos de uma mais desigual partilha da pilhagem dos recursos e das riquezas, se transformam em talibans ou em grupos fomentadores do extremismo islâmico contra os antigos comparsas de pilhagem e opressão. Conclusão Toda a argumentação exposta no discurso imperialista do choque de civilizações e dos blogues analisados conduz para uma série de itens que vale a pena resenhar brevemente. • A civilização ocidental seria a única formadora e a única agência portadora dos valores da democracia e da liberdade. Fora deste espaço geocultural não haveria capacidade autónoma dos restantes países para desenvolver qualquer tipo de valores e práticas emancipadoras. Por outro lado, só são tomados como aceites os valores do mercado, do chamado “comércio livre” e da democracia representativa não-participativa e bipolarizada entre uma esquerda e uma direita que apenas diferem na forma e nunca na substância das suas orientações programáticas. • Não tendo condições para colonizar e ocupar territorialmente e para evangelizar (religiosa e culturalmente) todo o espaço islâmico, a saída para o Ocidente seria, neste momento, fortalecer a sua unidade ideológica em torno dos princípios enunciados no item anterior e, por outro lado, enveredar por acções militares que possam esmagar militarmente ou neutralizar o seu inimigo. • Sendo os valores do Ocidente tomados como os mais aptos ao desenvolvimento de uma humanidade tolerante e harmoniosa, torna-se muito fácil deduzir daqui que a chamada civilização ocidental se personifica no Bem. Ao inverso, o Islão – ainda por cima tomado no seu conjunto, englobando populações civis, Estados e organizações terroristas – seria um inimigo visceral dos valores do Ocidente, logo, do Bem. Com a mesma facilidade, o Islão encarna o Mal. • Todo e qualquer esforço intelectual de indagação do fenómeno e que, minimamente, confronte toda esta construção teórico-ideológica do choque de civilizações é imediatamente taxado de irrealista e insensato. Um verniz antiintelectualista e abertamente defensor do uso da violência e da força militar reveste todos os blogues do mainstream português. • Nenhum dos blogues rejeitou o ocidentalcentrismo impresso nas teses do choque de civilizações. Pelo contrário, aprofundam e expandem o seu espectro ideológico a mais camadas da população. Ao mesmo tempo, não se encontra qualquer tipo de desenvolvimento teórico que equacione o funcionamento do sistema internacional capitalista nas suas bases materiais, portanto, económicas e políticas. No fundo, toda a problematização realizada nos blogues aludidos (amostra que nos parece real e definidora de boa parte da blogosfera mainstream) centra-se, a mais das vezes, na construção de estereótipos. Toda a problematização teórica relativiza o debate em termos de coordenadas matriciais das Ciências Sociais, privilegiando a explanação de enunciados morais e moralizantes. Dessa forma, simples questões relacionadas com a organização internacional do sistema capitalista como as que expusemos na secção anterior, são completamente passadas ao lado. Em jeito de remate, não deixa de revelar uma forte ambiguidade o facto de a) os maiores apologistas das virtudes da economia global e competitiva e que justificam todo o tipo de regressões de direitos sociais como inevitabilidades da vivência no seio dessa mesma economia global, b) serem precisamente os mesmos que cindem o sistema capitalista internacional em duas partes estanques, mutuamente exclusivas e sem quaisquer tipo de veios de interacções económicas, sociais e políticas que não sejam choques interreligiosos ou inter-civilizacionais. Notas: [1] Gostaríamos de justificar a escolha cronológica dos posts analisados, bem como dos próprios blogues. Sobre este ponto, interessou-nos analisar blogues que partilhassem disposições com o espectro político do chamado arco governativo e que, ao mesmo tempo, consagrassem boa parte da sua produção textual a assuntos de política internacional, particularmente às questões do terrorismo islâmico. Com efeito, a análise, em blogues portugueses, de fenómenos de política internacional a partir de uma perspectiva que se afirmasse próximo de uma visão neoliberal afirmou-se como decisiva para a escolha dos blogues referidos. Por outro lado, a concentração da maioria dos posts no ano de 2007 teve que ver com dois acontecimentos relevantes sucedidos nesse ano. Em primeiro lugar, a evocação (e proximidade) dos seis anos dos atentados às Torres Gémeas do World Trade Center em Nova Iorque. Em segundo lugar, por causa do exacerbar das relações tensas entre os EUA e o Irão no mesmo período. [2] Elites políticas subordinadas às classes dominantes numa formação social e económica. * Sociólogo
Download