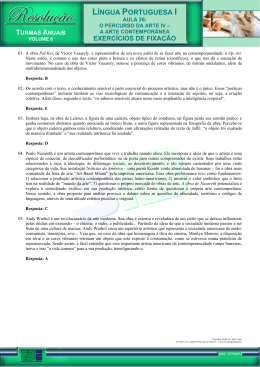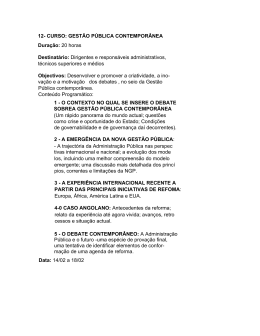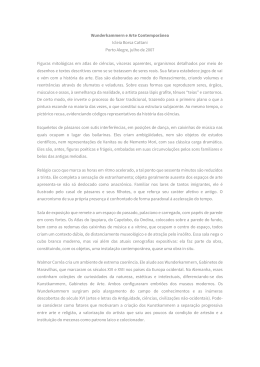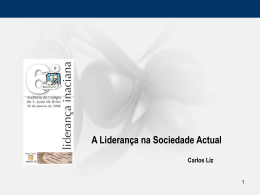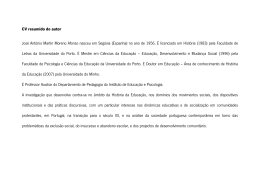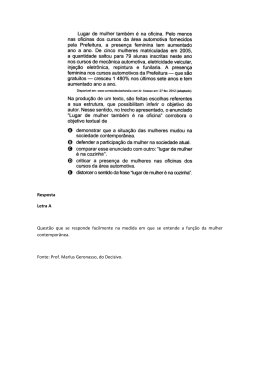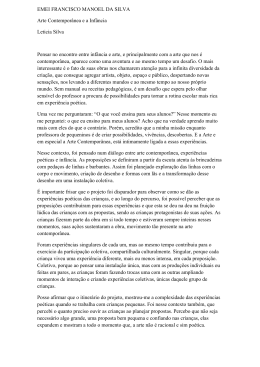UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES INSTITUTO DE ARTES EU É UM OUTRO / EU É O OUTRO: QUESTÕES DE INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA Maria Elisa Campelo de Magalhães Rio de Janeiro 2007 Maria Elisa Campelo de Magalhães EU É UM OUTRO / EU É O OUTRO: QUESTÕES DE INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Artes do Instituto de Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes. Orientador: Marcus Alexandre Motta Rio de Janeiro 2007 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/REDE SIRIUS/CEH/B M188 Magalhães, Maria Elisa Campelo de. Eu é um outro/ eu é o outro: questões de influências artísticas na arte contemporânea brasileira / Maria Elisa Campelo de Magalhães. - 2007. 129 f. Orientador: Marcus Alexandre Motta Maria Elisa Campelo de Magalhães EU É UM OUTRO / EU É O OUTRO: QUESTÕES DE INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS NA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA Dissertação apresentado ao Programa de Pósgraduação em Artes do Instituto de Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes. Orientador: Marcus Alexandre Motta Aprovado em: ____________________________________________ Banca examinadora: ____________________________________ Marcus Alexandre Motta Prof. Dr. do Instituto de Letras da UERJ e membro do corpo docente do mestrado em artes do Instituto de Artes da UERJ ____________________________________ Maria Luiza Fatorelli Profª. Drª. do Instituto de Artes da UERJ ____________________________________ Tânia Rivera a a Prof . Dr . do Depto. De Psicologia Clínica da UnB Ao meu pai, memória AGRADECIMENTOS Somos apenas memória ... Agradeço a Wilton Montenegro, meu amor. Agradeço ainda aos meus filhos, Maria Laura, Bernardo e Maria Eduarda, que me acompanharam nesta jornada e aos meus outros filhos, Joana Montenegro, Daniela Batista e Darlan Montenegro, que nunca deixaram de se preocupar com o andamento da pesquisa. A Eduardo Kurt, cuja dedicação foi fundamental, e a Gabi e ao Jeff. A Magaly, minha mãe, pela ajuda incansável e pela revisão mais que atenta. A Francini Barros, amiga querida, companheira de impulsos, sempre presente nos momentos alegres e nos mais tensos. E ao Ducha, que virou a noite trabalhando comigo. A Inês Araújo, que se colocou à disposição sempre que necessário, e a Ana Torres, que foi fundamental para a realização dos primeiros trabalhos do mestrado. Aos meus amigos, Cristina Pape, responsável pela minha entrada no mestrado, Franz Weissmann, que já não está mais conosco, Waltraud Weissmann e Fernando Ortega, e Heloísa Alves. A Giselda Santos e a Daisy Xavier, que me ajudaram a compreender melhor MD Magno. E a MD Magno por pensar e escrever. A Maria Alice Rabello, que me apresentou à questão do duplo em Freud. A Cildo Meireles e Waltércio Caldas, que me receberam tão carinhosamente. A Marcelo Alram e Milan pelo cuidado e carinho. A Frederico Morais pelas nossas conversas. A Marcus Alexandre Motta, meu orientador, pela dedicação, paciência e amizade; a Malu Fatorelli, cujas aulas foram mais que importantes e a Vera Siqueira, pela disponibilidade sempre que requerida. A Rose e a Viviane, secretárias do mestrado, fundamentais em cada passo. A Tânia Rivera e a Giselle Falbo, que graciosamente aceitaram participar da minha banca de defesa de dissertação. Aos professores da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde iniciei minha formação, especialmente, Fernando Cocchiarale, Anna Bella Geiger e Viviane Matesco, por acreditarem; Glória Ferreira, que me deu a oportunidade de ler sobre Strindberg; e Denise Cathilina, que me apresentou à fotografia experimental. A Alexandre Fenerich pelo trabalho em Pulsos, a Simone Michelin, que carinhosamente cedeu a casa e a ilha de edição e a Pat Kilgore, que me deu a fórmula da viragem em ouro. A Cabelo, companheiro no jogo de dados. Obrigada. ... e somos todos memória. [...] É impossível levar um barco sem temporais E suportar a vida como um momento além do cais Que passa ao largo do nosso corpo [...] Não sou eu quem vai ficar parado no porto, Chorando, não Lamentando o eterno movimento Movimento dos barcos, movimento Movimento dos Barcos, Jards Macalé e Capinam Resumo Nesta dissertação defendo um novo conceito de observação da obra de arte contemporânea – o conceito do giro. Comparo o giro à clínica, na medida em que acredito que a obra de arte contemporânea estabelece-se como uma terapêutica, como se a história da arte fosse uma natureza psíquica do artista e do espectador de arte contemporânea. O giro é a estratégia do ato artístico contemporâneo e essa circularidade se repete para o observador – por isso, nomeio artista e observador como expectantes, como se quem observa, pudesse re-conhecer no objeto de arte marcas, espectros; a autobiografia. Apresento, ainda um trabalho plástico, intitulado O Anel, que condensa todas as questões levantadas nessa dissertação. Palavras-chave: Giro, Autobiografia, Clínica. Résumé Dans cette dissertation, je défends um nouveau concept d’observation d’art contemporain – le concept du tour. Je compare le tour à la clinique, à la mesure que je crois qu’on établit l’art contemporain comme une thérapeutique, comme si l’histoire d’art fut la nature psychique de l’artiste e de l’espectateur d’art contemporain. Le tour c’est l’estratégie du acte artistique contemporain et cette circularité on repète pour l’observateur – à cause de ça, je peux nommé l’artiste et l’observateur comme des expectants, comme si l’observateur pût re-conaître dans l’objet d’art quelques marques, espectres; l’autobiographie. Je présente aussi um travail plastique intitulé L’Anneau, qui condense toutes les questions que j’ai cité dans cette dissertation. Mots-clé: Tour, autobiographie, clinique LISTA DE ILUSTRAÇÕES pág.14 1. A Banhista. Elisa de Magalhães. Fotografia pinhole, 120 X 100 cm. 2001 2. Descanso. Elisa de Magalhães. Fotografia pinhole, 120 X 100 cm. 2001 pág. 16 3. Caranguejo. Lygia Clark. Alumínio. 1960-63 4. Caminhando. Lygia Clark. Papel e tesoura. 1963 pág. 17 5. Corpo Coletivo. Lygia Clark na Sorbonne, Paris. 1975 6. Objetos Relacionais para Estruturação do Self. Lygia Clark. 1980 pág. 26 7. Mar Nunca Nome. Waltércio Caldas. 1997. Foto Wilton Montenegro pág. 29 8. Aquilo como aqui. Isto como sombra. Waltércio Caldas. 1989. Foto Cortesia Jornal da Tarde pág. 39 9. : . Elisa de Magalhães. Fotografia pinhole, 100 X 253 cm. 2000 pág. 42 10. Conjunto de Câmeras que utilizo em meu atelier. Foto Wilton Montenegro pág. 43 11. A Blitzkamera de E. Von Schlicht, utilizada por Strindberg para a série fotográfica de Gersau. Acervo do Museu Strindberg, em Estocolmo. Foto Hans Thorwid pág. 46 12. Projeto de O Anel nas duas versões, tamanho corpo e, acima, tamanho anel. Foto Wilton Montenegro pág. 47 13. Desenhos da kundalini e do ourobouros, encontrados em sites na internet pág. 61 14. The Black Box. Tony Smith. 1961. Madeira pintada, 57 X 84 X 84 cm 15. Die. Tony Smith. 1962. Aço, 186 X 183 X 183 cm. pág. 62 16. Vistas do Atelier de Franz Weissmann, em Ramos, no galpão da antiga fábrica da Ciferal, RJ. Foto Wilton Montenegro pág. 63 17. Sem título. Franz Weissmann. Cimento, 25 X 30 X 20 cm. Década de 40/50. Foto Wilton Montenegro 18. Cubo Vazado. Franz Weissmann. 1995. Aço inox, 75 X 64 X 50 cm. Foto Wilton Montenegro 19. Sem título. Franz Weissmann. Bronze, 60 X 30 X 30 cm. Década de 50. Foto Wilton Montenegro 20. Sem título. Franz Weissmann. 2000/01. Múltiplo em aço pintado. Foto Wilton Montenegro pág. 70 21. Espaços Virtuais: Cantos IV. Cildo Meireles. 1967/68. Instalação, madeira, lona e taco, 305 X 100 X 100 cm. Foto Pedro Oswaldo Cruz pág. 71 22. Elemento Desaparecendo / Elemento Desaparecido. Cildo Meireles. 2003. Venda ambulante de picolés d’água sem sabor. Foto Wilton Montenegro pág.72 23. Camelô. Cildo Meireles. 1998. Instalação/kit, alfinetes, barbatanas para camisas, látex, madeira, motos, fotografia, caixa de madeira 38 X 30 X 7 cm. Editado em 1000 exemplares. Foto Wilton Montenegro 24. Kukka-Kakka. Cildo Meireles. 1992/99. Instalação, flores e excrementos reais, flores e excrementos artificiais, vasos de cerâmica, penicos esmaltados, estrututuras de vidro e metal. 2 tendas de 3 X 3 X 3 m Foto Wilton Montenegro 25. Através. Cildo Meireles. 1983/2006. Instalação com vários materiais transparentes e vazados, 225 m². Foto Wilton Montenegro pág. 73 26. Densidade (projeto Eureka). Cildo Meireles. 1970-75. Nanquim sobre papel milimetrado, 21 X 25,8 cm. Foto Wilton Montenegro pág. 74 27. Volátil. Cildo Meireles. 1980/94. Instalação, quarto com 15m X 4m, talco no chão, na altura de 30 cm, vela e aroma de gás natural. Foto Ben Blackwell pág. 75 28. Para ser curvada com os olhos. Cildo Meireles. 1970. Caixa de madeira de 25 X 50 X 50 cm, barras de ferro, papel milimetrado. Placa de 3 X 5 cm. Foto Wilton Montenegro pág. 76 29. Mutações Geográficas: Fronteira Rio-São Paulo. Cildo Meireles. 1969. Caixa de couro, contendo material de escavação na fronteira Rio-São Paulo. Foto Wilton Montenegro 30. Condensado 2 – Mutações Geográficas: fronteira Rio-São Paulo. Cildo Meireles. 1970. 2 X 2,2 cm, prata, ônix, ametista e parte do solo coletado na fronteira RioSão Paulo. Foto Pedro Oswaldo Cruz pág. 77 31. Condensado 1 – Deserto. Cildo Meireles. 1970. 2 X 2 cm, ouro, safira transparente e grão de areia. Foto Pedro Oswaldo Cruz 32. Condensado 3 – Bombanel. Cildo Meireles. 1970/96. 2 X 3 cm ouro branco, lupa, vidro e pólvora. Foto Vicente de Mello pág. 79 33. O Sermão da Montanha: Fiat Lux. Cildo Meireles. 1970/73. Instalação, 126.000 caixas de fósforos e oito espelhos de 1,6 X 1,2 m. Foto Luiz Alphonsus pág. 80 34. Exposição: Caso 1. Elisa de Magalhães. 2003. Fotografias instantâneas feitas pelo processo pinhole. pág. 81 35. Exposição: Caso 2. Elisa de Magalhães. 2005. Fotografia digital. pág. 83 36. Pulsos. Elisa de Magalhães. 2005. Vídeo. Fotos Ana Torres 37. Eterna Evidência. René Magritte. 1930. Óleo sobre 5 telas de: 26 X 16 X 22 X 28,30 X 22,26 X 20,26 X 16 cm. Foto Hickey-Robertson pág. 85 38. Persona Vitrea. Elisa de Magalhães. 2002. Instalação, vidro, carpete, madeira, borracha, espelhos, fotografia. Foto Wilton Montenegro pág. 86 39. O Enigma de Alice. Elisa de Magalhães. 2002. Instalação, fotografia, acrílico e relógio para xadrez. Foto Wilton Montenegro pág. 87 40. O Pulo do Gato. Elisa de Magalhães. 2002 (montagem de 2003, no SESC, Nova Friburgo/RJ). Instalação, fotografia, espelho envelhecido, borracha, madeira e cânfora. Foto Wilton Montenegro pág. 88 41. O Jardim dos caminhos que se bifurcam: O Movimento do Cavalo. Elisa de Magalhães. 2002. Fotografia pinhole, 320 X 90 cm pág. 89 42. Lilith: Uma Temporada no Inferno. Elisa de Magalhães. 2002. Fotografia pinhole, 180 X 90 cm pág. 92 43. Mataborrão. Elisa de Magalhães. 2003/05. Instalação/objeto, fotografia pinhole e espelho. 21,59 X 21,94 x 11 cm. Foto Wilton Montenegro pág. 96 44. Queda d’Àgua. Elisa de Magalhães. 2001. Fotografia pinhole, 100 X 100 cm. 45. O Nascimento. Elisa de Magalhães. 2001. Fotografia pinhole, 100 X 100 cm. 46. Razão. Elisa de Magalhães. 2001. Fotografia pinhole, 100 X 100 cm. pág. 98 47. Dorso. Elisa de Magalhães. 2001. Fotografia pinhole, 120 X 100 cm. 48. Anatomia. Elisa de Magalhães. 2001. Fotografia pinhole, 100 X 100 cm. 49. Prece. Elisa de Magalhães. 2001. Fotografia pinhole, 100 X 100 cm. pág. 100 50. Todo Pensamento Emite um Lance de Dados. Elisa de Magalhães. 2003. Instalação, madeira e fotografia pinhole. 200 X 100 X 50 cm. Foto Elisa de Magalhães 51. Todo Pensamento Emite um Lance de Dados. Elisa de Magalhães. 2003. Instalação, madeira e fotografia pinhole. 200 X 100 X 50 cm. Foto Ivan Pascarelli pág. 103 52. O que se Mostra revela o que se esconde. Elisa de Magalhães. 2004. Instalação, madeira, lâmpada e fotografia. Foto Wilton Montenegro pág. 107 53. Ex-tante. Elisa de Magalhães. 2005. Instalação, fotografia digital. pág. 110 54. Filme. Elisa de Magalhães. 2005. Fotografia pinhole. Foto Wilton Montenegro pág. 112 55. Paralém. Elisa de Magalhães. 2006. Vídeo. Sumário Introdução ................................................................................................. 13 Capítulo 1 – O Giro ................................................................................... 19 Capítulo 2 – O Anel .................................................................................. 38 Capítulo 3 – Eu é o Outro ......................................................................... 95 Conclusão ................................................................................................. 119 Bibliografia .............................................................................................. 123 Introdução A memória, o arquivo, a autobiografia são parte constitutiva do objeto de arte contemporânea e nele se apresentam, como espectros, marcas, de modo que o objeto de arte guarda a potência de exergo. Nesta dissertação, defendo essa idéia. No contato com o objeto de arte, o observador – seja ele espectador ou artista – vai ativar, através de seu arquivo, de sua formação, idade, informação, ou seja, de sua autobiografia como a autonomia da vida na própria vida - um movimento circular, de pensamentos e indagações que não cessa, que desenha uma espiral e que chamo de giro. É toda essa informação, todo esse arquivo que vai fazer com que o observador do objeto de arte contemporânea, que aqui chamo de expectante, veja melhor a obra de arte contemporânea, apesar de toda essa informação não estar mais nela. Ou melhor, está sem estar. A percepção do giro veio no exercício diário de atelier, tanto do fazer artístico, como da observação do objeto de arte contemporânea. A utilização da fotografia, da câmera pinhole e a decisão de fotografar o próprio corpo foram fundamentais nesse processo. Desde o início, criei um erro no processo de fotografar - e construí minha obra, conscientemente, sobre esse erro, como um edifício construído sobre ruínas, das quais as colunas servissem de base, de estrutura para a nova construção, o alicerce dos meus sonhos - usando um anteparo para a entrada de luz, com dois furos em vez de um, de tamanhos diferentes, como diafragmas, de modo que a imagem vem acompanhada dela própria, um pouco mais pálida, como uma sombra negativa. Assim, em cada imagem obtinha a mim e a meu duplo. Além disso, a câmera pinhole obriga que o tempo de exposição do filme à luz seja maior, fato que resultava em fotos com mais de dois minutos de exposição do modelo à frente da câmera. Nessa imagem, tudo o que se passou no espaço alcançado pela abertura da câmera, durante aquele tempo está lá, como se aquela imagem contivesse todas as imagens daquele tempo. A Banhista, 2001 Descanso, 2001 Para captar a imagem de meu corpo, inicialmente usei espelhos e vidros planos, de modo a posicionar corpo e câmera. Algumas vezes, por causa da natureza da imagem, a operação da câmera por mim mesma tornava-se impossível, o que me obrigava a pedir ajuda de outra pessoa, que acabava funcionando como meus olhos, pois eu sempre dirigia a foto. Nesse sentido, fui percebendo que, estando sozinha ou não no atelier, no momento da foto, havia mais de dois, mais que eu e meu reflexo, ou mais que eu e o outro; havia três, ao menos – artista, executante e modelo, ainda que artista e modelo também sejam, por sua vez, executantes. Logo, tanto o corpo no espelho, quanto o da foto revelada era um eu não sendo, era um eu sendo outro, e é nessa diferença que aparece um exercício de hospitalidade. A hospitalidade pressupõe o acolhimento e, para acolher, é preciso hostilizar. Na violência gerada pelo face-a-face do eu e do outro, é preciso a intervenção de um terceiro para interromper a hostilidade. O terceiro pode ser qualquer um: aquele que gera a violência pode ser, ao mesmo tempo, aquele que a interrompe. Desse modo, reproduz-se sempre uma situação trina na relação expectante/objeto de arte contemporânea. O terceiro – o expectante – é aquele que vai percorrer com olhar toda a obra, integralmente, de modo a re-conhecer o que nela há. É neste momento que tem início o giro, dado que o processo giratório é próprio da arte contemporânea. E, justamente porque pressupõe expectativa, esse giro nunca se fecha, não há parada, nem pausa, sempre se abre a um futuro. O giro carrega em si, nessa expectativa, uma atemporalidade, onde passado, futuro e o próprio presente tornam-se presentes. Com isso, aproximo o conceito de giro ao conceito de Revirão1, do psicanalista brasileiro MD Magno. Penso que o objeto de arte contemporânea está no mesmo lugar do analista, porque é ele que provoca o giro ou o revirão, que leva o sujeito, ou o alguém, como preferiria Magno, a uma mudança que ele chama de vira-ser e que eu prefiro chamar de vir-a-ser, já que, no giro, o círculo se fecha e se reabre em espiral constantemente. Ao colocar a obra de arte contemporânea no lugar do analista, posso dizer, também, que ela se estabelece por uma terapêutica, fazendo a clínica do expectante. Como se a história da arte tivesse uma natureza psíquica, cabendo à arte 1 Revirão é a especificidade da espécie humana. O Homem é o único animal que deseja sempre o avesso do que a ele se apresenta. O que quer que se coloque, o homem busca o seu oposto, ou o seu avesso, como se tivesse um espelho entre o sujeito e o que se coloca. Revirão é a capacidade humana de sair em busca do desejo, mergulhar fundo nessa viagem onde vai-se desfazendo de seus vínculos, formações, mas sem esquecer de nada, num movimento desejante e, no retorno, sofre uma mudança, que Magno chama de vira-ser. Ver em Magno, MD – A Psicanálise NOVAmente. Rio de Janeiro: NOVAmente, 2004 contemporânea fazer o ato clínico dessa psiquê. Mas a arte contemporânea não tem por objetivo curar, logo a natureza do giro provocado pela observação do objeto de arte é diferente da psicanálise. Vai mais além, na medida em que a psicanálise vai atrás do arquivo original, do primeiro, da fonte, da origem. Na arte contemporânea. não há este compromisso. A arte contemporânea não quer curar. Ela faz girar. As experiências de Lygia Clark, nos anos 60, que culminaram nos objetos relacionais e na estruturação do self, foram fundamentais para a compreensão da arte contemporânea como clínica. Em sua trajetória, Lygia abandona a obra como objeto determinante da arte e dirige-se ao corpo do espectador, que passa a ter participação ativa na criação da linguagem artística. Com Bichos (1960), o espectador, embora já participante, não tem domínio do processo; o que eles revelam ao espectador são suas múltiplas possibilidades formais. Caranguejo, Lygia Clark, 1960 Caminhando, Lygia Clark, 1963 É preciso a ação do espectador-participante, a sua cumplicidade para que objeto se revele como obra. Caminhando (1963) - trabalho no qual ela propõe ao espectador que corte uma fita montada num espaço contínuo como uma fita de Moebius - abre caminho para os objetos que ela chamou de Nostalgia do Corpo (1964). São objetos criados para a pura sensorialidade, de modo que quando o objeto tocasse o corpo, ele (o corpo) poderia ser redescoberto. Lygia procurava a Fantasmática do corpo, onde corpo e fantasia se misturassem, através da memória afetiva que o corpo guardou das relações com o mundo. Para ela, nesse momento, essa era a finalidade da arte. As experiências com a Nostalgia do Corpo, que fazem projetar as individualidades de quem experimenta os objetos criados por Lygia, levam às experiências do Corpo coletivo, quando ela cria propostas de estruturas para serem vivenciadas coletivamente. Deste enfoque terapêutico, surge a Estruturação do Self, que sistematiza sua ação num contexto de terapia. E é quando, no início dos anos 80, Lygia abre um “consultório” no Rio de Janeiro.2 Corpo Coletivo, Lygia Clark Estruturação do Self, Lygia Clark A experiência e o trabalho de Lygia Clark foram fundamentais para a estruturação do meu pensamento, mas, diferentemente, quando penso na arte contemporânea como clínica, penso que, em razão da arte contemporânea acontecer 2 WANDERLEY, Lula. O dragão pousou no espaço: arte contemporânea, sofrimento psíquico e Objeto relacional de Lygia Clark. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p. 15-22. no espaço do ordinário, tudo o que há aí vai fazer parte do ato artístico. Desse modo, vai-se revelando a autobiografia como método de pensamento plástico. É desse material autobiográfico que vão se alimentar as analogias propulsoras do giro. São essas analogias que vão fazer a terapia do expectante, mas sem o compromisso de cura. Isso acontece porque a arte se funda na vida e o expectante, na observação do objeto, vai vislumbrar sua biografia e todas as informações que fizeram parte de sua formação. O filósofo, Herbert Marcuse, lembra como é paradoxal a relação da arte com o tempo, o que nos faz compreender melhor a atemporalidade do giro. (...) paradoxal porque o que é experimentado através da sensibilidade é presente, embora a arte não possa mostrar o presente sem o mostrar como passado. O que se tornou forma na obra de arte já aconteceu: é recordado, re-apresentado. A mimese traduz a realidade para a memória. Nesta recordação, a arte reconheceu o que é e o que podia ser, dentro e fora das condições sociais. A arte retirou este conhecimento da esfera do conceito abstrato e implantou-o no domínio da sensualidade.3 * Esta dissertação é composta por um texto em três capítulos, onde apresento o trabalho O Anel. Com ele defendo o conceito de giro na observação da obra de arte contemporânea. Acompanha esta dissertação uma segunda parte que é uma exposição do trabalho descrito aqui, no atelier do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 3 MARCUSE, Herbert. A Dimensão Estética. Lisboa: edições 70, 1977, p. 69. Capítulo 1 O Giro Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Entre les pins palpite, entre les tombes; Midi le juste y compose de feux La mer, la mer, toujours recommencée O récompense après une pensée Qu'un long regard sur le calme des dieux ! Paul Valéry, Cimetière Marin Na arte contemporânea, as indagações, o pensamento, tanto da parte do artista, como do espectador/fruidor, desenham uma circularidade. Começam e terminam no mesmo lugar: perguntas que só podem ser respondidas por quem virá, questões que pressupõem um por vir. Se há um por vir, pode-se entender que a arte contemporânea pressupõe um futuro (mas não nela, já que as respostas são dadas fora dela, posto que ela é contemporânea). E o futuro não se conhece, não se sabe o que há lá já que ainda não aconteceu. Por isso, não se pode deixar de levar em conta também que a arte contemporânea lida com o desconhecido e aquilo que o acompanha: o temor – tem-se medo do que não se conhece; portanto, a arte contemporânea tem que lidar com o desconhecido e com o temor por ele. No entanto, não há terror; é como se a arte contemporânea recuperasse o sentido de aventura rumo ao desconhecido, ou ao excessivamente conhecido. Desde que o artista contemporâneo deixou de lado a necessidade de apresentar uma obra, um objeto visível/palpável, desde que a arte se desobrigou da contemplação, da apreensão retiniana e passou a sugerir propostas, ações e, até mesmo, apresentar idéias ao espectador - o estado singular da arte sem arte, como definiu Mário Pedrosa4 - a arte passou a ser expectativa porque nunca se sabe o que se vai encontrar, como trabalho plástico, por parte do espectador e nunca se sabe qual será a reação do espectador, por parte do artista. Em texto dos anos 70, Frederico Morais fala do artista como uma espécie de guerrilheiro, quando artista e espectador literalmente se enfrentam, como se a arte fosse uma forma de emboscada. Tudo é inesperado, imprevisto, o artista cria um ambiente de tensão e expectativa constantes, quando todos os sentidos são mobilizados. A arte provoca o “medo” e só diante dele “há iniciativa, isto é, criação.” Neste jogo de expectativas, no acontecimento artístico, artista e espectador mudam constantemente de posição, de modo que o artista pode vir a ser surpreeendido pela emboscada tramada pelo espectador5. Mais de 30 anos depois desse texto, já não há o sentido de guerrilha na arte contemporânea, mas ela ainda continua no terreno da expectativa, do estranhamento pela familiaridade6. No entanto, em função da distância histórica e cronológica da arte moderna, a arte contemporânea pode sonhar com ela7, já que é construída sobre 4 PEDROSA, Mário apud MORAIS, Frederico. Contra a arte afluente: o corpo como motor da “obra”. In: BASBAUM, Ricardo (organização). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001, p. 174 5 MORAIS, Frederico – Contra a arte afluente: o corpo é o motor da “obra”. In: BASBAUM, Ricardo (org.), op. cit., p. 169-178. 6 Aqui, refiro-me a estranho (unheimlich), no sentido freudiano do termo. Para Freud, estranho, assustador, era tudo que era mais familiar, o que era mais próximo do sujeito, o seu duplo – era assustador pela familiaridade.Ver em FREUD, S.. História de uma neurose infantil e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1969, p. 275-314. 7 Uso sonhar no sentido psicanalítico dado por Freud, quando diz que as recordações de infância, a memória, são o alicerce dos sonhos, como um edifício construído sobre ruínas, das quais as colunas servissem de base, de estrutura para a nova construção. Em seu livro, A Interpretação de Sonhos, Freud escreve: “... eles nunca podem de fato libertar-se do mundo real; e tanto suas estruturas mais sublimes como também as mais ridículas devem sempre tomar de empréstimo seu material básico, seja do que ocorreu perante nossos olhos no mundo dos sentidos, seja do que já encontrou lugar em algum ponto do curso de nossos pensamentos de vigília – em outras palavras, do que já experimentamos, externa ou internamente.” Ver em FREUD, S.. A Interpretação dos sonhos (primeira parte). Rio de Janeiro: Imago, 1987, p. 46/47 ela. Só aquele que pode olhar para o objeto de arte contemporânea, artista ou espectador, disposto a percorrer com todos os seus sentidos e seus sonhos o caminho do pensamento e das indagações suscitado (ou imposto) por ele (objeto), é que tem a chance de se aproximar da apreensão/compreensão do desconhecido e de perder o temor por ele. É da natureza do objeto de arte contemporânea a deflagração dessa circularidade de pensamento. Nesse sentido, na medida em que pressuponho um devir, uma expectativa, substituo o espectador por um expectante e, como falo de um movimento circular, o artista pode ser pressuposto como alguém que se afirma expectante. Dessa forma, considero o observador e o artista “iguais” em relação à obra de arte contemporânea. Assim, penso que a figura geométrica que melhor representa esse tipo de pensamento é uma espiral, na razão de ser uma circularidade que nunca se fecha. O giro abre-se a um por vir, ou a um vir-a-ser, do artista ou do espectador, não importa em que lado se esteja. Seguindo este raciocínio, posso pensar que existe na arte contemporânea um processo giratório que é algo próprio dela; e se há algo giratório, há algo expectante (escolhi a palavra expectante para renomear artista e espectador, porque o expectante é aquele que tem uma expectativa, que espera. No entanto, no caso do expectante observador/artista, não há esperança. Há temor pelo que não se conhece e, por isso, expectativa). Mas a expectativa pressuposta no expectante inclui qualquer temporalidade, passado e presente, além do futuro, subjacente ao significado da palavra escolhida para substituir a dupla artista/espectador. O giro só se faz possível quando o artista, o objeto de arte e o espectador respondem à mesma demanda - vejo você, o que de você vem e o que se mostra de (ou o que completa um) sentido nisso tudo. Merleau-Ponty, no ensaio O Olho e o Espírito, fala da circularidade entre o vidente e o visível que existe num objeto. Essa circularidade só se faz possível quando o sentido do olhar é completado pelo do toque que fecha fisicamente o círculo (Walter Benjamin falava do desejo que a foto suscitava no espectador de tocá-la fisicamente8. Merleau-Ponty, porém, propõe um toque intangível, um tato visual9 que posso entender como a reabertura em espiral). O enigma consiste em meu corpo ser, ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que olha todas as coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê então o “outro lado” de seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível para si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa, seja o que for, assimilando-o, constituindo-o, transformando-o em pensamento – mas um si por confusão, por narcisismo, inerência daquele que vê ao que ele vê, daquele que toca ao que ele toca, do senciente ao sentido – um si que é tomado portanto entre coisas, que tem uma face e um dorso, um passado e um futuro...10 O círculo se fecha, há nele o que houve, o que há e o que ainda virá, (ou há nele o acontecido, o acontecendo e o que ainda acontecerá) estabelecendo uma relação a 8 BENJAMIN, Walter. Pequena História da Fotografia. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 104 9 Esta idéia de tato visual está também em Foucault, “O discurso racional apóia-se menos na geometria da luz do que na espessura insistente, intransponível do objeto: em sua presença obscura, mas prévia a todo saber, estão a origem, o domínio e o limite de toda experiência. O olhar está passivamente ligado a esta passividade primeira que o consagra à tarefa infinita de percorrê-la integralmente e dominá-la.” Ver em FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. XII. 10 MERLEAU-PONTY, Maurice. O Olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 17 três, na qual sempre se pressupõe um vir-a-ser, seja de futuro, seja de passado, seja da autopresença do atual. Se é assim, entendo que a arte contemporânea está próxima do que posso denominar de ordinário, ou melhor, a ontogênese da arte contemporânea está no ordinário11, na vida, seja para o artista, seja para o espectador, já que ambos são expectantes e vivem no ordinário. E sendo assim, entendo que o gesto, por excelência, da arte contemporânea é a descoberta da artisticidade em tudo. Reconhece-se na vida a arte posto que é a vida que funda a arte e à vida fundada na arte chamamos arte. Em razão do exposto, penso o conceito do giro como expressão da arte contemporânea. Este conceito assemelha-se ao conceito de Revirão, criado pelo psicanalista brasileiro, M.D. Magno. Segundo o psicanalista, Revirão consiste na capacidade humana (é ele o que distingue a espécie humana das outras espécies) de livrar-se dos seus pré-conceitos, despir-se deles, mas sem esquecê-los, e mergulhar fundo até defrontar-se com seus maiores receios, seus medos, com o estranho, consigo mesmo até que se fique indiferente a tudo isso, num lugar que ele chama de Cais Absoluto. É aí que o sujeito vai fazer a mudança, o vira-ser. Ainda segundo Magno, é no Cais Absoluto que o sujeito se encontra com o horror, a ponto de despirse de todos os seus vínculos e lá defrontar-se com seu Vínculo Absoluto – o original, a fonte, o primeiro, aquele que reúne presente, passado e futuro; daí o vira-ser, que não pressupõe só futuro, mas também, o que foi, o que é e o que poderia ter sido. Cais Absoluto é o lugar onde o sujeito se encontra com sua “origem”. Assim, aproximo o Cais Absoluto do lugar do vir-a-ser, onde o sujeito se abre a um por vir, onde o 11 Para o filósofo americano Stanley Cavell, o ordinário é qualidade do comum e o que é comum a todos os homens é existir sem prova de existência. Logo o ordinário é a intimidade com a existência, portanto, qualquer apreensão sobre a existência está na observação do ordinário do mundo, a partir da linguagem. Ver em CAVELL, Stanley. Esta América nova, ainda inabordável. São Paulo: Editora 34, 1997. círculo se fecha e se reabre em espiral e, então, no giro, tudo é presente – o que foi , o que é e o que será tornam-se, naquele momento, o que é. Magno foi buscar em Fernando Pessoa, ou melhor, em um dos heterônimos do poeta, Álvaro de Campos, no poema Ode Marítima, a expressão e o sentido de Cais Absoluto. […] Todo atracar e todo largar de navio, É – sinto-o em mim como meu sangue – Inconscientemente simbólico, terrivelmente Ameaçador de significações metafísicas Que perturbam em mim quem eu fui... Ah, todo cais é uma saudade de pedra! E quando o navio larga do cais E se repara de repente que se abriu um espaço Entre o cais e o navio, Vem-me, não sei por quê, uma angústia recente, Uma névoa de sentimentos de tristeza Que brilha ao sol de minhas angústias relvadas Como a primeira janela onde a madrugada bate, E me envolve com a recordação duma outra pessoa Que fosse misteriosamente minha. Ah, quem sabe, quem sabe, Se não parti outrora, antes de mim, Dum cais; se não deixei, navio ao sol Oblíquo da madrugada, Uma outra espécie de porto? Quem sabe se não deixei, antes de a hora Do mundo exterior como eu o vejo Raiar-se para mim, Um grande cais cheio de pouca gente, Duma grande cidade meio-desperta, Duma enorme cidade comercial, crescida apoplética, Tanto quanto isto pode ser fora do Espaço e do Tempo? Sim, dum cais, dum cais dalgum modo material, Real, visível como cais, cais realmente, O Cais Absoluto por cujo modelo inconscientemente imitado, Insensivelmente evocado, Nós os homens construímos Os nossos cais de pedra atual sobre água verdadeira, Que depois de construídos se anunciam de repente Coisas-Reais, Espíritos-Coisas, Entidades em Pedras-Almas, A certos momentos nossos de sentimento–raiz Quando no mundo-exterior como que se abre uma porta E, sem que nada se altere, Tudo se revela diverso. Ah o Grande Cais donde partimos de Navios-Nações! O Grande Cais Anterior, eterno e divino! De que porto? em que águas? E porque penso eu isto? Grande Cais como os outros cais, mas o Único. […]12 Essa saudade de pedra que todo cais suscita leva-me ao Mar Nunca Nome, obra do artista plástico Waltércio Caldas. Trata-se de um poema visual, realizado em 1997, em quatro fotografias, no qual Waltércio utiliza pedras arredondadas e as palavras Mar Nunca Nome. A obra aborda a questão levantada por Pessoa em Ode Marítima que é a busca obssessiva e eterna do Homem pela Verdade, pelo Real. A mesma angústia do poeta está presente na obra do artista. As palavras, impressas em acetato transparente, tanto podem estar batendo nas pedras, como o mar, como se podem imprimir, ficar gravadas sobre elas. Em um texto sobre desenho, que escreveu no mesmo ano da realização de Mar Nunca Nome, Waltércio escreve: As linhas deveriam tocar o papel sem perturbar o seu silêncio branco e permanecer o tempo suficiente para marcar o gesto que torna possível a imagem. Só assim, tempo, imagem e superfície podem ser recíprocos e igualmente transparentes. Superfícies óticas se identificam por si mesmas, têm sua própria amplidão, como estátuas sem figura.13 12 PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005, p. 316 CANONGIA, Lygia et al. Waltércio Caldas 1985/2000. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), 2001, pág. 126 13 Mar Nunca Nome, poema visual de Waltércio Caldas. Foto Wilton Montenegro O texto acima poderia ter sido escrito para o poema fotográfico não fosse seu assunto Desenhar. Waltércio angustia-se pelo entre, pelo que não está, pelo sugerido: o desaparecimento do texto sobre a pedra. Em entrevista que fiz com o artista, em sua casa, para esta dissertação, conversamos, longamente sobre o trabalho Mar Nunca Nome e ele acrescentou ao meu pensamento inicial, as seguintes questões: Waltércio Caldas: Há uma característica da qual você não falou e que devia incluir que é a luz, produzindo uma sombra daquelas palavras Mar Nunca Nome na pedra. Quase que o centro principal daquele trabalho é a projeção daquelas três palavras numa pedra; projeção que, de certa maneira vai tirar o caráter plano daquelas palavras e torná-las tridimensionais porque, quando ficam projetadas sobre a pedra, assumem o formato da pedra. Isso é um elemento muito importante daquela situação. O texto é sempre acompanhado de uma pedra e nessa pedra tem sempre a projeção das palavras Mar Nunca Nome. Uma projeção sobre uma pedra desorganiza um pouco a estrutura molecular visual da pedra – essa é a principal poética daquele trabalho, essa modificação que a palavra pode fazer na pedra e que a pedra pode fazer na palavra. E tem outro aspecto também que é a relação das palavras Mar Nunca Nome. Eu encontrei uma diferença nessa palavras e um certo movimento imaginário porque a palavra MAR tem um caráter multidimensional; a palavra NUNCA tem um caráter infinitesimal; e a palavra NOME tem uma amplitude, como se ela falasse das duas palavras anteriores, afinal de contas, MAR é um nome, NUNCA é um nome e NOME é um nome. Então eu vejo nestas três palavras uma espécie de circulação, um movimento contínuo, circular. E esse movimento contínuo destas três palavras penso em projetar na pedra, que, por sua vez, é um objeto tridimensional, que se torna, digamos assim, falsamente paralisado. A pedra sugere uma paralisia, mas eu tenho utilizado a pedra sempre, considerando que se você consegue exercer sobre o objeto pedra uma espécie de vontade poética, ela pode, de certa maneira, sugerir um movimento, um movimento que não é evidentemente um movimento físico, mas que é um pouco anterior à figura; eu já escrevi sobre isso, dizendo que gosto de observar o movimento das coisas paradas. E uma coisa que sempre me vem à mente é que, da mesma forma que o Mondrian dizia que uma linha reta é uma linha curva em sua maior tensão, eu sempre vejo nas pedras uma capacidade infinita de pressionar o local onde elas se encontram, porque elas procuram algum lugar mais embaixo delas; isso para mim, é uma espécie de uma potência que elas têm. Elas estão, irremediavelmente tentando sair do lugar onde estão, não repousam em hora nenhuma; aquela energia que ela gasta, para poder escapar de sua condição é um pouco o leit-motif desses objetos ... Elisa de Magalhães: Você escolheu pedras arredondadas, como se já tivessem sido trabalhadas pela água. Elas já sugerem esse movimento ... W: É. Prefiro, elas são pedras que não foram feitas por uma vontade humana. O formato delas é o resultado de uma operação pela qual elas passaram, por uma situação pela qual elas passaram, então prefiro sempre os seixos rolados, porque o formato delas, o resultado formal daquele objeto é produzido pela ação ou da água, ou de uma coisa que aconteceu com a pedra, ou ela rolou, ou ela estava no rio e foi esculpida por esse movimento, ou por outras pedras, porque umas tocam nas outras e elas acabam se formando de uma maneira arbitrária. E, quando você utiliza uma pedra como essa e a incorpora a um sistema poético, aquela arbitrariedade passa a ser uma função, a pedra passa a ter aquele caráter; eu diria até que o caráter de uma pedra é o formato que ela adquiriu. E: Você falou em MAR, que tem caráter multidimensional, NUNCA, como caráter infinitesimal e você falou da amplitude do NOME. No entanto, nome também pode ser limitante, pois quando você nomeia, você define... W: É, mas essa característica do nome é negada pelo nunca porque é nunca nome, uma coisa que nunca terá nome. De certa maneira, esse aspecto que restringe, essa característica do nome, que condena uma coisa a ser um nome, está negada pelas duas palavras anteriores, pela palavra MAR, pela palavra NUNCA, haja vista que a palavra MAR tem uma característica de abarcar o mundo, uma quantidade não mensurável; essa característica não mensurável, estaria, no meu ponto de vista, na palavra MAR, na palavra NUNCA e na palavra NOME. Em um livro de tiragem limitada, recentemente lançado, Waltércio publica uma série de pensamentos anotados ao longo de sua trajetória, em cadernos de desenhos e esboços. Tomo a liberdade, aqui, de lançar mão deles, de modo a comentar esta entrevista. “Dar um novo nome ao nome novo”14 me parece ser a questão central contida no poema visual MAR NUNCA NOME. Penso ser isso o desaparecimento do 14 CALDAS, Waltércio. Notas, ( ) etc. São Paulo: Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 2006, p. 141 texto sobre a pedra. Porque nunca nomear, de acordo com um outro pensamento do mesmo livro seria não considerar o espaço entre as coisas, seria o mesmo que não perceber a existência dos objetos no mundo: “gostaria de dar nomes para o espaço entre as coisas”15. E: Outra coisa que observo, no seu trabalho, em geral e neste também, é a importância do espaço entre ... W: É muito importante! Esse espaço chega a ser matéria do trabalho. Ele compõe, de certa maneira, a capacidade que os objetos têm de se incluir no mundo. Esse espaço que existe entre as coisas é apenas aparentemente invisível. Esse espaço é vivido por nós de uma forma muito especial porque, quando você observa um objeto e tira o olhar desse objeto e passa para outro mais adiante, o seu cérebro viu tudo aquilo que passou entre uma coisa e outra, mas ele prefere não considerar aquilo. Como a situação é sempre de constante observação espacial, eu acho que o cérebro, de certa maneira, nega um pouco esses espaços para poder não se sobrecarregar dessas múltiplas funções que esse espaço teria para organizar o mundo, e a gente acaba se surpreendendo com o Buraco Negro, por exemplo, que é um lugar que não existe e que absorve tudo o que existe. E a gente chega à metáfora, de novo, por aí, por essa coisa ... Então, eu acho que, do ponto de vista de uma escultura, do ponto de vista do universo das esculturas em arte, existe uma latência possível do espaço que é tocada aqui ou ali por algum artista, mas sempre e, ainda bem, sobrevive às incursões autorais dos artistas. Essa saúde espacial se preserva, apesar do preenchimento do mundo. E: Lembrei de um trabalho, que você fez em São Paulo. Eram painéis luminosos com os dizeres Aquilo como aqui/Isto como sombra. W: Que ficavam se repetindo o tempo todo ... Porque MAR NUNCA NOME tem a ver. É como se eu estivesse utilizando as palavras da forma mais 15 CALDAS, Waltércio. op cit. p. 129 física possível. Aquilo como aqui é quase uma outra maneira de falar do lugar. E Isto como sombra é como iluminar com uma luz específica esse lugar que foi determinado pela primeira frase. E: E o trabalho é feito com luz. W: É, é feito com luz, e é feito com tempo, porque no projeto existia essa substituição constante de uma sugestão de espaço para uma sugestão de luz. Era como se fosse essa substituição de uma possibilidade por outra.16 Aquilo como aqui / Isto como sombra, Waltércio Caldas. Foto Jornal da Tarde No out-door luminoso exposto em São Paulo, as frases substituem as imagens e a sugestão de espaço é substituída, constantemente, pela sugestão de luz. O trabalho atua como uma metáfora da questão do espaço/tempo. Da mesma forma, Mar Nunca Nome também fala de espaço e tempo. Sobre esta questão, que também está presente no mesmo trecho do poema Ode Marítima, de Pessoa/Campos, pode-se fazer também uma leitura psicanalítica que, aqui, é o que mais me interessa. Segundo MD Magno, o Cais Absoluto é a fronteira, a beira Real entre o Haver e o não-Haver – entre a vida e o seu avesso, entre o que existe e o que se deseja. À beira do cais, o sujeito parte 16 Entrevista realizada pela autora com o artista em 07/12/2006, na casa dele. sempre partido, pois se o não-Haver é o que não-há, o que não existe, e no entanto o que se deseja, o que se quer, ainda assim não se pode ter o que não-há. Chega-se à beira do Cais, num movimento desejante e não se consegue o que não-há – que Magno entende não exatamente como o oposto, e sim como o avesso do que há - mas chega-se muito perto e, com isso, com essa experiência do avessamento, sofre-se uma espécie de renovação, transformação. Vir-a-ser pressupõe mudança, seja o sujeito artista ou espectador. Embora Magno fale do Revirão como uma capacidade humana, ele diz que é próprio do criador, do artista, pois só há “criação” se o artista fizer o Revirão. Quero supor que seja desde a beira definitiva do Cais que se pode tentar pescar, não para diante, mas para trás do oceano em abismo do não-Haver, o que lá se nos oferecia se pudéssemos colher. Alguns pescam… artistas, por exemplo, os grandes.17 Mais do que mudança, o Revirão pressupõe uma deformação, uma transformação: o Cais Absoluto é o lugar do vira-ser. Contudo, se parto do princípio de que na arte contemporânea não importa se se é artista ou espectador - todos são expectantes - a capacidade humana de fazer o Revirão corresponde à capacidade de se fazer o giro, com uma conseqüente mudança que deforme, seja espectador, seja artista. O Revirão corresponde à estratégia circular do expectante contemporâneo. Não à toa, o próprio nome Revirão remete a um movimento circular. Sobre essa circularidade, Waltércio Caldas fala, ainda na entrevista, quando divaga sobre a imagem, o poder da imagem e as mudanças de percepção e apreensão do mundo, que estão em andamento: é a percepção da transformação do expectante 17 MAGNO, M.D. Est‘ética da psicanálise Parte II/Vol. I. Rio de Janeiro: Novamente, 2003, p. 148. contemporâneo. Neste momento da entrevista, contava a ele sobre o processo de produção de meu trabalho, utilizando a câmera pinhole. E: De modo que quando a imagem vem, vem sempre a imagem e uma sombra. Geralmente sou a modelo do meu trabalho e em O Anel, há um corpo de costas por fora e um corpo de frente por dentro do anel, sempre o corpo e seu duplo, e o lado de dentro o duplo do lado de fora. O corpo de fecha como um anel, a foto recebe uma viragem em ouro. Fui buscar referências em vários lugares, em O Anel dos Nibelungos, de Wagner, na kundalini, no ouroboro. Todo o trabalho com pinhole surgiu de um texto que li de Strindberg sobre suas experiências fotográficas ... Numa condição de exposição para a máquina, que , às vezes leva 20 minutos para a impressão da imagem no filme, tudo o que se passa nesse tempo está lá, está latente na foto. W: Isso seria definido como pictoplasma. E: Naquela foto, você percebe primeiro um corpo, depois o corpo e a sombra, e depois, você repara que tem muito mais lá ... está tudo ali. W: Isso significa que você resumiria esse fluxo todo em imagem. Acabaria tudo resultando numa capacidade da imagem. E eu não sei se a imagem é capaz de conter nela essa quantidade infinitamente variada de fluxos que não são óticos, na realidade. Um cego negaria essa ilusão de que a imagem conteria tudo, porque um cego é capaz de ver a alma de uma pessoa sem vê-la. E: Mas é exatamente essa a questão. Você pegou no ponto. O que a imagem contém está latente ali, não quer dizer que esteja visível, está lá, sem estar... W: Refiro-me ao fato de a pessoa acreditar que a imagem tem esse poder, essa complexidade toda, por isso eu disse que o cego negaria isso porque ele poderia ter uma noção, uma compreensão dessa quantidade significativa que, supostamente seria exalado das pessoas à revelia delas ... porque, não sei ... eis um assunto para o qual faltam ainda mil anos de pesquisa, que é acreditar que a quantidade de energia produzida por uma pessoa é possível de ser captada por outra, ou através de algum método. Então, nesse sentido, uma radiografia seria tão denunciadora do espírito de uma pessoa, quanto uma fotografia. Qual a diferença em radiografar um osso, mostrar o interior, o que é invisível para os olhos de uma pessoa e mostrar a imagem dela? Se você me disse que a imagem daquela pessoa, onde não se vê o esqueleto é mais significativa que a radiografia do esqueleto daquela pessoa, essa hipótese entra no fluxo das possibilidades como qualquer outra coisa, não tem maior ou menor valor. Eu fiz, há vinte dias atrás, um exame que se chama tomografia computadorizada. Você entra num tubo e fica escutando sons, sabendo que aqueles sons estão fazendo um mapa da sua pessoa, são várias freqüências sonoras que vão ativando as diferentes partes do seu corpo e vão fazendo uma leitura e traduzindo em imagem. É surpreendente você imaginar o acervo imaginário de um indivíduo do século XXI, ele sabendo que uma sonoridade faz um diagnóstico do próprio corpo dele. E: É uma loucura... W: Não, é o contrário de loucura. É uma realidade apresentada, operando e funcionalizando as nossas expectativas. O que é que é aquilo? Aquilo é pura ciência. Acho que a verdade não tem mais tamanho. O que a gente apreende disso tudo é que alcançar uma compreensão de todas as coisas é uma hipótese vaga. Essa hipótese substitui até a dúvida, porque a dúvida era uma espécie de mecanismo, tinha uma certa utilidade no processo de compreensão das coisas e, hoje em dia, ela entra como se fosse uma característica a mais, um instrumento a mais. E: Claro, talvez como um instrumento mobilizador, deflagrador ... A fita acaba e não percebo. O telefone toca. Tempo para folhear seu livro de pensamentos que acabara de ganhar e de o olho se fixar numa frase que se encaixa perfeitamente a este momento da entrevista. “Hipótese e dois resultados: a verdade sorri de sua própria versão”18. Acho graça da coincidência. 18 CALDAS, Waltércio. Notas, ( ) etc. São Paulo: Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 2006, p. 127. Continuamos a conversar e continuo sem perceber que a fita acabara, mas não posso esquecer-me da conversa, que reproduzo de memória. Waltércio falava sobre um conto, ou crônica - para o qual ele gostaria de fazer uma obra, um dia - de Paulo Mendes Campos, conhecido como o Cão e a Catedral, onde o escritor imagina como um cão, cuja visão é um sentido limitado e o olfato bem desenvolvido, sentiria a mudança de temperatura, quando, num dia quente, para se abrigar do sol forte, o animal entra numa catedral e passa a perceber tudo de outro modo, pelo olfato, com o alívio proporcionado pelo frescor do interior da nave da igreja. E ele imagina um mundo menos preso ao seu acervo visual, livre para perceber com outros sentidos. E: Porque não tem imagens, não é?! W: Você acaba imaginando. E: Não tem como pensar sem imagens. W: Mas eu não sei se um filósofo pensa da mesma maneira que um matemático. Dizem que a matemática é a linguagem mais próxima do desconhecido, quer dizer, a matemática tem o instrumento mais adequado para você reconhecer o desconhecido, ou, pelo menos, para elaborá-lo. E: Talvez porque lide com a abstração ... W: Por outro lado, até que ponto o matemático trabalha com figuras ... o dois é uma figura ou uma potência? Será que ele pensa em imagem, quando pensa o dois? Ou será que ele está livre das imagens e exatamente por isso que ele pode pensar o dois? Tendo a achar que a matemática livra o homem das imagens e por isso ele pode ir em direção a uma possibilidade nova. A imagem restringe o homem ao seu acervo visual. Como seria a relação de uma pessoa com o que ela nunca viu? Porque tenho certeza que daqui a dois anos vou botar os olhos num objeto de arte absolutamente novo, um objeto que vai contribuir, mais uma vez, para um aumento da minha capacidade ótica, pelas características do objeto, eu estarei vendo alguma coisa que eu não vi até hoje. É o que eu, pelo menos, espero. Então, de uma certa maneira, eu estou trabalhando com isso, estou tratando disso, das coisas que aparecem. E: É, mas não é essa a história da arte?! Pensar nesse sentido de coisas novas que vão mudando a apreensão ...19 Waltércio Caldas imagina a arte contemporânea como uma roda, que não pára nunca de girar porque vive circularidade que quer ser transformadora. Novamente vou ao livro de pensamentos e acho uma frase que, tenho certeza, Waltércio leria se estivesse com o livro aberto, como encerramento da entrevista: “E os olhos que vão às imagens onde estiverem e as levam para lá, onde podem sorrir de inexistência.”20 Pensando historicamente a criação artística como inspiração, como coisa mística foi colocada em questão no minimalismo nos anos 60, quando se pensou que a não-presença da mão do artista na obra, a idéia de “uma coisa depois da outra” pudesse retirar qualquer possibilidade de relação do artista com o objeto, que ele jamais pudesse ser a expressão do interior do criador, como queria o expressionismo abstrato. A obra de arte era aquilo que se via, numa ilusão de que essa forma fosse “um meio de descobrir as feições do mundo”. Os ready-made minimalistas, como os denomina Rosalind Krauss, eram exterioridade pura, eram tão-somente repetição e progressão em série que negavam um espaço interior, psicológico na obra de arte porque, ainda segundo ela, os minimalistas reivindicavam que o significado fosse visto como originário do espaço público e não do privado. Suas obras funcionavam como estratégias para declarar a externalidade do significado. Mas a land-art mostrou 19 Entrevista dada a mim pelo artista em 07/12/2006, em sua casa. 20 CALDAS, Waltércio. op. cit, p. 29. com mais clareza, o que a radicalidade da abstração minimalista deixou oculto: o reconhecimento do corpo humano nesses trabalhos, o corpo e a experiência dele como temas da escultura, mesmo que o objeto de arte fosse monumental, como os trabalhos de artistas como Robert Smithson e Michael Heizer. Krauss reconhece que nesses trabalhos, “somente olhando para o outro é que podemos formar nossa imagem do espaço no qual nos encontramos.” Ela encontra na escultura moderna uma idéia de passagem, que transforma a escultura “de um veículo estático e idealizado num veículo temporal e material”, colocando artista e observador diante do trabalho, de modo a encontrarem uma reciprocidade entre eles e a obra, numa experiência onde eles vão encontrar o passado oculto no objeto, numa experência no presente.21 Apesar de a arte neste período, refiro-me ao pós-pop, ainda discutir questões da modernidade, já está bastante permeada pelas as questões contemporâneas – a LandArt, a performance, a Body-Art já questionam a narrativa modernista, mais identificada com o crítico norte-americano, Clement Greenberg. A partir dos anos 60, foi-se percebendo que o significado de uma obra de arte não estava necessariamente contido nela, mas, que podia emergir do contexto em que ela existia, tanto social e político, como formal, “e as questões sobre política e identidade, tanto culturais como pessoais, viriam a se tornar básicas para boa parte da arte dos anos 70.”22 No Brasil, na mesma época, negava-se tudo o que se relacionava ao conceito de obra, o específico do pictórico e do escultórico; a desmaterialização era quase completa. A arte confundia-se com a vida e o cotidiano, quanto mais precários os materiais e os suportes utilizados. Caminhando, por exemplo, que Lygia Clark 21 KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 291343 22 ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. X. propõe, em 1963, elimina toda a transcendência, na medida em que propõe uma experiência: uma fita de papel, semelhante a uma fita de Moebius, que deveria ser cortada pelo espectador com uma tesoura. Não havia objeto, mas uma vivência, o ato de cortar. No lugar de mostrar um objeto, os artistas propunham uma idéia, criavam situações, provocavam o espectador, cuja expectativa de não saber o que iria encontrar diante da obra de arte, provocava nele medo ou repulsa. Muitas vezes, ao experimentar a obra de arte, o espectador devolvia o imponderável ao artista e podia surpreendê-lo. Assim, artista e espectador estavam em pé de igualdade diante do objeto de arte. No entanto, a relação ainda é binária, dual, em dois planos: o artista é quem oferece ao espectador aquele objeto de arte (ou vivência, ou experiência), que, além da exterioridade, tem um conteúdo interior oculto que deve ser desvelado por quem o observa, num entrecruzar de questões do artista e do passado do observador, num cruzamento entre vida e morte. Levando em conta essa “evolução histórica” da questão do corpo (sua utilização ou sua relação com a obra) em relação à obra de arte, penso que a circularidade da estratégia contemporânea do acontecimento artístico não está só no artista. Quem olha, quem observa, quem frui o objeto de arte contemporânea também é olhado – é vidente/visível, é senciente/sensível, é visível/senciente, é sensível/vidente – é também capaz de fazer o giro, o Revirão. Para ver, como lembra Georges DidiHubermann, é preciso fechar os olhos e perceber o que está naquela imagem – é um trabalho de sintoma, como um médico que percebe na doença o que está oculto na imagem dela. Dessa forma é a modalidade do visível, na medida em que a instância se faz inelutável: um trabalho de sintoma, onde aquilo que nos olha é sustentado por (e reenviado a) uma obra de perda. Um trabalho de sintoma que atinge o visível em geral e nosso próprio corpo vidente, em particular. Inelutável como uma doença. Inelutável como uma costura definitiva de nossas pálpebras. 23 A memória, o arquivo, a autobiografia (aí entedida como a formação, a memória, o conhecimento, o arquivo, no sentido de uma autonomia da vida na própria vida) – passado, presente e futuro, não necessariamente nessa ordem - são parte constitutiva de toda obra de arte contemporânea e, portanto, inseparável, ou inelutável, como prefere Didi-Huberman. O objeto de arte é uma obra de perda, está nela aquilo que já não há mais - o seu giro - mas que vai haver na arte sempre24. Ao mesmo tempo em que é uma obra de perda, há nela um por vir. Ela abre a possibilidade de um vir-a-ser, diferente para cada um que a observa, pois é o modo do destino. 23 DIDI-HUBERMANN, Georges. Ce que nous voyons, ce que nous regarde. Les Éditions de Minuit: Paris, 1992, p. 14. (A tradução é minha) 24 A idéia de que o objeto de arte é uma obra de perda, Didi-Hubermann foi buscar numa experiência de Sigmund Freud com seu próprio filho de dezoito meses. Nela, Freud se dá conta do prazer suscitado pela a alternância entre o ver e o não ver, com o jogo do Fort-Da, descrito em Além do Princípio do Prazer: Trata-se de uma bobina presa por um fio, que a criança joga para fazer desaparecer e a puxa, para vê-la reaparecer. O que importa é o entre, o desaparecimento e o reaparecimento, que não invalida os dois momentos-limite: o visível e o invisível. O prazer está no poder da alteridade entre o desaparecer e o reaparecer ritmado - experiência de vida e morte. É isso que faz a imagem; o que a criança vê é a aura do objeto visível, a imagem subsiste como um resto morto do desejo infantil. FREUD, S. apud DIDI-HUBERMANN, George. op. cit., p. 53-56 Destino esse que pode ser compreendido como a natureza da arte contemporânea, ou seja, a história da arte como um todo. A obra de arte contemporânea se estabelece por uma estratégia, uma terapêutica, como se a história da arte já fosse uma natureza psíquica do artista e do espectador de arte. Por isso, a arte contemporânea tem que fazer a psiquê, tem que fazer o ato clínico dessa psiquê. Isso acontece através das analogias (abrem-se os arquivos da memória, da formação, da biografia) que vão desvelando o princípio de formação da obra de arte. A atenção perceptiva do observador vai encontrar no interior da obra parentescos que desvelam a ordem psíquica que a organiza. Se há indagações despertadas por um objeto de arte contemporânea, independente de que lado se esteja – artista ou espectador – estas são percebidas num movimento giratório, onde está em jogo a formação, a história, a biografia, a memória e as expectativas de cada um, tudo perceptível num jogo de associações livres. Isto porque há uma perda de identidade de tudo o que faz parte dessa relação. O objeto de arte faz o papel do psicanalista e o paciente conta com a atenção flutuante deste, com sua capacidade de percebê-lo num jogo de associações livres imposto pela obra. Logo, só resta ao artista contemporâneo distribuir atenções flutuantes, pois a arte contemporânea obriga que a história da arte seja associação livre da obra. Retornarei à questão da natureza psíquica do ato artístico contemporâneo mais tarde. Capítulo 2 O Anel O pour moi seul, à moi seul, en moi-même, Auprès d'un coeur, aux sources du poème, Entre le vide et l'événement pur, J'attends l'écho de ma grandeur interne, Amère, sombre, et sonore citerne, Sonnant dans l'âme un creux toujours futur ! Paul Valéry, Cimetière Marin A idéia do giro como estratégia do ato artístico contemporâneo nasceu da experiência com meu próprio trabalho plástico, do meu exercício diário de atelier. Percebi que seguia um raciocínio circular, no ato mesmo da criação e que cada trabalho provocava esse mesmo raciocínio circular no espectador, como se quem observa pudesse re-conhecer nele espectros, marcas. Como se o objeto de arte guardasse a potência de exergo25. Na criação, o pensamento, os questionamentos, as indagações começam a partir de um ponto para voltar a ele e, daí, se inicia um novo giro para o desconhecido, onde principia uma nova discussão que começa e termina em um novo lugar, iniciando um 25 A definição de exergo pelo dicionário Aurélio é: [De ex- + gr. érgon, ‘obra’.] S.m. 1. Espaço, em moeda ou medalha, onde se grava a data e/ou qualquer legenda. Jacques Derrida, em Espectros de Marx, defende que uma obra de arte contém essa potência de guardar como marca, nela própria, seus espectros.Ver em DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. novo giro para o desconhecido, onde principia uma outra discussão ... Os problemas vão se sucedendo nos giros, como se seguissem uma espiral, uma mola, que reverbera o espectro do que foi e do que será ou virá, como um redemoinho, água escoando por um ralo. Mas para onde mesmo vai a água que mistura no mesmo vórtice a água que foi, a que é, e a que será? Quando comecei a usar a fotografia como meio, procurei um problema, uma questão, uma indagação, em primeiro lugar, dentro do meu próprio universo doméstico. Por acaso, virei a câmera para mim mesma, quando trabalhava no computador, fazendo pesquisa na internet. Fiz três chapas que, hoje em dia, compõem um tríptico, que intitulo : . : 2000 A partir destas fotos, tornei-me problema permanente de minha obra, e, com isso, fui levada a refletir sobre a questão do duplo, do outro e da alteridade. No atelier, usava espelhos e vidros planos, de cujos reflexos servia-me para posicionar corpo e câmera. Ora, se me baseava no reflexo para a posição de câmera e corpo, logo percebi que era o reflexo quem me fotografava e não eu mesma. O reflexo era o duplo, o outro. Não era mais eu quem me fotografava, o outro era o fotógrafo, num jogo dramático que se pode comparar ao mito de narciso. Outras vezes, quando não tinha espelho, ou quando era impossível o uso de algum reflexo, ou ainda, que fosse impossível eu mesma operar a câmera, valia-me de outra pessoa para isso. E usava seus olhos como espelho e como reflexo, como se pudesse enxergar-me, ver-me, através dos olhos de outro. O tempo todo dirigia a foto, perguntando se em determinada posição conseguira o que queria, ou se era melhor mudar, porque, não tendo espelho, não tinha meu outro. Mesmo assim, no momento da foto, estando sozinha ou não no atelier, eram sempre mais de dois, mais que eu e meu reflexo, mais que eu e o outro, eram três ao menos, crivando uma situação ternária com o trabalho/objeto – o giro só se completa quando crio três na relação com o trabalho/objeto que está sendo criado, o vir-a-ser só se apresenta, quando a estratégia de criação resulta em três. O corpo que se vê na foto é o corpo da artista, mas pode ser qualquer outro. O jogo da imagem, que proponho nos meus trabalhos, do ver e não ver, do ver e ser visto, é desenvolvido num texto de Jacques Derrida sobre o filósofo Emmanuel Lévinas26, que fala do conceito de hospitalidade desenvolvido por Lévinas no livro Totalidade e Infinito27. Ali ele afirma que a hospitalidade pressupõe atenção e acolhimento. Só há espaço para dar e receber, se há espaço para a diversidade – a hospitalidade se exerce por dessemelhança; para hospedar alguém, tenho que ser 26 DERRIDA, Jacques. Adeus a Emmanuel Lévinas, São Paulo: Editora Perspectiva, 2004 27 LÉVINAS, Emmanuel. Totalité et Infini: Essai sur l’extériorité. Paris: Le Livre de Poche, 1971 radicalmente diferente, ser não sendo, de modo que aquilo que foge de mim, reconheço no outro. Reconhecer o outro naquilo que foge de mim é entender o estranho como o duplo, segundo Sigmund Freud: reconheço o outro, o duplo, naquilo que há de mais familiar a mim e, ao mesmo tempo, naquilo onde não me reconheço28. Escolho ser fotógrafo e modelo, ao mesmo tempo. Escolho ser o duplo do duplo, escolho não me reconhecer na minha imagem: acabo descrevendo um espelho. Aquele corpo que está no espelho do estúdio sou eu, não sendo. A imagem revelada na fotografia sou eu e meu duplo, “sou-me”, não sendo eu mesma. E, para além dessa diferença, o acolhimento do outro que em mim estava se abre ao infinito do outro, ao infinito como o outro que o precede. Se considero que o objeto de arte contemporânea está no campo do outro, se o considero como sendo o outro e estando num “sou-me”, é nele que aparece um exercício de hospitalidade – ele é présignificação, ele é o lugar onde hostilidade e hospitalidade não se diferenciam porque, como afirma Derrida, é preciso hostilizar para acolher – a condição de acolhimento da arte contemporânea impõe o hostil, no ato de hospedar quem quer que seja. A relação entre dois, eu e o outro, acaba revelando um face-a-face que gera a violência. O recolhimento/acolhimento do outro está no objeto de arte contemporânea e é ativado pelo jogo do desejo e da memória. Mas, se o face-a-face do eu e do outro pressupõe a violência, é preciso, a intervenção de um terceiro, na relação, para interromper tal clima. Nesse sentido é que penso que o expectante é o sujeito e o terceiro, ele gera e interrompe a violência do face-a-face com o objeto de arte contemporânea: vejo você, o que de você vem, 28 FREUD, Sigmund. O “Estranho” In: FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1969, p. 275-318 mas vejo também o que se mostra de (ou o que completa um) sentido nisso tudo. O terceiro é qualquer um que pode apreender a obra de arte contemporânea, que pode percorrer com o olhar, integralmente, o giro imposto por ela. Por isso, posso afirmar que a obra de arte contemporânea é origem e resultado, ao mesmo tempo: o expectante deve alcançar o discurso da obra através do que ela dá a ver; seu olhar dirige-se ao visível da obra para re-conhecer o que nela há. Além de utilizar meu próprio corpo como problema permanente de minha obra, escolhi uma técnica fotográfica, com a qual pudesse reproduzir a relação a três criada na formação da obra – artista, fotógrafo e modelo. Por isso, sempre utilizei uma câmera obscura - uma pinhole – com a qual criei um erro no processo de fotografar: no anteparo que substitui o diafragma, fiz dois furos, de tamanhos diferentes para a entrada de luz. O segundo furo faz com que a imagem venha acompanhada dela própria, como uma sombra de luz, provocando a perda da nitidez. Mas, desse modo, em cada imagem, obtenho a mim e ao meu duplo. A escolha da câmera obscura e não de outro tipo de máquina fotográfica foi uma tentativa de transferir o mundo real para o mundo imaginário, sem intermediários, isto é, sem lentes, como se de um espelho se retirasse o vidro. Câmeras transformadas por mim para o processo pinhole, utilizadas para fazer as fotografias. As experiências fotográficas do escritor e dramaturgo sueco, August Strindberg (1849 – 1912), idealizador do teatro íntimo, na tentativa de fazer o retrato psicológico, o retrato da alma, serviram-me como primeira referência29. Strindberg acreditava que o retrato verdadeiro de uma pessoa só era possível de ser captado, pela utilização de uma máquina fotográfica pinhole. A ausência de lentes diminuía os obstáculos entre o filme e o modelo, tornando possível, dessa forma, a captura da essência do ser fotografado. Além disso, ele viu na longa exposição necessária para a impressão da imagem na pinhole, uma forma de reproduzir mais do que o simples retrato. Durante esse tempo de exposição, Strindberg contava aos retratados pequenas histórias que lhes suscitassem sentimentos diversos, alegria, tristeza, amargura, para, assim, captar sua personalidade e sua alma num fluidum de luz e matéria, energia radiante, a verdade do retrato. Ele chamou esta experiência de retrato psicológico30. Câmera pinhole utilizada por August Strindberg 29 DIETRICH, Jochen. Câmera Obscura. Porto Arte. Porto Alegre nº 17, p. 61 – 72, nov 1998. 21 58 GRANATH, O. et al. Strindberg: Peintre et Photographe. Paris: Musée D’Orsay, 2002, p. Uma imagem, que para ser captada precisa de mais de dois minutos de exposição do modelo, à frente da câmera, de fato não é apenas o retrato de um instante. Tudo o que se passou no espaço alcançado pela abertura da câmera, durante aquele tempo, está lá (tem mais imagem nela, porque é a imagem mais simples, por insistir, recolhe todas as imagens – o tempo está latente nela). Aquela que, talvez, seja a mais antiga foto feita, um cais do porto captado por Nadar, levou quatorze horas de exposição. Em função disso, a foto não tem sombras. É o retrato do dia inteiro, de tudo o que se passou, no limite do campo focal alcançado pela abertura do diafragma, naquele longo intervalo em que a câmera ficou aberta. A experiência de Strindberg trouxe-me a possibilidade de capturar a alma, a essência daquele instante fotográfico, tudo o que ali se passou, num “fluidum de luz e matéria”. E entender que é possível que um observador atento veja tudo isso já que é visto por tudo isso, fechando os olhos para ver o que há sem haver, naquela imagem. O trabalho plástico que acompanha esta dissertação e que intitulo O Anel, dinamiza tudo o que foi dito antes. Com ele, penso, consigo discutir plasticamente ou praticamente as questões levantadas aqui. Em O Anel fotografo meu corpo inteiro, nu, deitado e com os braços esticados acima da cabeça, de frente e de costas, pelo processo pinhole. As fotografias são ampliadas com uma viragem em ouro31, e dispostas sobre uma circunferência de acrílico – da forma de uma manilha de 2m de circunferência; o corpo de costas por fora e o corpo de frente por dentro da circunferência – de modo que as mãos encontrem-se com os pés, fazendo o corpo dobrar-se sobre si mesmo. Uma circunferência é um anel. Em cada lado dessa circunferência-anel tenho eu e meu duplo, sou-me, eu mesma não sendo, sendo o lado de fora do anel o duplo do lado de dentro e vice-versa. 31 A viragem é um processo químico de transmutação dos tons de cinza e preto dos sais de prata na ampliação fotográfica. Para a mesma exposição, apresento o mesmo trabalho em outra versão, do tamanho de um anel. É a mesma imagem do tamanho grande, mas sobre um anel de ouro. Como os pés encostam-se às mãos, o corpo dá um abraço em si próprio e faz circular energia e informação de si para si. É uma imagem semelhante a kundalini32 ou ao ouroboro ou uroboro33 – a serpente que morde seu próprio rabo, figuras 32 Kundalini deriva de uma palavra em sânscrito que significa, literalmente, enroscar-se como uma cobra. O símbolo do caduceu é considerado como uma antiga representação simbólica da fisiologia da kundalini. O conceito de kundalini é originário da filosofia ioga e refere-se à aparição da inteligência possível de ocorrer por meio do "despertar" ioga e pelo amadurecimento espiritual (Sovatsky, 1998). Os "ioguis" podem considerar a kundalini como uma espécie de divindade, por isso muitos colocam letra maiúscula na inicial da palavra. Kundalini é a energia que transita entre os chakras. A raiz da palavra kundalini supõe-se vir primeiramente do verbo kund que significa "queimar". Contudo, existe uma explicação adicional para a palavra no substantivo kunda, que significa orifício ou cavidade. Há também o substantivo kundala, que significa bobina espiral, anel A serpente, tanto quanto o homem, distingue-se de todas as outras espécies animais. Se o homem se encontra no final de uma escala genética evolutiva, a serpente deve ser colocada no início. Homem e serpente são opostos. C.G. Jung dizia que a serpente é um vertebrado que encarna a psique inferior, o psiquismo obscuro, aquilo que é raro, incompreensível, misterioso. A serpente não apresenta um arquétipo, mas um complexo de arquétipos ligado à noite fria, pegajosa e subterrânea das origens: todas as serpentes possíveis formam,juntas, uma única multiplicidade primordial, uma Coisa primordial invisível que não cessa de desenroscar-se, desaparecer e renascer. (disponível em: http:// www.wikipedia.com e www.eusouluz.iet.pro.br) 33 Ouroboro ou Uruboro . Imagem egípcia da serpente que engole a própria cauda. Simboliza um ciclo de evolução fechada sobre si própria. Este símbolo encerra ao mesmo tempo as idéias de movimento, de continuidade, de autofecundação e em consequência, do eterno retorno. (disponível em http://www.cm-lisboa.pt). O dicionário de símbolos aponta para uma associação ouro-serpente mítica que revela-se no Ural. A Grande Serpente da Terra, O Grande Rastejador é o senhor do ouro. Há, ainda, “uma significação espiritual dessa fusão ouro-serpente que é o mito da sepente arco-íris – a serpente que morde a própria cauda. Ela é o símbolo da continuidade enrolada ao redor da terra para que esta não se desintegre; Dan, que é espiral e primeiro movimento da criação, geradora dos astros, vem a ser também o senhor do ouro e o próprio ouro.” Ver em CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, pág 670. O Ouroboro está muito relacionado, também com a alquimia. Em algumas obras alquímicas significa “alimenta este fogo com arquetípicas da humanidade. A imagem do corpo nu no anel é contemporânea e arcaica. fogo, até que se extinga e obterás a coisa mais estável que penetras todas as coisas, e um verme devorou o outro, e emerge esta imagem”. (disponível em: http:// www.wikipedia.com) O Anel nas duas 2007 Foto Wilton Montenegro versões, tamanho corpo e, abaixo, tamanho anel Kundalini retirada da wikipédia Ouroboro por Theodor Pelecanos, 1478, retirado do tratado de alquimia Synosius Uma imagem arcaica não carrega qualquer significado; a imagem arcaica não é experienciável, mas experimentável. Por isso, a imagem de O Anel carrega o arquétipo sem ser a figura do arquétipo propriamente dita. Assim, conjuga o arcaico e contemporâneo no mesmo tempo da obra. É o caso da kundalini e do ouroboro em relação a O Anel que se dá a ver carregado de conteúdo próprio e acompanhado de toda uma rede de outros conteúdos, cheia de espectros. Um objeto que se dá a olhar, mas que também olha, de si para si e de si para os outros. Um objeto que cria uma circularidade de pensamento a partir dele, quando o olhar e o toque fecham fisicamente o círculo. Um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e tocado, entre um olho e outro, entre a mão e a mão se produz uma espécie de recruzamento, quando se acende a faísca do senciente-sensível, quando se inflama o que não cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente teria bastado para fazer …34 Movimento, tato e visão fazem parte da relação entre o visível e o invisível, o que a imagem mostra, o visível, o objeto de arte concretamente e o que ela dá a olhar, ocultando, o invisível, que está no campo da idéia – a palavra anel indica a idéia do que é denominado anel. Os sentidos de quem quer que esteja diante do objeto de arte contemporânea entram em ação, para remontar à fonte, à origem, à metafísica do anel, na concretude do objeto anel, num jogo de associações livres, num trabalho de desejo, de desejo de vira-ser ou vir-a-ser - o paradoxo da expressão já é um face-aface com giro do anel, no qual o sensível só existe como idéia plástica. Em um outro ensaio, O Visível e o Invisível, Merleau-Ponty cita Proust, que pensa a idéia como o duplo do sensível e, também a sua profundidade, como na biblioteca à noite, quando os fantasmas, os espectros dos personagens saem dos livros e desafiam o leitor a vêlos35. Para Merleau-Ponty, as idéias estão sempre entre as coisas ou atrás delas, luzes ou sons, mas são “reconhecíveis na sua maneira sempre especial, única, de entricheirar-se atrás deles.”36 O que parece, porém, colocar tudo isso no mesmo plano é a estratégia contemporânea de “criação” (lembrando que a crise da noção de criação começa na 34 Merleau-Ponty, Maurice. O Olho e o Espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 18. No livro No Bosque do Espelho, o escritor argentino Alberto Manguel, lembra a biblioteca de Proust, “Para isso, os leitores devem se apropriar dos livros. Em bibliotecas infindáveis, como ladrões na noite, os leitores surrupiam nomes, vastas e maravilhosas criações tão simples quanto Adão e tão artificiais quanto Rumpelstiltskin. Um escritor nos dirá, como Proust, que os volumes da biblioteca de Bergotte vigiam os artistas mortos durante a noite, aos pares, como anjos da guarda; mas é o leitor de Proust que, sozinho, numa noite, no quarto escurecido, vê as asas desses anjos traindo sua presença, delineadas contra o movimento dos faróis que passam.” Ver em MANGUEL, Alberto. No Bosque do Espelho. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 24 35 36 MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o Invisível. São Paulo Editora Perspectiva, 2000, p. 146 arte moderna). À medida que o corpo passa a ter relação com a obra de arte, espectador e artista passam a fazer parte do mesmo plano. Na arte moderna, havia uma limitação de papéis muito clara, onde cabia ao artista discutir, na obra, as questões que dissessem respeito ao fazer daquela obra, naquele suporte específico; e cabia ao observador fruir visualmente a obra. Em seu livro, Após o Fim da Arte, o filósofo e crítico de arte Arthur Danto, discutindo essa passagem do moderno para o contemporâneo, destaca uma frase que o artista americano, Ad Reinhardt, escreveu em 1962: “O único objetivo em 50 anos de arte abstrata é apresentar a arte como arte e como nada mais ... tornando-a mais pura e mais vazia, mais absoluta e mais exclusiva.” O artista é entendido como um criador e está num plano absolutamente oposto ao do espectador, cuja função é a pura e simples fruição retiniana. Já o objeto de arte contemporânea contém suas idéias, basta que se esteja pronto para vê-las, e para isso é preciso despir-se de seus pré-conceitos (tudo aquilo que pode ser recalcante, que está estabelecido como verdade absoluta e impede o sujeito de fazer as analogias e associações livres propulsoras do giro), de sua identidade e percebê-las através de associações livres que se podem fazer por causa da própria biografia, formação etc. Na arte contemporânea, o giro é a única e possível condição para o expectante. A referência para fazer O Anel é antiga, vem da minha autobiografia. Penso que tal gesto artístico é como o método de pensamento plástico contemporâneo. Não há obra contemporânea que não contenha o mundo à volta do artista – é o artista fazendo o giro e dando a ver esse giro ao mundo . Dos sete aos dezoito anos fui bailarina, aluna da bailarina russa Tatiana Leskova. No início do aprendizado de dança aprende-se que há um fio imaginário, que passa por dentro do corpo e que sai pelo alto da cabeça; e para conseguir se chegar àquele corpo esticado, alongado, é preciso puxar sempre o “fiozinho”, mais e mais. A descrição desse puxar acontece sempre da mesma maneira: uma das mãos que puxa o fio imaginário no alto da cabeça, descrevendo uma espiral, ou as mãos se alternando, uma de cada vez, mas sempre no mesmo movimento, girando uma sobre a outra. O fio é o eixo para que o corpo se movimente. Portanto, o giro, o movimento é condição da bailarina e minha condição autobiográfica – sempre girei. Em a Alma e a Dança, de Paul Valéry, uma frase de Sócrates, do diálogo entre Sócrates, Fedro e Erixímaco sustenta essa condição do giro autobiográfico da bailarina: É a tentativa suprema… Ela gira e tudo o que é visível se desliga de sua alma; se separa, enfim do que é mais puro; os homens e as coisas vão formar em volta dela uma borra informe e circular… Vede… Ela gira… Um corpo, graças a sua simples força, e por seu ato, é poderoso o bastante para alterar mais profundamente a natureza das coisas do que jamais conseguiu o espírito e suas especulações e sonhos!37 Faz parte do giro da bailarina tudo o que estava à sua volta, ao longo de sua vida. Ouvir música, aprender a escutá-la, na contagem dos compassos e tempos era condição para a formação em ballet. O ouvido treinado da dançarina aprendeu a apreciar a composição de Wagner e perceber seu método de composição. Seu princípio estético era o de mudanças constantes e absolutas, uma estética de reciclagem de formas harmônicas menores que se revezavam, iam e voltavam, renovadas, recicladas, velhas e novas, ao mesmo tempo, de modo que as crises no enredo da ópera coincidissem com essas mudanças e que a audiência percebesse esses 37 VALÉRY, Paul. A Alma e a Dança. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 63 clímaxes somente no encontro do velho com o novo, numa construção dialética da música. Assim se dá na ópera O Anel dos Nibelungos. Baseada na mitologia alemã, a obra é uma história de amor, de desejo, de cobiça e poder – é a transformação da mitologia em arte. É Wagner quem dá som ao mito, e o faz utilizando uma construção musical que obedece a uma espiral, que retoma um mesmo ponto na escala harmônica, renovando-o, numa composição única e, ouso dizer, giratória. Em O Anel dos Nibelungos, Wagner também se valeu das possibilidades e da liberdade das dissonâncias harmônicas – usava o acorde como tema - para construção de sua composição e submetia a linha melódica que evoluía constante e infinita a essa harmonia de reciclagens, provocando, com isso, um efeito de dissonância na consonância. A construção do enredo acontecia paralela à construção da composição musical de modo que a história também se submetia à harmonia. A construção musical de Wagner obedecia à lógica de uma espiral: as pequenas hamonias que se renovam, mas que conservam nela o que já foram, ao mesmo tempo em que são novas.38 O giro é condição da composição wagneriana. 38 O Anel dos Nibelungos é baseado na história homônima da mitologia nórdica, uma história de deuses e mortais, onde o ouro exerce enorme influência sobre quem o possui. No cerne da história está o conflito entre amor e poder, quando o entendimento do outro está ameaçado - o amor está constantemente ameaçado pelo desejo de poder. O ouro do Reno é guardado sob as águas do rio e mantém a paz entre deuses e homens. O anão Alberich, encantado com a visão sob as águas, renuncia ao amor para possuir o ouro e o rouba das fadas. Com ele, forja um anel, que lhe dá o poder. Inicia-se, então, uma briga entre deuses e humanos pela posse do anel, objeto do desejo de todos; porque quem o possui, tem o poder. Mas ter o anel é estar preso a ele. Ter o poder é não ter liberdade para usá-lo. Quem possui o anel tem que abrir mão do amor. Wagner constrói O Anel dos Nibelungos com a mesma lógica dos festivais dramáticos gregos, das tetralogias, onde três trágicos Do giro da bailarina, fazem parte os sonhos. Já adulta, sonhei que me via criança, o corpo em forma de círculo, comendo a mim mesma pelo próprio rabo. A imagem do anel aparece, pela primeira vez, nesta ocasião – era um anel feito com meu corpo que se dobrava sobre si mesmo, a imagem das costas para fora e a da frente do corpo era o interior da circunferência. Como era um sonho, a questão da imagem circular era da ordem da psicanálise. No entanto, enquanto artista, tomei a imagem do sonho para meu trabalho plástico, independente de qualquer conotação psicanalítica e, também, levando-a em conta, porque o centro do giro, o olho do furacão é o objeto de arte contemporânea. Diferentemente da circularidade proposta por Merleau-Ponty em O Olho e o Espírito, que é sempre a partir do artista, do pintor – ele fala de pintura nesse ensaio – como ponto ou grau zero da , o mundo está ao redor do criador - quando penso no giro, penso não num mundo a partir de mim, mas num mundo a partir do objeto que me envolve e que envolve tudo e todos. Quando, nesse mesmo texto, ele fala do ver, descreve o giro, mas ainda partindo de uma relação binária: artista e espectador. produziam, cada um, três tragédias, acompanhadas de uma peça satírica. Wagner sofre grande influência de Ésquilo, sobretudo Prometeu Acorrentado que é a parte sobrevivente de uma trilogia, mas não se sabe qual parte, para a construção da ópera. Essa peça foi muito cultuada no período romântico. Ésquilo costumava compor a trilogia sobre um tema contínuo e uma sátira ligada ao tema da trilogia trágica. O compositor alemão impõe, portanto, uma forma grega a uma lenda nórdica – o Anel dos Nibelungos, é uma tragédia romântica. Wagner usou a tradução de Droysen, de Prometeu, que acreditava que esta era a segunda parte da trilogia. O compositor constrói a personagem Brunhilde como Prometeu. Como o herói grego, Brunhilde é filha de uma Deusa da Terra, que é visionária e, como castigo por sua desobediência, fica presa numa montanha por um Deus do Fogo. Além de Ésquilo, Wagner sofre grande influência da Trilogia Tebana, de Sófocles. Ver em: MILLINGTON, B. (org.). Wagner: um compêndio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995 A visão não é um certo modo do pensamento ou presença a si: é o meio que me é dado de estar ausente de mim mesmo, de assistir por dentro à fissão do Ser, ao término do qual me fecho sobre mim. 39 Ora, este trecho do ensaio de Merleau-Ponty é quase a descrição do Revirão. Como se Magno também partisse do pressuposto de que o Sujeito é o ponto zero e tudo acontece a partir dele e à sua volta. É um giro, cujo vórtice não é a obra, o objeto, mas o artista. No entanto, se penso no objeto de arte como o analista, assim como também o faz Magno, é porque sei que ambos, analista e objeto de arte contemporânea vêem do mesmo lugar, ambos chegaram à beira do Cais Absoluto e, portanto, o objeto de arte é que está no centro da espiral e o expectante conta com essa experiência quase mística, podemos dizer assim, de deslumbramento, de lucidez à beira do Cais, do confronto com o Sagrado do não-Haver, de uma experiência de quase morte e com o retorno ao profano, ao cotidiano, ao ordinário. É por isso que a obra de arte contemporânea não reflete, mas faz girar. [...] Escuto-te de aqui, agora, e desperto a qualquer coisa. Estremece o vento. Sobe a manhã. O calor abre. Sinto corarem-me as faces. Meus olhos conscientes dilatam-se. O êxtase em mim levanta-se, cresce, avança, E com um ruído cego de arruaça, acentua-se O giro vivo do volante. 39 MERLEAU-PONTY, Maurice. O Olho e o Espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 42 40 [...] Se considero que o objeto de arte contemporânea faz girar, ele, por sua vez, também gira, mas o faz no centro e tudo gira numa direção diversa em torno dele. Se fosse fazer um desenho do que acabei de descrever, faria algo parecido com um sistema planetário, os planetas descrevendo elipses em torno do centro, também giratório, que seria o objeto de arte. Por isso, posso considerá-lo inalcançável na sua inteireza. Ele é um fragmento de uma totalidade apenas intuível, que se vai desvelando, à medida que o olho pode ver o que há no objeto sem haver. Desvelar no que se mostra o que está oculto à vista é uma ação clínica, como diz Michel Foucault, em O Nascimento da Clínica. Como um expectante, o olhar médico só é capaz de ver o mal, a doença se girar. Daí a estranha característica do olhar médico; ele é tomado como uma aspiral indefinida: dirige-se ao que há de visível na doença, mas a partir do doente, que oculta este visível, mostrando-o: consequentemente, para conhecer, ele deve reconhecer. E este olhar, progredindo, recua, visto que só atinge a verdade da doença, deixando-a vencê-lo, esquivando-se e permitindo ao próprio mal realizar, em seus fenômenos, sua natureza.41 Esta ação clínica - que resulta em três: o doente, o médico e a doença ou o que vejo, o que me olha e o que resulta disso - é que habita o lugar antes ocupado pela noção de criação na arte moderna. Por isso, penso a arte contemporânea como clínica, considerando a autobiografia (os arquivos, as heranças e o que eles abrem de possibilidades no sentido de uma autonomia da vida na própria vida) como método de pensamento plástico. A clínica em arte, portanto, estabelece-se como busca fáustica, 40 PESSOA, Fernando. Ode Marítima. In: Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005, p. 320 41 FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 08 obsessiva, pela verdade que jamais será desvelada na sua integralidade. A atenção perceptiva do espectador, do observador, do expectante vai encontrar no interior da obra de arte, através de operações de analogias, através do cruzamento de suas vivências com as do artista, por sua vez, expectante também, sua clínica: a obra de arte contemporânea faz a clínica do observador/expectante; isto é da própria natureza da arte. O objeto de arte contemporânea estabelece uma relação espectral, não reflexiva, com quem o olha, como se ele contivesse fantasmas que só surgem a partir de cada observação. O princípio da noção de criador se coloca à margem do observador. Diante de um objeto de arte, o observador ainda não deixou de ser ele, mas não o é mais, torna-se um expectante - aquele que, na observação do objeto, vai iniciar um giro em direção ao desconhecido, um giro que mistura passado, presente e a expectativa de futuro, seja ele artista ou espectador. Aí é que a obra se torna a própria clínica; diferentemente da obra de arte moderna, que se estabelece por uma crítica; a obra de arte contemporânea estabelece-se por uma terapêutica, considerando a natureza psíquica da história da arte como algo ordinário ao artista e ao observador. Por isso, a arte contemporânea tem que fazer a psiquê, girar como ato clínico dessa mesma psiquê que se chama arte contemporânea. A ironia do giro é que é a exterioridade da obra de arte contemporânea, no caso desta dissertação, O Anel, o que se vê de O Anel, o que o observador/expectante vê do anel, que inicia, dá partida ao processo clínico de âmbito psicanalítico, é justamente o lugar onde a psicanálise não pode iniciar, o lugar no qual a psicanálise chega como observadora e, também, como paciente, e que será obrigada a viver o giro de pensamentos, a disjunção entre a memória, a herança, o arquivo e o por vir imposta pela observação da obra. A psicanálise sai em busca do arquivo original, da promessa arqueológica ali contida e se prende nessa busca. O objeto de arte contemporânea vai além, ele desvela os arquivos de cada observador, abre portas para o por vir, mas não faz anamnese, não tem esse objetivo. Como os parâmetros das estratégias clínicas, os parâmetros do objeto de arte são as analogias. A obra de arte contemporânea nunca é sozinha. Ela é o objeto e todas as de relações que o acompanham. Na sua fruição pelo expectante, ela é anterioridade a qualquer coisa e, ao mesmo tempo, o resultado último de sua verdade. Fruir a obra de arte contemporânea é dirigir o olhar ao visível da obra, de modo a re-conhecer a visibilidade visível, que oculta o próprio visível. É interessante verificar como a observação da obra de arte contemporânea se assemelha ao desenvolvimento do olhar médico no surgimento da clínica. Em O Nascimento da Clínica, Michel Foucault aproxima o olhar clínico com a observação de um retrato: o olhar médico dirige-se ao fragmento do corpo doente e deve intuir, daí, a totalidade da doença e, ao descrevê-la, deve restituir, aos que não puderam olhar, toda a espessura viva dela. É preciso fechar os olhos para ver, buscar no vazio o que a imagem dá a falar - a inelutável modalidade do visível, como observaria Stephen Dedalus.42 Recontando a história do surgimento da clínica médica, Foucault observa que, no século XVIII, não se sabia restituir pela palavra o que era apenas dado ao olhar: a Medicina era a própria experiência. 42 JOYCE, James. Ulysses. Tradução: Antônio Houaiss. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 41. No primeiro capítulo, quando apresenta o personagem Stephen Dedalus, Joyce começa um subcapítulo dessa forma: “INELUCTÁVEL modalidade do visível: pelo menos isso se não mais, pensado através dos meus olhos. Assinatura de todas as coisas estou aqui para ler, marissêmen e maribodelha, a maré montante, estas botinas carcomidas Verdemuco, azulargênteo, carcoma: signos coloridos. Limites do diáfano. Mas ele acrescenta: nos corpos. Então ele se compenetrava deles corpos antes deles coloridos. Como? batendo com sua cachola contra eles, com os diabos. Devagar. Calvo ele era milionário, maestro di color che sanno. Limite do diáfano em. Por quê em? Diáfano, adiáfano. Se se pode por os cinco dedos através, é porque é uma grade, se não uma porta. Fecha os olhos e vê.” O Visível não era Dizível nem Ensinável . (...) a observação se faz no mutismo das teorias, pela claridade única do olhar, em que, de mestre a discípulo, a experiência se transmite abaixo das próprias palavras. 43 A clínica ainda não constituía um saber, mas sim a relação do homem consigo mesmo. O olhar e o tato eram as únicas possibilidades de aprendizado da medicina, estabelecendo uma relação entre o palpado e o palpante, o visível e o vidente, o visível e o palpante, o palpado e o vidente; uma relação circular, recíproca, formando uma experiência única, como de um único corpo, graças a essa possibilidade de reversão entre o olhar e a experiência, como lembra Merleau-Ponty em O Visível e o Invisível. (...) flutuar no Ser com outra vida, de fazer-se o exterior de seu interior e o interior de seu exterior. Movimento, tato, visão, aplicam-se, a partir de então, ao outro e a eles próprios, remontam à fonte e, no trabalho paciente e silencioso do desejo, começa o paradoxo da expressão. 44 A relação entre médico e doença, ou entre palpante e palpado, como disse Merleau-Ponty, muda ou se transforma com a inauguração da escrita no ensino médico, no século XIX. Ela quebra essa relação direta e imediata entre o olhar e a palavra, e transforma a clínica em saber para privilegiados - inaugura o segredo: o que já se soube, via comunicação oral, agora, só se pode saber e passar para a prática, 43 FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 56 -58. 44 MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o Invisível. São Paulo: Perspectiva, 2000. p. 140 se se puder ler. A escrita vai transformar a medicina num saber cego que abandona a observação para facilitar e abreviar seu estudo – é o paradoxo da expressão. [... ] o olhar que percorre um corpo que sofre só atinge a verdade que ele procura passando pelo dogmático do nome, em que se recolhe uma dupla verdade: uma oculta, mas já presente, da doença; outra, claramente dedutível, do fim e dos meios. Não é, portanto, o próprio olhar que tem poder de análise e de síntese; mas a verdade de um saber discursivo que vem se acrescentar de fora e como uma recompensa ao olhar vigilante do estudante. 45 A escrita, as estruturas gramaticais liberam a clínica do jogo das essências e dos sintomas, e, ao mesmo tempo, fazem desaparecer o círculo entre o visível e o invisível. A fala do doente não é suficiente, pois mostra e oculta ao mesmo tempo. A doença existe somente no visível, logo no que se pode enunciar. O que vai transformar o sintoma em signo é a intervenção de uma consciência - o sintoma é como o significante da doença e todo sintoma torna-se signo, com a intervenção da consciência 46 - o signo é, portanto, o visível e o invisível da doença, colocando a clínica no domínio da clara visibilidade. Na clínica, assim como na arte contemporânea, o que se vê está ao nível do ordinário, é o fantástico do comum, do corriqueiro. Este é, também o lugar do discurso plástico contemporâneo, onde se funda uma literalidade entre arte e vida. E no lugar da clínica, como afirma Michel Foucault, só se pode falar a partir da presença do objeto. Da mesma forma, no lugar da arte, a presença do objeto é 45 FOUCAULT, Michel. op. cit., pág . 67 46 Id, Ibid, pág . 103 e 105 imprescindível. E é no espaço, entre o que se vê e o que se diz, que se dá a clínica: este espaço entre é o lugar do duplo do discurso, o lugar do comentário, onde o resíduo do discurso (seu duplo) se dá a ver, é impelido para fora, como um excesso de significante que estava na sombra e que aparece, quando esse espaço entre interroga o discurso que, redizendo o que foi dito, mostra o que nunca foi pronunciado – aí se dá o discurso clínico; segundo Foucault, é como se houvesse um excesso de significante sobre o significado, um resto de pensamento deixado na sombra, um não falado latente. O comentário é o resíduo do discurso impelido para fora, o espaço do comentário é o espaço da clínica, da clínica de arte47. O objeto é a origem, o domínio e o limite da experiência; tudo o que se pode falar é a partir dele. E a tarefa do olhar é percorrê-lo integralmente. Se o discurso clínico, como o discurso plástico – a arte contemporânea fala alguma coisa – parte das imagens, tem o privilégio delas; se o olhar a percorre integralmente e passivamente e, mesmo assim, só transforma em discurso o que se dá a ver, é porque o objeto funciona como parte de uma totalidade à qual não se tem acesso, só se pode intuir. A coisa, o todo, a verdade, a realidade está no limite do conhecimento (no sentido kantiano da coisa em si, ou no sentido lacaniano da Coisa). Logo, o que nos é dado a ver, o comentário, é uma espécie de tradução. Traduzir, neste caso, é tornar o objeto sensível ao olhar (traduzir vem do latim traducere, que é conduzir além, transferir)48. Nesse sentido, para conduzir o olhar além e transformar, transladar, transferir o que é dado a ver em comentário, há que se levar em conta a rede de relações em torno do objeto, que cruza a experiência histórica e filosófica do observador e do que é dado a ver. Há que se levar em conta a autobiografia: buscar o 47 48 FOUCAULT, Michel. op. cit, p. XII-XVI FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986 mundo no objeto, reconhecer nele suas experiências, o ordinário e as coisas do mundo – isso é fazer uma clínica. A passagem do visível para o dizível transforma o que vemos em uma potência visual e o que fica em segredo, oculto, pelo excesso de visibilidade do visível, mostra-se como espectro, vislumbre, aparece e desaparece, num movimento de fluxo e refluxo, mas está sempre lá. O que se vê, para Foucault, apóia-se nessa alternância. Voltando à observação do objeto de arte contemporânea, levando em conta a questão da evolução da clínica, posso afirmar que o que o expectante vê diante de uma obra de arte contemporânea é a sua terapia . O caminho da arte como clínica não pretende diagnosticar ou curar, mas hospedar essa condição do comentário sobre o outro. Diferentemente da doença, o objeto de arte contemporânea não oculta nada, o espaço entre, o do comentário é onde está a visibilidade do visível. No avessamento provocado pelo giro, o que se mostra como espectro, vislumbre é a aura do objeto de arte. O giro traz de volta a aura da obra de arte que a modernidade havia aniquilado. No texto, Pequena História da Fotografia, Walter Benjamin define a aura do objeto como: O que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja.49 A aura, no sentido benjaminiano, se configura como essa mistura de memória, formação, vivências, de cada observador do objeto de arte contemporânea. Tudo isso 49 BENJAMIJN, Walter. Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 101. acontece porque a arte contemporânea se dá no mesmo espaço da vida, a partir do ordinário, onde está o fantástico do cotidiano, do comum. Na contemporaneidade, não há limitações para a produção, entendimento e fruição da obra. Tudo pode ser arte. Nessa confusão entre arte e vida, assim como a obra de arte contemporânea é rechaçada como arte, a terapia é rechaçada como terapêutica. A propósito da aura, como a coloco nesta dissertação, há uma análise, feita por Georges Didi-Huberman, de duas obras, ambas de 1962, do artista americano, Tony Smith, no livro O que Vemos, o que nos Olha. Tony Smith fez The Black Box, a partir da observação de uma pequena caixa preta, que estava sobre a mesa de um amigo. Sem mexer nela, ele podia imaginar tudo o que ela podia guardar. Deflagrou, assim, uma série de relações da qual faziam parte seu dia-a-dia, sua experiência autobiográfica, e que resultou numa caixa preta de madeira, medindo 57 X 84 X 84 cm. Da mesma forma, pensando na expressão six feet (seis pés) (ou como diríamos no Brasil, sete palmos), imediatamente ele a relacionou com o corpo humano. Seis pés corresponde mais ou menos a 1,82 m - o tamanho de um homem. Enterrar alguém a sete palmos abaixo da terra (six feet under) é enterrar alguém, na profundidade correspondente ao tamanho de um homem. Ele criou, então um cubo de aço fechado, de 1,83 m de lado, ao qual deu o título Die50. Pertenciam a essas obras, a sua aparência e toda idéia que essa aparência podia suscitar, como um jogo de aparição e perda, um jogo de existência do sujeito de tudo que fazia parte de seu cotidiano. 50 Didi-Huberman, Georges. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Édition de Minuit, 1992, p. 64 a 67 The Black Box , Tony Smith, 1961 Die, Tony Smith, 1962 No Brasil, foi a dissidência carioca do concretismo, o chamado neoconcretismo que levou ao limite a relação da obra com o corpo, e que resultou nas experiências do sensível de Lygia Pape, Lygia Clark e Hélio Oiticica. É neste grupo de artistas que identifico a recuperação da aura do objeto de arte, perdida no modernismo. Franz Weissmann foi um dos primeiros artistas a aderir a esse movimento que reivindicava liberdade em relação ao dogmatismo da experiência concreta paulista. Acompanhar de perto a obra de Weissmann foi fundamental em determinado momento, para meu trabalho. Vistas do Galpão de Ramos / atelier de Franz Weissmann. Fotos Wilton Montenegro Numa visita ao galpão de Ramos (seu grande atelier, onde produzia as obras de grandes dimensões e que ficava dentro da antiga fábrica de carrocerias de ônibus, a Ciferal, do irmão do artista) descobri algumas pequenas esculturas figurativas, trabalhos dele dos anos 40. Percebi nelas que o corpo humano e sua capacidade de movimentos, de dobrar-se sobre si mesmo, de criar geometrias era base de sua trajetória ao geométrico. Há nas pequenas esculturas dessa época posições de corpo quase impossíveis, que eram realizadas por suas modelos. A impossibilidade estava no fato de ele querer impor um dobrar-se às modelos, como se o corpo fosse matéria inorgânica. Na cronologia de suas esculturas, fica fácil perceber como ele vai tirando o orgânico, limpando o excesso, até chegar à forma geométrica. Escultura s/ título década de 40/50 e Cubo Vazado, 1952. Franz Weismann Fotos Wilton Montenegro O Cubo Vazado, uma das obras fundadoras do movimento concreto brasileiro, que concorreu com a Unidade Tri-Partida, de Max Bill, na Bienal de 1952, é um dos primeiros resultados dessa síntese; daí decorre outra decisão, a de fazer esculturas que ficassem quase sempre apoiadas em três pontas – a meu ver, o mais orgânico que o inorgânico pode ser. S/ título, década de 50 e s/ título, múltiplo, Franz Weismann. Fotos Wilton Montenegro A partir dessa observação, criei uma obra em vídeo que intitulei Franz Weissmann: Uma Hipótese, onde faço com meu corpo posições similares às das esculturas figurativas de Weissmann, criando uma seqüência de figuras geométricas, um ballet onde coreografo a trajetória do escultor. É um vídeo seco, sem cortes. A câmera está parada, posicionada num tripé. Eu mesma a ligo, entro em quadro, e vou fazendo as posições, passando de uma a outra, por cerca de 6 minutos, e então saio de quadro e desligo a câmera. Apesar da aparente distância conceitual e da diferença no pensamento da obra, foi com FW (como ele assinava) que “conversei” mais de perto, intimamente – dancei com ele. Ninguém viu esse artista como eu vi. Em verdade, o vídeo é feito com o espectro, com o vislumbrado, com a memória guardada naquelas obras, com o que havia de invisível no visível das esculturas de Weissmann, e, ainda, com o sentido de permanência, ou presença, dessas obras em sua trajetória artística: pouco antes de morrer, em 2005, separou uma delas para fundir em bronze. É perigosa a afirmação de que há um “jogo” da memória e do desejo no momento do acontecimento artístico. Afinal de contas, arte não é jogo, fazer arte não é jogar. Esse jogo, do qual falo, assemelha-se ao que acontece aos personagens de um conto, da literatura fantástica mexicana, escrito por Carlos Fuentes, que trata dessa questão da aura como espectro, como vislumbre, de uma maneira bastante clara e que vem ao encontro de que defino como aura neste texto. Em Aura – este é o título do conto - Fuentes lida diretamente com o fantasma, com o outro, cuja familiaridade e proximidade são as causadoras do estranhamento. Aura e Montero são os personagens principais, fantasmas, duplos do próprio passado, que Fuentes vai revelando aos poucos e, no final, descobre-se que Aura é o fantasma de Consuelo, uma velha de mais de cem anos que vê em Aura a esperança de reviver sua juventude. Mas, por mais que tente, só consegue mantê-la ao seu lado por alguns dias e ela vai embora, aparece e reaparece. Montero, que vai morar na casa de Consuelo, vai descobrindo ao longo da história que é o fantasma de Felipe, marido morto de Consuelo que contrata o rapaz - por isso, ele devia morar na casa dela - para escrever as memórias do falecido marido, a partir de escritos e fotos deixados por ele e guardados por Consuelo. À medida que Montero se apaixona por Aura, vão- se revelando os personagens – duplos de si mesmos. E Aura é aquela que só se pode vislumbrar; Consuelo durante todo tempo a perde e recupera, como o jogo do Fort-Da freudiano. Em certo momento do conto, Fuentes pergunta “Que espera Aura de você? O que ela deseja?”51 Vislumbrar a aura e questioná-la quanto ao que ela espera de você é o que faz o expectante. Trazendo esta idéia para a obra em questão nesta dissertação, O Anel, posso pensar que pertence à própria obra a idéia de um anel ordinário, comum que tem lado externo e lado interno e que, por isso, tem a alteridade presa nele mesmo: o anel é metafisicamente outro - esta é a definição de alteridade como invisível. O anel tem começo e fim, começa e termina nele mesmo, tem o corpo e sua marca (a sombra, o duplo, o espectro): ele como exergo (o arquivo do que não há) e a sombra do meio-dia como a marca no corpo. O infinito contido nele mesmo, no qual identifico o começo e o fim, onde encontro o finito do artista (só há finito do artista enquanto o artista não é expectante – o outro que gira coisas a mais no eu do que o eu pode conter). O infinito do trabalho está contido no finito da imagem circular. O finito do artista é o infinito do outro, do expectante, seja ele artista ou espectador, na medida em que o expectante traz para a fruição da obra suas referências, sua biografia, seu conhecimento – infinito de significantes que vão aderir outros significados, para além dos já contidos na obra. Para além. Retorno a M.D. Magno quando diz que Paralém é tudo que se pesca na beira do Cais Absoluto. É no lugar do Paralém que está o Belo – algo radical, espantoso, terrível, horroroso. A grandeza do Belo na obra de arte, é que ele é eterno, porque indiferente às peripécias que o fundaram como coisa, mas referente à sua morada no Paralém do Cais. É tentar pintar na tela do não-Haver. É tentar escrever na folha do não-Haver. 51 FUENTES, Carlos. Aura. Porto Alegre: L&PM, 1998. Estas são as assombrações que interessam, que se possibilitam pela voracidade vampiresca daqueles que estiveram lá.52 O Belo, para Magno, seria a redução, a decantação do não-Haver a um objeto, transformado em atrator de nossa fascinação. A morada do Belo é no Paralém, mas ele é produzido no seio do Haver. O psicanalista faz um gráfico vetorial que apresenta o Belo, como um movimento descendente do não-Haver para o Haver e o sublime, como um movimento ascendente. Ou seja, se o Belo é a redução, decantação, metáfora ou declinação do atrator absoluto, o sublime apresenta-se como o reviramento do Belo, que se encaminha para a dissolução, movimenta-se em direção ao atrator “verdadeiro”, mesmo sendo ele impossível de ser atingido53. Há uma dependência do Sublime (das Schrekliche54), em relação ao Belo, que se aproxima do pensamento de Rilke, citado na Primeira Elegia, e que diz: “Pois o Belo nada mais é senão / o começo do terrível”55. Nesse sentido, a apresentação do Belo na obra de arte contemporânea, seria por desvelamentos, fragmentos. Ou no sentido heideggeriano, segundo o qual, no momento em que a obra de arte é experimentada como aquilo que se mostra, segundo sua forma, com maior brilho, como assombrações, vislumbres, fragmentos. Essa argumentação garante ao objeto de arte contemporânea uma 52 MAGNO, M.D. Est’Ética da Psicanálise. Rio de Janeiro: Novamente, 2003, p. 149 53 ____________ Introdução à Transformática. Rio de Janeiro: Novamente, 2004, p. 43/44. 54 LACOUE-LABARTHE, P. A Imitação dos Modernos. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 271. Lacoue-Labarthe, em nota ao capítulo Verdade Sublime, chama a atenção para a tradução de das Schrekliche que pode ser tanto sublime, quanto terrível. 55 RILKE, Rainer Maria, As Elegias de Duíno. In: LACOUE-LABARTHE, Philippe., op. cit., pág. 240. Há, ainda, uma outra tradução de Dora Ferreira da Silva: “Pois que é o Belo senão o grau do Terrível que ainda suportamos e que admiramos porque, impassível, desdenha destruir-nos?” Ver em RILKE, R. M.. Elegias de Duíno. Trad. e comentários de Dora Ferreira da Silva. Porto Alegre: Globo, 1972, p. 03. característica quase “mística”, na medida em que a observação da obra de arte vai fazer vir à luz, aparecer o brilho do Belo, a cada aparição. É belo... como o encontro fortuito sobre uma mesa de dissecção de uma máquina de costura e de um guarda-chuva!56 Em O Anel, retomo o “mistério” da arte que a modernidade deixou de lado. A ortodoxia estética do ideal artístico modernista limitava a arte a uma crítica a ela própria, a arte que se aplicava à arte, o ideal da arte pura. A contemporaneidade, como defende Arthur Danto, vem com o fim da arte, com o fim dos limites, com a falta de uma unidade estilística, ao contrário da seqüência de estilos que marcou todo o período moderno. A arte contemporânea rompe com a limitação dos critérios, reduz a arte à vida, onde arte é tudo. E se arte é tudo, pode assumir qualquer aparência, não há estilo ou critério que a defina. As obras, nem sequer, pressupõem contemplação. Esta é a condição da arte contemporânea. Ela rompe com a história da arte, embora tenha consciência dela porque a história a determina; e posiciona-se como estando fora dela. A partir do contemporâneo, arte toma consciência de sua natureza filosófica, ou, como lembra Ronaldo Britto, a arte contemporânea está condenada à “dúvida sobre si mesma”57 e sua definição filosófica deve ser compatível com todo e qualquer tipo de regra de arte, pois arte pode ser qualquer coisa que se queira58. 56 LAUTRÉAMONT. Oeuvres Completes: Les Chants de Maldoror. Paris: Gallimard, 1970, p. 224/225. Esta é a tradução livre do texto original: “Il est beau... comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie!” 57 BRITTO, Ronaldo. O Moderno e o Contemporâneo (o novo e o outro novo) In: BASBAUM, Ricardo (org.). Arte Contemporânea Brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001, p. 213. Se fizéssemos uma analogia com a teoria hegeliana de que a História é como uma viagem de trem, então já teríamos passado da última estação, estaríamos depois do fim da História, para além do fim do passado, no entanto, num tempo/lugar ainda determinado por ela, num por vir que é a sua memória. Em Trópicos do Discurso, o historiador, Hayden White, lembra uma afirmação de Hegel que vem justificar essa a idéia: o Espírito é tragado na noite de sua própria autoconsciência; sua existência desvanecida, contudo é conservada ali; e sua existência descartada – o estado anterior, porém renascido do ventre do conhecimento – é o novo estado da existência, um novo mundo, uma reencarnação ou um novo modo do Espírito 59 . Nesse sentido, a arte contemporânea existe além da história, descarta a história, como quer Hegel, e, no entanto, ela existe a partir da história, é uma regeneração, ela é a partir da memória da história. Por isso, por ser pós-histórica, a arte contemporânea assume um instinto formador da arte: é da sua natureza e é a sua natureza. Esse movimento seria a visibilidade do giro, o que garantiria a harmonia entre o simples e o hermético. O objeto anel, por ser simples sem ser simplório, guarda o dado filosófico mas está sob a tutela artística. Com ele falo de desejo, de pulsão, de Tesão (como Magno se refere a pulsão), falo da posse daquele corpo, falo do meu passado de bailarina, da vergonha, do rubor ou da doença. Falo do Belo, pois é ele quem 58 DANTO, Arthur. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os Limites da História. São Paulo, Odysseus Editora, 2006 59 WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso. São Paulo: EDUSP, 1994, p. 62 fornece as coisas retiradas da beira do Cais Absoluto, como uma tradução/transcrição do impossível, do não-Haver. Em O Anel, alterno a questão da repetição – o moto contínuo sugerido pela primitiva figura do círculo, afinal todo círculo é uma linha reta curvada - com as de alteridade. Se o anel é ontologicamente outro e traz a mim mesma e ao outro gravado em cada uma das faces, “jogo” com obra o jogo da imagem dialética, o jogo da memória quando o visível é um espectro, está lá, mas tem que ser pescado. No final dos anos 60, o artista plástico Cildo Meireles, que trabalha com o jogo da memória, desenvolveu uma série intitulada Espaços Virtuais - Cantos, na qual discute questões de matemática e geometria do espaço. No entanto, subjacente a elas, debaixo da pele do mundo, reside o fato detonador do trabalho: quando criança, uma empregada, que residia em sua casa, dizia que morava gente nos cantos das paredes e que, se observasse durante bastante tempo e atentamente, era possível ver alguém entrando ou saindo dali. Um dia, deitado na rede, ele viu. Uma das fotos de um dos Cantos mostra o artista entrando no canto da parede. Embora a questão mais evidente no trabalho não seja a da memória, fica claro que ela reside lá, como um espectro e explica como se “joga” um jogo da memória com uma imagem que não está lá. Cildo Meireles entrando em um Canto. Foto Pedro Oswaldo Cruz Em entrevista, feita em seu atelier, Cildo Meireles fala sobre a questão da memória e seus arquivos em seu trabalho. Elisa de Magalhães: Nos seus trabalhos, vejo que há a questão principal, sobre a qual trata o trabalho, mas percebo também que há uma outra questão sob a principal, como se houvesse um mundo sob a pele do mundo. Como no trabalho da Documenta XI (em Kassel, na Alemanha), Elemento Desaparecendo/Elemento Desaparecido (2002), no qual havia a questão principal, que era a discussão sobre a escassez de água no mundo etc., mas havia também uma história que aconteceu na rodoviária de Brasília, quando você viu um menino que vendia três tipos de picolés por três preços diferentes: o mais caro era picolé com leite e fruta, o de preço intermediário era picolé com água e fruta e o mais barato era o picolé de água. Ou ainda nos Espaços Virtuais: Cantos (1967-68), quando sob a questão da geometria euclidiana da qual fala o trabalho, há uma experiência infantil sua. São lembranças, elementos que acabam sendo deflagradores do trabalho. Elemento Desaparecendo/Elemento Desaparecido, Cildo Meireles, 2003. Foto Wilton Montenegro Cildo Meireles: Costumo classificar isso como biografia do trabalho para evitar falar dessa questão como uma lei geral de formação. Isso acontece em alguns trabalhos, não dá para traçar uma constante. Se se fizer uma análise profunda, uma clivagem de toda produção, pode-se encontrar elementos biográficos, mas não como regra geral. Você citou dois que têm. Elemento Desaparecendo/Elemento Desaparecido, que, a par de ser mais um exemplo de Inserções em Circuitos Antropológicos, é também um trabalho calcado como Camelô (1998), KukkaKakka (1994-99), uma série de outros... O próprio Através (1983-89) que, a partir do papel amassado jogado no cesto, começa a gerar todo um campo de especulação. São vários que têm episódios que seriam deflagradores e que, eventualmente estariam inseridos numa biografia maior do indivíduo ...60 Camelô Kukka-Kakka Através Cildo Meireles. Foto Wilton Montenegro Assim como a série de Cantos, outro trabalho de Cildo, da década de 70, Eureka Blindhotland, parte da observação da visão infantil ou onírica de que a relação da pessoa com a coisa nunca é em escala real: ou ambos são menores, ou ambos são maiores, ou ainda a pessoa vê o objeto maior que ele, ou vê a si maior do que é, como Alice que, atrás do espelho, é capaz de não caber no cenário que lhe cabe. A questão da escala visual pode assumir uma dimensão de sonho, o que, de fato, acontece no trabalho, que tem muitas bolas iguais, mas com pesos diferentes e uma balança, parte de um jogo onde o espaço expositivo é como uma arena. A questão principal deste trabalho é a escala que o real toma para além de sua escala verdadeira. O tamanho do 60 Entrevista feita com Cildo Meireles em 22/12/2006, em seu atelier, no Rio de Janeiro. objeto depende de quem vê, depende de idade, história, bagagem, desejo etc. A memória como vínculo do desejo. C: O Eureka Blindhotland (1970-75) começou com a cruz de madeira, que vem do esquema de desenho e que é uma fórmula matemática desse esquema (A fórmula matemática como um desenho de esquema foi mostrada na exposição de desenhos que o artista realizou no Centro Cultural Banco do Brasil/RJ, em 2005 ... Também pensei fazer esse trabalho, fazendo uma inserção de uma peça de metal numa árvore jovem; esperar uns 20/30 anos e fazer um corte; o metal já estaria lá dentro, mas sem solução de continuidade. O Eureka, especificamente, é muito objetivo, a maquete de papel tem toda a explicação ... Eureka (desenho), Cildo Meireles, 1970-75. Foto Wilton Montenegro O Volátil (1980-94), por exemplo, tem uma explicação muito mais naturalista do que ele acaba sendo. Este é um trabalho de que eu gosto particularmente, por vários motivos; a produção dele foi em 94, mas a anotação, eu não lembro a data certa, mas foi na década de 80. Esse trabalho começou pelo gás e pela vela. O começo dele era assim: um ambiente com gás e uma vela de verdade acesa. Mas eu queria o gás mesmo, um ambiente impregnado por gás natural e pelo T-butil mercaptan, que é o que eu uso (essa substância é o que dá cheiro ao gás natural, que é inodoro) ... e, numa campânula hermeticamente fechada, alimentada por oxigênio, uma vela acesa ... essa era a luz que tinha na peça, mas se você quebrasse, ou chutasse, ou alguém acendesse um fósforo, explodiria. Aí optei por uma versão, digamos assim, mais artística, ou menos perigosa, porque minha questão era essa: se você está numa situação de medo, seus sentidos ficam muito mais ativados, então, o medo, na verdade, era uma espécie de matéria prima mesmo. Nesse trabalho havia aquilo, que você estava potencialmente enfrentando e a consequência daquilo que era o chão. Mas o chão, que originalmente seria com cinzas e não com talco, vem de uma memória de infância também. Costumava ir a Anápolis, uma cidade, em Goiás, na época da seca, em agosto/setembro, mais ou menos onde trafegavam pelas ruas muitas carroças, tanto de boi, como de cavalo. As ruas não eram asfaltadas e as rodas dos veículos funcionavam como moinhos sobre o chão de terra. E como não chovia, a poeira ficava em suspensão, na verdade. E à meninada na rua, querendo jogar bola, as mães diziam “Não pode jogar bola!”, porque elas já tinham espanado a casa, porque aquilo era poeira, grão flutuando, hiper-moído, pairando. Era legal porque se andava numa nuvem de poeira constante, jogava-se futebol dentro dessa nuvem. Claro que, apesar dos protestos, a gente continuava jogando, e, quando as mães vinham, a gente parava, e, simplesmente enterrava a bola no chão e ela desaparecia sob a poeira; pedíamos desculpas etc. ... Aí pensei que poderia incorporar essa sensação, que era maravilhosa, de andar descalço ali, mas inserida dentro de uma outra ordem simbólica da estrutura discursiva da peça. A primeira experiência de montagem dessa peça foi catastrófica, porque quis usar cinza mesmo. Pensei em juntar cinzas de churrascarias e pizzarias. Para isso, fornecemos tambores aos restaurantes para que se juntasse as cinzas. Mas, além de render muito pouco por vez, a gente teria que ficar muito tempo juntando cinzas, era uma coisa horrorosa, malcheirosa, churrasco velho ... (Cildo, então, decidiu-se por usar talco, ao invés de cinza, no Volátil) C: O Volátil, ele é perigoso, na verdade, numa exposição de longo termo, se você ficar mais de 10 minutos, por causa da poeira do talco. Em San Francisco (Califórnia), quando montei pela primeira vez o trabalho, no Capp Street Project em 1994, tive um problema. Um cara entrou na instalação e não saía, não saía, ... então, o guarda entrou para ver o que estava acontecendo e o cara tinha tirado a roupa, estava pelado, rolando pelo talco, eufórico. Foi um custo para tirar o cara de lá. Aí pode ser perigoso, ficar inalando a poeira do talco ...61 Volátil, montagem em Cape Street, San Francisco, 1994.Foto Ben Blackwell Em Para ser curvada com os olhos, mais do que sugerir um jogo, Cildo propõe, já no título do trabalho, uma situação aparentemente impossível. Numa caixa de madeira dispõe duas barras de ferro do mesmo tamanho, uma sobre a outra, a de cima ligeiramente curvada e a de baixo reta. Propõe que esta seja curvada pelo espectador 61 Entrevista feita com Cildo Meireles em 22/12/2006, em seu atelier, no Rio de Janeiro. só com o olhar. Além da questão da ilusão causada pela escala visual, este trabalho traz também uma proposta ilusionista, mágica. Cildo comentava com Para ser curvada.... o poder da mente, a paranormalidade, transmissão de pensamento, muito estudada e discutida na época da guerra fria. Se se é capaz de dobrar com os olhos a barra de ferro até que ela encoste uma ponta na outra, o que se tem é a forma de círculo, que é o desenho mais primitivo feito pelo homem. E: E o Para ser Curvada com os Olhos (1970)? C: É um trabalho sobre a visão, sobre a natureza da visão, sobre a física da visão, porque a experiência com o trabalho ocorre ao nível do olho, mesmo. É claro, num nível conceitual, intelectual, mas do olho, a coisa toda acontece no olho. A obra é a placa, onde você lê: Para ser Curvada com os Olhos, e as duas barras, uma curva e outra reta. Você não tem muito espaço, então o trabalho é isso. Fiz esse trabalho para mostrar em todas as exposições, até o final da vida, até que alguém consiga curvar a barra. É uma espécie de exercício de fé no olhar.62 Para Ser Curvada com os Olhos, Cildo Meireles. Foto Wilton Montenegro 62 Idem. O objeto anel também está presente na obra de Cildo Meireles. São 3 anéis diferentes, realizados entre 1970 e 1996, todos da série Condensados. Condensado 1 e 2 foram realizados na mesma época e o 3, posteriormente. Condensado 1 chama-se Deserto. É uma pirâmide de base quadrada, de aproximadamente 2 cm de aresta, feito em ouro amarelo, em cujo cume há um único grão de areia e que é visto através de uma safira transparente, incrustada no topo. Um grão de areia e uma forma de pirâmide são suficientes para evocar o deserto e, segundo o pensamento do próprio artista, “um grão de areia é o radical (a raiz) do deserto.” Condensado 2 é a versão miniaturizada da série Mutações Geográficas: Fronteira Rio São Paulo. Mutações... nomeia, ao mesmo tempo, a ação e seu registro. A ação foi realizada em novembro de 1969, no limite dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e consistiu na escavação de um buraco em cada lado da fronteira e na troca de material entre os dois buracos. Numa caixa de couro preta, o artista recria a situação topográfica do local onde realizou a ação e ali guarda parte da terra extraída. Na raiz deste trabalho, estava o desejo de realizar transformações no aspecto físico do país. A miniatura do trabalho – Condensado 2 - é um anel hexagonal, feito em ouro branco e pedras brasileiras e reproduz o conteúdo da caixa de couro mencionada acima. Mutações Geográficas: Fronteira Rio-São Paulo. Condensado 2, Cildo Meireles Foto Wilton Montenegro Foto Pedro Oswaldo Cruz Condensado 3 – Bombanel - é um pequeno barril de ouro branco, que tem, em seu interior, pólvora, e cuja tampa é uma lente de vidro. É um anel que realmente pode explodir se o sol bater direto na lente que fecha o pequeno barril. Além das questões formais e políticas discutidas no Condensado 1 e 2, há ainda no 3º anel a questão do perigo iminente, tema recorrente em diversos trabalhos de Cildo. Estes são temas que não são discutidos em O Anel. No entanto, há uma aproximação entre os trabalhos. Eles são miniaturas de um trabalho grande, portanto Condensado 1 e Condensado 3: Bombanel, Cildo Meireles. Fotos : Vicente de Mello são como fragmentos do maior, pequenas jóias que guardam a memória de uma ação. Espectros do que não há mais. A sua forma (pirâmide, hexágono ou cilindro) é como uma marca dos trabalhos grandes. E essas marcas ou os exergos dos trabalhos são colocados, vestidos no corpo de quem os tem. O que resta da ação pode marcar o corpo de quem possui cada um dos anéis. Além disso, a circularidade intrínseca ao objeto traz de volta, o tempo todo a memória do que não há mais, mas que vai haver naquele pequeno objeto para sempre. C: Os anéis, fiz num ano muito prolixo, tinha 22 anos, era 1970, estava fazendo coisas em diferentes direções. Nessa época, estava começando o Eureka, tinha feito as Inserções em circuitos ideológicos nos jornais, que não funcionou na verdade, toda essa parte do Blindhotland, também Para ser curvada com os olhos (1970), Espelho Cego (1970), que, de certa maneira antecede Blindhotland e comecei a anotar diversos projetos, inclusive projetos sonoros. Em 68/69, desenvolvi uma série de trabalhos que acabei designando genericamente, de Arte Física. Que foi a passagem justamente dos desenhos – as séries Espaços Virtuais (1967-68), Volumes Virtuais (1968-69), Ocupações (1968-69) e, aí, Arte Física (1969). De arte física eu desenvolvi três projetos, voltados para a topologia e que chamei de Mutações Geográficas, o Caixas de Brasília (1969), no qual eu utilizava cordas e, ainda utilizando cordas, o fio estendido e recolhido (Arte Física: cordões/30 km de linha estendidos, 1969). Tinha cerca de meia dúzia de anotações de Mutações Geográficas; fiz a que era exeqüível para mim, na época, porque ainda tinha atelier em Parati, estava me mudando para o Rio, a estrada era por Guaratinguetá, descia por Cunha, pela montanha e várias vezes passei pelo marco da fronteira entre Rio e SP. A execução dos projetos estava condicionada à facilidade, não tinha dinheiro mesmo, tinha que fazer o que era possível naquele momento. Quis fazer uns outros, tinha os pontos extremos, o Pico de Papagaio e o Horizonte Vertical, que era o ponto mais alto do Brasil, e esse eu tinha até começado a fazer a produção, precisaria de helicóptero, de autorização do exército, mas não deu certo. Qualquer hora eu faço... Os anéis, os Condensados (1970) nasceram, como o próprio nome diz, de uma vontade de condensar aquilo espacialmente. Por acaso os Condensados vieram de um trabalho que existia desde 69, que era o Cruzeiro do Sul (1969-70), onde essa operação de tender a um limite infinitamente pequeno, esse movimento de compactar, já ocorria. Porque, na época, eu gostava de um princípio da física que dizia, quanto mais você comprimir, mais energia você vai liberar. Qualquer coisa que você comprime, você explode. A teoria de Einstein é isso, E=MC² é isso. Então, você tinha o perigo como potencializador de atenção, a compactação como possibilidade de explosão. Isso eram os anéis: um, era a redução de um trabalho de Arte Física, que era o Mutações geográficas: Fronteira Rio-São Paulo (1969), o outro, era uma espécie de equação baseada em ‘um grão de areia é o radical do deserto’, porque é isso mesmo, é o grão de areia sobre a pirâmide, que, por razões óbvias, é uma alusão ao deserto. Bem, há outros projetos de Condensados, sobretudo na forma de anéis, porque o anel te possibilita a coexistência do espectador e do sujeito, com o objeto. Teoricamente, cada um dois dois pode ver os dois. Um brinco já elimina um, porque alguém pode ver um brinco em você, mas você só pode ver o brinco em você através do espelho. O anel é, sobretudo, algo que você ex-põe, tem esse movimento para fora do sujeito que é legal. O Bombanel(1970-96) foi mais um dos projetos de anel que desenvolvi, entre várias anotações de projeto de anel que tinha. E: Mas por que no Bombanel há o perigo iminente, assim como no Volátil? Ele pode explodir a qualquer momento? C: Na verdade, ele é feito para que isso ocorra, mesmo, porque o foco está na superfície da pólvora, a distância focal coincide com a superfície da pólvora. Ele pode explodir relativamente fácil. Quis fazer o Bombanel em forma de barrilzinho, mesmo, e tinha menos a ver com a OPEP (quando os países árabes se fecharam em cartel, em torno do preço do petróleo), e mais a ver com a expressão popular ‘um barril de pólvora’. Se se tem a possibilidade de usar o título como uma referência formal da peça, eu sempre tendo a usar. E: Acho curioso, é como se você compactasse o perigo, o Volátil é o perigo em grande escala ... C: O Cruzeiro do Sul entra nessa leitura, também, mas seguramente ele é mais conceitual do que o Bombanel, ele está mais próximo de O Sermão da Montanha (1973-79). Fiat Lux, Cildo Meireles. Foto Luiz Alphonsus (Aqui, cabe observar que O Sermão da Montanha aproxima-se do Bombanel e do Volátil, também pela via do perigo iminente.) E: É interessante que os outros anéis são condensação de um trabalho maior, do Mutações ... C: Só um deles, o outro tem autonomia, mas posso relacioná-lo com outras coisas, como o Estudo para Espaço, Estudo para Tempo, a questão da areia do deserto ou da praia, porque areia existe tanto em um como em outro. Na verdade, areia é uma coisa do fundo do mar, é a água operando, ao longo do tempo, ausente, então, a areia é uma espécie de ausência da água.63 Em todos os trabalhos de Cildo que citei e que foram citados por ele, há “jogos” de memória e desejo, que são o que cria vínculo e provoca o giro. Os anéis de Cildo, pelo fato de não serem outra coisa, senão anéis, a única jóia que pode ser vista integralmente por quem a usa, estabelecem uma relação que resulta em três: vejo você, o que de você vem e o que completa um sentido nisso tudo. Da mesma forma, O Anel é capaz de fazer girar, porque estabeleço com ele vínculos de memória e desejo. Entendo desejo como vínculo em O Anel, quando re-conheço que “jogo” o jogo do desejo nele, da seguinte forma: o corpo visível é um corpo que não há, inalcançável por seu gigantismo (versão maior) ou sua pequenez (versão pequena); o corpo que não há desperta a memória para um corpo possível que se pode vislumbrar a partir daquela imagem visível, daquele que não há e que estava na memória de cada espectador. Essa idéia vincular do desejo percebi, pela primeira vez, num trabalho ao qual dei o título de Exposição e que fiz em duas versões: a primeira em 2003, onde montei um estúdio fotográfico num caminhão de transporte de obras de arte que ficava estacionado na rua; a segunda em 2005, num estúdio montado numa sala de aula de uma Escola de Arte. Nas duas vezes, convidava o público, presente à abertura da exposição, a fazer uma foto nu, a partir de uma imagem qualquer da história da arte – havia no estúdio livros de arte que podiam ser consultados pelos candidatos a modelo. 63 Entrevista feita com Cildo Meireles em 22/12/2006, em seu atelier, no Rio de Janeiro. Exposição: Caso 1, 2003 Na primeira versão, usei uma máquina instantânea, modificada para o processo pinhole, que revelava a foto na hora, a qual era exposta numa parede do ambiente da mostra coletiva de que eu participava. Na segunda, usei uma máquina digital e as fotografias que fazia eram projetadas num telão, no corredor da escola, lugar de grande visibilidade, em escala 1:1, quase em tempo real. Em ambas as versões de Exposição, fiz o mesmo número de fotos, não fazendo diferença a máquina utilizada ou a resolução da imagem. O que se mostrava era apenas imagem, não o corpo. E era a imagem que despertava o desejo do público espectador que se aglomerava na frente do telão para ver a sucessão de fotos, ao mesmo tempo em que outros se aglomeravam na porta do estúdio improvisado, esperando sua vez de entrar. Exposição: Caso 2, 2005 O que se buscava, tanto num caso como no outro, não era o corpo que estava ali como imagem, mas aquele que cada um podia ver. E cada um via um corpo diferente, para cada imagem que se sucedia. Cada um via além do seu corpo possível. A memória joga o jogo do desejo, trabalha com a autobiografia e o desejo é o vínculo da memória. Por isso, memória é vínculo e isso se evidencia quando jogo com O Anel o jogo da memória, da seguinte forma: o corpo que está ali é um corpo que já não há, que já foi o corpo ideal no passado e hoje é o meu corpo possível. Vejo o que já não há mais. Mas a experiência primeira de viver um corpo guardado na memória aconteceu em Pulsos, trabalho que desenvolvi na mesma época da segunda versão de Exposição. Pulsos partia da proposta de um trabalho a quatro mãos, quando a bailarina Francini Barros, amiga da mesma turma de mestrado, pediu que registrasse em vídeo o que ela chamava de impulsos, movimentos estimulados pela leitura de O Paraíso Perdido, de Milton. Pelo fato de ter sido bailarina - parei de dançar por causa de um acidente que destruiu meu joelho esquerdo - meu primeiro movimento foi o de registrar os impulsos de Francini com a câmera presa em meu próprio corpo, que se movimentava também. Essa experiência não teve resultado plástico algum, pois o que vivia era uma tentativa de dançar novamente. No entanto, foi uma experiência importante para me fazer ver o personagem criado por mim, pela memória, traída pela lembrança do que já fui um dia, pelo desejo de ser um corpo que não sou mais e afastar-me dele - fiz a apropriação do corpo da bailarina (que já fui) e que não sou eu, como meu. Naquele momento, sou os olhos dela, que não vê e o que vejo jamais será o que ela vê. Identifico, nos instantes, meu passado de bailarina interrompido, com uma percepção e apreensões diferentes daqueles quase-movimentos. A memória da bailarina, que é um lapso, um momento de vislumbre, passa como um espectro e ativa o ato criador. Neste momento, a artista separa-se dela – da bailarina da memória e da bailarina Francini - definitivamente e passa a trabalhar a partir daquele corpo que se movimenta, sem completar nenhum movimento. O que aquele corpo faz são protomovimentos, impulsos, sem qualidade de dança. A observação atenta me fez optar por uma câmera fechada, simultaneamente invasiva e intimista, escolhendo, no corpo da modelo/bailarina, o lugar de onde nasciam e para onde iam os impulsos: pés, joelhos, barriga, ombro e cabeça. Pulsos, fotos: Ana Torres Eterna Evidência, René Magritte 1930 Os impulsos circulares saíam e retornavam ao corpo sem se expandirem, sem qualidades de movimento de dança. Eram curtos e a câmera próxima mostrava isso com mais clareza. Foi por essa razão que pude fragmentar aquele corpo em cinco pedaços. Eu não o via inteiro, mas eram as origens dos impulsos que chamavam meu olhar. Era como se fosse um corpo sem corpo, que não podia habitar seu próprio meio. Aqueles movimentos tinham qualidade de morte. (...) Magalhães concebe a imagem como um nível específico de realidade, nível sem espessura da experiência puramente visual. Como Alice ela atravessa o espelho que separa e integra representação e vida, espaço e tempo. 64 64 COCCHIARALE, Fernando. Persona Vitrea/Elisa de Magalhães. Rio de Janeiro: Espaço Cultural Sérgio Porto, 2002 Nesta frase de Fernando Cocchiarale, que faz parte de um texto sobre uma instalação minha, exposta em 2000, intitulada Persona Vitrea, já estão anunciadas as questões que vão perpassar meu trabalho plástico com maior freqüência e aparecer com mais clareza, e juntas, em O Anel. Bem anterior a Pulsos, Exposição ou O Anel, ela cruza dois personagens da história da literatura mundial, distantes historicamente um do outro, com minha biografia. Alice de Através do Espelho, de Lewis Carroll e Roberto, o navegador de A Ilha do Dia Anterior de Umberto Eco, ambos têm, a meu ver, trajetórias parecidas, em busca da sua verdade e que aproximo de minha própria biografia. Persona Vitrea já anuncia as questões de que trato nessa dissertação. Mas foi a experiência do fazer esta obra que acabou despertando minha atenção para elas. Originalmente concebida para ser uma obra resultante do encontro dos livros Através do Espelho e A Ilha do Dia Anterior, já durante o processo de pensamento da instalação e durante o fazer, outras referências foram infiltrando-se na obra que resultou num conjunto de quatro movimentos (como um ballet ou uma sinfonia) que se interrelacionam, de modo que as referências cruzadas começaram a adquirir vida própria, transformando o trabalho. À medida que Alice e Roberto iam definindo sua trajetória como única, a minha própria trajetória ia confundindo-se com a deles, de modo que o trabalho passava a contar, também, a minha história. Nesse sentido, outras referências que faziam parte da minha formação foram interpondo-se, invadindo a obra, impondo sua presença e, como uma composição musical, a obra tornou-se um conjunto de quatro movimentos, que se transformaram em quatro pequenas instalações. A instalação ocupava toda a sala de exposição, simulando com lâminas de vidro dispostas no chão, ora foscas, ora brilhantes, um tabuleiro de xadrez que só tinha a borda, como numa piscina, de modo que os visitantes pudessem andar pela instalação. Persona Vitrea, instalação, 2002. Fotos Wilton Montenegro Os movimentos ficaram, então, dessa forma: Ao primeiro conjunto dou o título de Primeiro Movimento (Abertura): O Enigma de Alice. Duas fotos do meu rosto, ampliadas num mesmo papel, uma olhando para a outra, instalada em curva num canto de parede. Um relógio para jogo de xadrez, da marca Botticelli fica sob a foto, sobre uma prateleira, marcando o tempo desse jogo de mim comigo mesma. Uma referência à foto em que Duchamp joga xadrez com Eve Babitz, nua, numa galeria no Pasadena Museum, em frente ao Grande Vidro. O desafio, o enfrentamento pressuposto no jogo de xadrez inicia a partida que Persona Vitrea propõe. O Enigma de Alice, 2002. Foto Wilton Montenegro O Segundo Movimento: O Pulo do Gato - A Casa da Rainha Branca é onde começa o jogo da pequena Alice, em Através do Espelho e onde misturo a personagem Alice com minha biografia. O piso de madeira, coberto com emborrachado, simula um palco, lugar que fez parte de minha vida até o final da adolescência. A tampa de um alçapão fica erguida, e mostra uma foto de minhas pernas em quinta posição do ballet, nas sapatilhas de ponta. A foto fica em frente a um espelho envelhecido pelo processo de veladura da pintura, preso na parede, como numa sala de ensaio. Esse fragmento de Persona Vitrea mostrei isoladamente, como um trabalho, em exposição na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, durante um Festival de Dança. Persona Vitrea – O Pulo do Gato, montagem 2003. Foto Wilton Montenegro O Terceiro Movimento: O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam - O Movimento do Cavalo: duas fotos expostas no chão, no centro exato da sala, que simulam o movimento do cavalo no jogo de xadrez. O conto labiríntico de Borges dá o título a este movimento. Este é o lugar onde os dois lados do tabuleiro se encontram e travam um desafio mais intenso. O movimento dos cavalos no jogo de xadrez pressupõe a exclusão do outro, num violento face-a-face, que só tem um vencedor. As fotos dispostas no chão, cada uma da cor de um lado do tabuleiro, reproduzem essa rivalidade e, como são do meu próprio corpo, repetem a luta do eu com meu outro, já revelada (ou antevista) no primeiro movimento. O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, 2002. Para o último movimento, fui buscar subsídio em outras referências que fizeram parte da minha formação. Quarto Movimento: Lilith, uma temporada no inferno - A Casa da Rainha Vermelha é o último movimento e o destino de Alice, que entrou no jogo para tornar-se Rainha Vermelha. “(...) Não me importaria ser um peão, contanto que pudesse participar ... se bem, é claro, preferiria ser uma Rainha.” Ao dizer isso, olhou de rabo de olho, um tanto acanhada para a verdadeira Rainha, mas sua companheira apenas sorriu amavelmente e observou: “É fácil arranjar isso. Você pode ser o peão da Rainha Branca, se quiser, pois Lily é muito novinha para jogar; você está na Segunda Casa; quando chegar à Oitava Casa, será uma Rainha ...”65 A opção de Alice deixa seu destino em aberto, incerto, assim como Lilith, a primeira mulher de Adão, que prefere descer ao Inferno a submeter-se ao homem, assim como Rimbaud, quando escreve Uma Estadia no Inferno, obra autobiográfica do autor. A passarela em tapete vermelho, iniciando em plataforma de madeira, conduz à foto do meu corpo, todo iluminado de vermelho, de costas, como se estivesse indo embora, partindo como fizeram Lilith, Alice e Roberto. 65 CARROLL, Lewis. Alice: edição comentada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2002, p. 156 Lilith: Uma Temporada no Inferno – A Casa da Rainha Vermelha No processo de execução e montagem, as transformações às quais me referi, ficaram mais claras e estas quatro pequenas instalações impuseram-se como obras independentes, pois encerravam, cada uma, em si, seu próprio pensamento, mas a estrutura original da obra permanecia como um conjunto organizado, de modo que Persona Vitrea encerrava vários tempos e espaços no mesmo trabalho. E cada um dos movimentos, era acompanhado de referências outras, tiradas dos livros nos quais me baseei para a instalação. Como meta-finale, criei um grande prisma de espelhos - que ficava num dos cantos da sala, através do qual se podia ver toda a instalação, como num caleidoscópio - pensando no instrumento citado por Eco, no livro A Ilha do Dia Anterior, chamado de Specula Militensis. Em outro canto, havia outro jogo de espelhos que fazia com que as pessoas desaparecessem dentro deles, à medida que se aproximavam. Há, ainda, como síntese, um conjunto de cinco pequenos caleidoscópios contendo as reproduções das fotos que faziam parte da instalação que o jogo de espelhos contido no prisma partia em pedaços. Persona Vitrea descreve uma trajetória de vida, na qual a história da vida alimenta sempre o por vir, como uma metáfora ao enredo de A Ilha do Dia Anterior, em que o personagem do padre Caspar Wanderdrossel quer descobrir o lugar onde se dá o ponto zero da longitude, o único lugar possível, o lugar onde o dia muda, onde Deus, para produzir o dilúvio, teria tirado a água do dia anterior para jogar no dia seguinte. Nesse entrelaçamento de arte, vida, formação, conhecimento, tempos e espaços, que desaguou em Persona Vítrea, há um diálogo improvável, narrado por Dom Isidro Parodi, entre o padre Caspar Wanderdrossel e o reverendo Charles Lutwidge Dodgson66: - Deus pegava, pois, desse abysmo a água de ontem (que tu vês lá) e a despejava sobre o mundo de hoje, e o dia seguinte e assim por diante!.67 - Você tem de correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar. 68 Assim, essa capacidade de se alimentar da própria história, essa capacidade de olhar para o outro e percebê-lo como duplo, assim como olhamos para nós mesmos, é uma característica do homem adulto, um animal catóptrico, como defende Umberto Eco, no ensaio Sobre os Espelhos : 66 Don Isidro Parodi é um personagem criado por H. Bustos Domecq, heterônimo dos escritores argentinos Adolfo Bioy Casares e Jorge Luis Borges; Charles Lutwidge Dodgson é o nome verdadeiro de Lewis Carroll e Caspar Wanderdrossel é personagem de Umberto Eco em A Ilha do Dia Anterior. 67 ECO, Umberto. A Ilha do Dia Anterior. Rio de Janeiro: Record, 1995, p. 261 68 CARROLL, Lewis. Alice: edição comentada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002, p. 157 (...). Nós, quando adultos, somos exatamente como somos, exatamente porque somos (também) animais catóptricos: que elaboraram a dupla atitude de olhar para si mesmos (o quanto possível) e para os outros, tanto na realidade perceptiva quanto na virtualidade catóptrica.69 Encontro também o princípio da catoptria em Magno. Mas para o psicanalista, esse é um princípio que rege todos os movimentos da nossa espécie, adultos ou crianças, que diz que “para o que quer que se coloque, o polo oposto também é pensável e mesmo exeqüível”, ou ainda, “para o que quer que se coloque, se propusesse, também, o seu avesso”70. Essa idéia de espelhamento do Real - e do Haver - me levou à execução de um trabalho, intitulado Mataborrão, que começou a ser pensado a partir do texto Sobre os espelhos, de Umberto Eco. Esse trabalho consiste em uma foto do corpo, na posição que, na hatha yoga, é denominada mataborrão. A foto está no plano vertical e é colocada perpendicularmente sobre um espelho do tamanho de um papel-carta, que reflete a fotografia. O trabalho pode ser observado de qualquer lado, pois foram feitas duas ampliações do mesmo tamanho, 21,5 x 14cm, a partir do mesmo negativo, uma com o negativo na posição certa e outra com ele invertido, produzindo uma falsa tridimensionalidade, de tal modo que a questão especular surge já na produção da ampliação fotográfica. 69 70 ____________. Sobre os Espelhos e outros ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 16 MAGNO, MD. A Psicanálise NOVAmente: Um Pensamento para o Século II da Era Freudiana. Rio de Janeiro: Novamente, 2004, p. 30-31. Magno explica, nesse livro, que o princípio da catoptria é regido pelo principal fundamento da psicanálise, que é a Pulsão, ou o Tesão, como ele nomeia Pulsão. O que move o Sujeito, que vive no Haver é o desejo do não Haver. A mente humana é regida por essa polaridade opositiva, como se houvesse um espelho no meio. Mataborrão, 2005. Foto Wilton Montenegro Mataborrão é uma imagem contrária à do anel, faz uma espécie de ouroboro invertido. O círculo aqui é apenas sugerido – é impossível fechar o corpo em anel, na posição escolhida – e a imagem espelhada revela sua infinita impossibilidade, assim como a foto e seu reflexo no espelho formam a imagem do infinito matemático. Mas há uma diferença ainda maior entre os dois trabalhos. Embora as imagens, em ambos, sejam circulares, o corpo em O Anel, é fotografado de frente e de costas, e em Mataborrão, a fotografia é feita a partir do perfil do corpo. Em Mataborrão preciso do espelho para revelar a infinitude, enquanto em O Anel, a idéia de infinito fica contida no corpo dobrado e fechado em si mesmo. Em Sobre os Espelhos Eco afirma que a teoria dos espelhos é a divergência entre percepção e juízo e que a experiência especular está na ontogênese do indivíduo. Ele diz, ainda, que o espelho, desse modo, é um fenômeno limiar que demarca as fronteiras entre o imaginário e o simbólico. De forma que é a capacidade do indivíduo de equilibrar a balança entre percepção e juízo, que vai mostrar seu grau de maturidade.71 Mataborrão começa nessa fronteira, discutindo essa virada, quando o corpo fotografado é ampliado especularmente (simulando dois lados, deixando margem a se imaginar o lado de dentro) e esse conjunto colocado sobre um espelho. Onde está a fronteira aí? Como marcar uma virada nesta situação, quando o corpo está virado sobre si e inversamente ao seu contrário? Segundo Lacan, a experiência do especular surge do imaginário e o estado de júbilo especular corresponde à matriz simbólica do eu72. Eco conclui daí que a imagem é o que deve restituir-lhe a função particular do sujeito no universal, marcando a virada do eu especular para o eu social – o espelho como encruzilhada estrutural. Diante do espelho não se deveria falar de inversão, mas de absoluta congruência; a mesma que se verifica quando pressiono um mataborrão sobre uma folha em que acabei de escrever a tinta. Que depois eu não consiga ler o que ficou impresso no mataborrão (a não ser usando um espelho, isto é, recorrendo à congruência de uma congruência, como acontece com os espelhos laterais contrapostos no banheiro), tudo isso tem a ver com meus hábitos de leitura, não com a relação de congruência. Sinal de que a espécie humana teve milhares de anos a mais para aprender a ler os espelhos do que para aprender (à exceção de Leonardo) a ler mataborrões. Os quais, repito, mostram escritos ao contrário se os confrontarmos com as regras gramatológicas, mas, se os considerarmos impressões in atto, registram os sinais da tinta exatamente onde se apóiam sobre sua superfície.73 Lendo este trecho do texto de Umberto Eco, pensei na personagem Alice, de Lewis Carroll, como um observador dentro do espelho, capaz de ler os sinais registrados num papel pelo mataborrão; porque o espelho não traduz; diz a verdade. A 71 72 73 ECO, Umberto. Sobre os espelhos e outros ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 20 et seq. LACAN, apud ECO, Umberto. op. cit. p. 12-13 ECO, Umberto. Ibid. p. 16 imagem especular só existe a partir de um referente e os espelhos funcionam como canais que permitem a passagem de informação. A imagem do espelho não dá margem à interpretação. Diferentemente, a imagem fotográfica demanda interpretação, pois “o referente objetivo é conjeturado, mas corre o risco de desfazer-se a cada momento em puro conteúdo”. Juntar a imagem fotográfica e a imagem especular no mesmo trabalho cria uma armadilha visual para o expectante. Onde a fotografia torna-se semelhante à imagem especular? Na presença do referente. No caso do espelho, de um objeto impressor presente, e no caso da fotografia, passado. Mas o que é ocorrência não interpretável na imagem especular, torna-se, na chapa fotográfica, a tradução dos raios luminosos em outra matéria; logo o que percebemos são relações de intensidade e pigmentação. O que é percepção na imagem especular, torna-se juízo, na imagem fotográfica. Mataborrão joga com essa diferença. O expectante tem acesso visual, tanto à imagem refletida no espelho, quanto ao seu referente; tanto ao segredo (a imagem invertida funciona como criptografia), quanto ao código/ferramenta para decifrá-lo. No entanto, não pode ver a si próprio. O referente é outro e não ele. Embora tenha o código e a ferramenta, ele é obrigado a aceitar o referente (que é a fotografia, cujo referente, por sua vez, é passado e inacessível visualmente para o espectador) como verdade. Mais uma vez, o expectante “joga o jogo” do desejo na observação do trabalho. Capítulo 3 Eu é o Outro L'âme exposée aux torches du solstice, Je te soutiens, admirable justice De la lumière aux armes sans pitié ! Je te tends pure à ta place première, Regarde-toi !... Mais rendre la lumière Suppose d'ombre une morne moitié. Paul Valéry, Cimetière Marin Quando comecei a trabalhar com fotografia, com a intenção de viver a experiência strindberguiana de captura da alma, da verdade do retrato e que virei para mim a câmera pinhole, tornei-me o duplo do meu próprio discurso artístico. A história da arte, então, era minha principal referência, bebendo preferencialmente em Courbet, Degas, Ingres, Velásquez, Rodin, Man Ray e Duchamp. Interessava-me neles a abordagem visual do corpo. Em Degas, particularmente, as posições de dança, no palco e no descanso, muito próximas da minha própria história, eram o que me chamava a atenção. Procurava nos trabalhos que via, sobretudo o que eles guardavam sob o discurso principal, trazendo tais informações para meu próprio trabalho. Procurava sob o discurso principal a minha leitura possível, o que a minha biografia podia ler naquela imagem. Procurava o que estava escondido, oculto sob ela, o que ela mostrava entre o visível e o não visível. “Jogava o jogo” do desejo, da vontade de perceber, de vislumbrar o que estava na sombra - a dialética da imagem. E transformava esse não visível em problema plástico. Com os artistas citados no parágrafo anterior fazia minha clínica e, depois, a obra criada a partir dali era a terapêutica dos outros. Era como se tivesse o mundo como referente de um espelho, cuja imagem refletida tivesse que ser vista através de meus olhos. Queda d’Água O Nascimento Razão Nesse espelho, o mundo vinha fragmentado. A partir da imagem refletida nos vidros e espelhos de meu atelier, que me serviam de guia, apontava a câmera para meu corpo sem jamais ter certeza do que estava enquadrado. Assim, durante esse aprendizado, fotografava retalhos do corpo, como retalhos do mundo, pedaços de minhas referências. O fragmento propicia espaço para o desejo, para “jogar o jogo” da memória. É desse jogo que fala o escritor Alberto Manguel, em seu livro O Amante Detalhista. O personagem, Antoine Vasenpeine, aprendiz de fotógrafo, misto de ficção e realidade, comprazia-se, escondido, em fotografar detalhes, pedaços de corpos. Não o interessava a totalidade. Seu prazer estava em, a partir do fragmento, poder imaginar o resto. Vasenpeine era um homem comum, de personalidade opaca que trabalhava, no início do século XX, numa antiga casa de banho pública francesa. Quando o cliente entrava no box de madeira, não importava se era homem ou mulher, observava pelas pequenas fendas, pelas quais só conseguia ver um pequeno fragmento do corpo. Aí encostava a máquina fotográfica, que captava aquele pedaço de carne, que ele, nem ao menos, tinha certeza se era o que acabara de ver, já que o cliente poderia ter mudado de posição. Encostava o olho numa das fendas da madeira (permitindo que a sorte decidisse qual a fenda e, assim, que parte do corpo nu lhe seria revelada) e então substituía o olho pela lente a fim de fixar o relance de amor na solidez feita de cristais, gelatina e papel. A câmera era sua alcoviteira.74 Da mesma forma que a câmera de Vasenpeine era alcoviteira, no meu atelier, fazia, com as minhas câmeras, uma espécie de voyeurismo de mim mesma e das minhas referências e, dessa forma, falava do mundo à minha volta. Da época são os trabalhos fotográficos, cuja imagem é preciso olhar muito para perceber o que é – “A observação nunca é instantânea [...] O olho exige tempo para compreender o que vê.”75 – que são fragmentos de corpo, captados pela câmera pinhole, cuja referência original é a história da arte. Essas imagens foram ampliadas em papel colorido metálico com, no mínimo, um metro de largura ou comprimento. O tamanho da ampliação praticamente dissolvia a imagem no papel, criando espécies de veladuras, ampliando a discussão, nesses trabalhos, para as questões da pintura; além disso, a opção pela utilização do papel metálico, de certa forma, repetia a operação do atelier porque o trabalho funcionava como um espelho quando refletia tudo o que estava em volta. 74 75 MANGUEL, Alberto. O amante detalhista. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 48 MANGUEL, Alberto, op. cit., p. 42 Dorso Anatomia Prece Esse mundo de referências, com o qual lidava diariamente no atelier, podia ser de imagens ou palavras, como é o caso da instalação que criei, a partir de um poema Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso do escritor francês, Stéphane Mallarmé, e que intitulei Todo Pensamento emite um Lance de Dados. A técnica fotográfica escolhida por mim foi fundamental para a percepção das possibilidades plásticas do poema. O acaso inerente à utilização da pinhole, provoca sempre a reorganização da percepção visual do objeto com que se está lidando. Foi essa lida diária com esse fato que me levou ao texto do poeta francês. A tradução de Haroldo de Campos de Un Coup de Dès Jamais n’Abolira le Hasard serviu-me como base para o trabalho desenvolvido, bem como o ensaio sobre o poema, escrito por seu irmão, Augusto de Campos, que me levou a perceber a questão do duplo e da alteridade presentes no poema. A presença do duplo em Um Jogo de Dados Jamais Abolirá o Acaso acaba por transformar-se em vivência, na operação de tradução, como observou Haroldo de Campos. Traduzir o Coup de Dès de Mallarmé é, antes de tudo, uma “operação de leitura” no sentido mallarmeano da expressão: dobragem, dobra, dobro, duplo, duplicação, dação em dois, doação – dados (texte en deux).76 Considerando que também procedia a uma espécie de operação de “tradução” em Todo Pensamento emite um Lance de Dados, procurei evidenciar a questão do duplo nesta obra, questão esta que já permeava todo o trabalho que vinha desenvolvendo até então. Imaginei, primeiramente, o corpo como um cubo: fotografei-me de frente e de costas, de braços abertos, em forma de cruz. Depois, coloquei sobre cada foto uma grade que dividia o corpo em 6 quadrados. Dobrei as fotos, obedecendo ao traçado da grade e as transformei em cubos – dados - de 50 cm de aresta, cada um. Como cada cubo era um corpo inteiro, se fizesse 4 cópias de cada cubo (4 com o corpo de frente, 4 com o corpo de costas), e colocasse um sobre o outro, teria um corpo inteiro, sempre, em um dos lados da torre de cubos. Como num jogo de dados, eu os dispus no chão. À medida que se mexe nos dados, juntando-os, novas imagens vão surgindo, de cada lado que se olhe, a partir do único elemento – o corpo da artista. É justamente o acaso, determinado pelos movimentos que o observador experimenta mexendo nos dados, que vai reorganizar a percepção da obra. Além disso, o caráter especular do trabalho, reforçado pelas imagens surgidas a cada “lance de dados”, reflete a poesia de Mallarmé, nos “Efeitos sutis, delicadíssimos, jogo duplo de filigrana e abismo, onde tudo deve ser medido, mensurado, mentado: co-medido, co-mensurado, co-mentado”77: como os jogos de 76 77 CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PGNATARI, D.. Mallarmé. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 120 CAMPOS, A.; CAMPOS, H; PIGNATARI, D.. op. cit. São Paulo: Perspectiva, 1974,. 120 palavras, as associações de imagens, os anagramas sutilíssimos da poesia mallarmaica, que estrutura visualmente o poema nas páginas, com o emprego de diversos tipos de letras, os brancos (espaços vazios), as diferentes disposições das linhas num ir e vir tanto horizontal, quanto em profundidade, tridimensionalizando-o, as palavras, afinal como componentes de um ideograma. ____________ce n’est grace à deux textes repetes que l’ont peut jouir de toute une partie78 Todo Pensamento Emite um Lance de Dados, CAL/Brasília (2003) e no Itaú Cultural/SP (2005) Foto Elisa de Magalhães 78 Mallarmé, S. apud ibid, p. 120 Foto Ivan Pascarelli Com o mesmo espírito de “tradução” com o qual executei Todo Pensamento Emite um Lance de Dados, pedi ao poeta e artista plástico Cabelo, para escrever um texto que acompanhasse o trabalho na primeira exposição. Mostrei a ele o projeto da instalação e a idéia de transformar a sala de exposição num jogo de dados. Em resposta à minha solicitação, Cabelo reinventa (ou procede a uma releitura de) Un Coup des Dès Jamais n’Abolira le Hasard, a partir de Todo Pensamento Emite um Lance de Dados: do alto garras de pássaros se abrem . . chuva de pedras sobre o chão da Abissínia Cabelo, com este poema, desdobrou o que a visibilidade do visível ocultava, em Todo Pensamento Emite um Lance de Dados, ou o que restava dele como duplo de discursos, como fragmento. Encontrei no ensaio do escritor cubano Severo Sarduy, intitulado Escrito sobre un Cuerpo, a conclusão para o pensamento com o qual desenvolvi Todo Pensamento Emite um Lance de Dados e a justificativa para sua execução; ou melhor, Todo Pensamento Emite um Lance de Dados acaba sendo um desdobramento do pensamento de Severo Sarduy: Um gramático do século XVIII comparava a linguagem a um quadro, identificando os nomes às formas, os adjetivos às cores e o verbo à própria tela. A tela em branco e seu análogo, a unidade espacial mínima, o cubo, seriam, segundo esta comparação, os corpos primeiros de uma arte verbal. O verbo é o suporte de todos os atributos; o cubo o suporte de toda forma possível.79 Prosseguindo minha pesquisa, fui buscar a essência do que possa ser a visibilidade do visível em um trabalho cujo título já revela minha intenção: O que se Mostra Revela o que se Esconde, feito em 2004. Este trabalho começa com a construção das câmeras, 5 caixas de madeira com planos de foco diferentes, que obedecem a um critério ótico e matemático, simulando lentes da pequena tele até a super grande angular, passando pela macro. Pela primeira vez, utilizei o papel fotográfico colorido diretamente na câmera, ao invés de filme, acrescentando um complicador na questão especular: já que a técnica utilizada é câmera obscura, a imagem obtida é invertida em relação à posição original da modelo, assim como o jogo claro/escuro, que é negativado. Com as caixas fotografei-me, sempre acrescentando um segundo diafragma e escolhendo como referências alguns artistas na História das Artes Visuais. São as próprias caixas que são apresentadas na exposição. Dentro de cada caixa/câmera, está a imagem feita nela, transformando o objeto, de ferramenta em suporte. As imagens 79 SARDUY, Severo. Obra Completa/Severo Sarduy: edición crítica – Tomo II. Paris: ALLCA XX, Université Paris X, 1999, p. 1187. A tradução foi minha. só podem ser vistas através do furo localizado na frente da caixa, o diafragma, por onde entrou a luz para fazer a foto. Agora, a luz também está em lugar invertido: dentro da caixa, iluminando a imagem e não a modelo. No processo de execução de O que se Mostra Revela o que se Esconde percebi que havia uma forte relação com o Étant Donnés, de Marcel Duchamp, por causa do obstáculo imposto, ao observador para a fruição absoluta da obra. Para ver, é preciso que se olhe através do pequeno buraco à frente de cada caixa/câmera. O que se Mostra Revela o que se Esconde, 2004. Foto Wilton Montenegro Tomar Duchamp como referência, obrigou-me a buscar Courbet, que foi talvez a principal referência de Duchamp. Por isso, as caixas que ficam nas extremidades da instalação trazem duas imagens referenciadas em Courbet. Além de Courbet, as outras caixas trazem imagens referenciadas em Man Ray, Goya e Ingres. A observação deste trabalho torna o observador agente e paciente já que o ato de observar é um fotografar-se. Ele tem que estar à frente da câmera, olhando através do buraco por onde entra a luz. O olho do observador está fora para observar o que está dentro. Olhar para a imagem é como olhar-se a si próprio. ... substituídos por aquilo que desde sempre se encontrava lá, antes de nós: o próprio modelo. Mas, inversamente, o olhar do pintor dirigido para fora do quadro, ao vazio que lhe faz face, aceita tantos modelos, quantos espectadores lhes apareçam; neste lugar preciso, mas indiferente, o que olha e o que é olhado permutam-se incessantemente. Nenhum olhar é estável, ou antes, no sulco neutro do olhar que traspassa a tela perpendicularmente, o sujeito e o objeto, o espectador e o modelo invertem seu papel ao infinito.80 O que se Mostra Revela o que se Esconde guarda a característica de ser um múltiplo único. As caixas/câmeras podem ser usadas indefinidamente, mas cada fotografia feita com elas é única, pois é a impressão da imagem diretamente no papel. Não há filme. Ex-tante. Filme. Paralém. Embora Persona Vitrea já traga, com toda evidência, o processo circular que vai culminar em O Anel, esse pensamento foi alimentado, durante o curso de mestrado com a criação de outras obras que foram abrindo caminho para a conceituação do trabalho final que acompanha esta dissertação e dos quais não posso deixar de falar, que são Ex-tante, Filme e Paralém. Ex-tante surgiu a partir da experiência de estar vivendo em outra casa – na casa de meu namorado - enquanto a minha estava em reforma. Trata-se de fotos das 80 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 21 prateleiras da estante de livros, tiradas em ângulos diferentes, ampliadas em tamanho 20 x 30 cm, colocadas na parede, lado a lado, aleatoriamente, desobedecendo à ordem da estante, formando fileiras de fotos, ora horizontais, ora verticais, que se sobrepõem, ocupando no espaço da parede, o mesmo tamanho da estante em casa: 200 x 100 cm. Quando cheguei para passar a temporada em sua casa, levando os livros que usaria no mestrado, ele arrumou-os em sua estante, para caberem os meus e os dele. Como as prateleiras eram largas, seus livros foram empurrados para trás, de modo que a fileira da frente fosse somente dos meus. As fotos sempre reproduzem a existência das duas fileiras – eu na frente dele, ele atrás de mim. O jogo de foco nas fotos ora revela os títulos da fileira da frente, não permitindo a leitura dos títulos da fileira de trás, ora vice-versa, ou ainda um foco intermediário que somente sugere os títulos das duas fileiras. Dessa maneira, meus livros, ao estarem fora do lugar, deslocavam os livros que já existiam na casa, criando novos lugares para cada uma das bibliotecas. Assim, tornou-se na estante o lugar na casa temporário meu. Ex-tante é uma estante sem prateleiras, nem montantes, sem apoio ou suporte: apenas a linha que separa as fotos insinua uma prateleira visual. A personalização e a relativização desse espaço chama a atenção para o sentido da dupla de palavras apoio e suporte, que nem sempre caminham juntas, como quem dá apoio pode não dar suporte e o oposto. Sem montantes ou prateleiras, a estante se torna impossível. Em uma série de livros policiais, escritos pelo psicanalista Luiz Alfredo Garcia-Roza, o personagem principal – o delegado Espinosa – é um homem culto, que gosta muito de leitura e de livros e possui uma estante sui generis: uma estante onde não há estante, onde os livros são apoio e suporte deles mesmos e que ora oferecem apoio, ora suporte, ora ambos, sempre relativos ao raciocínio do personagem. Iniciara, havia tempo, uma original estante sem prateleiras, só que na sua estante não havia estante, isto é, não havia prateleiras horizontais (nem montantes verticais): eram também livros que, dispostos horizontalmente, faziam o papel de prateleira para a fileira imediatamente superior, e assim sucessivamente. A estante que ocupava toda a extensão de uma das paredes da sala, já o ultrapassava em altura, o que era um sinal claro de que o problema se tornara maior do que ele. 81 A ilogicidade dessa estante, cuja única lógica de arrumação é por conveniência de tamanho, lembra que o mundo (a vida), todo desarrumado – o caos pós-moderno está na parede de casa. É esse fato, essa falta de lógica, que, por sua vez, é uma lógica própria, é esse caos que organiza o trabalho. Novamente recorro a Umberto Eco, que, num ensaio sobre contos policiais escrito por H. Bustos Domecq, pseudônimo dos escritores argentinos Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, diz: O universo de Borges é um universo no qual mentes diversas só podem pensar através de leis enunciadas pela Biblioteca. Mas a biblioteca é a Babel. As suas leis não são as da ciência neopositivista, são as leis paradoxais. A lógica (a mesma) da Mente e a do Mundo são, ambas, uma ilógica. Uma ilógica rigorosa.82 81 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Vento Sudoeste. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, 82 ECO, Umberto. Sobre os Espelhos e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 60 p. 164 O escritor Alberto Manguel foi um dos “leitores” de Borges, na sua adolescência. Ele foi, por um período de tempo os olhos do velho escritor, cuja cegueira o impedia de ler. Em livro lançado recentemente, em que comemora a construção de sua própria Biblioteca, Manguel faz uma reflexão sobre bibliotecas, desde Babel. E, “à noite, observando a sua biblioteca no escuro, com as janelas iluminadas e as fileiras de livros resplandecentes”, ele conclui: (...) a biblioteca é um espaço fechado em si mesmo, um universo de regras próprias que pretendem substituir ou traduzir as do universo informe ao seu redor.83 (...) Bibliotecas sólidas de madeira ou papel, ou bibliotecas de telas brilhantes e espectrais são prova de nossa crença duradoura numa ordem vasta e atemporal que intuímos ou percebemos vagamente.84 80 MANGUEL, Alberto. A Biblioteca à Noite. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 19 81 Id. Ibid, p. 264 Ex-tante, 2005 O título do trabalho é um jogo semântico, que adianta as questões que o perpassam. Ex, de ex-libris, expressão latina que quer dizer da biblioteca, e que posteriormente, passou a ser a marca do dono do livro, localizada na capa ou na folha de guarda; ex de externo a si próprio, diferentemente das outras estantes, os livros são a estante e, todavia a estante é interna aos livros, ou seja, a estante é destinada a abrigar os livros em seu interior, no entanto, em Ex-tante, são os livros que abrigam a estante em seu interior; ex de uma estante que já não é mais, que reforça a guerra entre as duas bibliotecas, uma se sobrepondo à outra, e, simultaneamente, tornando-se uma terceira, onde reina o caos organizado. Além disso, a reorganização da estante reorganiza a percepção visual do conjunto de livros e os faz renascer porque os traz de volta à vista de um possível leitor. É o leitor novo quem vai tornar um livro velho novo, no processo de leitura, afinal de contas, como acreditavam os estudiosos da Biblioteca de Alexandria, o passado “é a fonte de um presente em constante mutação.”85 Em Extante, pela primeira vez, a imagem do meu corpo deixa de ser o objeto do discurso, embora o eu ainda permaneça como sujeito, tema central do trabalho. Extante parte dos livros, ou melhor, de parte dos livros. Por isso, além de ter o eu como sujeito da obra, todos os trabalhos que venho desenvolvendo passam a sê-lo também. Em Ex-tante, acabo por falar da origem da obra que venho produzindo, já que, em sua maior parte, vem da literatura. Na estante de minha memória, os textos não param de mudar, leituras novas e antigas se sobrepõem, adicionam notas, inventam títulos, de acordo com as mais diversas circunstâncias. (...) No sentido em que Carpaccio o via, o estúdio de Agostinho é também parecido com o meu, um domínio do leitor comum: fileiras de livros e memorabilia, a escrivaninha cheia, o trabalho interrompido, o leitor esperando por 85 MANGUEL, Alberto. op. cit., p. 32/33 uma voz – a sua própria? A do ator? A de um espírito? – para responder a questões semeadas pela página aberta diante dele.86 Foi por ter que me defrontar com uma obra literária e fazer para ela uma ilustração, que surgiu Filme. A crítica de arte Kátia Canton, reescrevendo fábulas de Perrault, pediu-me que ilustrasse a história de Chapeuzinho Vermelho. Nunca havia feito ilustração embora já trabalhasse a partir de textos literários. O desafio era atender à literalidade que a ilustração pedia, sem cair na obviedade. Comecei, então, por pesquisar Perrault e sua época87. Detive-me no forte conteúdo erótico e na violência da versão de Perrault que Kátia manteve na sua adaptação e imaginei que uma seqüência fotográfica, um plano seqüência de cinema, como os do fotógrafo americano, Robert Frank, na qual usasse a cor vermelha e um corpo feminino, pudesse recontar a história do ponto de vista da violência e do erotismo. Usando a técnica pinhole, coloquei-me em pé, de costas para a máquina. Na primeira foto, visto um pano vermelho e com ele cubro a cabeça; na segunda, o pano cai até a cintura; na terceira, meu corpo está ajoelhado; na quarta, deitado e totalmente coberto pelo pano, que marca o corpo, transformado-o numa grande mancha vermelha. O eu erótico dá o tom dessa obra. Nessa seqüência, “sou-me”, não sendo, podendo ser o meu corpo, qualquer corpo. Começo desvelando o corpo para 86 MANGUEL, Alberto. No Bosque do Espelho. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 274/275 Perrault, um nobre francês, que vivia na corte de Luis XIV, o Rei Sol. Os contos de fadas eram moda, nessa época, e os contistas, iam buscar seus temas na tradição popular oral, ou nos manuscritos medievais italianos ou orientais, que eram adaptados ou recriados. Eles tinham por objetivo difundir condutas morais, como veículos de civilização. Eram histórias talhadas para ensinar a adultos e crianças, principalmente, a portar-se, vestir-se, comportar-se e prepará-las para seus futuros papéis sociais. Nesse sentido, Chapeuzinho Vermelho é uma lição clara de comportamento, para alertar a mulher contra sua curiosidade exagerada e as conseqüências da falta de disciplina. O conteúdo erótico da história chama a atenção para os limites sociais e morais que devem ser obedecidos. Ver em CANTON, Kátia. Era uma vez Perrault/Kátia Canton. São Paulo, DCL, 2005, p. 7 a 15. 87 velar. A estrutura circular do trabalho, no qual começo e termino com o corpo coberto, não encerra a história, como no conto, deixa margem para se pensar no que virá. Filme reduz o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho à sua eroticidade e violência à flor da pele, para melhor recontar a história. Filme, 2006 Reduzir à essência da questão, também foi o caso de Paralém. Recebi um convite para participar, com um trabalho, de uma exposição em homenagem a D. Maria, a Louca, mãe de D. João VI. A exposição seria realizada nos corredores do Convento do Carmo, onde hoje funciona a Faculdade Cândido Mendes, e onde D. Maria passou o fim de seus dias, internada. Pensei a condição de clausura de uma pessoa considerada louca: clausura física e social. Presa em seu mundo patológico, recusada dentro dos padrões da normalidade, o que D. Maria pensava, o que fazia? Para Michel Foucault, a consciência da loucura se dá por oposição, pela denúncia da diferença. No entanto, justamente por acontecer, sem medida ou conceito, no próprio interior da diferença, no lugar mais fundo, onde loucura e não-loucura trocam linguagens e não se diferenciam, pode haver uma reversão dessa oposição, pode ser que a loucura seja razão e sua consciência, um estratagema da própria loucura. Mas, na prática, a loucura se observa pelo desvio de conduta, como se o louco tivesse “escolhido uma outra vida”. É que a liberdade pertence ao domínio da loucura. A loucura só é possível porque o louco pode falar, ele mesmo, a linguagem da loucura e, portanto, contituir-se como tal. Por isso, a divisão em grupos se faz necessária no ambiente social, onde se opta por reduzir a loucura ao silêncio.88 Nesse sentido, loucura e razão, o normal e o anormal, estão numa fronteira tênue, numa cordabamba, prestes a caírem e se confundirem; afinal, nesse cenário, a loucura só existe para sancionar a razão. Magno lembra que o louco também faz a viagem para a Beira do Cais, no entanto, ele não volta. Ele se lança no abismo do não-Haver e continua se lançando, ou não sai de lá, ou fica à beira do cais, de costas para o Haver, lamentando eternamente a “saudade de pedra” – a loucura é a liberdade de permanecer paralém do cais, virado para o mar do não-Haver e aparecer no Haver como um revenant, uma espécie de fantasma, assombração89. Pensando nestas questões, escolhi fazer um vídeo, cujo cenário eram os próprios corredores do Convento do Carmo, onde iria acontecer a exposição. Aproveitei uma situação de encontro dos corredores em L e posicionei a câmera no vértice do L. Cada corredor acabava em uma porta fechada. Descalça e sem roupa, iniciei uma caminhada que começava numa porta e terminava na outra. Na edição final do vídeo, os dois corredores dividiam a tela e eu passava de um para o outro, como um fantasma e, enquanto caminhava num deles, o outro permanecia vazio. A cena não tem início nem fim, é como uma caminhada infinita (foi editado em looping), é como alguém preso na liberdade de sua própria loucura. 88 89 FOUCAULT, Michel. História da Loucura. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 166/167 MAGNO, M. D.. Estética da Psicanálise Parte II – Volume 1: seminário 1991. Rio de Janeiro: Novamente 2003, p. 120 Paralém, 2006, fotograma Tirar o excesso e descobrir o que está subjacente são meus primeiros movimentos para execução da obra; transformar o oculto em discurso, sendo o corpo o suporte primitivo, não importando a referência ou o meio utilizado para a execução do trabalho; falar do duplo, sendo meu próprio corpo esse duplo; a obra resultante são esses movimentos que encerram um discurso presente no objeto, que será vislumbrado pelo espectador. Eis O Anel: a forma circular vem reforçar a circularidade infinita de pensamentos e, portanto de visões. Em O Visível e o Invisível, Maurice Merleau-Ponty, já aponta essa alternância circular entre o ver e ser visto: há dois círculos, dois turbilhões, ou duas esferas concêntricas quando vivo ingenuamente e, desde que me interrogue, levemente descentrados um em relação ao outro. ... há um narcisismo fundamental de toda visão; (...) o sentir-me olhado pelas coisas, daí minha atividade ser identicamente passividade – o que constitui o sentido segundo e mais profundo do narcisismo: não ver de fora, como os outros vêem, o contorno de um corpo habitado, mas sobretudo ser visto por ele, existir nele, emigrar para ele, ser seduzido, captado, alienado pelo fantasma, de sorte que vidente e visível se mutuem reciprocamente, e não mais se saiba quem vê e quem é visto. 90 A experiência da clínica na arte contemporânea está fundamentada nessa passividade do olhar, nessa atividade/passividade do narcisismo na visão de MerleauPonty. Ao mesmo tempo em que vê, o expectante é visto pela obra e é seduzido, captado por ela. Vidente e visível se alienam a ponto de não se saber quem é quem – eis que surge o expectante diante da obra de arte contemporânea. É o olhar do expectante (do terceiro) sobre o objeto que vai transformar em discurso, em dizível, o visível – a clínica em arte é um ato de tradução. No entanto, o discurso de toda obra de arte contemporânea tem intenção, rigor e poesia. Ela comunica, fala (como já havia dito anteriormente, ela encerra um discurso). Mesmo que a obra não tenha intenção de emitir qualquer conceito, o não-conceito é o seu discurso. Essa fala/comunicação é possível por meio do sistema de relações obtido do cruzamento do objeto em si, do que é visível, com o seu efeito – a terapia, o que ela dá a falar. Nesse diálogo entre objeto de arte e expectante, que acontece ao nível do ordinário, como clínica, vai-se revelando que o método de pensamento plástico do giro é a autobiografia. Entenda-se autobiografia, aí, como tudo o que pertence à formação do expectante: suas experiências, seu conhecimento, seus estudos, suas vivências, no sentido de uma autonomia da vida na própria vida. É desse material autobiográfico que se vão alimentar as analogias propulsoras do giro. Além disso, é preciso se levar em conta, também, que a clínica em arte é alegórica, no sentido 90 MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o Invisível. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000 p. 135 benjaminiano do termo, considerando a alegoria como descrição pública do oculto, como expressão e não como comunicação. Alegoria é o comentário a partir do ordinário, é o duplo de discursos, o fragmento. Nesse sentido, artista e espectador – ou o expectante - vão trazer suas próprias questões no enfrentamento direto com o objeto de arte contemporânea, vão acrescentá-las às questões já existentes na obra e, desse modo, completar a apreensão e transformar o que está vendo em discurso plástico. Como a arte se funda na vida, o terceiro (o expectante) vai se reconhecer na obra, vai vislumbrar sua biografia naquele objeto. Posso entender que a relação com o objeto de arte é similar à da palavra e a coisa. A passagem da coisa à palavra se dá pelas similitudes, pela relação entre os signos similares, num jogo infinito, mas limitado à sua forma. A apreensão da coisa como um todo está no por vir, na interpretação que se possa fazer um dia, se se puder esgotar as analogias91. Como Fausto, do poeta português Fernando Pessoa, quando descobre, na inútil busca da verdade, que está sempre adiante e nunca se desvela por completo, que o ordinário e a arte se confundem e que só podem existir porque um está na outra, ou a outra está no um. E a vida da arte é a vida da história da arte contemporânea. O segredo da Busca é que não se acha. Eternos mundos infinitamente, Uns dentro de outros, sem cessar decorrem Inúteis. Nós, Deuses, Deuses de Deuses, Neles intercalados e perdidos Nem a nós encontramos no infinito. Tudo é sempre diverso e sempre adiante 91 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1992 No segundo capítulo deste livro, Foucault fala sobre o surgimento e desenvolvimento da linguagem. De homens e Deuses vai a luz incerta Da suprema verdade. 92 Diante dos Homens/Deuses, diria Pessoa, desta vez como Álvaro de Campos, está o Cais Absoluto. Basta que se queira pescar à sua beira para descobrir o segredo da busca – o que se quer achar é o que não há. O que trazemos da pesca são duplos, arremedos, fragmentos do que achamos que há, onde não há – é o Revirão. E daí volta-se transformado. A arte contemporânea faz girar desde que se tenha disponibilidade para o giro. Se a questão é ver através da busca do que não-há e troca-se o que não há por um semelhante, logo “faz-se ver pela semelhança, fala-se através da diferença”93, ou “o mesmo, como se”94. Da semelhança que faz reconhecer o que está muito visível para a similitude,que faz ver o que o excesso de visibilidade escondia. Estamos falando de identidade e da perda dela: a semelhança (com o ordinário) torna visível o objeto de arte contemporânea e essa visibilidade vai evidenciar o que estava à sombra, descobrindo relações, associações, diferenças – as similitudes. Estamos falando de uma circularidade que nunca se fecha, como chama atenção Michel Foucault, no livro as Palavras e as Coisas. E, no entanto, o sistema não é fechado. Subsiste uma abertura: por ela, todo o jogo de semelhanças se arriscaria a escapar de si mesmo ou permanecer na noite, 92 PESSOA, Fernando. Fausto: Tragédia Subjectiva (fragmentos). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991, p. 170. 93 FOUCAULT, Michel. Isto não é um Cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 39 94 Idem. Ibid, 1988, p. 59 se uma nova figura de similitude não viesse completar o círculo – torná-lo ao mesmo tempo perfeito e manifesto.95 Com isso, aquele objeto assume a identidade de um corpo místico: o “mistério” da obra de arte contemporânea. O filósofo brasileiro, José Arthur Giannotti, em seu livro O Jogo do Belo e do Feio, refere-se ao objeto de arte (ele fala de uma pintura) como se fosse uma “torre emitindo ondas eletromagnéticas, cujos primeiros ecos da imagem mãe se fossem repetindo em círculos – outras imagens e discursos críticos – mas necessitando pagar o preço da nitidez original.”96 Para ele a circularidade que provoca a observação da obra de arte, vai alterando a identidade original do objeto, como se essa identidade original passasse pelo trabalho de in-diferença, a identidade da identidade da diferença. As identidades cotidianas são, pois, transfiguradas para se darem, no final das contas, como exemplos de um mundo ilustrando modos peculiares de ver, no que todo mundo vê, aquilo que somente eu estou vendo, porque o pintor, a todos nos faz ver assim, como algo que, na deiscência da perda de sua própria identidade, revela apenas as margens de seu mistério.97 No entanto, mesmo usando um raciocínio dialético, mesmo pressupondo uma circularidade no pensamento, Giannotti ainda fala de uma relação dual, binária. Em 95 96 97 _________________. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 42 GIANOTTI, J.A.. O Jogo do Belo e do Feio. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 137 Idem. Ibid, p. 46. certo momento do livro, ele faz uma indagação: “O artista não seria um explorador de variações do olhar a fim de instalar uma lógica nos aspectos visíveis e transformados?”98 O papel do artista, na análise de Giannotti é quase o de um demiurgo. Mais próximo do pensamento que O Anel encerra, está Michel Foucault, falando da linguagem. (...) ela é ternária, já que apela para o domínio formal das marcas, para o conteúdo que se acha por elas assinalado e para as similitudes que ligam as marcas às coisas designadas; porém, como a semelhança é tanto a forma dos signos quanto seu conteúdo, os três elementos distintos dessa distribuição se resolvem numa única figura.99 Através do jogo de semelhanças, das analogias propulsoras do giro, o objeto de arte contemporânea vai perdendo, por in-diferenças, no microcosmo, sua identidade original e ganhando uma outra (no macrocosmo), tudo numa única figura, num mesmo objeto. No prefácio do catálogo de sua exposição retrospectiva em Dallas, em 1961, René Magritte, que lida, em sua pintura, com a escrita como um signo visual e como significado, resume este pensamento no seguinte trecho: A semelhança – tal como é usada na linguagem cotidiana – é atribuída às coisas que possuem ou não natureza comum. Diz-se: ‘parecidos como duas gotas d’água’, e diz-se, com a mesma facilidade, que o falso se parece com o autêntico. 98 99 Idem. Ibid, p. 133 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 58 Esta pretensa semelhança consiste em relações de similitude, distinguidas pelo pensamento que a examina, avalia e compara. Tais atos de pensamento se efetuam com uma consciência que não vai além das similitudes possíveis: a essa consciência, as coisas revelam apenas seu caráter de similitude. A semelhança se identifica com o ato essencial do pensamento: o de parecer. O pensamento parece tornar-se aquilo que lhe é oferecido, ao mistério no qual não haveria nenhuma possibilidade de mundo nem de pensamento. A inspiração é o acontecimento onde surge a semelhança.100 O comentário de Magritte reforça ainda mais a hipótese da autobiografia como método de pensamento plástico, na medida em que a “inspiração”, ou o momento da criação, ou como diríamos mais contemporaneamente, o momento do acontecimento artístico só se dá pela semelhança. E assim a VIDA lentamente ocupa o lugar do que há muito tempo se chamava ARTE, que ocupa o lugar do que antes se chamava LOUCURA.101 100 MAGRITTE, René In: FOUCAULT, Michel. Isto não é Cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, orelha 101 CLARK, Lygia. L’art c’est le Corps, Preuves, 13, Paris, 1973. In: WANDERLEY, Lula. O Dragão Pousou no Espaço: Arte Contemporânea, sofrimento psíquico e o objeto relacional de Lygia Clark. Rio de janeiro: Rocco, 2002 p. 159 Conclusão É da natureza dos objetos de arte preservar, mesmo depois de concluídos, o seu destino de hipótese.102 A experiência da arte contemporânea parece levar o expectante a outra dimensão, mesmo acontecendo no nível do ordinário. No encontro entre arte e vida, a natureza e as coisas deixam de se submeter ao princípio da realidade e se transportam para um mundo criado pela arte. É um mundo irreal, fictício porque, embora baseado no mundo real, aquele em que vivemos, parece qualitativamente superior porque imaginário, ilusório, um mundo onde a realidade concreta, o cotidano, o vulgar aparece fragmentado e falso (na medida em que a realidade é íntegra). Nele, o expectante é submetido a uma viagem ao olho do furacão, ou a um mergulho num redemoinho. No giro atemporal dessa viagem, passado e presente se projetam na realização do objeto que está sempre aberto a um futuro; o tempo nele é o aqui/agora, baseado na memória. A arte, assim como a história, se alimenta da história. Não sei quem me sonho... Súbito toda a água do mar do porto é transparente E vejo no fundo, como uma estampa enorme que lá estivesse desdobrada, esta paisagem toda, renque da árvore, estrada a arder em aquele porto, E a sombra duma nau mais antiga que o porto que passa 102 CALDAS, Waltércio. Notas, ( ) etc. São Paulo: Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 2006, p. 81 Entre o meu sonho do porto e o meu ver esta paisagem E chega ao pé de mim, e entra por mim dentro, E passa para o outro lado de minha alma...103 Esta divisão de mundos está presente no sujeito como o enigma da subjetividade ou, como lembra Bento Prado Jr, o abismo que separa o “ser-para-si e o ser-para-outrem”. Em ensaio escrito em 1982, o filósofo fala da fratura que existe no sujeito, como uma “incapacidade de se ver de fora”, concluindo que “ser assim é também uma maneira de não ser”104. A fragmentação do “eu” tornou-se irremediável com a descoberta freudiana do inconsciente. E esse tema da consciência de si, enclausurada no ser e dividida, separada do outro foi incansavelmente discutida na arte, porque a divisão do ego, a catoptria, a capacidade de avessamento, o Revirão e o giro são próprias da condição humana. Ainda no referido ensaio, Bento Prado Jr., transcreve um poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Science Fiction e que nos faz entender como o olhar externo passa a ser a condição da unidade do sujeito. O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Afastou-se o marciano, e persegui-o. Precisava dele como de um testemunho. 103 104 PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005, p. 113/114 PRADO JR., Bento. Alguns Ensaios: Filosofia, Literatura, Psicanálise. São Paulo: Max Limonad, 1985, p. 247 Mas, recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. E fiquei só em mim, de mim ausente.105 Esse sujeito dividido, só em si, de si ausente vai encontrar a condição de giro na arte contemporânea e é ele que vai possibilitar a consciência do paradoxo íntimo do sujeito: A existência do Eu é sempre determinada por um Outro que o afeta e os dois estão em linhas do tempo separadas. No giro, o sujeito descobre que essa relação do eu com o outro só pode resultar em três e numa linha de tempo alternativa. Esse tempo só se torna presente no giro. A condição do giro também é a condição da bailarina. Nesse sentido, sempre girei. A experiência de atelier foi fundamental para que eu chegasse à hipótese do giro como condição, como próprio da arte contemporânea. Para que eu experimentasse todos esses tempos num só tempo, para que vivesse essa relação ternária e para que pudesse pensar em O Anel. O poeta João Cabral de Melo Neto, no poema Estudo para uma bailadora andaluza, sintetiza a experiência da bailarina numa circularidade que lembra a de O Anel. Sua dança sempre acaba igual que como começa, tal esses livros de iguais coberta e contra-coberta: 105 ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova Reunião: 19 livros de poesia vol 1. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983, p. 391 (...) Enquanto a estátua final, por igual que ela pareça, que ela é, quando um estilo já impôs à íntima presa, parece mais desafio a quem está na assistência, como para indagar quem a mesma façanha tenta.106 Coube à filosofia antiga o pensamento inicial sobre a condição do ser e sua relação com a arte. Vem daí a primeira idéia do giro. À medida que se avança no tempo, contando com o privilégio da história e da memória, a condição giratória da arte vai-se estabelecendo, nas mais diversas formas, e o conhecimento delas resulta no que O Anel expõe ou propõe plasticamente: que a arte contemporânea faz girar, como na resposta de Athiktê a Sócrates: Asilo, asilo, ó meu asilo, Turbilhão! – Eu estava em ti, ó movimento, e fora de todas as coisas...107 106 107 MELO NETO, João Cabral. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 223/224. VALÉRY, Paul. A Alma e a Dança e outros ensaios. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 68. Resposta de Athiktê a Sócrates. BIBLIOGRAFIA ADHÉMAR, J. e Cachin, F.. Degas. The complete Etchings Lytographs and monotypes, London: Thames and Hudson, 1996 ARANTES, Otília. Mário Pedrosa 1: Política das artes. São Paulo: Edusp, 1995 _______________ Mário Pedrosa 4: Modernidade Cá e Lá. São Paulo: Edusp, 2000 ARCHER, Michael. Arte Contemporânea: Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001 ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova reunião: 19 livros de poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983 ARGAN, Giulio C.. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. _______________. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998. AUMONT, Jacques. O Olho Interminável (cinema e pintura), São Paulo: Cosac & Naify, 2004 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002 BAJOU, Valéry. Courbet, Paris: Adam Biro, 2003 BAQUÉ, Dominique. Photographie plasticienne: l’extrême contemporain. Paris: Éditions du Regard, 2004 BRASSAÏ. Proust e a Fotografia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. BASBAUM, Ricardo (org.). Arte Contemporânea Brasileira. Rio de Janeiro: Contracapa, 2001 BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984 __________________. Mitologias. Rio de Janeiro: Difel, 2003 __________________. O Óbvio e O Obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990 BECKET, Samuel. Proust. São Paulo: Cosac & Naify, 2003 BENJAMIN, Walter. Oeuvres I. Paris: Gallimard, 2000 ________________. Oeuvres II. Paris: Gallimard, 2000 ________________. Oeuvres III. Paris: Gallimard, 2000 _____________________. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M..; HABERMAS, J.; ADORNO, T. Textos Escolhidos. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980 BLANCHOT, Maurice. A Parte do Fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997 BORGES, Jorge Luis. Obras Completas, Vol. I, São Paulo: Globo, 1998 BORGES, Jorge Luis. Obras Completas, Vol. II, São Paulo: Globo, 1999 BORGES, Jorge Luis. Obras Completas, Vol. III, São Paulo: Globo, 1999 BORJA-VILLEL, M.J. et al. Lygia Clark. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, Marseille: Musée de Marseille, Lisboa: Fundação Serralves, Paris: Palais de BeauxArts, Rio de Janeiro: Paço Imperial, 1997, 1998, 1999. BRETT, Guy. Brasil Experimental – arte/vida: proposições e paradoxos. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2005 CAMPOS, A.; PIGNATARI, D.; CAMPOS, H.. Mallarmé, São Paulo: Perspectiva, 1974 CAMUS, Albert. O Mito de Sísifo. Rio de Janeiro: Record, 2004 CANONGIA, Ligia et al. Waltércio Caldas 1985/2000. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2001 CANONGIA, Ligia et al. Violência e Paixão / Mostrario - arte contemporânea. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna, 2002 CANTON, Kátia. Era uma vez Perrault / Kátia Canton. São Paulo: DCL, 2005 CARROLL, Lewis. Alice: Edição Comentada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 CASATI, Roberto. A Descoberta da Sombra, São Paulo: Companhia das Letras, 2001 CAVELL, Stanley. Esta América nova, ainda inabordável: palestras a partir de Emerson e Wittgenstein. São Paulo: Editora 34, 1997 CELANT, Germano. Man Ray, Juliet e Man. Paris: Nathan, 1998 CHEVALIER, J. e GHEERBRANT,A. Dicionário de Símbolos. Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números.Rio de Janeiro: José Olympio, 2003 COCCHIARALE, Fernando. Persona Vitrea/Elisa de Magalhães. Rio de Janeiro: Espaço Cultural Sérgio Porto, 2002 COCCHIARALE, F. e GEIGER, A.B.. Abstracionismo Geométrico e Informal. Rio de Janeiro: Funarte, 1987 DANIEL, M. et al. Edgar Degas: Photographe. Paris: Bibliotèque Nationale de France, 1999 DANTO, Arthur. Após o fim da arte: arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: Odysseus Editora, 2006 _____________. A Transfiguração do Lugar Comum: uma filosofia da arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. DAZÓRD, Cécile et al. Cildo Meireles. Strasbourg: Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, 2003 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997 DELLEUZE, Gilles. Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997 DERRIDA, Jacques. Adeus a Emmanuel Lévinas. São Paulo: Perspectiva, 2004 ________________. A Farmácia de Platão. São Paulo: Iluminuras, 1991 ________________. Espectros de Marx: O Estado da dívida, o trabalho do luto e a nova Internacional. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 ________________. Mal de Arquivo: Uma Impressão Freudiana. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001 DIDI-HUBERMANN, Georges. Ce que nous voyons, ce que nous regarde. Paris: Les Éditions de Minuit, 1992 _____________________. Devant le temps. Paris: Les Éditions de Minuit, 2000. DIETRICH, Jochen. Câmera Obscura. Porto Arte. Porto Alegre nº 17, nov. 1998 DOCTORS, Márcio (organização). Tempo dos Tempos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003 DUARTE, Paulo Sérgio. Waltércio Caldas. São Paulo: Cosac & Naify, 2001 ECO, Umberto. Sobre os Espelhos e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989 ______________. A Estrutura Ausente. São Paulo: Perspectiva, 1976 ______________. A Ilha do Dia Anterior. Rio de Janeiro: Record, 1995 ______________. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 2001 ______________. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 2001 ______________. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989 ELIADE, Mircea. Aspectos do Mito. Lisboa: Edições 70, 1989 ______________. O Mito do Eterno Retorno. Lisboa: Edições 70, 1988 FARO, A. J.. Pequena História da Dança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004 FELDSTEIN et al.. Para Ler o Seminário 11 de Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997 FERNADEZ, Macedônio. Tudo e Nada. Rio de Janeiro: Imago, 1998 FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986 FERREIRA, Glória et al. Wilton Montenegro: Notas do Observatório. Arte Contemporânea Brasileira. Rio de Janeiro: Arco, 2006 FREUD, S.. História de uma neurose infantil e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1969 __________. A Interpretação dos Sonhos (Parte 1). Rio de Janeiro: Imago, 1987 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1992 _________________. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988. ________________. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense, 2002 ________________. Um diálogo sobre os prazeres do sexo Nietzche, Freud e Marx / Theatrum Philosoficum. São Paulo: Landy Editora, 2005 ________________. História da Loucura. São Paulo: Perspectiva, 2005 ________________. História da Sexualidade 1: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988 ________________. História da Sexualidade 2: O Uso dos Prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1984 ________________. História da Sexualidade 3: O Cuidado de Si. Rio de Janeiro: Graal, 1985 ________________. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975 ________________. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988 FUENTES, Carlos. Aura. Porto Alegre: L & PM, 1998 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. O Mal Radical em Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990 __________________________. Vento Sudoeste. São Paulo: Companhia das Letras, 1999 GIANOTTI, José Arthur. O Jogo do Belo e do Feio. São Paulo: Companhia da Letras, 2005 GOETHE, J. W.. Fausto, Uma tragédia (primeira parte). São Paulo: Editora 34, 2004 _____________. Fausto Zero. São Paulo: Cosac & Naify, 2001 GRANATH, O. et al. Strindberg: Peintre et Photographe. Paris: Musée D’Orsay, 2002 GROSENICK, U.. Mulheres Artistas nos séculos XX e XXI. Köln: Taschen, 2001 GUÉGAN, Stéphane. Ingres: Erotic drawings. Paris: Flammarion, 2006 HERKENHOFF, P. Cildo Meireles, Geografia do Brasil. Recife: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, 2001 HOCKNEY, David. O Conhecimento Secreto. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. JAFÉ, Aniela (organização). Memória, sonhos, reflexões/C.G. Jung. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006 JAKOBSON, Roman. Lingüística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, [19--] JOYCE, James. Ulysses. Tradução: Antônio Houaiss. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966 JUNG, Carl G.. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964 KAPROW, A.. L’Art et la vie confondus. Paris: Centre George Pompidou, 1996 KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998 LACAN, J.. Livro 1: Os escritos técnicos de Freud 1953-1954. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986 __________. Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985 ___________. Livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992 ___________. Seminário 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985 LAUTRÉAMONT. Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, 1970 LACOUE-LABARTHE. P.. A Imitação dos Modernos Ensaios sobre arte e filosofia. São Paulo: Paz e Terra, 2000 LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.-B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1998 LÉVINAS, Emmanuel. Entre Nós: Ensaio sobre a alteridade. Petrópolis: Editora Vozes, 2004 ___________________. Totalité et Infinit: Essai sur l’extériorité. Paris: Livre de Poche, 1971 L’ECOTAIS, E. de; WARE, K.; BRETON, A.. Man Ray. Koln: Taschen, 2000 LIMA, Luiz Costa. Vida e Mimesis. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993 LUCIE-SMITH, Edward.. Moviments in art since 1945. London: Thames and Hudson, 1995 MAGNO, MD. A Natureza do Vínculo. Rio de Janeiro: Imago, 1994 __________. A psicanálise novamente: um pensamento para o século II da era freudiana. Rio de Janeiro: Novamente, 2004 __________. Est’ètica da Psicanálise Parte II, Volume I. Rio de Janeiro: Novamente, 2003 __________. Est’ètica da Psicanálise Parte II, Volume II. Rio de Janeiro: Novamente, 2003 __________. Introdução à Transformática. Rio de Janeiro: Novamente, 2004 __________. Grande ser tão veredas. Rio de Janeiro: Novamente, 2006 __________. Revirão 2000/2001. Rio de Janeiro: Novamente, 2003 MANGUEL, Alberto. No Bosque do Espelho: ensaio sobre as palavras e o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 ______________. O Amante Detalhista. São Paulo: Cosac & Naify, 2005 ______________. Lendo Imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 ______________. A Biblioteca à noite. São Paulo: Companhia das Letras, 2006 MANN, Thomas. Doutor Fausto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000 MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. Lisboa: Edições 70, 1977 MARÍ, B. ENGUITA, M. Cildo Meireles. Valência: IVAM Centre Del Carme, 1995. MARTIN, Jean-Hubert et al. Man Ray Photographs. London: Thames and Hudson, 2001 MELO NETO, João Cabral de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994 MERLEAU-PONTY, Maurice. O Olho e o Espírito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004 _________________________. O Visível e o Invisível. São Paulo: Perspectiva, 2000 MILLER, Jacques-Alain. Ornicar? De Jacques Lacan a Lewis Carroll. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004 MILLINGTON, Barry (organizador). Wagner: um compêndio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995 MINK, Janis. Duchamp. Köln: Taschen, 1994 MONTENEGRO, Wilton (organização). Arte/Estado. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004 MORAIS, Frederico. Frederico Morais / organizadora Silvana Seffrin. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004 MORAIS, Frederico. Cildo Meireles, Algum Desenho (1963-2005). Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2005 NAUMANN, F. M. Marcel Duchamp. L’art a l’ère de la reproduction mecanisée. Paris: Hazan, 1999 NÉRET, Gilles. Auguste Rodin: Esculturas e Desenhos. Köln: Taschen, 1997 NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 NUSSAC, Sylvie. Béjart au travail. Paris: Jean-Claude Lattès, 1984 THORPE, E., CRISP, C.. The colorful world of ballet. London: Octopus, 1977 PAQUET, Marcel. René Magritte (1898 – 1967) / O pensamento tornado visível. Köln: Taschen, 1995 PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o Castelo da Pureza. São Paulo: Perspectiva, 1990 PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Léo Christiano, 1980 PESSOA, Fernando. Fausto Tragédia Subjectiva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991 ________________. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005 PRADO JR., Bento. Alguns ensaios: filosofia / literatura / psicanálise. São Paulo: Max Limonad, 1985 PROUST, Marcel. Em Busca do Tempo Perdido: Obra Completa. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004 RAY, Man. Self Portrait. Nova York: Bulfinch Press, 1986 RENNER, G. Ralph. Edward Hopper 1882 – 1967: Transformações do Real. Köln: Taschen, 1992 RILKE, R. M.. Elegias de Duíno. Trad. e comentários de Dora Ferreira da Silva. Porto Alegre: Globo, 1972 RIMBAUD, Arthur. Rimbaud Oeuvres Complètes. Paris: Gallimard, 1994 RIVERA, Tânia. Arte e Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2002. RIVERA, T. E SAFATLE, V. (organização). Sobre arte e psicanálise. São Paulo: Escuta, 2006 RIVERA, Tânia. Ensaio sobre Sublimação. Não publicado _____________. Gesto Analítico, Ato Criador Duchamp com Lacan. Não publicado. ROBERT, Paul. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert, 1982 ROELS JR., Reynaldo et al. Franz Weissmann: uma retrospective/curadoria: Reynaldo Roels Jr.. Rio de Janeiro: CCBB, 1998 RODIN, Auguste. Aquarelas e Desenhos Eróticos. Biblietèque de l”Image, 1996 SARDUY, Severo. Escrito sobre um corpo. São Paulo: Perspectiva, 1979 _______________. Obra Completa. Paris: Signatários del acuerdo archivos. ALLCA XX, Université Paris X, 1999, 2V SANTA’ANNA, Denise B.de. Corpos de Passagem. São Paulo: Estação Liberdade, 2001 SARTRE, Jean Paul. Entre Quatro Paredes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005 SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença: ensaios sobre memória arte, literatura e tradução. São Paulo: Editora 34, 2005 SICUTERI, Roberto. Lilith: A Lua Negra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985 SONTAG, Susan. Sobre a Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004 TOMKINS, Calvin. Duchamp: a biography. New York: Henry Holt and Company, Inc., 1996 TUCKER, William. A Linguagem da escultura. São Paulo: Casc & Naify, 1999 VALÉRY, Paul. Degas Dança Desenho. São Paulo: Cosac & Naify, 2003 _____________. A Alma e a Dança e Outros Diálogos. Rio de Janeiro: Imago, 1996 _____________. Monsieur Teste. Paris: Gallimard, 2004 VENÂNCIO FILHO, P. e BRETT, G. Cildo Meireles / Through e Tunga / Lezarts. Bélgica: Kunststichting – Kannal – Art Foundatiom, 1989 WANDERLEY, Lula. O dragão pousou no espaço: arte contemporânea, sofrimento psíquico e objeto relacional de Lygia Clark. Rio de Janeiro: Rocco, 2002 WARR, T. e JONES, A. The artist’s body. London: Phaidon, 2002 WERHEIM, Margareth. Uma história do espaço de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001 WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso. São Paulo: EDUSP, 1994 WOOD, Paul. Arte Conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 200 SITES DA INTERNET CONSULTADOS http://www.verbo21.com.br/vertebra/vertebra41.htm http://www.bocc.ubi.pt/pag/Duarte-Eunice-Orlan.html http://www.horschamp.qc.ca/9710/emulsion/orlan.html http://www.eusouluz.iet.pro.br http://www.salus.com.br/kunkun.htm http://pt.www.wikipedia.org/wiki/kundalini http:// www.eradeaquario.com.br/secao.asp http://fr.wikisource.org/wiki/Le Cimetière marin http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouroboros http://www.fw.art.br
Download