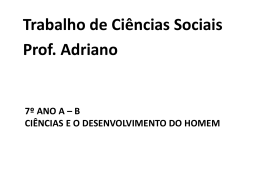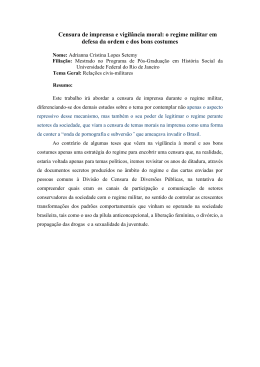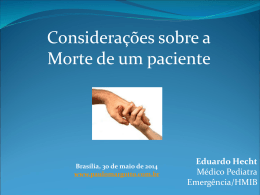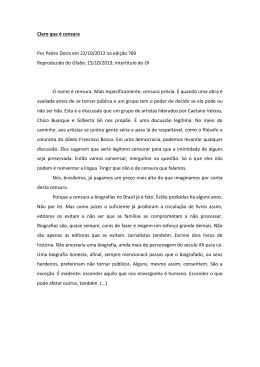JOÃO PAULO GUERRA Gosto de ouvir as pessoas e de as dar a ouvir Adelino Gomes Palavras-chave – RCP, jornalismo radiofónico, censura, despedimentos, O Diário, poder económico Como os da imprensa não-diária, antes do 25 de Abril os repórteres da Rádio não eram admitidos no Sindicato dos Jornalistas. Estavam, do mesmo modo, sujeitos à censura. João Paulo Guerra viveu no RCP as duas experiências. Conheceu também, antes e depois do 25 de Abril, o que é ser despedido por razões políticas. Agora na imprensa escrita, mas com um pé ainda na Rádio, acha que a qualidade e a mediocridade são transversais às gerações. «Alguns profissionais são piores. Há outros que são melhores. E há alguns menos jovens que também são muito maus»… Tudo começou em 1961, na Emissora Católica Rádio Renascença (RR). Filho de jornalista (a mãe, Maria Carlota Álvares da Guerra, era cronista na Rádio, para além do cargo de chefia que exercia na Agência Portuguesa de Revistas), João Paulo Guerra entra na RR, desafiado pelo jornalista Dinis de Abreu. Começa como colaborador de Nova Vaga, um programa semanal 1 «com preocupações culturais». Encontra-se aí com Lauro António, Daniel Ricardo, João Mota e Maria do Céu Guerra (sua irmã) e com Moreno Pinto um sonoplasta muito prestigiado no meio. Passado pouco tempo, a convite de Joaquim Pedro, entra na estação como locutor estagiário. Função que nesse tempo implica, entre outras tarefas de rotina, ler noticiários — «mas que não são feitos por quem os lê. Eram recortados dos jornais, colados e entregues ao locutor». O convite para trabalhar no Serviço de Noticiários do Rádio Clube Português (RCP) leva-o a mudar de estação. A experiência profissional vai prolongar-se até às vésperas do 25 de Abril. Na madrugada deste dia, os militares revoltosos escolhem precisamente esta estação para divulgarem — na voz do noticiarista de serviço naquela madrugada, Joaquim Furtado — a contra-senha do movimento militar que derruba o regime ditatorial e nela estabelecerem o seu «posto de comando» informativo. A criação de um serviço de noticiários radiofónicos representa algo de marcante no panorama radiofónico português do início da década de 1960. O RCP colocará no «ar», progressivamente, a partir de então, mais de uma dezena e meia de boletins noticiosos por dia, cometendo a sua elaboração e leitura a um mesmo radialista, a que chama redactor-locutor. O contraste não pode ser maior com o que acontece nas outras três grandes estações do continente português. A RR só uma década depois terá serviço semelhante; os EAL emitem um pequeno serviço noticioso (apenas com temas nacionais) elaborado e gravado por um departamento oficial — o mesmo para todas as estações que o subscrevem; os noticiários da EN, estação dependente da Presidência do Conselho de Ministros, são governamentais, pomposos, longos, em pequeno número, escritos por 2 redactores (assistentes literários) e apresentados pelos locutores de continuidade da estação. Quando entraste, já o Serviço de oticiários do RCP tinha começado? Sim, cerca de um ano e meio antes. Juntei-me a uma pequena equipa constituída por Luís Felipe Costa, Justino Moura Guedes, Paulo Fernando, Cândido Mota e João Macieira de Barros. Eu entrei porque este último ia para a tropa. Estiveste lá até quando? Até ser despedido, em 1973. Com um intervalo para o serviço militar, entre 1965 e 1967. Chegaste a ir para fora? Sim, estive em Moçambique. Fui colocado em Nampula e depois estive dois meses com uma companhia local em Olivença, assim chamada por estar na fronteira com a Tanzânia…Agora chama-se Lipiriche. Iremos, mais à frente, à história do teu despedimento e ao que fizeste até ao 25 de Abril. Os noticiários do RCP foram um marco histórico no nascimento do jornalismo radiofónico em Portugal. a altura, vocês tinham essa noção? Tínhamos, porque havia termos de comparação: as tais notícias recortadas dos jornais, da Rádio Renascença, e os noticiários burocráticos da EN, que nós no Rádio Clube batíamos sempre na corrida de velocidade das notícias. No RCP redigíamos e líamos as notícias. E tínhamos a fonte das notícias (pelo menos as dos telexes) junto de nós, não eram notícias publicadas na véspera nos jornais. Depois, eram muitos noticiários, quase de hora a hora [dois a três minutos, normalmente; cinco a oito, os dois noticiários com actualidade nacional] — não se comparava nada com a Emissora, quanto 3 mais com a Renascença. E havia uma estrutura profissional, com um chefe de redacção, que era o Luís Felipe Costa. Vocês consideravam-se jornalistas? Nós considerávamos, mas mais ninguém nos considerava … O Sindicato dos Jornalistas (SJ) não nos considerava jornalistas nem a nós, nem aos dos jornais desportivos, nem aos das revistas. Se queríamos sindicalizarmo-nos, íamos para o Sindicato das Telecomunicações, onde estavam os da RTP e os guarda-fios dos Correios e os da Marconi… A forma como os noticiários estavam organizados dava pouco relevo ao noticiário nacional. Porquê? Era uma fuga à Censura e à obrigatoriedade de dar comunicados e notícias com carácter oficial. A estrutura noticiosa era completamente diferente da EN, que era capaz de estar meia hora a despejar discursos do Governo, com notícias hierarquizadas segundo o protocolo de Estado (primeiro, o Presidente da República, e etc. e tal). Nós dávamos as notícias segundo a respectiva importância. Era de facto já um trabalho de edição. Os outros jornalistas olhavam-vos como jornalistas? Acho que sim. Encontrávamo-nos em serviços, cá fora, ninguém fazia a distinção. Lembro-me, por exemplo, da equipa que esteve na Cruz Vermelha, a cobrir a doença de Salazar. Passámos lá noites seguidas, de piquete, a ver se o homem morria ou não morria: o Carlos Pinto Coelho pelo Diário de otícias, o Roby Amorim por O Século, o Baptista-Bastos pelo Diário Popular e mais uma série de malta. Além disso, eu fui mantendo uma colaboração regular nos jornais, na República, na Capital, no Musicalíssimo, na Memória do Elefante e particularmente na “Mosca”, do DL, dirigida pelo José Cardoso Pires. 4 Eras redactor-locutor, mas ao mesmo tempo, por exemplo, trabalhavas em programas, até noutras estações? Sim. Trabalhei ao mesmo tempo no PBX, no RCP; e, noutro período, no Tempo Zip, na Renascença. E muitos de vocês, a começar pelo Felipe Costa, faziam publicidade. Isso não era visto como incompatível? Não, não. Não havia nenhum código, nenhuma norma. em consciência que o interditasse? Essa consciência da incompatibilidade não se punha nesse tempo à malta da Rádio para ler publicidade, como não se punha à malta dos jornais para escrever publicidade. Só que aí, não apareciam... E havia ainda aqueles que trabalhavam ao mesmo tempo em agências de publicidade... Também. Mas chegou depois o momento em que o RCP vos pôs a iniciar cada noticiário com aquele anúncio: «Beba cerveja Sagres/ A sede que se deseja»… Ainda se conseguiu, durante algum tempo, que fosse uma voz diferente, fora dos noticiários… Tenho ideia de eu próprio ter lido isso, a seguir ao 25 de Abril. Talvez. Sei que houve uma altura em que discutimos o assunto com o Luís Felipe Costa e conseguimos, durante um tempo, evitá-lo. Acho que depois foi o próprio cliente, ou a agência, que exigiu a mesma voz [que lia o noticiário]. É uma velha ambição da publicidade. Bem expressa naquele episódio recente em que a Maria João Avilez aparece a escrever o próprio texto 5 publicitário. Voltando ao teu percurso: começaste como redactor eventual? Fui contactado pelo Luís Felipe Costa, através do Matos Maia, que tinha trabalhado na Renascença, fiz uma prova com o Jaime da Silva Pinto e entrei, mas não me lembro do estatuto. Sei que fiquei inscrito na Segurança Social, com descontos como trabalhador do RCP, a partir de Outubro de 1963. E o Felipe Costa lembrou-me, mais tarde, que eu lhe perguntei se para trabalhar no RCP era preciso assinar aquela declaração a repudiar ideias subversivas e essa treta toda. Não era. Como é que funcionava a censura aos noticiários? A principal fonte das notícias eram os telegramas das agências, numerados. De tempos a tempos chegava um telegrama da máquina de telex ligada directamente ao SNI [Secretariado Nacional de Informação] com o número do telex a que se reportava a censura. Por exemplo: «do serviço da France Press, telegramas 90 a 95, o número tal está cortado todo, no número não sei quê, está cortado o parágrafo tal», etc. Uma vez, numa notícia, a censura cortou a palavra «não», ou seja, «escreveu» a notícia ao contrário. Teoricamente, tínhamos que esperar pela decisão. Mas lembro-me, por exemplo, que na noite do golpe no Chile em [11 de Setembro de] 1973 não esperei por nada. [Emitimos] Em directo, da redacção, nem sequer íamos à cabina. A Rádio era um bocado difícil de controlar. Nós no RCP, além da emissão em Onda Média já tínhamos também uma emissão separada em FM. Aquilo era tudo gravado do «ar», para controlo posterior, mas mesmo assim era difícil de controlar tudo, havia mais as outras estações todas. Aliás, quando foi do assalto ao Santa Maria, em 61, a notícia não foi cortada pela censura porque o Felipe Costa a deu, sem esperar pela autorização. E depois 6 os jornais exigiram publicar a notícia, uma vez que já tinha sido dada na rádio. o RCP havia um serviço interno de fiscalização. Como era a articulação com a censura? A fiscalização interna funcionava para os programas gravados. Quando entrei no RCP havia os Serviços de Produção que iam do 1 ao 5: SP1 eram os noticiários, SP5 a Fiscalização. Nesses tempos, em geral limitavam-se a cronometrar os programas, para eles não «pisarem» o que começava a seguir, ou mediam a publicidade, que tinha limites percentuais, mas destinava-se também a apanhar alguma «inconveniência». Segundo regras próprias ou da Censura? Regras internas. A partir de 1965 ou 66 passou a haver um director, o Sr. Moita de Deus, que funcionava como um coronel da censura. Era igualmente bronco. E havia também um Delegado do Governo, para casos de maior melindre. Foi chamado em três circunstâncias relacionadas comigo. Chamava-se Dr. António Martinha. Em 1968, foi chamado para resolver um problema com uma reportagem que eu fiz para o programa PBX [realizado por Carlos Cruz e José Fialho Gouveia, meia-noite às duas da manhã], a propósito do lançamento do livro O Delfim, do José Cardoso Pires. A censura interna não sabia o que é que havia de cortar mas achava que tinha que cortar qualquer coisa. Às tantas chamaram-me porque iam cortar uma passagem do livro, lida pelo Jacinto Ramos. Eu disse-lhes que tinham que falar com o autor, porque se tratava de uma frase de um texto literário e de um livro publicado. A frase fazia parte da descrição da frontaria em pedra da casa do Delfim, na qual o autor dizia que estava uma «lagartixa imobilizada pelo tempo». O Cardoso Pires foi lá, discutiram durante horas, fartou-se de gozar. O Dr. Martinha, para não o aturar mais, libertou a frase. 7 E os outros dois casos? Um foi nas inundações de 1967. Tinha havido uma explosão numas instalações militares para os lados de Carnaxide. Fui lá, conversei com pessoas, voltei ao Rádio, montei a reportagem que foi para o ar sem censura, sob a pressão dos acontecimentos. À posteriori, os censores internos tiveram dúvidas e chamaram o Dr. Martinha. No meio da reportagem havia uma mulher que começava a gritar e eles embirraram com o grito e queriam responsabilizar-me, instaurar-me um processo ou qualquer coisa do género. Diziam que aquilo alarmava as pessoas. Lisboa estava cercada de lama, havia centenas de mortos. Nós a meio da noite, nos noticiários, tínhamos recebido um telex da censura a dizer: «A partir deste momento não morreu mais ninguém»… Pelas nossas contas, baseadas nas informações dos bombeiros, aquilo já ia nuns 300 ou 400 mortos. Bom, a meio da discussão, entrou o Felipe Costa com os jornais do dia, em que vinha uma grande fotografia de uma mulher com a boca aberta. «O que temos aí na gravação da reportagem é o som disto», disse-lhes e eles então lá se calaram. O terceiro caso foi numa reportagem da chamada Tomada da Bastilha, pelos estudantes de Coimbra. E na Renascença? Isso sabes tão bem como eu. Mas és tu quem está a ser entrevistado. Então tenho que te entrevistar sobre isso... Na Renascença estabeleceram essa função de censura por causa de dois programas: o Página 1, onde tu trabalhavas, e o Tempo Zip, onde eu trabalhava. Antes, não existia. Não se punha essa questão. As pessoas eram bem comportadas e de confiança por natureza. Em 70, 71 e 72, pelo menos nesses dois programas, as gravações e textos eram vistos/ouvidos previamente por funcionários superiores da 8 estação. Em casos de grande dúvida, mandavam para o Dr. Feitor Pinto, director dos serviços de informação da Secretaria de Estado da Informação e Turismo. O diálogo processava-se como no RCP? Não, porque não havia serviços formais, com director e hierarquia, como no RCP. Ali [na RR] eram uns gajos com alguns dos quais a malta até se dava bem: «É pá, deixa lá passar essa porcaria!» E houve também em certa fase, devo dizê-lo, alguma cumplicidade da hierarquia da Igreja Católica, proprietária da Renascença, em relação à abordagem de questões sociais. Passávamos reportagens duríssimas, por exemplo sobre bairros de barracas. E, no final, recebíamos um telefonema do secretário do Cardeal D. António Ribeiro: «Apreciámos muito esse trabalho…» Havia alguma cumplicidade. Que acabou mal. Que acabou mal. [Longa pausa] Conta, porque eu não vou contar. Nós dois fazíamos trabalhos em simultâneo, às vezes saíamos de Lisboa juntos, fazíamos a mesma reportagem, mas depois dávamos-lhe cada um o seu tratamento. Uma delas foi a história do coveiro de Salazar. Dessa vez pensei que ia ser preso: «Deixo isto para ser ouvido pela Censura e amanhã, quando chegar cá, sou preso». Informação ao leitor: a entrevista, em volta da forma como Salazar estava enterrado no cemitério da sua aldeia natal de Vimieiro, Santa Comba Dão, e acerca das pessoas que ali se deslocavam em romagem, estava carregada de ironia. Estava editada com um cinismo completo. Passou tudo. As únicas coisas que não passaram fui eu que as cortei pensando que, se as deixasse, o programa era todo cortado. Poucas semanas mais tarde, em 6 de Setembro de 1972, dá- 9 se o assalto de um comando palestiniano à aldeia Olímpica de Munique, com o rapto dos atletas de Israel. Nós, no Zip, tínhamos um enviado lá. Porque nessa altura, alguns programas de rádio, de produção externa, funcionavam com os seus próprios enviados especiais, mesmo a acontecimentos, digamos, jornalísticos. Fazíamos reportagens, comentários, entrevistas. Parodiando O Gato Fedorento, era uma espécie de magazine... Nós, por exemplo, tivemos o José Duarte enviado especial à crise com a Apolo XIII (era o único que tinha possibilidade de viajar imediatamente, trabalhava numa companhia aérea). No dia dos Jogos Olímpicos, estava eu a pensar o que iríamos fazer sobre o assalto, no programa [Tempo Zip, emitido na RR entre a meia-noite e as duas da manhã], quando ouvi no Página 1 [19h30 às 21h00] um comentário teu com o qual estava 100 por cento de acordo. A leitura que eu fiz do que disseste foi esta: estão-se a passar coisas horríveis em Munique, mas já agora convém não esquecer o que se passa, igualmente horrível, todos os dias, com os palestinianos em territórios ocupados (uma expressão que hoje deixou de se usar). Telefonei-te e pedi-te autorização para passar esse comentário no Tempo Zip. Passei a gravação a abrir o programa e pronto, foi o último Zip. O programa, bem como o Página 1, foi suspenso. Ainda houve negociações com os produtores. No meu caso, foi posta como condição para o programa continuar, que eu saísse. Os produtores eram o Marques de Almeida (da Sasseti, é hoje professor em Letras, Lisboa), o Carlos Gil (não é o fotógrafo, já falecido) e o Raul Solnado. Não aceitaram a condição [imposta pela Renascença a mando do Governo], e o programa acabou. 10 (Um ano depois, em Novembro de 1973, João Paulo Guerra é despedido do RCP. É o segundo de cinco despedimentos— a maior parte com contornos políticos — que conhece em duas décadas. A direcção da emissora manda instaurar contra ele um processo disciplinar por quebra do «dever de lealdade», em declarações proferidas durante um colóquio sobre Rádio, em Odivelas. As declarações ocorreram num contexto particular: durante uma acção de campanha eleitoral, organizada pela CDE, e que tinha em vista as eleições legislativas desse ano. Numa intervenção fortemente crítica da situação dos meios de informação prevalecente no país, o redactor-locutor referira-se aos responsáveis das estações como «comerciantes da Rádio», mais interessados no lucro do que no cumprimento da missão de informar. O RCP toma conhecimento das declarações através do jornal República e instaura um processo disciplinar que culmina, em poucos dias, com o despedimento. Logo no dia seguinte ao despedimento, João Paulo Guerra é convidado para integrar o projecto de um semanário que pretende fazer concorrência, «pela esquerda», ao Expresso, de Francisco Pinto Balsemão, saído em Janeiro daquele ano. («Foi curioso», conta, «porque eu tinha recusado um convite do Francisco Balsemão para entrar para o Expresso, porque isso implicava deixar o RCP. E, no fim do ano, não tinha entrado para o Expresso e tinha sido despedido do RCP») O projecto do novo semanário – Actividades Económicas – nunca passará disso mesmo. Mas a sua curta história é bem representativa das movimentações contraditórias que sacudiam Portugal nas vésperas do 25 de Abril. Suportado pelos irmãos Silva, patrões da Torralta – que entregaram ao jornalista e escritor Mário Ventura Henriques o lugar de administrador-delegado e este o de director ao economista Herberto Goulart -, nele trabalham, além do jornalista recém-despedido do RCP, nomes como os de José Saramago, Avelino Rodrigues, Mário Cardoso e Cesário Borga. A RTP chega a passar uma campanha de publicidade, elaborada pela agência Espiral, de José Carlos Ary dos Santos.) A imagem gráfica da campanha criada pelo Ary mostrava uma tesoura, com dois pregos dobrados, que não a deixavam cortar. 11 Tinha que haver o 25 de Abril… Tinha que haver. Saí do RCP num dia e entrei lá no dia seguinte. Os números «zero» foram feitos em Fevereiro e chegou a haver um cocktail no Hotel Ritz para apresentação do jornal. Tudo em grande. Depois fizemos o número 1, que mandámos para a Censura. E a Censura cortou tudo. Até o Boletim Meteorológico. Aquilo também era um bocado provocatório: uma das coisas que eu fazia no primeiro número era a reportagem de uma greve na Robbialac. Adiou-se uma semana, alterámos algumas coisas e mandámos de novo para a Censura. Tudo cortado outra vez. E aí… Aí os irmãos Torralta disseram: «Vamos parar e negociar». egociar o quê e com quem? Não sei, mas suponho que negociaram qualquer coisa com o Governo e com uns particulares. Surgiu um problema com o título do jornal. Pertencia a uma família que, pressionada pelo Governo, voltou atrás e decidiu que não queria vender o título. Trava-se, curiosamente, de familiares do Marechal Carmona, primeiro Presidente do Estado Novo. Na altura, era quase impossível criar um novo jornal e então comprava-se um título que já existisse. Os irmãos Silva ofereceram mais dinheiro, eles não aceitaram. Pagaram grandes indemnizações, nos termos do Contrato Colectivo dos jornalistas para os despedimentos sem justa causa, e mandaram a malta embora, em Março [de 1974]. Não me lembro quanto é que ganhava, mas lembro-me que a indemnização foi de 112 contos, o que na altura era imenso dinheiro. Saímos lá dos escritórios da Torralta, na Duque de Loulé, cada um com o seu cheque no bolso, virámos a esquina, desatámos aos gritos, abraçámo-nos todos e fomos almoçar. No fim, não havia dinheiro para pagar o almoço. Não havia liquidez, só papel… 12 Dias depois chega o 25 de Abril. E cinco dias depois sou convidado para organizar a reportagem do 1º de Maio, pelo Álvaro Belo Marques, que os militares tinham levado do República para a Emissora Nacional. Disse imediatamente que sim. Montámos tudo de um dia para o outro. Os militares puseram a questão de que era bom dar alguma novidade na antena da EN, apresentar gente nova. Alguém se lembrou que havia malta da Rádio e dos jornais na tropa. Vieram requisitados com guia de marcha. Entre eles o Jaime Gama, que era aspirante miliciano na Figueira da Foz, e o José Nuno Martins, que era cadete em Mafra. O Zé Nuno apresentou-se num jipe, fardaducho. Fiquei depois lá, integrado num grupo em que [além destes dois milicianos, de Manuel Tomás, de Carlos Albino, de José Jorge Letria, entre outros] estava também o Manuel Alegre. Havia uma direcção militar, do MFA, que não percebia nada daquilo, e que convidou uma série de pessoas para uma espécie de assessoria. Ficaste até quando? Até ao 25 de Novembro. Fui despedido outra vez. Por um papel afixado na porta a dizer que estava despedido. Despedido antes e despedido depois do 25 de Abril… Tive uma fase da minha vida em que tentei voltar à rádio e tinha as portas todas fechadas: a rádio tinha sido nacionalizada, o que queria dizer que o patrão era o mesmo que me tinha despedido em 1975. Além disso, sentia uma grande frustração e uma enorme injustiça. Eu tinha o direito de exercer a minha profissão. E aquela era a minha profissão. Eu não era um «jornalista produzido» pelo cartão de um partido. Vivi então um período complicado de todos os pontos de vista. Até da simples subsistência… ão se ia era para a prisão… 13 Houve pessoas que foram para a prisão no 25 de Novembro. Tinha um amigo que trabalhava na RTP em cujo processo estava escrito qualquer coisa como isto: «No 25 de Novembro não estava nas instalações da RTP, mas se estivesse teria usado armas como os outros contra os seus companheiros». O processo do 25 de Novembro foi inenarrável. Nunca poderia chegar a julgamento. Só poderia ser arquivado, como foi. Eu tinha no meu processo — mostraram-me – acusações dadas como provadas deste género: «Teria dito, referindo-se aparentemente ao presidente da Direcção “onde é que se meteu esse palhaço?”» “Teria dito?” “Aparentemente referindo-se”? … Isto era uma acusação provada… Qual foi o passo seguinte? O Diário. As reuniões começaram imediatamente, com aquela malta toda que era em larguíssima maioria do Partido Comunista e que tinha sido suspensa ou despedida… … menos o [José] Saramago, que ainda há dias se me queixava [numa entrevista ao Público, a propósito do seu livro As Pequenas Memórias] de não ter sido convidado… Participei nas primeiras reuniões, mas depois pediram-me para eu ficar ainda algum tempo lá no Partido Comunista a organizar uns dossiês sobre questões de imprensa. Fiquei cerca de um ano e só então é que fui para o jornal. Ficaste até ao fim, no Diário? Sim, até Junho de 1990. Depois entrei no Público, onde fiquei uns meses, até ir para a TSF, com uma passagem em simultâneo pelo semanário O Jornal. Após seis anos na TSF, com uma ameaça de despedimento não concretizada em 1994, passei depois pela Central-FM [efémero projecto megalómano — «Um caso de gangsterismo», acusa] e Diário Económico [onde se mantém, como redactor-principal]. Abandonei O Diário em despedimento colectivo. 14 Primeiro foste despedido pelos vencedores do 25 de ovembro; depois, pelos vencidos… … Exactamente. No 25 de Novembro fui despedido pelo PS; quando o processo do 25 de Novembro foi arquivado pedi a integração na RDP, o que foi recusado por um governo do PPD e do CDS; e por fim fui despedido pelo PCP. Um caso do maior pluralismo… (A experiência em O Diário constitui um bom pretexto para iniciar a abordagem da questão das incompatibilidades. Embora não sendo o órgão central de um partido e situando-se na categoria de diário generalista, este jornal veiculava quotidianamente as posições do PCP, não sendo admissível que outras posições, por exemplo partidárias, ali encontrassem espaço de defesa. João Paulo Guerra começa por responder que não vê qualquer incompatibilidade: «O Diário era feito pelos jornalistas de O Diário, que eram militantes ou simpatizantes do PCP. O Diário tinha muito bons jornalistas, alguns dos quais estão ainda hoje nos principais e mais diversos meios de comunicação e até em lugares de destaque. A direcção e as chefias não iam à direcção do PCP para porem o visto. Enquanto trabalhei lá, nunca ninguém me disse o que é que eu podia escrever nem nunca ninguém me disse o que é que eu não devia escrever ali. Mas acho que isso se tornava relativamente fácil pelo facto de que ali eu podia escrever aquilo que de facto tinha vontade de dizer. Até determinada altura». Essa altura surge, já na fase final do jornal. ) Uma vez o [secretário-geral do PCP] Álvaro Cunhal disse-me assim: «A intenção do PCP não era esta. Era criar um jornal mais aberto. Quem fez de O Diário um jornal estritamente do PCP foi o [primeiro director] Miguel Urbano [Rodrigues]». A partir de determinada altura houve uma mudança na direcção e nas chefias. Durante um tempo ainda foi possível fazer a 15 mudança, porque na organização interna do PCP o elemento em cujo pelouro estava o jornal era Ângelo Veloso, um dirigente histórico com um ar de bruto mas com algumas qualidades fantásticas: inteligente e culto; gostava de discutir as coisas; e detestava hipocrisias e intrigas. O [director] António Borga conseguiu, com algum apoio dele, mudar as chefias do jornal. Entraram, além de mim, o Joaquim Benite, o Baptista-Bastos e o João Alferes Gonçalves. O Ângelo Veloso morre entretanto, com um cancro galopante, e nós somos encostados à parede. Aguentamos aquilo durante uns seis meses, até 12 de Junho, última edição do jornal, num braço de ferro com a direcção do PCP. Questões ideológicas? Nós queríamos fazer um jornal e eles queriam fazer um boletim. Dou um exemplo de um caso de que eu fiz a primeira página. Era uma fábrica de pastelaria, em greve contra o encerramento da empresa. No tempo do Miguel Urbano, O Diário daria o comunicado do Sindicato e ele fazia um editorial. Nós deixámos de publicar os comunicados sistemática e integralmente. Se o assunto era interessante — e nós achámos que aquele era — dávamos a notícia, até citando a posição sindical, e íamos fazer uma reportagem. Naquele caso até pusemos em primeira página uma foto e um grande título: «Amargura na fábrica dos doces». Mas os Sindicatos começaram a queixarse ao PCP: «Não publicaram os nossos comunicados!». Do PCP vinham recados do género: “Não publicaram o comunicado! Não fizeram uma notícia do funeral do camarada tal, do comité central!»… Isso demonstra esse obstáculo, que é fazer jornalismo dentro de um partido. Nós tivemos ali um momento fugaz em que foi possível. Mas provou-se que de facto é difícil. 16 o que respeita ao desporto: é possível ser de um clube e escrever sobre ele? Há malta que mostra que sim, praticando a isenção. Não vejo incompatibilidade. Acho que não deve haver uma norma que proíba ou procure controlar coisas desse tipo, sob o risco de cairmos numa paranóia persecutória de tipo «mcartista». (Não tem dúvidas em dizer que votou Manuel Alegre nas últimas presidenciais. Acha que se justifica ainda a distinção entre esquerda e direita, embora vislumbre nesse campo alguma alteração de fronteiras, agora. Ele próprio mudou, no plano partidário: após a crise em O Diário, abandonou o PCP, a que estivera ligado desde antes do 25 de Abril. O processo, doloroso, levou-o também a deixar de ser sócio do Sindicato dos Jornalistas, que considera ter-se «portado muito mal» no caso de O Diário. Hoje diz-se «cidadão particular, sem compromissos», sem qualquer preconceito no plano ideológico e sem identificação no plano partidário: «Não me consigo hoje situar no campo de nenhuma força política, porque acho que todas elas estão minadas por alguma perversidade». Aponta o seu próprio exemplo. «Aderi ao PCP porque identificava ali a possibilidade de realizar as aspirações de generosidade que tinha em relação aos outros. Saí porque achei que aquilo era tudo um embuste. Que aquilo era uma máquina de poder como qualquer outra e que se aproveitava dessa generosidade das pessoas para fins próprios do poder». Mas continua a votar, ainda que admita que nem sempre vota válido. «Vou lá sempre [à urna de voto]. Custou muito a ganhar aquilo», nisso não seguindo o caminho de José Rodrigues dos Santos que não participa em actos eleitorais na tentativa de preservar a sua isenção. «Não considero necessário exibir a minha isenção dessa maneira», diz. Concorda que o jornalista faça declarações de interesses, de modo a clarificar a sua posição patrimonial perante os leitores. Não acha, porém, que deva chegar ao ponto de revelar em quem pensa ir votar: «Por mim, tenho feito cobertura de campanhas eleitorais — sou sempre o primeiro a oferecer-me, porque são uma oportunidade para fazer 17 reportagem que é do que mais gosto — e desafio quem quer que seja a ler qualquer reportagem em qualquer das campanhas eleitorais que fiz e dizer que não está um trabalho isento». Não revela qualquer complexo em ter passado de um jornal como O Diário, propriedade do PCP, para um jornal como o Diário Económico, órgão do mundo empresarial, com trânsito pelo Público, propriedade de um grupo empresarial, pelo semanário O Jornal e pela TSF. Entrou no Diário Económico a convite de Sérgio Figueiredo, foi editor de política, grande-repórter e viria a fazer parte de um projecto do ex-director do jornal que passava por uma rádio e uma televisão de economia. «Faço, no Diário Económico, notícias, reportagens, entrevistas, textos de investigação biográfica ou histórica e uma coluna de opinião em que digo rigorosamente o que penso. Contra ou a favor, num exercício crítico de absoluta liberdade. Nunca ninguém dentro do jornal me fez algum reparo e a coluna já se publica há sete anos sem interrupção. A independência que eu procuro ter, faz com que haja gente muito diferente que está de acordo comigo, como outra que está em desacordo». Mais de quatro décadas de jornalismo fornecem um lastro de experiências que lhe permitem o balanço sobre o deve e haver da profissão, bem como acerca das grandes alterações no seu exercício.) . Pondo de parte a acção da censura, que desenho fazes destes anos de exercício do jornalismo? É muito difícil. Todos nós, que já discutíamos sobre o assunto, sentimos outros condicionamentos, particularmente o do poder económico, para além da censura. Lembro-me de um capítulo dedicado à concentração dos meios, num livro publicado em 1971 pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão intitulado Informar ou Depender?, que antecipava questões tecnológicas muito interessantes. Nas reflexões sobre os perigos da concentração tinha uma frase extraordinária que eu faço minha desde os tempos do RCP até à 18 actualidade: “Se – para usar um exemplo inocente – uma revista pertence a um grupo açucareiro, nela não se escreverá que o açúcar engorda.”… A propósito de tecnologia: vocês iam em reportagem, em finais dos anos 60, com um gravador de cassetes tipo tijolo? Atenção: a primeira vez que saí da redacção para fazer um exterior (era assim que chamávamos à notícia feita cá fora, com recolha de informação), fui com uma máquina de fita de arrasto. A marca da máquina — espero que ela esteja recolhida no Museu da Rádio – era Butoba. Não era alimentada por energia eléctrica. Era de corda. Dava-se a corda como no caso das bombas dos fogareiros de petróleo. Vocês já não levavam técnico convosco? Já não. Isso era na Emissora: motorista, técnico, escriturário, e tal. Mais tarde, já no início dos anos 70, passámos a usar radiotelefone. Havia dois ou três carros equipados para os directos. Esse directo por radiotelefone era um grande avanço em relação ao que se passava até aí? Para se fazer um directo, antes, tinha que se pedir aos Correios, com certa antecedência, para montarem uma linha. Era muito seleccionado — futebol, automobilismo e pouco mais. O RCP inaugurou também o uso de um avião como relais [repetidor] nas coberturas da Volta a Portugal em Bicicleta. Escreviam à mão ou à máquina? Não havia nenhuma norma, uma vez que éramos nós que íamos ler. Eu escrevia à máquina, mas por exemplo, o Luís Felipe Costa escrevia à mão, numa letra muito certinha. Quase meio século depois, usas computador, telemóvel, internet. Jornalisticamente, o trabalho é semelhante? 19 Acho fantástico: trabalhei a maior parte da minha vida sem nada destas coisas e já não concebo como é que se pode trabalhar sem isso. Prevês a morte do jornal? Toda a gente anda sempre a profetizar a morte de qualquer outra coisa: a televisão profetizou a morte da rádio; a rádio profetizou a morte dos jornais. Acho que provavelmente vai dar-se um grande arranjo disto tudo – os jornais vão ser mais especializados – mas acho que vai haver espaços para todos os meios, desde que estes não se pisem uns aos outros. A verdade é que os leitores estão a abandonar os jornais… …talvez porque há falta de resposta a esta situação. Se o jornal é igual à rádio e à televisão e vice-versa, há que dispensar um deles, e aí as pessoas vão para o mais cómodo: o que lhes fornece tudo. O que é que achas que melhorou e piorou no jornalismo? Melhor: o jornalismo passou a ser um exercício de liberdade, é uma melhoria extraordinária; depois, a formação – o pouco que eu aprendi na Faculdade pouca aplicação teve; no estágio na Renascença não tinha ninguém a ensinar-me, era uma aprendizagem de ouvido; no RCP, aprendíamos uns com os outros, por acaso até conversávamos. Mas no Rádio Clube tivemos o grande privilégio de trabalhar com o Luís Felipe Costa. Ele tinha um estilo que era o estilo da Rádio. Provavelmente, hoje, há cadeiras na universidade para ensinar aquilo; o Felipe Costa tinha-o intuitivamente. A linguagem da Rádio era aquilo que ele fazia: breve, clara, sintética, directa… …e bela… …e bela. É fantástico! Mas realmente, agora, há formação e então não havia. Já são duas grandes diferenças. Para pior: apesar disto tudo, talvez por via de alguma formação geral não ser a melhor, são os disparates que se ouvem, 20 vêem e lêem. Disparates do mais elementar, confrangedores. E há pouca preocupação em aperfeiçoar o português, em cultivar uma boa escrita. Há gente da nossa geração que diz que os jovens de hoje são piores. Não penso isso. Alguns são piores; há outros que são melhores; e há alguns menos jovens que também são muito maus. Isso é transversal. Qual a comparação relativa que fazes entre a colocação social do jornalista dos anos 60 e de hoje? A mediatização de toda a sociedade é maior. E isso promove as vedetas dos media. Mas isto funciona também no sentido contrário. Nunca me esqueço de uma vez ter feito uma reportagem com o Celestino Amaral [Expresso, já falecido], sobre o caso dos GAL (grupo terrorista anti-terrorista, ramo português). Era o início do julgamento, em Viana do Castelo. Um aparato extraordinário, com jornalistas de Portugal, Espanha e França. O juiz mandanos sair, porque precisava de perguntar aos réus se aceitavam a presença das câmaras. Um pedaço de tempo depois vem cá fora anunciar a decisão. “Um dos réus diz que não autoriza.” Olha para nós e acrescenta: “Mas a mim, podem fotografar e filmar à vontade”… Muitas figuras passam a vida a pregar contra a mediatização mas vêem uma câmara de televisão e não resistem. Os teus ouvintes e os teus leitores de então e de hoje, são diferentes? Os de hoje são muito mais críticos. Na correspondência que recebo, há bons argumentos dos que concordam e dos que discordam. Mas o Diário Económico é um jornal muito especializado, claro. O jornalista tem mais ou menos poder? O jornalista tem cada vez menos poder. Há mais centros de poder. E o poder está mais e muito bem organizado e relacionado, directamente ou através de agências de comunicação. Mas eu acho que, por exemplo, o Júlio Botelho 21 Moniz [presidente da direcção do RCP] tinha imenso poder. Lembro-me de ele andar a negociar um emissor de Onda Curta com o Governo e de, conforme as negociações correrem bem ou mal, assim ele mandar o Silva Pinto [chefe dos Serviços de Produção e comentador do jornal das 8 da noite] escrever um editorial a bater ou a dizer bem do Governo. Sobre questões de trânsito, e coisas assim… Sim, mas tinha poder. De qualquer modo, hoje também têm. Não sendo a publicação de jornais um negócio particularmente rentável, por alguma razão é tão apetecível. O que é que te atrai no jornalismo, ainda hoje? Gosto de ouvir as pessoas e de as dar a ouvir. Mesmo fora da nossa actividade profissional, cada vez há mais surdos. As pessoas estão a falar e ninguém liga, há outros ruídos por cima. Do que eu gosto mais é disso: ouvir as pessoas e depois transmitir a outros o que aquele gajo ali tem para dizer. Voltavas, hoje, a ser jornalista? Sem dúvida. Apesar de saber que hoje ia ter provavelmente situações mais complicadas do1 ponto de vista laboral. (Cronista, autor de vários livros – Memória das Guerras Coloniais (1994), Descolonização Portuguesa – O Regresso das Caravelas (2000), Savimbi Vida e Morte (2002), Diz que é uma espécie de Democracia (2008) – confessa-se um leitor obsessivo. «Estou sempre a ler. Um ou mais livros. Acabo de ler um livro que me fascinou: uma biografia romanceada de Edgar Hoover [longos anos director do FBI], A Maldição de Edgar.» Acompanha programas de informação nas têvês, nacionais e estrangeiras, documentários, algumas reportagens desportivas, mas nada de reality shows, de telenovelas. Frequenta regularmente o cinema e o teatro. E faz viagens, a última foi em Novembro. «Estive uma semana em Atenas, com a minha mulher. A penúltima, foi nas férias, com a minha mulher e o meu miúdo mais novo, que tem 9 anos, fomos passá-las à Sicília.» 1 Reedição em 2009, muito aumentada 22 Não se lhe coloca a questão religiosa. «Não sou católico, mas não sou contra», diz, recordando que a sua família era católica e ele próprio estudou nos Salesianos, no Estoril. «Assistia à missa todos os dias. Todos os dias. Missa. Fiquei com missas para o resto da vida.» Diz-se admirador de muita gente que na Igreja se preocupa com os outros, como, por exemplo, o que observou em Timor. Nenhuma admiração, no entanto, «pelos beatos que usam a Igreja contra a filosofia de Jesus Cristo». A última pergunta deste encontro de mais de duas horas vai, de novo, para a Rádio. A resposta é, por si, uma história de vida.) O que representou para ti este regresso à Rádio [como colaborador, para fazer uma revista de imprensa no Programa da Manhã da Antena 1]? Uma grande satisfação. Porque eu sou da Rádio. Conservo tiques que pertencem à Rádio. Por exemplo, ler as coisas que escrevo em voz alta. Para ouvir como soam. Gostei de voltar à Rádio, quando o Emídio Rangel me convidou para a TSF, e gostei agora, quando o Rui Pêgo me convidou para colaborar na Antena 1. Tenho, com a Rádio, uma ligação emocional, profissional e técnica. Mas a paixão nem sempre foi correspondida. Estive muitos anos afastado: manifestava o meu interesse e disponibilidade em trabalhar, fazia propostas, apresentava ideias, era tudo recusado. Por condicionalismos a que sou alheio, hoje já tenho mais anos a trabalhar em jornais do que a trabalhar na rádio. E, no entanto, sou da Rádio. 23
Download