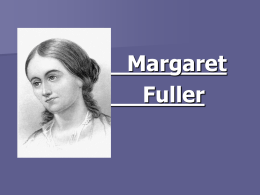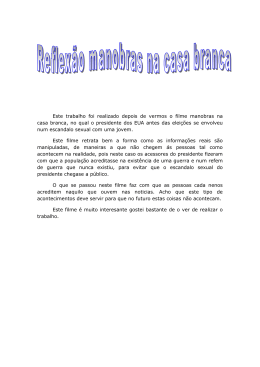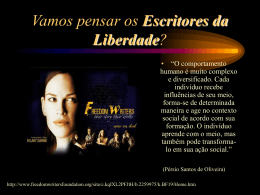Ministério da Cultura apresenta Banco do Brasil apresenta e patrocina Idealização Julio Bezerra e Ruy Gardnier Organização editorial Ruy Gardnier Produção Gráfico-editorial José de Aguiar e Marina Pessanha Centro Cultural Banco do Brasil 1ª edição/2013 O Ministério da Cultura e o Banco do Brasil apresentam Samuel Fuller: Se você morrer, eu te mato!, retrospectiva sobre a obra de um dos realizadores mais influentes da história do cinema. Samuel Fuller foi jornalista, escritor e soldado antes de fazer cinema. Como roteirista e cineasta, subverteu padrões com personagens deslocados e anarquistas, e ficou conhecido como o “poeta dos tablóides”. Escrevia, produzia e dirigia filmes urgentes, marcados por situações dramáticas limítrofes, que travavam um embate franco com a sociedade americana pós Segunda Guerra Mundial. A programação conta com mais de 20 longas dirigidos pelo cineasta, com títulos que abarcam suas fases e obsessões temáticas e estilísticas, além de um debate para aprofundar o conhecimento do trabalho desse cineasta incensado pela crítica francesa como um dos autores máximos da sétima arte, cultuado por diretores como Jim Jarmusch e Martin Scorsese, e homenageado por Jean-Luc Godard, Wim Wenders e Steven Spielberg. Com esta retrospectiva, o Centro Cultural Banco do Brasil, mais uma vez, oferece ao público a oportunidade de conhecer melhor um artista importante dentro da história do cinema e contribui para a formação de um público com melhor entendimento desta. Centro Cultural Banco do Brasil 5 O mais perigoso de todos Zack, veterano sargento do exército americano, perde a paciência depois que um menino sul-coreano que o acompanhava é morto por um franco-atirador, e atira à queima-roupa em um desarmado oficial norte-coreano. Morte ou assassinato? Talvez não faça diferença em uma guerra, no caso, a da Coréia, nos anos 50. Ou faz? O que contam as regras? O que pensa o sargento? O que diz seu comandante? O mundo é um lugar abarrotado de perguntas em um filme de Samuel Fuller, e embora cada um de nós tenha o direito inalienável de buscar suas próprias repostas, uma enormidade de regras e códigos nos conforma. Viver é esbarrar a cada esquina com uma contradição insuperável. Atordoado, confuso, cansado, Zack grita para o prisioneiro em Capacete de Aço (The Steel Helmet, 1951): “Se você morrer, eu te mato!” Fuller faz cinema sem meias palavras. Atém-se aos fatos, aos detalhes mais mundanos, porém não menos cruciais, sem distinção aparente entre o pessoal e o político. Sua decupagem é algo excessiva, assim como o uso da música. Os planos são instáveis. A trama se desenvolve em saltos, como se fosse narrada por alguém absolutamente transtornado, afogado no mundo contraditório do qual faz parte e ao qual dá vida. São filmes diretos, bruscos, brutos, pouco elegantes. Eles refletem o temperamento passional do cineasta, sua urgência incontida, seu olhar objetivo, porém sempre disposto a perder-se na emoção. Em um longa de Fuller, o movimento é um misto de precisão dramática e emoção. Fuller foi repórter policial. Lutou na Segunda Guerra. Fez suas primeiras imagens em um campo de concentração. Voltou com a convicção de que o tempo do cinema é o presente e travou um confronto franco com a sociedade de sua época. Embora filmasse de dentro dos estúdios hollywoodianos, sempre esteve à margem. Fuller pertence a outro lugar. Ele mostra outro lado. “Entra pela porta dos fundos”, conta Inácio Araújo. Seus personagens são anarquistas, apegados com unhas e dentes ao seu livre arbítrio. Eles não acredi6 tam em códigos pré-estabelecidos e estão dispostos a pagar altos preços por isso. São covardes apaixonados, heróis assassinos, prostitutas regeneradas, jornalistas inescrupulosos, homens em guerra. Eles estão inevitavelmente em rotas de colisão violentas e dissolvem-se em emoção. Somos todos Jekyll e Hyde, ao mesmo tempo, para todo o sempre. A guerra é como a metáfora fundamental ou o princípio organizador desse cinema. É o que Fuller, em uma participação especial, diz ao personagem de Jean-Paul Belmondo em O Demônio das Onze Horas (Pierrot le Fou, 1965), de Jean-Luc Godard, quando ele o pergunta o que é o cinema: “É um campo de batalha. É amor, ódio, ação, violência, morte. Em uma palavra: emoção”. Em Fuller, um corte, um plano-sequência, um close, um movimento, a câmera subjetiva presidem um conjunto de perspectivas e proposições não negociáveis. O que torna cada um de seus gestos uma espécie de ato de ruptura, de resistência, diante de um mundo injusto e absurdo, sem Deus. Como disse certa vez Francis Vogner dos Reis, Fuller talvez tenha sido o cineasta mais perigoso da história. Samuel Fuller: Se você morrer, eu te mato! é uma retrospectiva dedicada a exibir e fomentar a discussão a respeito desse que é um dos cineastas mais originais e influentes da história do cinema. Uma boa mostra a todos. Julio Bezerra Curador 7 Sumario Marcos críticos 10 Sam Fuller: nos passos de Marlowe Luc Moullet 12 Samuel Fuller Manny Farber 26 Fuller, energia e loucura NicolasGarnham 32 Agonia e Glória: a reconstrução KentJones 50 58 Fuller por ele mesmo The Dark Page Capítulos 1 e 2 60 A Third Face Capítulo 5: Corra, Sammy, corra Capítulo 11: Esqueça a grandeza Capítulo 15: Falkenau Capítulo 31: Mato Grosso Capítulo 37: Respirando vingança 78 79 93 101 107 114 Entrevista: Eric Sherman e Martin Rubin 124 Seção de fotos 152 180 Filmografia comentada Sobre os autores 8 230 9 Marcos criticos crétito da foto Luc Moullet Sam Fuller: nos passos de Marlowe 1 Os jovens cineastas americanos não têm nada a dizer, e Sam Fuller menos ainda que os outros. Há algo a ser feito e ele o faz, naturalmente, sem forçar. Esse não é um pequeno elogio: detestamos os filósofos fracassados, que fazem cinema apesar do cinema, que reproduzem descobertas de outras artes, aqueles que querem exprimir um tema digno de interesse por meio de um certo estilo artístico. Se você tem alguma coisa a dizer, diga-a, escreva-a, pregue-a se quiser, mas nos deixe em paz. Pode surpreender semelhante a priori a propósito de um cineasta que confessa ter grandes ambições, e é o autor completo de quase todos os seus filmes. Mas são justamente aqueles que o classificam de roteirista inteligente que não apreciam Capacete de Aço (The Steel Helmet, 1951), ou que, em seu nome, rejeitam Renegando o Meu Sangue (Run of the Arrow, 1957), que - outra possibilidade defendem por razões totalmente gratuitas. Da coesão. De quatorze filmes, Fuller, antigo jornalista, consagra um ao jornalismo; antigo repórter criminal, quatro ao melodrama policial; antigo soldado, cinco à guerra. Os quatro westerns aparentam-se ao gênero filme de guerra, pois é a perpétua luta contra os elementos, na qual o homem reconhece sua dignidade, que define a vida do pioneiro do século passado, luta esta, prolongada em nossa época pela vida do soldado: é por isso que “a vida civil não me interessa” (Baionetas Caladas [Fixed Bayonets, 1951]). Em A Página Escura (The Dark Page), pequeno romance policial superacelerado, um jornalista arrivista bem-sucedido mata acidentalmente sua ex-amante; por desafio, jogo e necessidade profissional, ele coloca seu melhor repórter no caso, e se vê obrigado a cometer crime após crime para não ser descoberto. O problema: a descrição, e através desta, o questionamento do comportamento fascista, como em A Marca da Maldade (Touch of Evil, Orson Welles, 1958). Mas aqui, Quinlan e Vargas se estendem as mãos: a contribuição estética do primeiro – pois o fascismo é belo – e a contribuição moral do segundo – sozinho, ele tem a razão do seu lado – se nutrem mutuamente. Welles renega Quinlan, mas ele é Quinlan: eterna contradição cujas origens estão no final da Idade Média, no Renascimento italiano e no drama elizabetano, perfeitamente definida pela parábola do relógio cuco em O Terceiro Homem (The Third Man, Carol Reed, 1 Originalmente publicado na edição n°93 de março de 1959 da revista Cahiers du Cinéma. Tradução de Luiz Soares Jr. 12 12 13 1949). Com Fuller, é diferente: abandonando o domínio do absoluto, ele nos propõe um compromisso entre a moral e a violência, cada uma necessária, contra seus próprios excessos. A esse compromisso corresponde a conduta de Adam Jones, o comandante de Tormenta Sob os Mares (Hell and High Water, 1954), o trabalho do soldado e do policial, e do cineasta também. Os valorosos soldados de Capacete de Aço matam com o mesmo prazer que os gângsteres de Anjo do Mal (Pickup on South Street, 1953); apenas um certo aprendizado da relatividade poderá nos fazer entrever as mais elevadas esferas: daí a razão deste não conformismo integral. Os canalhas tornam-se santos. Ninguém consegue se identificar com eles. É pelo amor de uma mulher que o covarde Bob Ford, a vergonha da saga do Oeste, mata Jesse James. É pelo amor de uma mulher que James Reavis, tornado barão de Arizona graças a um complô monstruoso que se estende por vinte anos, confessará tudo no momento em que já não tinha nada mais a temer e permanecerá voluntariamente sete anos na prisão. É um covarde, um antimilitarista, Denno, que se tornará herói de guerra (Baionetas Caladas). É um batedor de carteiras, Skip (Anjo do Mal), que graças ao amor de uma mulher, roubará dos espiões comunistas preciosos documentos os quais eles tinham interceptado, e através desse roubo se reabilitará. Charity Hacket, redatora chefe com hábitos de gângster, da rua Park Row, será finalmente conquistada pela tenacidade de seu concorrente democrata, Phineas Mitchell, que ela tentou ultrapassar de todas as maneiras; ela o salva da ruína e se casa com ele. Aqui, e em Baionetas Caladas, é abordado este tema wellesiano do duplo que constitui a ossatura de Casa de Bambu (House of Bamboo, 1955): a identidade do policial associado aos gangsteres só nos é revelada em plena metade do filme, e nada, até então, nos permitia distingui-lo dos outros. E é o próprio chefe da gangue que lhe estende a mão, que o salva da morte: “Paradoxalmente, Fuller, tão decidido, tão viril, é um mestre da ambiguidade”, disse Domarchi. Aqui, o estudo dos dois personagens dá um sentido profundo a essa justaposição que, num Welles, reflete os artifícios de uma má consciência. Quinlan e Vargas não podem se comparar, pois são complementares, e formam em realidade um único ser, o ser do autor, enquanto que aqui, Sandy e Eddie podem ser comparados. O que, pelo contrário, não impede Welles de ser incomensuravelmente maior que Fuller. Aposto inclusive que, se ele um dia for ver Renegando o Meu Sangue, exasperado, deixará a sala antes dos créditos. 14 Fuller acima da política Pelo seu não conformismo, Renegando o Meu Sangue bate todos os recordes: no dia seguinte à derrota, O’Meara, soldado sulista, vai de encontro aos Sioux para lutar contra o jugo nortista. Em parte convencido pelo capitão Clarke, o ianque liberal, que lhe mostra a inanidade de seu ódio, e instruído pelo infeliz exemplo do tenente Driscoll, o ianque fascista, ele retornará à sua pátria. Em julho de 1956, no New York Times, o próprio Fuller precisou o sentido da fábula, que explicaria as dificuldades do regime americano contemporâneo: os adversários políticos do governo, em qualquer época, buscam maturar seu ressentimento, aliando-se aos inimigos de seus países. Há aí várias interpretações possíveis, e Fuller deixa subentendido que a aliança com os índios de então corresponde à aliança, a respeito da questão do Sul, com os elementos negros mais violentos. Contrariamente ao que se possa dizer de Fuller, não existe nele nenhum maniqueísmo, ainda menos que em Brooks, já que aqui encontramos dois tipos de nortistas, dois tipos de sulistas, e ainda quatro tipos de indígenas. O Huma-Dimanche1 mostrou-se perplexo diante de tal confusão: “Os sulistas são antirracistas; os nortistas são racistas; os indígenas, pró-americanos; e certos americanos, pró-indígenas”. Quando os renegados são obrigados a se contradizerem, ou seja, a massacrarem seus concidadãos, eles dão meia-volta: “The end of this story could only be told by you”, ou, se assim preferirem, já que estamos em julho de 1956, a vida dos Estados Unidos dependerá do voto que vocês depositarão nas urnas no próximo novembro. Eis aí, em aparência, um filme nacionalista, reacionário, nixoniano. Fuller seria então este fascista, este ultrarreacionário outrora denunciado pela imprensa comunista? Não o creio. Ele possui em demasia o dom da ambiguidade para pertencer exclusivamente a um único partido. Se o fascismo é o tema de sua obra, Fuller não se erige em juiz. É um fascismo interior que o preocupa, ao invés de suas consequências políticas. É por isso que os personagens de Meeker e Steiger são mais fortes que o de Michael Pate em Sangue Sobre a Terra (Something of Value, Richard Brooks, 1957): Brooks é excessivamente cuidadoso para ser implicado na questão, enquanto que Fuller se encontra em casa; ele fala do que conhece. E apenas o ponto de vista sobre o fascismo de alguém que fora tentado por este é digno de interesse. 1 Huma-Dimanche: Humanité-Dimanche, revista francesa de orientação comunista [n.d.t.]. 15 1 Anjo do Mal foi banido na França por sua representação dos comunistas, e No Umbral da China, que se passa na Guerra Vietnamita, por sua representação dos franceses; Proibido! (Verboten!, 1958) ainda não tinha sido visto na França. Quando Anjo do Mal foi finalmente liberado na França, em 1961, foi numa versão dublada chamada Le port de la drogue (literalmente O Porto da Droga) na qual toda história referente ao roubo de segredos de Estado americanos por comunistas tinha sido transformada em uma trama sobre o tráfico de drogas, uma alteração cuja facilidade com que se realizou foi tomada para validar o ponto de vista de Moullet sobre a representação abstrata do inimigo. Anjo do Mal foi criticado por Moullet em Cahiers du Cinéma nº 121, Julho de 1961, e Proibido! em Cahiers du Cinéma nº 108, Junho de 1960 [n.d.t.]. 16 Fascismo de gestos mais que de intenções. Pois não nos parece que Fuller seja exatamente um especialista em política. Se ele se proclama de extrema-direita, não seria para mascarar, sob uma fachada exterior mais convencional, um ponto de vista moral e estético pertencente a um domínio marginal pouco apreciado? Fuller anticomunista? Não precisamente. Pois Fuller confunde, em parte, indubitavelmente por motivos comerciais, comunismo e gangsterismo, comunismo e nazismo. Ele imagina os representantes de Moscou, a respeito dos quais é completamente ignorante, a partir do que conhece, por sua própria experiência, dos nazistas e dos gângsteres. Não esqueçamos que Fuller só fala daquilo que conhece. Quando pinta o inimigo (e em Capacete de Aço, Baionetas Caladas e Tormenta Sob os Mares, ele se arranja geralmente para passar silenciosamente por esse aspecto), é um inimigo muito abstrato, extremamente convencional. Apenas o diálogo se encarrega de meter os pingos nos is, e é lamentável que Anjo do Mal (Pickup on South Street, 1953) e No Umbral da China (China Gate, 1957) nos sejam verboten por um motivo tão pouco fundamentado. A moral é uma questão de travellings. Esses pequenos detalhes não derivam em nada do modo pelo qual são expressos, muito menos de sua qualidade de expressão, que aliás os desmente com frequência. Seria totalmente estúpido tomar esse filme tão rico por uma defesa pró-indígena ou racista, assim como seria estúpido tomar Delmer Daves por um corajoso cineasta antirracista só porque, a cada contrato assinado, uma cláusula estipula a presença em seus filmes de relações amorosas entre seres de raças diferentes. O público inadvertido não se deu conta de nada, e é sempre o público que tem razão. Um cinema moderno A câmera se desloca pela esquerda, num plano baixo de um campo de milho com admiráveis tons de amarelos intensos, recoberto de cadáveres de soldados em uniformes sujos e escuros, alinhados nas mais curiosas posições; depois se eleva para enquadrar Meeker, adormecido em sua montaria, num estado lamentável. Sobre um fundo de fumaça negra extremamente densa, destaca-se Steiger, tão sujo quanto o outro, mas vestido de camponês. Ele atira em Meeker, vasculha sua vítima, descobre comida em seus bolsos, instala-se sobre o corpo para comer o que achara; percebendo que carrega um pouco de pão também, ele o pega; acende um cigarro. Meeker começa a reclamar incomodado, Steiger se afasta um pouco para longe. Close em Steiger, que masca e fuma. Então, em imensas letras vermelhas, se inscreve em sua fronte e sobre o seu queixo o título do filme. É a primeira vez que os créditos aparecem sobre o rosto de um homem, e de um homem prestes a comer. Essa sequência, digna de uma antologia do cinema moderno, já revela algumas das qualidades mestras do nosso cineasta. 1º O senso poético do movimento de câmera. Em muitos cineastas ambiciosos, os movimentos de câmera dependem da composição dramática. Jamais isso se dá em Fuller, onde sua gratuidade é felizmente total: é em função do poder de emoção do movimento que se ordena a cena. Assim, ao final de Capacete de Aço, é o caso deste lento deslocamento da câmera, no qual, sob o fogo ardente das descargas das metralhadoras, desabam, segundo um ritmo musical, os inimigos. Baionetas Caladas formiga de longuíssimos travellings circulares de 360°, e em igual medida de closes os quais, ao espocar de rosto em rosto, são impregnados de um ritmo fascinante. 2º Um humor fundado sobre a ambiguidade. Aqui, o contraste entre o corpo de Meeker agonizante e a impassibilidade de um Steiger esfomeado. Mais adiante, num impressionante close, veremos um camponês do Sul transbordar em canções a força do seu ódio contra os ianques. Juntemos a isso algumas reflexões picantes sobre a Constituição dos Estados Unidos. Walking Coyote confessa que não buscou se tornar chefe de sua tribo, pois a política o enoja. Indignado com a possibilidade de que o enforquem, ele exclama: “Ah! Que tempos! Na minha época, isto não era assim. Hoje, não há mais moral. Os jovens massacram os velhos, matam, embriagamse, estupram”. Réplica que poderia muito bem figurar em Os Trapaceiros (Les Tricheurs, Marcel Carné, 1958) ou em qualquer filme americano sociológico, mas que colocada na boca de um Sioux de 1865, nos mata de rir. Em cada diálogo, Fuller se diverte em nos desconcertar; ele dá a impressão de esposar todos os pontos de vista, e é isso que torna seu humor sublime. Cada cena de amor (a das sobrancelhas em Casa de Bambu, a da tatuagem e da bofetada em Tormenta Sob os Mares, onde encontramos também uma admirável paródia do poliglotismo do jargão comercial) enriquece um motivo extremamente banal por meio de um texto cheio de verve e de originalidade. 17 3º Uma recriação da vida que não possui nada em comum com a que nos é geralmente imposta na tela do cinema. Ao invés do civilizado Brooks, é a O Atalante (L’Atalante, Jean Vigo, 1934) que devemos nos reportar. Fuller é um personagem rude: tudo o que faz é incongruente. Uma centelha de loucura o habita. Mas temos necessidade dos loucos, pois o cinema é a mais realista das artes; e na evocação da existência, os cineastas sensatos permaneceram sob a influência das tradições estabelecidas desde séculos pela literatura e pintura, coagidos a esquecer a verdade mais superficial em nome do realismo, limitado visual e temporalmente. Apenas os loucos podem aspirar a criar um dia uma obra comparável ao modelo vivo, obra esta que, aliás, jamais chegará a possuir um décimo da verdade do original. Mas ninguém pode fazer melhor. Em Fuller, vemos tudo o que os outros omitem deliberadamente de seus filmes: a desordem, a escória, o inexplicável, a barba mal-aparada, e uma espécie de fascinante feiúra do rosto do homem. É um traço de genialidade ter escolhido Rod Steiger, pobre coitado atarracado, desprovido de todo prestígio, cujo chapéu achatado oculta os traços ao menor dos plongés, mas a quem uma trajetória e um porte desgraciosos conferem a própria força da vida. Poderíamos inclusive assinalar a simpatia do diretor pelos corpulentos, pelos balofos: um Gene Evans é o astro em quatro de seus filmes. E – apliquemos aqui, aos personagens, a famosa e truffaudiana teoria dos autores – sua estima diminui na proporção do número de quilos. Estes heróis esbeltos de rosto anguloso, John Ireland, Vincent Price, Richard Basehart, Richard Kiley, Richard Widmark, não possuem o peso suficiente necessário para resistir à baixeza. É que o homem pertence à ordem da terra, e deve a ela se assemelhar, em toda a sua acre beleza. Fuller é um primitivo – mas um primitivo inteligente, o que traz para a sua obra ressonâncias singulares; o espetáculo do mundo físico, o espetáculo da terra é seu melhor terreno de inspiração, e se ele se vincula ao ser, é apenas na medida em que este se vincula à terra. É por isso que a mulher é com frequência ignorada (não em A Dama de Preto [Park Row, 1952], Anjo do Mal e Dragões da Violência [Forty Guns, 1957], onde ela conserva as características do homem fulleriano; não em No Umbral da China, Tormenta Sob os Mares e, igualmente, Dragões da Violência, onde Fuller evoca, com um talento demencial, o contraste entre a besta e o anjo, o que dissipa todo e qualquer equívoco). É por esse motivo que o corpo do 18 homem lhe interessa particularmente – cem vezes, Fuller é inspirado pelos corpos nus dos índios, assim como pelos corpos nus dos marinheiros em Tormenta Sob os Mares; ao sair de uma sessão de Renegando, ficamos com a impressão de nunca, até então, termos visto verdadeiros índios em um western – e a parte do corpo que lhe interessa ainda mais particularmente é esta que toca constantemente o solo: sem dúvida, Fuller é um podólatra. No primeiro plano, ao encontrar-se com Walking Coyote, a câmera arranha a terra, reenquadra os pés e apenas, acidentalmente, retoma a visão dos rostos. E esse estilo será radicalizado a ponto de fundar o simbolismo da obra: a corrida da flecha, pivô e título do filme, é a corrida de um homem calçado de mocassins perseguindo um homem de pés descalços (membro da Infantaria, que depois de ter encontrado um certo Walking Coyote, irá se casar com uma certa Yellow Mocassin). O melhor dentre estes será aquele que possuir os pés mais sólidos. Pés ensanguentados, pés fatigados, pés rudemente eficazes, pés ágeis, pés calçados de botas, com que virtuosismo Fuller, que, aliás, teve todo o tempo disponível para estudar esta questão quando de sua viagem ao Japão, retrata diferentes estilos de maratonistas! Quem melhor do que ele para filmar os Jogos Olímpicos em Roma, no ano seguinte? As nádegas são estrelas igualmente, pois ao menos 30 segundos do filme são consagrados a um estudo minucioso do problema relativo ao conforto da sela do cavaleiro. Uma desordem à la Vigo Cineasta terrestre, poeta do telúrico, ele se apaixona pelo instintivo. Adora mostrar o sofrimento de uma forma ainda mais sádica que a de DeMille: amputações (mesmo uma mão deliberadamente cortada em Tormenta Sob os Mares), dolorosas extrações de balas de seu próprio corpo (Baionetas Caladas) ou de outros corpos (Renegando o Meu Sangue), com fortes perdas de sangue. Uma criança indefesa é massacrada em uma esquina da Park Row. Nem o amor despreza os prazeres do sadismo (Anjo do Mal). Antes de ser nocauteado por repetidos golpes de martelo, o japa de Tormenta Sob os Mares lamenta não ter sido espancado com mais força, como se isso fosse uma vergonha. Festival de crueldades e orgias; Renegando o Meu Sangue se encerra com este admirável plano no qual Meeker, prestes a ser esfolado vivo, recebe a graça de uma bala no meio da testa vermelha e suada. 19 Mais acima citei Vigo; esta semelhança mostra-se ainda mais evidente em Anjo do Mal, Capacete de Aço e sobretudo Baionetas Caladas: sobre um roteiro extremamente cadenciado e num plano premeditado, Fuller compõe ações sem referência a uma dramaturgia pré-fabricada. Faz-se não importa o que, e é bem difícil entender o que quer que seja. As relações dos soldados entre eles, relações morais e relações no plano, onde todos os rostos estão voltados para interesses diferentes, criam um labirinto de significações. Podemos aplicar a Fuller o que Rivette escreveu de Vigo: “Ele sugere uma constante improvisação do universo, uma perpétua, tranquila e segura criação do mundo.” O Anti-Tati 1 Fabricio Del Dongo, personagem da obra-prima de Sthendal, A Cartuxa de Parma. Fabricio, jovem romântico, cheio de entusiasmo por Napoleão, vai por conta própria para Waterloo lutar como voluntário em seus regimentos. O episódio é narrado de forma irônica; Fabricio passa mais tempo esperando pela ação do que realmente participando desta, e quando ele de fato luta pela sua vida, é em meio à retirada francesa [n.d.t.]. 20 No plano formal, pela primeira vez, descobrimos esse lado Fabrice em Waterloo1, ressaltado tão frequente e complacentemente a propósito de operetas menores. Esse bizarro fulleriano explica seu gosto pelos cenários exóticos – seis de seus filmes se situam no Extremo Oriente –, pagodes misteriosos (Capacete de Aço), estátuas, casas e mobiliários à moda nipônica (Casa de Bambu), que possuem o mesmo relevo, o mesmo poder de vida que o metrô, os becos dos imóveis de Chicago e suas casas sobre palafitas em Anjo. E sobretudo quando se trata de evocar a complexidade da maquinaria moderna, Fuller se torna o maior metteur en scène do mundo. Nele, o universo artificial e o natural apresentam as mesmas características: sabe admiravelmente reproduzir o caráter denso, maciço e misterioso das armas de fogo, de um depósito de munições (No Umbral da China), de um imóvel tinindo de novo (Casa de Bambu), do mecanismo de um submarino, onde as sucessivas variações de cenários de fundos coloridos intensificam o realismo e a originalidade, de uma usina atômica (Tormenta Sob os Mares). A natureza também constitui um cenário barroco: extraordinários cantões esfumaçados de Capacete de Aço e montanhas cobertas de neve em Baionetas Caladas. Uma exceção entre os grandes coloristas, Fuller prefere, com Joseph MacDonald2, os tons intermediários, marrons, ocres enegrecidos, violetas pálidos, brancos sujos, cores da terra, tão autênticas quanto as do arco-íris, que evocam contudo o parque de diversões em Casa de Bambu e a plasticidade de Renegando o Meu Sangue. Um filme feito com seus pés Se, a cada instante, Baionetas Caladas criava uma sequência de relações originais entre os heróis e burilava os rostos com uma arte consumada, o mesmo não acontece em Renegando o Meu Sangue, onde somente por clarões encontramos estes confrontos de seres entre seres. O’Meara e Driscoll, Crazy Wolf e O’Meara, Driscoll e Crazy Wolf, através dos sorrisos de canto da boca, prefiguram os êxtases da competição ou, por meio de olhares enraivecidos, contém a custo sua raiva, quando em seu caminho se interpõem uma mulher ou um terceiro. O gosto pela luta, pela violência, cria uma cumplicidade entre os adversários, em nome da qual um salva o outro, tema de Casa de Bambu retomado inúmeras vezes aqui. Mas isso apenas constitui uma ínfima parcela do todo. Por quê? Na Fox, Fuller era obrigado a respeitar certas formas tradicionais de decupagem e de filmagem, a trabalhar no interior dessas formas. Deve lhe ter sido duro3. Enquanto que, em sua produtora de denominação shakespearean, a milhares de quilômetros de Hollywood, era livre como um pássaro. O roteiro é extremamente elaborado, com suas sutis correspondências, mas o filme sofre – e se beneficia – de um desequilíbrio constante. Como Fuller adora filmar, mais que tudo, uma sequência de cenas que lhe dão prazer, livremente, ele negligencia o resto, todas essas ligações obrigatórias: ele as escamoteia na decupagem ou na filmagem – eis a razão desses múltiplos buracos nos filmes – ou se desinteressa – e aí a direção de atores torna-se praticamente nula. Baionetas era a desordem na ordem, perfeita síntese formal da moral fulleriana do compromisso. Era sua obra-prima na medida em que a loucura só pode realmente se exprimir com um acréscimo considerável de razão. Enquanto que Renegando é o triunfo da desenvoltura, da indolência, da preguiça. Talvez nenhum cineasta tenha ido tão longe no desleixo (com exceção do pobre Josef Shaftel com The Naked Hills [1956]). Quaisquer que sejam suas negligências, não deixamos de nos fascinar pela espontaneidade implicada por elas: Baionetas é ou será logo um clássico, enquanto Renegando permanecerá um filme de cabeceira. Fuller é um amador, um desleixado, já entendemos. Mas seu filme exprime o amadorismo e a preguiça, e isso já é muito. Se o filme não arrecadou um centavo na América, foi porque Fuller, único responsável, só mandou para a RKO uma montagem de 2 Joseph MacDonald. 19061968. Fotógrafo que trabalhou com Fuller em Anjo do Mal, e em cores em Tormenta Sob os Mares, e Casa de Bambu; MacDonald também era bem conhecido por Moullet e pelo restante dos Cahiers por seu trabalho com Nicholas Ray em Delírio de Loucura (Bigger than Life, 1956), e Quem Foi Jesse James? [n.d.t.]. 3 A companhia produtora de Fuller chamava-se Globe Entreprises, e produziu Renegando o Meu Sangue e Proibido! para a RKO; No Umbral da China e Dragões da Violência para a Fox; O Quimono Escarlate (The Crimson Kimono, 1959) e A Lei dos Marginais (Underworld U.S.A., 1961) para a Columbia. 21 rushes que esta cortou, a Universal recortou e a Rank cortou ainda mais. Com razão, ninguém acreditava no sucesso de um filme que Sam Fuller realizou com seus pés, como o disse graciosamente Mrs. Sarita Mann: o porquê da distribuição ter sido sabotada. Mas os cortes não parecem ter tirado grande coisa ao valor de Renegando: o filme é isento do que não falta jamais às grandes produções em série, os sempiternos raccords improvisados e ridículos. Filmar é fácil para ele 1 Regras ditadas pelo Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, comumente designado IDHEC [n.d.t.]. 22 O que mais nos importa aqui é que este animal Fuller tenha livremente perambulado pelo Arizona por cerca de cinco longas semanas – uma de suas filmagens mais longas! –, com um orçamento de quatrocentos milhões – Deus sabe o que ele pode ter feito com isso! –, e para nos oferecer o quê? Cento e cinquenta planos, que na projeção darão duzentos, encadeados por fusões impossíveis. E que planos! Seu estilo já não possui nada de ordinário (salvo no seu primeiro ensaio, desajeitadamente clássico): é um belo estilo de um bruto! Nele, o plano americano, figura perfeita do classicismo, ou é raro ou medíocre. Quando se interessa por vários personagens ou objetos, planos gerais; se é por um ou dois, closes. Fuller é o poeta do close, que, por seu caráter elíptico, é sempre rico em surpresas (a abertura de Capacete) e que dá um relevo insólito a rostos ou fiapos de grama, objetos habituados pelo cinema comercial a pouca reverência. Mas, aqui, ele se esforça ainda menos: fala-se – muito, ou age-se – muito; quando alguém diz algo de interessante, ele não está interessado em artifícios de interpretação ou em multiplicar os ângulos para desteatralizar a cena. Cark tenta colocar O’Meara no bom caminho. Longo discurso. Contracampo? Ainda espero por este. Durante, no mínimo, quatro ou cinco minutos, assistimos aos dois, sentados imóveis um ao lado do outro, dando adeus ao A.B.C. idhecal3. Essa desenvoltura irrita, mas quantas riquezas surgem dali! É errado dizer que Fuller é inspirado, uma vez que isso pressuporia a possibilidade de que Fuller não fosse inspirado, quando na realidade filma ativamente. Instintivo, cineasta-nato, filmar é fácil para ele; basta-lhe permanecer idêntico a si mesmo a cada instante – o que poderíamos dizer a propósito de um Nicholas Ray menor como Quem Foi Jesse James? (The True Story of Jesse James, 1957). Seus esboços são insólitos, e mais fortes e reveladores que uma sólida construção. Ele pode se permitir a mistura de estilos: há de tudo em Fuller, um mundo neste deserto vivo, com seus bosques de árvores esféricas, até o delírio de O’Meara, perdido na fumaça, dessas traquinices plásticas a la Eisenstein à composição rigorosa e fordiana dos planos mais gerais do ataque ao forte. Descobriríamos também Fritz Lang em Casa de Bambu, na organização geométrica da cena do assalto ou naquela da partida de bilhar, ou ainda em Anjo do Mal (a morte de Moe). De que importa! Por uma espécie de homogeneidade poética, tudo isso permanece sempre Fuller, com sua força do instantâneo e do inacabado. Marlowe e Shakespeare Aceitamos com mais facilidade a cena – que para a reflexão possui valor simbólico – na qual um jovem índio mudo vê-se preso na areia movediça e é salvo por um soldado nortista que, irritado com os acordes sincopados emitidos pelo jovem índio através de uma gaita, salva-o ao preço de sua própria vida, precisamente por essa não ser integrada ao filme: assim as intenções são constantemente corrigidas pela mise en scène. Fuller, que parecia tão fiel às suas belas ideias a respeito da América e sobre a beleza da vida democrática, se contradiz a cada imagem: é evidente que os costumes dos Sioux lhe inspiram e agradam infinitamente mais que a perspectiva da vida tranquila ao pé do fogo, que souberam tão magnificamente cantar um Brooks e um Hawks, como bem testemunham as múltiplas platitudes da mise en scène, neste sentido mise en scène de crítico, de político e de moralista. É assim que, ao fim e ao cabo, Fuller segue no itinerário inverso ao de Welles, e pode-se dizer que há entre eles uma diferença – que se inscreve igualmente no domínio dos valores – da mesma ordem que aquela entre Marlowe e Shakespeare, com todas as consequências subentendidas por esta. Embora, a princípio, sempre tenha negado isso, Welles tentou, através das diferentes formas de sua arte (que o revelam ao mesmo tempo como romântico e civilizado) produzir a síntese de suas aspirações físicas e morais; ao passo que Fuller, faustiano em princípio e prometéico de fato, embora consciente da necessidade de tal síntese e ativamente procurando por ela, é mais cedo ou 23 mais tarde traído, quando totalmente entregue a si mesmo e não podendo portanto ser redimido pela benéfica intervenção de influências exteriores, devido à própria intransigência nas profundezas de seu caráter. Renegando o Meu Sangue 24 25 Manny Farber 1 Originalmente publicado na edição de setembro de 1969 da revista Artforum (Nova York) e republicado na coletânea Negative Space: Manny Farber on the Movies (Nova York: Ed. Praeger, 1998). Tradução de Ruy Gardnier. 26 Samuel Fuller 1 Ainda que não tenha o vigor e o alcance de Chester Gould ou do infinitamente criativo Fats Waller, Sam Fuller dirige e roteiriza filmes inadvertidamente charmosos que têm algumas das qualidades desses artistas: lirismo, iconoclastia real e uma ausência cômica de autoconsciência. Ele fez dezenove filmes sem gordura e de baixo ou médio orçamento desde 1949, e qualquer um deles poderia ser descrito como “material cafona e modesto... mas cheio de brilho”, um pouco de John Foster Dulles, um bom pedaço de Steve Canyon, às vezes tão bom que chega a tirar o fôlego. Anjo do Mal (Pickup on South Street, 1953) é uma maravilha em termos de insanidade de classe baixa, tendo Richard Widmark como um batedor de carteiras trabalhando com um jornal dobrado no metrô, quase inteiramente passado à noite, e repleto de atuações excêntricas com muita libido encubada, sem qualquer razão aparente. Apesar de ser um filme lento e ruim, O Capacete de Aço (The Steel Helmet, 1951), com seu herói insano – um personagem com rosto grande que luta uma guerra contra todos, exceto um menininho coreano – exemplifica o modo como Fuller pontua tudo com iconoclastia, transformando tudo em comédia de humor negro. Renegando o Meu Sangue (Run of the Arrow, 1957), um dos dois filmes que ainda causam vergonha a Rod Steiger (um confederado teimoso com um misterioso sotaque irlandês e um ódio aos ianques que o leva a unir-se aos índios Sioux), é totalmente imprevisível e sempre vibrante. A forma mais simples de descrever seu melhor filme, Anjo do Mal, é falar sobre seu olho cinematográfico. Um melodrama seco sobre microfilmes, alcaguetes e agentes soviéticos (os roteiros de Fuller são trabalhos grotescos que poderiam ter sido escritos pelo motorista de ônibus da série The Honeymooners: “OK, eu lhes dou cinco minutos para saírem. Se não saírem, vamos queimar o lugar inteiro”), suas longas cenas num metrô têm uma ambiência demoníaca, uma austeridade, uma quietude. Enquanto Skip, o personagem de Widmark, vai trabalhar num vagão lotado de metrô, surge um leve toque e um equilíbrio satisfatório entre tensão e atenção ao momento. Nem Bresson em seu O Batedor de Carteiras (Pickpocket, 1959) chega perto dessa frontalidade ou desse frescor: a habilidade para fazer uma cena continuar sem cortes ou truques de câmera, 27 fixando-se em rostos incrivelmente pungentes, na jovialidade de pele lisa e ossatura esbelta de Widmark, no jeito como ele se move pelo vagão, aproximando-se de sua vítima, Jean Peters, e, num dos mais inesperados planos-detalhe, sua mão se transforma em algo semelhante à nadadeira de uma foca, deslizando por baixo do jornal e chegando até uma carteira de dinheiro. Parte da graça é a consternação incerta nos rostos de dois agentes do FBI que estão seguindo a garota e não estão preparados para ver um exímio batedor de carteiras em ação. O filme está cheio de boas imagens (a garota andando pela avenida; Widmark parado em sua palafita bebendo cerveja) que dependem sempre de um aconchego característico para chamar a atenção do espectador. Pequenos ninhos ou covis ao invés de apartamentos, uma rede ao invés de uma cama, uma caixa afundada no rio ao invés de uma geladeira, uma violência que nunca é interrompida e que inclui o trincar de dentes amigável de Widmark depois de quase decapitar Jean Peters. A concentração de Fuller tem a curiosidade de um bichano: a graça de Peters é que sua rebeldia nervosa, sua ausência de malícia e sua tagarelice exaustiva parecem ser mais os traços infelizes e refletidos de uma pessoa do que os truques de uma atriz. Fuller é tipicamente atraído pelo tipo de material que George Stevens ou Capra considerariam desesperadamente ocos. Ele consegue extrair grandes cenas apenas colocando uma mulher vivida falando de seu cansaço. Uma cena convencional de espiões interrogando um cúmplice involuntário transforma-se na mais hedionda cena de hotel, reminiscente do olhar fotográfico de Diane Arbus e de sua obsessão em valorizar os desvalidos da vida americana. O núcleo da cena é sua frontalidade, a ausência de perfeccionismo com o cenário, com as pessoas, com os diálogos. A mobília apática é Moscou, 1940, os três homens são autênticos tipos sauerbraten, e Peters uma dama ansiosa tentando passar pelos escombros de diálogos sem talento: “Colega, você não vai acreditar. Quer saber o que ele acha que nós somos? Comunas. Dá pra acreditar? Como tem gente maluca andando por aí.” Depois de ter visto qualquer das cenas sem cortes ou de ter ouvido os nomes de desenhos animados (Short Round, Lucky Legs), é impossível esquecer a arte grotesca, a excentricidade de seus filmes. O filme é sincero acerca de bobagens inexplicáveis: Nat King Cole numa encruzilhada na Ásia, obstinadamente lustrando seu rifle, não mais 28 lustroso que seu uniforme de GI, cantando sobre seu amor perdido no umbral da China. Para um filme que é desordenadamente supremacista branco, é chocante observar o sorriso extático de Cole por ser um soldado americano num devastado campo de batalha asiático. Todos os seus filmes de guerra, repletos de fraternidade vaidosa, exibem uma indigerível condescendência dos brancos para com os negros, com os orientais e com os índios Sioux, além do estilo demencial de alegria de Cole por fazer parte dos projetos inúteis do homem branco, como capturar um insignificante pagode no meio de uma mata raquítica e infinita. Excetuada a loucura por um objeto de arte oriental, com uma aparência nua, que foi despejado num local incerto por um helicóptero (depois de ter sido construído na noite anterior por um único carpinteiro cego), a maluquice desses filmes propagandistas é que o homem branco é um verdadeiro lixo: sem modos, estúpido, falastrão, malévolo, sem pensar em nada além de maltratar mulheres ou qualquer homem com 30cm a menos. Zack, que inicia O Capacete de Aço como um capacete furado – mais ou menos como uma tartaruga até que o capacete sobe uma polegada acima do campo desolado para mostrar esses olhos simplórios e desagradáveis lentamente passeando de um lado para o outro, vigiando a área – é como alguém nascido na Rua do Tormento entre as esquinas das ruas Malicioso e Cru. Brueghel tem um estudo de um camponês de muletas, desenhado de costas, que sugere a baixeza esgotada, afundada na terra. Uma das descrições que F.M. Ford faz de Tietjens, “seu corpo parecia construído de sacos de comida”, chega perto do aspecto plúmbeo e rançoso com que ele é retratado por Gene Evans, um dos sujeitos mais ásperos do cinema. Evans interpreta o cabeça-quente que gosta de aparecer, mascando sem parar um toco de charuto, com o efeito de explosão similar ao da água que esguicha no jorro de uma baleia, bestial e grotesco, ocupando um papel destacado, num filme dedicado à infantaria americana. Com seus cenários anônimos e esfarrapados, com heróis de classe baixa que se tratam como sábios, e o primitivismo (a ausência do corte, a crueza com os atores, episódios violentos filmados inteiramente em uma tomada), Capacete de Aço antecipa a obra igualmente propagandista de Godard. Dos cenários calvos e desprovidos às mensagens bizarras e pesadas que são escritas em pequenos pedaços de papel e remetidas ao espectador como pequenos jornais (por favor ajude o Carequinha a ganhar um pouco de Cabelo), seus 29 personagens esfarrapados são primos teimosos, dos tipos similarmente esquemáticos da Santa Cruz de Godard. Os países envolvidos são igualmente desconhecidos, e por baixo de ambas as carreiras existe essa obsessão com os renegados, pessoas no limiar de dois mundos, o são e o insano (Paixões Que Alucinam [Shock Corridor, 1963]), o burguês e o revolucionário (A Chinesa [La Chinoise, Jean-Luc Godard, 1967]). O que é bom em seus filmes é adorável; o ousado e desinibido uso de técnicas semidocumentárias que salvam o filme da mente do próprio Fuller, um lamaçal irreflexivo na melhor das hipóteses. Contra tantas cenas insanas (Cameron Mitchell numa falsa casa de chá gritando “Eu sou seu ichiban, não ele! Eu sempre me sentei ao seu lado!”), existe uma técnica exata que ressoa puramente cinematográfica, sem qualquer empréstimo dos outros meios de expressão. Ninguém foi tão astuto para inserir um trecho de desenho animado numa tela ficcional: mostrar a trajetória de uma flecha pelo desenho porque, se filmado, o arco ficaria invisível. Seco e abstrato, ele frequentemente mede uma cena por posições estilizadas e nacos de tempo. Existem duas instâncias desse tipo de composição não ilustrativa em Renegando o Meu Sangue. Uma cidade inteira parada numa ponte olha para o rio, enquanto uma conversa em contraponto acontece entre Rod Steiger e sua mãe, construindo um efeito pastoral e lento, e uma sensação temporal assombrosa. Mais um terço de filme e essa clássica cena quase se repete: Steiger e Brian Keith sentam-se fazendo um ângulo reto, nenhum dos dois olhando para o outro. Keith diz: “Não se pode virar as costas para seu próprio povo”, ao passo que Steiger permanece trancado em sua feitiçaria verbal em forma de canção de ninar: “não gosto de ianques”, etc., etc. É uma cena adorável: Steiger repete esse jingle de quinze maneiras calmas e solidamente teimosas, de maneira semelhante como fez Godard num posto de gasolina francês em Week-End à Francesa (Weekend, 1967) – “Você matou meu namorado, ele era bonito e você é feio”, etc., etc. Fuller é um dos primeiros a experimentar pureza poética através de uma fusão de sadismo ilimitado, feito às claras e em close-up, com trechos de nostalgia pastoral em que há cintilações de mito. As cenas iniciais de Renegando o Meu Sangue estabelecem a amargura de um homem com o Norte, sua visão do Sul e um romantismo de coração hiperacelerado no que diz respeito ao General Lee (visto através da oficina de um ferreiro num imponente cavalo branco), e 30 tudo isso é feito com linhas e massas, um posicionamento correto de matas e campos e o decoro digno de um Corot. Há muita disposição visual distintiva, mas a questão permanece: o quanto disso ocorreu acidentalmente? Fuller não tem aptidão para o ambiente estrangeiro, mas, com sua paixão persistente pelo exótico, ele não consegue ficar longe dele. É tocante e risível observá-lo mostrar obstinadamente toda a decoração do templo até o momento em que coloca o pagode ou o Buda em frangalhos. (Seu Buda, o mais alto já construído em madeira, deveria ser vendido na Macy’s em sua promoção de Dia de Ação de Graças.) Há mais alguns traços distintivos: uma fixação por crianças, a violência seca, a sensação latente de que ele gostaria de fazer um filme inteiro em closes. No Umbral da China (China Gate, 1957) é tão absurdo que ele transforma-se num deleite para o gosto camp. Todo o início é incrivelmente aloprado: um molequinho adorável e seu cachorrinho correm por uma cidade arruinada, sendo perseguidos por um sujeito de pijama de seda negra e sapatilhas de balé que está disposto a virar açougueiro, matar o cachorrinho de orelhas abanando e comê-lo no café da manhã. Uma voz em off: “Nessa cidade devastada, cheia de pessoas famintas, todos os cachorros viraram comida, exceto um”. 31 Nicholas Garnham Fuller, energia e loucura 1 32 “Também gosto daquele filme do Eisenstein – esqueci o título – que tem aquela cena linda da grama se curvando para a direita com a força do vento, em que o movimento dos homens a cavalo muda a direção da direita para a esquerda. Era um duelo entre as forças da natureza e os cavaleiros. Eu adorei.” Fuller Aqui, Fuller quase poderia estar descrevendo a sequência de abertura do seu próprio Dragões da Violência (Forty Guns, 1957), um feito extraordinário para Hollywood, pois na verdade trata-se da quintessência do filme independente, uma exibição de energias conflitantes quase que totalmente abstrata. Dragões da Violência confirma a natureza hip da linguagem visual de Fuller e do seu conceito de personagem. Mailer escreveu em “O negro branco”2: “O que torna o hip uma linguagem especial é o fato de ele não poder realmente ser ensinado. Se não se partilha nenhuma das experiências de júbilo e exaustão que ele está equipado para descrever, parece simplesmente afetado ou vulgar ou irritante. É uma linguagem pictórica, mas pictórica como a arte não objetiva, imbuída da dialética da mudança pequena mas intensa, uma linguagem para o microcosmo – no caso, o homem. Pois captura a experiência imediata de um passante qualquer e amplifica a dinâmica de seus movimentos não de forma específica, mas sim abstrata, de maneira que ele é visto antes como um vetor em uma rede de forças que como uma personagem estática em um campo cristalizado.” Experiências de exaustão são particularmente comuns nos filmes de Fuller: os soldados pela trilha de Mortos Que Caminham (Merrill’s Marauders, 1962); os sobreviventes no fim de Capacete de Aço (The Steel Helmet, 1951) recostados contra uma coluna no templo; a tripulação do submarino prostrada com o calor e a falta de oxigênio em Tormenta Sob os Mares (Hell and High Water, 1954); Moe deitada na cama pouco antes de ser assassinada; O’Meara ao fim de Renegando o Meu Sangue (Run of the Arrow, 1957). Fuller vê o processo de viver bem diretamente em termos de gasto de energia física. Hobbes escreveu que “não existe paz de espírito perpétua enquanto vivemos aqui, porque a própria vida não passa de movimento e não pode existir sem desejo nem medo, não menos do que sem razão” e, mais uma vez, que “só pode haver satisfação em 1 Originalmente publicado em Samuel Fuller (Londres: Secker and Warburg, 1971). Tradução de Mariana Barros. 2 The white negro: superficial reflections on the hipster, ensaio publicado em 1957. 33 prosseguir”. Uma das glórias do cinema americano é a representação celebratória da energia humana. Já no seu descobrimento, o Novo Mundo tornou-se um símbolo da quebra de constrições, das possibilidades ilimitadas. Era a prova física, visível, de que as jornadas mais insanas atingiriam um objetivo, de que o ato de ir adiante seria recompensado. A ironia de que o mundo, uma vez circum-navegado, se tornaria ainda mais definitivamente finito que o Velho Mundo Conhecido foi deixada de lado por um instante. As viagens de descobrimento pareciam romper uma barragem e liberar as energias acumuladas da Europa. Os Estados Unidos fizeram bom proveito de sua virtude de potência não colonialista e instruíram as velhas potências europeias sobre os males de sua postura imperialista. Mas, na verdade, a conquista e a dominação são um tema constante da história norte-americana, a própria razão de ser de uma sociedade dinâmica em expansão. As ondas sucessivas de colonos europeus rechaçaram tanto a natureza quanto os índios. Os colonos navegaram os grandes rios, atravessaram as montanhas, desmataram as florestas e araram as planícies. Primeiro, vieram os caçadores e os combatentes de índios; depois, as caravanas com os rancheiros, os fazendeiros e os mineiros. Em seguida, a ferrovia e a expansão industrial. De leste a oeste, abriram caminho para o interior, tomando tudo o que podiam. Não satisfeitos com seu vasto país, cruzaram o Rio Grande e roubaram o Texas do México usando a força militar. Foram as forças expansionistas nos Estados Unidos que deram início à Guerra Civil. O Norte não combateu o Sul por princípio. Foi antes o caso de uma sociedade dinâmica, em acelerado processo de industrialização, confrontando uma sociedade conservadora, estática, que se atinha aos velhos usos não expansionistas da Europa. O ianque chegou não para libertar escravos, mas para explorar um país subdesenvolvido. Foi ele, e não Lincoln, quem venceu a Guerra Civil. Esse processo de expansão se tornou uma reação em cadeia acelerada. Economias industriais modernas não podem ficar paradas. A Grã-Bretanha, primeira grande potência industrial do mundo, precisou ter um Império como mercado; com os Estados Unidos, não foi diferente. A despeito de seus instintos isolacionistas e sua desconfiança do Velho Mundo, essa jovem nação viu-se transformada, com terrível rapidez, na potência industrial e (portanto) militar dominante mundialmente. Numa sociedade como essa, que é uma 34 sociedade permanentemente pioneira e hoje rompe as fronteiras do espaço, o próprio ato de ir adiante, de simplesmente fazer alguma coisa, torna-se um valor por si só. Sua sobrevivência dependia de conduzir caravanas, atravessar córregos, construir casas, fábricas e ferrovias, de forma muito mais direta que em sociedades europeias mais estáticas. Mesmo nos dias atuais, os viajantes se surpreendem da velocidade com que edificações são demolidas e reconstruídas, num processo de gasto de energia constante. A princípio, os filmes, assim como a sociedade que refletiam, não questionavam o valor desse dispêndio constante de energia. Eles celebravam o dispêndio em si. Não perguntavam aonde iam; simplesmente aproveitavam o percurso. King Vidor forçando os barcos colina acima em Bandeirantes do Norte (Northwest Passage, 1940), Hawks com a sua boiada em Rio Vermelho (Red River, 1948), John Ford conduzindo sua caravana pela cordilheira de Caravana de Bravos (Wagon Master, 1950): nesses filmes, a energia é vista como puramente criativa. Agora, o sonho azedou, tanto no cinema norte-americano quanto na sociedade; apenas Hawks manteve sua fé na energia viril ao reduzir drasticamente sua amplitude, de forma que, comparando-se o final de Rio Vermelho ao verdadeiro final de Fuller para Dragões da Violência, vê-se a extensão da mudança de estado de espírito nos filmes norte-americanos. Há um falso final de Dragões da Violência em que Jessica Drummond sobrevive, mas a intenção de Fuller era a de que ela morresse. Toda a lógica do filme leva ao momento em que o herói é forçado a matar a mulher que ama, ou (mais importante na visão de Fuller) a mulher de quem gosta e a quem respeita. A lógica de Rio Vermelho conduz a uma morte que Hawks era incapaz de encarar. Nas suas palavras: “Começar a matar gente sem motivo nenhum me deixa frustrado.” Hawks se esquiva da tragédia inerente a um embate de grandes energias individuais; Fuller se precipita em direção a ela. De fato, como ele mesmo admite, a cena da morte serviu de inspiração para o filme inteiro. O cinema norte-americano começou a avaliar o custo da energia que outrora celebrara. Em Duelo ao Sol e A Fúria do Desejo (respectivamente Duel in the Sun, 1946, e Ruby Gentry, 1952), Vidor retrata a energia como algo puramente destrutivo; em Crepúsculo de uma Raça (Cheyenne Autumn, 1964), Ford mostra o genocídio causado pela energia representada anteriormente em Caravana de 35 1 Charles Foster Kane e Hank Quinlan, protagonistas respectivamente de Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941) e A Marca da Maldade (Touch of Evil, 1958), ambos dirigidos por Orson Welles. 36 Bravos. Entretanto, uma nova geração de diretores americanos examinou as contradições e tensões entre essas duas visões da energia. Em Região do Ódio e em Um Certo Capitão Lockhart, (respectivamente The Far Country, 1954, e The Man From Laramie, 1955, ambos protagonizados por James Stewart) Anthony Mann mostra a luta entre energia destrutiva e criativa na sociedade e dentro do próprio indivíduo. James Stewart é levado contra sua vontade a recorrer à violência, a usar a energia destrutiva em defesa da criativa. Welles examina em todas as suas obras a maneira com que a energia se corrompe: Kane, o interessante jovem idealista, torna-se um velho solitário sedento de poder; Quinlan é impelido cada vez mais ao olho do furacão por seu sucesso como detetive1. Em Kazan e em Ray, a energia se transforma em neurose pura: Kowalski em Uma Rua Chamada Pecado (A Streetcar Named Desire, 1951), James Dean atirando fora o gelo do depósito em Vidas Amargas (East of Eden, 1955), o racha na Juventude Transviada (Rebel Without a Cause, 1955) de Ray. Para se observar a mudança de postura com relação à energia, é comparar Wayne no papel do típico protagonista de Hawks ou Ford com Brando e Dean. Fuller consegue encerrar essas contradições em uma única obra. Ele festeja a energia como a verdade última porque “a própria vida não passa de movimento” e, com efeito, celebra-a especialmente por se tratar de energia inútil, condenada. É o homem tentando evitar a morte, mas esta sempre vence. O mercenário de No Umbral da China (China Gate, 1957): “Essa vida foi feita para mim, mas eu tenho que morrer para vivê-la”; Zack, dirigindo-se ao norte-coreano: “Se você morrer, eu te mato”; Moe, em Anjo do Mal (Pickup on South Street, 1953): “Se me enterrassem na vala comum, eu morreria.” O pessimismo da visão de Fuller é demonstrado por Moe, a personagem por quem ele claramente sente mais afeição e respeito, cuja razão de viver se resume a economizar o bastante para pagar um enterro decente. Em Fuller, as imagens da energia são os pés. Luc Moullet chamou a atenção na Cahiers para a obsessão do diretor por pés; Fuller riu e mandou-lhe um pezão de borracha. Mas não deixa de ser verdade que o pé desempenha um papel importante no cinema de Fuller, talvez por ele ter sido da infantaria. Como diz Rock em Baionetas Caladas (Fixed Bayonets, 1951): “Você só precisa se preocupar com três coisas: seu rifle e seus dois pés.” A fala é dita pouco antes da sequência em que os soldados massageiam os pés uns dos outros para evitar o congelamento. Rock percebe que está com um pé dormente, e a sequência termina com um close-up no rapaz batendo com os pés descalços no chão para fazer o sangue circular, um símbolo de sua vontade de sobreviver. Mais ao fim do filme, Denno caminha pelo campo minado para salvar o sargento ferido – o close -up nas botas tateando a neve, que perigam explodi-lo cada vez que ele pisa, não só envolve a audiência na tensão da cena, como também sugere de forma vívida a força de vontade que ele está empenhando. É significativo que essa força de vontade seja autocentrada, pois, no filme, ela é inútil. O sargento já está morto quando ele consegue levá-lo de volta. Mortos Que Caminham é construído em torno do princípio de energia pura. Quando o médico da unidade lhe diz que seus homens não podem continuar por estarem sofrendo de ADT – acúmulo de tudo –, Merrill responde: “Não é nada, é só pôr um pé na frente do outro.” As personagens seguem adiante, em uma obstinação em sobreviver que, dada a evidência, é totalmente irracional. Os marauders de Merrill, embora ponham um pé na frente do outro, se veem diante do cadáver do próprio Merrill, com o rosto numa poça, cercado de alguns sobreviventes gravemente feridos, e não chegam nem a alcançar seu objetivo. Parte da crítica implícita de Fuller à guerra é que ela faz com que muita energia seja desperdiçada. Não creio, como sugere Victor Perkins, que Fuller esteja tentando equiparar resiliência física à resiliência moral. Fuller usa a resiliência ou energia física como símbolo para os impulsos irracionais que motivam o homem. Assim, em Renegando o Meu Sangue, as imagens do pé ensanguentado de O’Meara atravessando as pedras e os espinhos simbolizam a urgência do seu desejo de conseguir ir embora dos Estados Unidos, desejo esse que inevitavelmente será frustrado, como o seu desejo de fugir de Lobo Louco. (Coiote Andante dissera-lhe que ninguém nunca havia sobrevivido à Corrida.) Os heróis de Fuller encaram a vida com uma espécie de insolência condenada. São encarnações permanentes de frustrações poderosas, simbolizadas pelo punho cerrado de Tolly Devlin em A Lei dos Marginais (Underworld U.S.A, 1961). A energia de Tolly é totalmente obsessiva: toda a sua vida é dedicada a vingar a morte do pai pessoalmente – como sempre em Fuller, a ênfase vai no pessoal. O assassinato do pai é retratado como um jogo de sombras enormes, 37 dignas de pesadelo, na parede. Deitado na cama do reformatório, seu punho se agarra ao lençol em um pesadelo; nesse momento, Fuller faz uma fusão com a imagem da sua mão arrombando um cofre. Ele se torna um criminoso, vai preso, reprime voluntariamente a própria personalidade a fim de satisfazer sua necessidade mais profunda. A morte é o fim inevitável. Como no caso de Bob Ford em Eu Matei Jesse James (I Shot Jesse James, 1949), sentimos que a morte é um suicídio procurada de forma voluntária, porque, depois que a vingança é levada a cabo, ele não tem mais motivo para viver. Além disso, para atingir seu objetivo, rejeita toda forma de integração social; quando menino, recusou-se a colaborar com os policiais, a dar informações que talvez pudessem ajudá-los a prender os assassinos do pai. Rejeita o amor e os conselhos de Sandy, a figura materna. Ela fica revoltada com o seu plano de vingança e reage como a mãe de O’Shea em Renegando o Meu Sangue, dizendo-lhe: “Você é doente.” Tolly rejeita o amor de Cuddle e, quando ela lhe diz que quer casar com ele “A gente tem o direito de sair do esgoto e viver como todo mundo”, responde: “Casar? Casar com você?” Essas recusas separam claramente A Lei dos Marginais do filme a quem mais deve, Os Corruptos (The Big Heat, 1953). O filme de Lang termina em uma nota de integração social, com a volta de Dave Bannion à polícia. Ambos têm um estilo dinâmico no qual a edição reflete a energia propulsora dos dois protagonistas, mas, no filme de Fuller, o estilo se identifica completamente com Tolly. Os movimentos de câmera e cortes bruscos e fusões rápidas fazem de A Lei dos Marginais um soco ligeiro, que termina com aquele close-up no punho fechado. O estilo da edição de Lang é mais objetivo e apresenta um padrão de forças mais abrangente que o destino do herói: Bannion se envolve em corrupção porque está fazendo o seu trabalho. Ela preexiste a ele, é uma força externa. Mais tarde, ele é forçado a sair da polícia para se vingar, mas apenas porque a polícia é corrupta e não o pode ajudar. Aceita o auxílio de qualquer um com prazer; com efeito, Lang oferece um retrato da solidariedade, de forças benéficas sempre presentes, só aguardando um foco ou um líder. Assim, as energias pessoais de Bannion são canalizadas para fins sociais, e a concretização de sua vingança pessoal é vista como um instrumento para lavar a sociedade. Executada a vingança, a vida pode recomeçar; Bannion retoma contente uma vida de tarefas policiais rotineiras e xícaras de café compartilhadas. Em A 38 Lei dos Marginais, não há vida normal, não há paz de espírito, há apenas um sistema de energias individuais conflitantes. Fuller afirma que, como princípio, procura organizar os roteiros em torno de uma personagem indo da direita para a esquerda e outra, da esquerda para a direita: “Eu adoro conflito”. Em Dragões da Violência, a energia é destrutiva por causa da sua própria força. Griff tenta manter a frieza o tempo todo – não é homem de heroísmos idiotas. Ele aconselha o xerife, seu amigo, a deixar a cidade, pois seus olhos estão fraquejando. O xerife pergunta: “E se o médico não puder fazer nada pelos meus olhos?” “Então você vai ser um cego, e não um morto.” A primeira coisa que Griff e o irmão fazem ao chegarem à cidade é tomar um banho – há duas cenas de banho fundamentais no filme, que, especialmente por serem ao ar livre, mostram os homens tanto no seu momento mais relaxado, quanto no mais vulnerável. A primeira é interrompida, e a segunda é seguida de cenas-chave de violência – estágios no comprometimento de Griff com a violência pessoal destrutiva. O ato simbólico de se lavar é visto como inútil, e Griff confronta Brock ainda de toalha ao pescoço. Esse confronto é apresentado como um puro embate de energia, uma vontade contra a outra. O progresso de Griff é visto como uma série de close-ups nos pés em movimento e no rosto, seguida de um grande close-up nos olhos e, por fim, um movimento de câmera leva a um close-up da arma baixada de Brock. Mas é o triunfo de Griff sobre Brock que terminará por forçar sua energia a trilhar caminhos de pura destruição; ele atira não apenas em Brock, mas também em Jessica, a quem ama. Pois a energia de Brock, sua razão de viver, não foi destruída; só a morte pode fazê-lo. Ela foi reprimida e inevitavelmente irromperá em canais novos e mais poderosos. Brock representa as forças da anarquia que Griff está tentando controlar em si mesmo e nos outros. Griff diz mais tarde a Chico, o irmão caçula: “Não vamos transformar isso numa disputa pessoal.” Mas é no que fatalmente se torna. O confronto com Brock é seguido de uma das representações mais arrebatadoras feitas por Fuller da colisão entre forças conflitantes e do embate entre ordem e anarquia. Num plano-sequência extremamente longo que emprega grua e trilhos, a câmera acompanha os irmãos Bonnell saindo do quarto do hotel e atravessando toda a extensão da rua principal rumo ao telégrafo. O objetivo dessa caminhada é enviar um telegrama para tirar Chico da cidade, e man39 dá-lo para longe da vida das armas. A caminhada simboliza o anseio de Griff por uma vida familiar estável numa fazenda, ainda que por intermédio da pessoa do irmão. Ao subirem a rua, o xerife Logan tenta agradar – só mais tarde percebemos que Logan está apaixonado por Jessica e quer afastar Griff do seu confronto fatal com ela por seus próprios motivos. No entanto, depois que o telegrama é enviado, ainda no mesmo plano, Jessica e seus cavaleiros entram na cidade e passam em alta velocidade pela câmera na direção oposta à da caminhada dos irmãos Bonnell. Griff não pode evitar o confronto, que também vai envolver Chico – até então de mãos limpas – em mais uma rodada de violência. Griff e Jessica representam duas formas de energia distintas. Griff é a ordem pública e o governo em Washington; Jessica é o livre empreendimento capitalista. A fala em que ela descreve sua vida a Griff é um pequeno poema sobre a construção dos Estados Unidos, sobre a agricultura, a indústria e a política. Ambas as formas de energia contêm em si mesmas seu próprio defeito: a de Griff baseia-se na arma e a de Jessica, na corrupção financeira. Ela destrói Logan quando responde à sua declaração de amor com um cheque. A dialética fatídica do filme exprime-se em duas linhas de diálogo entre Griff e Jessica. Jessica: “Eu preciso de um homem forte para executar minhas ordens.” Griff: “E de um fraco para recebê-las.” Eles se sentem atraídos um pelo outro graças ao reconhecimento mútuo de suas forças. Essa é a sua ruína, pois, se um dos dois sucumbisse à vontade do outro, por definição, a atração se extinguiria. Tudo leva àquele confronto final. É por amar Griff que Jessica deixa seu império desmoronar. Seu consultor jurídico não compreende por que ela fez isso, mas, como Logan, Jessica está se suicidando. Ela dissera a Griff, oferecendo-lhe um emprego: “Esse é o último passo, a fronteira acabou, não há mais cidades a dobrar, não há mais homens a dobrar. Está mais do que na hora de você começar a se dobrar.” E Logan disse a ela pouco antes de se suicidar: “Um homem não pode esperar tanto, ele precisa fazer alguma coisa a respeito do que está no seu coração, senão ele vai se dobrar.” Jessica foi dobrada por Griff. Só lhe resta atirar nela porque, no mundo de Fuller, o preço da sobrevivência é não se dobrar. Para Fuller e para os Estados Unidos, a fronteira nunca está terminada. A natureza destrutiva e louca da energia fica mais evidente em Paixões que Alucinam (Shock Corridor, 1963), em que a mera ener40 gia física é um dos sintomas da loucura. Johnny Barrett tenta atacar o psiquiatra e precisa ser arrastado para fora da sala. O asilo é caracterizado por súbitos acessos espontâneos de atividade violenta: o tumulto no refeitório, o ataque das ninfomaníacas a Johnny Barrett, a tentativa de se linchar um negro. E assim, todo o processo de cura é a destruição de energia. Os tratamentos de banho quente e choque elétrico acalmam os internados, a camisa de força é exibida diante dos pacientes como uma ameaça constante e, ao fim, Johnny Barrett é reduzido a um objeto quase inanimado. O filme termina em um tradicional abraço de cinema, mas, desta vez, o homem é incapaz de reagir. A paixão que funciona como força propulsora dos heróis de Fuller foi extinta. Ela se autodestruiu. Racionalidade absoluta encontra irracionalidade absoluta em um vegetal humano. O preço da segurança é a destruição de tudo o que nos torna seres humanos vivos. Essa desilusão com a energia é levada ainda mais longe em O Beijo Amargo (The Naked Kiss, 1964). O modo como Kelly trata as crianças aleijadas lembra o tratamento que Merrill dispensa às suas tropas. Ela mobiliza sua força de vontade para fazê-los triunfar sobre suas limitações físicas botando um pé na frente do outro. Mas esse triunfo é apenas um sonho. A possibilidade de as crianças algum dia correrem pelo parque é uma ilusão. É só com a ajuda de uma espécie de insanidade que podemos subjugar as limitações de nossa situação humana física. Norman Mailer descreve o mesmo impulso em direção à loucura no livro Cartas Abertas ao presidente1: “Porque o que sofremos nos Estados Unidos, na selva moral desarraigada que é a nossa vida em expansão, é o temor inconfesso presente em cada um de nós de que, pouco a pouco, ano após ano, estejamos ficando loucos. Pouquíssimos de nós sabemos realmente de onde viemos e para aonde estamos indo, por que o fazemos e se em algum momento chega a valer a pena. Para o bem ou para o mal, nós perdemos nosso passado, vivemos nesta terra de ninguém sufocante que é o presente perpétuo e sofremos em dobro ao investirmos para o futuro, pois não temos raízes com que nos projetar adiante, com base nas quais julgar nossa viagem.” Dado que Fuller usa a guerra como metáfora estendida da vida e a descreve como uma loucura organizada, não surpreende que a insanidade seja um grande tema em seus filmes. Suas personagens aparentemente céticas e racionais costumam fazer as coisas pelos motivos mais irracionais. Também vimos que elas existem em um 1 The Presidential Papers (Nova York: Putnam, 1963) 41 mundo onde aparência e realidade se confundem a tal ponto que seu domínio sobre a realidade inevitavelmente fraqueja. Em um mundo maluco, a postura mais racional pode ser a loucura; assim, a insanidade não aparece para as personagens de Fuller apenas como uma ameaça, mas também como um conforto, uma fuga dos dilemas intoleráveis propostos pela dialética do mundo por onde vagueiam. Pois as personagens de Fuller, por desejarem completa liberdade, vivem em um mundo de perpétua escolha. “Para mim, quando chego a um ponto do filme em que há uma encruzilhada, ao instante em que as personagens podem seguir várias direções diferentes, em que há uma verdadeira escolha, fico satisfeito.” Portanto, essas personagens precisam conter, nos limites de seus eus, um grande número de possibilidades conflitantes. Além disso, precisam fazer uma escolha entre essas possibilidades com base em evidências que, por experiência própria, sabem que é totalmente não confiável. O que Fuller diz sobre sua própria experiência da guerra também vale para suas personagens: “Quando a gente está na linha de frente, fica num estado constante de tensão.” Essa tensão advém do esforço de se manterem forças incompatíveis em equilíbrio; por exemplo, no caso de uma guerra, a incompatibilidade entre o medo básico da morte e a situação em que se encontra o soldado. O principal objetivo do sargento Zack é sobreviver; ainda assim, ele se realistou por vontade própria para ficar em uma posição na qual corre perigo de vida. Essas tensões levam a uma fissura, pois são voltadas para dentro. A sociedade é vista não como um meio de realização do eu, mas como uma anulação do eu. Assim, todos os conflitos e tensões do mundo amontoam-se sobre a consciência individual solitária. Em O Quimono Escarlate (The Crimson Kimono, 1959), não é permitida a Joe nenhuma válvula de escape social para seus problemas; Fuller não lhe concede o luxo de dizer “eu sou uma vítima indefesa da questão racial; a culpa é da sociedade, não minha”. Não, é o caso dele, e ele precisa superá-lo. No fim das contas, o indivíduo está completamente só, porque apenas ele pode viver dentro de sua própria consciência, e essa consciência define suas possibilidades. Joe diz a Chris: “Você não pode sentir pena de mim se não for eu.” E Merrill, ao médico da unidade: “Como você pode saber o que eu consigo suportar?” Mas o corolário desse individualismo puro é o de que ninguém mais pode fazer suas coisas por você, não há escapatória para o dilema do eu. É possível adiar o instante da escolha, o que 42 geralmente fazem as personagens de Fuller. Em Baionetas Caladas, Denno chega ao extremo de arriscar a própria vida no campo minado para não assumir as responsabilidades do comando; em Anjo do Mal, Skip joga com todas as possibilidades, até que a surra levada por Candy o obriga a escolher um lado; O’Meara prefere tentar tornar-se um sioux a enfrentar os ódios que dividem os Estados Unidos. Mas, ao fim e ao cabo, é preciso encarar a escolha, sempre considerada importante por causa dos seus efeitos no indivíduo. O êxito de Denno em assumir responsabilidade é visto como positivo não para os Estados Unidos, nem para o exército, nem para o esforço de guerra, mas para ele mesmo. Toda consideração externa é tida como irrelevante. A natureza pessoal autocentrada das escolhas é exprimida com grande beleza na cena de Baionetas Caladas em que o enfermeiro amedrontado faz uma operação em si mesmo para retirar uma bala. A câmera começa nele e em seguida faz uma panorâmica de 360 graus pelos rostos na caverna, voltando ao enfermeiro justamente em seu momento de triunfo, quando remove a bala. O sentido do ato começa e termina nele. Muitas vezes, o eu não é capaz de suportar mais a tensão. Uma solução, como vimos, é o suicídio. As outras são a violência e a insanidade, que, nos filmes de Fuller, estão estreitamente relacionadas. No caso da violência, as forças irracionais que movem o homem são voltadas para fora e colidem diretamente com forças semelhantes em outro indivíduo; um dos conflitos vivenciado pelos personagens do diretor é aquele entre o próprio eu e o Outro, o mundo exterior que continuamente circunscreve sua liberdade de ação. A violência é uma tentativa de solucionar essa confusão mediante a destruição do Outro. No mundo de Fuller e na sociedade norte-americana, a violência é, portanto, produto inevitável de uma raça de homens sem senhor. Assim, a guerra é a negação das outras nações, e o ódio racial, a negação das outras raças. A violência com que a polícia de Chicago investiu nos manifestantes da Convenção Democrática Nacional de 1968 foi uma tentativa da polícia e das forças por ela representadas no sentido de negar a complexidade da sociedade, de negar as possibilidades de divergência, não tanto na sociedade quanto nelas mesmas. Agiram como Zack em Capacete de Aço, que atira no major norte-coreano, não por ele ler em voz alta a oração de Short Round “– Por favor, faça o sargento Zack me amar” –, mas porque ele acrescenta: “Que oração idiota.” O major forçou Zack a 43 confrontar o conflito entre a lealdade a outro e a lealdade ao eu. Durante a maior parte do filme, ele concorda com o major quanto à idiotice da oração de Short Round; portanto, ao atirar, Zack tenta destruir uma parte de si mesmo, tenta negar seu ceticismo prévio. É o primeiro sinal de sua loucura iminente. Esse padrão do emprego da violência como forma de suicídio espiritual, como um modo de negar partes da verdade sobre si mesmo, é recorrente nos filmes de Fuller. Bob Ford, em Eu Matei Jesse James, se recusa a ouvir quando Kelly lhe diz que Cynthy não o ama. Diante de um homem que não está preparado para aceitar a verdade, Kelly se vê obrigada a recorrer a uma escopeta em vez de usar argumentos racionais. De forma semelhante, a violência de O Barão Aventureiro (The Baron of Arizona, 1950) se origina na recusa de Reavis em admitir sua fraude ou em fazer concessões aos colonos. A natureza obsessiva do seu desejo de dominação e posse totalmente individuais só pode ser recebida com uma tentativa, pela bomba ou pela forca, de destruir a individualidade que reside no cerne dessa obsessão. A comunicação implica um processo de partilha. Quando essa partilha é vista como uma violação da individualidade, a violação física real do eu é tudo o que resta como meio de comunicação. A coerção física se torna a única linguagem compreensível. Em Proibido (Verboten!, 1959), quando Bruno conta a verdade sobre Helga a Brent, este imediatamente o nocauteia. Quando Brent diz aos alemães famintos que estão sendo alimentados pelos Estados Unidos, eles o espancam. Lembra a forma como o Star reage ao Globe em A Dama de Preto (Park Row, 1952). Depois de ser forçado a enxergar a verdade sobre os nazistas em Nuremberg, o irmão de Helga mata o líder do Werewolf em um vagão em chamas. Trata-se de uma tentativa de exorcizar a culpa daqueles crimes de guerra nazistas, de destruir parte da Alemanha e, portanto, de si mesmo. O nazismo é visto como mais uma forma de violência que tenta negar a verdade, a complexidade tanto da sociedade quanto do indivíduo. Esse é o perigo e o atrativo do fascismo na obra de Fuller: como sugere o título Proibido!, ele é diretamente relacionado à limitação da liberdade pessoal, mas não no nível político simples do mecanismo opressor de um Estado totalitário. O nazismo é a insanidade em nível nacional. O irracional é tão forte, que, se negado e neutralizado com limitações sociais excessivas, irromperá em uma forma excessivamente violenta. Zack negou o 44 amor dentro de si por tanto tempo que sua expressão final foi uma explosão de tiros de metralhadora. É por isso que a guerra leva à loucura. Ela impõe uma limitação insuportável a impulsos humanos naturais. Em Mortos Que Caminham, Chowhound quer satisfazer o desejo eminentemente natural de comer, então corre para o campo onde os aviões lançaram os pacotes de comida e leva um tiro dos japoneses ao redor. Na cena com as identificações, em que Stock tem de escrever cartas aos parentes dos mortos, torna-se evidente que, para ser um bom soldado, ele precisa suprimir seu sentimento natural de tristeza. Não pode se aproximar demais dos seus homens. Nessas circunstâncias, a insanidade é a reação natural. O soldado pergunta a Merrill se Lemchek sobrevivera e, em seguida, morre. Merrill pergunta ao enfermeiro: “Quem é Lemchek?” “Lemchek é ele”, responde o outro. Mais tarde, Muley se identifica completamente com sua mula e termina por carregar ele mesmo o fardo do animal, chegando ao extremo de morrer de exaustão. O soldado Jaszi, um dos mercenários de No Umbral da China, é atormentado por pesadelos em que vê um soldado russo à sua frente e tenta matar o oponente imaginário. Ele se assemelha a Tolly, de A Lei dos Marginais. O assassinato do pai de Tolly é visto pelo filho e por nós, a audiência, não como uma morte física, e sim como um pesadelo povoado por sombras enormes. É um trauma que ele só pode exorcizar por meio da violência pessoal. A fonte neurótica dessa vingança, que se torna a base para toda a sua vida, é ilustrada pelo motivo do punho. Já bem no início, ele se recusa a envolver a sociedade em sua missão quando deixa de colaborar com a polícia. Essa recusa em colaborar é uma recusa em comunicar-se, em dizer a verdade. A violência é a única língua de que ele fala. O fato de que, em decorrência disso, esse problema só pode ser solucionado com sua própria morte é evidenciado pelo close-up no punho cerrado com que se encerra o filme. A abertura de A Lei dos Marginais parece sugerir uma maldição primeva vil na base da experiência norte-americana. Ela tem como pano de fundo a vida de festas nos becos atrás dos bares clandestinos onde se celebra o Ano-Novo. Parece desnudar o lado frágil do Sonho Americano: enquanto a festa continua despreocupadamente, um crime terrível é cometido, crime esse que os Estados Unidos nunca poderão exorcizar. Talvez seja a negação do pai, da cultura da velha Europa, talvez seja a destruição dos índios, talvez, a escravidão; talvez o crime e a maldição sejam a própria liberdade 45 individual, da mesma forma que, em Édipo, a tragédia não vem de algo que ele tenha feito, mas da consciência de tê-lo feito. Se, para serem solucionados, todos os problemas retornam ao eu, centro da consciência individual, tornam-se, como a vingança de Tolly, obsessões. Assim, a loucura é vista como o desdobramento inevitável da completa liberdade individual. O tema encontra sua expressão última em Paixões Que Alucinam, em que os Estados Unidos se tornam não um campo de batalha, a fronteira ou o submundo, mas um hospital psiquiátrico. Johnny Barrett aparenta estar tentando desvendar um assassinato que ocorreu no hospício, assim como Tolly aparenta estar atrás dos assassinos de seu pai. Na verdade, os objetivos de ambos são projeções de suas obsessões pessoais. No início de Paixões Que Alucinam, Barrett é treinado para simular os sintomas da loucura, enquanto a sua ambição de ganhar o Prêmio Pulitzer a qualquer preço deixa claro que já está louco. Isso se torna evidente quando Cathy, sua noiva, tenta convencê-lo a desistir do projeto: “Eu estou economizando para a gente poder levar uma vida normal”. Na primeira cena, a sociedade, na forma de um médico e de um editor de jornal, está envolvida na insanidade de Johnny. Como é próprio de Fuller, a única pessoa sã é uma outsider, uma stripper e cantora de cabaré que, ao se apaixonar por Johnny, rompe o círculo obsessivo de sua própria individualidade. O tom amargo do filme torna-se mais perceptível quando se leva em conta o tributo afetuoso que Fuller fizera ao jornalismo em A Dama de Preto. Agora, um editor de jornal e um jornalista estão profundamente implicados na loucura da sociedade norte-americana. A queda é resumida ao fim do filme pelo diretor do hospício: “Que tragédia. Um mudo louco vai ganhar o Prêmio Pulitzer”. Jornalistas eram vistos originalmente como guardiões da verdade, mas, agora, são parte da grande conspiração, do totalitarismo de mentiras que Mailer vê por todo o lado nos meios de comunicação de massa. Ademais, a verdade torna-se hedionda demais para ser contemplada. Ela enlouquece aqueles à sua procura. Que a insanidade é a expressão última da individualidade, torna-se visível numa sequência entre Barrett e Pagliacci. Pagliacci rege música imaginária. Só ouvimos a música nos seus planos. Nos de Barrett, ouvimos apenas seus pensamentos. O homem são em aparência vive num mundo tão autocentrado quanto o do insano, um completamente alheio à experiência do outro. O ponto ganha 46 mais ênfase nas entrevistas de Barrett com as três testemunhas do assassinato. Em cada caso, ele consegue provocar um retorno à sanidade. As testemunhas deixam suas identidades fantasiosas, mas logo voltam aos medos obsessivos que as enlouqueceram. As três querem comunicar suas experiências a Barrett, mas este não consegue falar de nada além do assassinato. Assim, a fronteira entre sanidade e insanidade desaparece, e o que nos resta são indivíduos enclausurados num eu em isolamento obsessivo. O fato de que, para esses indivíduos isolados, a violência se torna uma forma de substituir a comunicação é demonstrado ao fim de Paixões Que Alucinam, quando, em uma orgia de violência física, Barrett persegue Wilkes e o espanca. Ele perdeu a sua voz e não tem outro meio de passar adiante o segredo da culpa de Wilkes. A postura normal de desconfiança adotada pelo protagonista de Fuller como meio de sobrevivência se torna, em Paixões Que Alucinam, a causa do colapso nervoso e ilustra o quanto os homens e as mulheres do diretor constantemente se aproximam da loucura. É a suspeita de assassinato que atrai Barrett ao asilo, afinal. Uma vez lá dentro, ele passa a sentir um ciúme obsessivo de Cathy. Em seus sonhos, ela o provoca com sua sexualidade insatisfeita e sua infidelidade. Trata-se de uma infidelidade imaginária, com a qual nós, a audiência – bem típico de Fuller –, estamos envolvidos, pois, nas sequências de striptease, somos levados a desejá-la. Cathy aparece para Barrett em sonho da mesma forma com que apareceu para nós: vestida para o seu número de striptease. Na medida em que a desejamos, é de nós que Barrett desconfia, mas, também na medida em que a desejamos, dividimos as frustrações dele. Portanto, somos implicados nas causas da insanidade de Barrett e tomamos consciência da possibilidade de partilhá-la. O mundo dos insanos não é visto como diferente do mundo normal. Pelo contrário: o hospício é uma versão comprimida do mundo dos outros filmes de Fuller. Todos desempenham um papel falso: Stuart, que antes se aliara ao comunismo, age como um general da Confederação; Trent, o único aluno negro de uma universidade sulista, como o líder do Ku Klux Klan; Boden, o cientista atômico, como uma criança inocente de cinco anos de idade; Barrett, o jornalista, como um louco. As autoridades, assim como a sociedade, ou são hipócritas e corruptas feito Wilkes, que aparenta ser o mais gentil dos enfermeiros, mas não passa de um assassino desonesto, ou se dedi47 cam a conter os impulsos de cada um dos internados, reduzindo-os mediante tratamento a um estado de calma desumano. A irracionalidade é tão central no mundo de Fuller que aqueles que se dedicam a tornar o homem racional são vistos como uns disparatados, tão loucos quanto os pacientes, trancafiados dentro de suas próprias categorias psiquiátricas estreitas. É um mundo onde acessos de violência extrema podem ocorrer a qualquer momento, pelos motivos mais triviais. Assistir a Paixões Que Alucinam é ser levado a pensar no comentário do Marquês de Sade sobre o romance negro, citado por Fiedler no livro Love and Death in the American Novel (Nova York: Criterion Books, 1960): “‘Foi preciso buscar o auxílio do inferno [...] e procurar no mundo do pesadelo’ imagens adequadas à ‘história do homem nesta Idade do Bronze’”. Que se trata de uma versão dos Estados Unidos saída de um pesadelo, isso fica aparente nas pessoas de Stuart, Trent e Boden, as três testemunhas do assassinato, pois também são testemunhas dos crimes do país. Stuart, filho de meeiros analfabetos do Tennessee, foi criado para odiar, e não para amar. Depois de ser capturado na Coreia, ele procura o comunismo, mas, quando passa a ter o que amar nos Estados Unidos, rejeita os comunistas e volta ao seu país – apenas para ser levado à loucura pela rejeição dos compatriotas. Stuart vive na carne a paranoia da Guerra Fria e do macarthismo. Trent é o primeiro estudante negro de uma universidade sulista. A pressão sobre ele – de sua gente, pressão para ser bem-sucedido; dos brancos, ódio – enlouquecemno. Ele é produto do crime racial dos Estados Unidos. Boden é testemunha de crimes da tecnologia, em especial o lançamento das duas bombas atômicas. Sua loucura é um protesto contra a perversão do conhecimento a serviço do militarismo. Assim como a loucura do rei Lear, a de Johnny Barrett é a única reação razoável aos horrores que descobriu. Em Paixões Que Alucinam, a ficção se torna realidade, o herói existencial se define pelos seus atos: ao agir como um louco, ele se torna um. É apenas ao concluí-la que a verdadeira natureza da sua missão lhe é revelada. No instante em que descobre a identidade do assassino, descobre sua própria identidade, a expressão final de sua ambição. Ele enlouquece e volta-se completamente para dentro de si; é só no isolamento total que se encontra a verdadeira liberdade individual, e é só quando fica mudo e inerte que Johnny é livre das outras pessoas. 48 Aqui, no fim de Paixões Que Alucinam, a polaridade básica do mundo de Fuller está compreendida na pessoa de Johnny Barrett. Por fora, ele é um símbolo perfeito das forças da mente racional, lógica, tão controlada em seu transe catatônico que chega à rigidez. Perfeitamente adaptado ao mundo em que se encontra, foi reduzido por pressões sociais à completa inatividade. No entanto, por dentro, o irracional tomou o controle. As imagens de sua loucura são cachoeiras e relâmpagos, forças da natureza indômita às quais os Estados Unidos sempre recorrem em sua repulsa aos reis e bispos da Europa. Barrett sucumbiu ao apelo da irresponsabilidade e da insanidade, simbolizado pelas duas imagens da água fundamentais à imaginação norte-americana: o rio de Huckleberry Finn e o oceano de Moby Dick. 49 Kent Jones Certa vez, Jonathan Rosenbaum me contou que Nascido para Matar (Full Metal Jacket, 1987) não tinha valia alguma para Samuel 1 Respectivamente Apocalypse Now (idem, 1979) e O FrancoAtirador (The Deer Hunter, 1978) (N.E.) 50 Agonia e Gloria: a reconstruca0 1 Fuller. Rosenbaum expressou seu entusiasmo em relação ao filme de Kubrick, mas Fuller não compartilhava de tal reação: “É uma campanha de recrutamento.” Não consigo concordar com as palavras de Fuller, mas o adoro por tê-las proferido. E o adoro ainda mais depois de ter visto a versão reconstruída de Agonia e Glória (The Big Red One, 1980), meticulosamente organizada por Richard Schickel, outra pessoa que se importa muito com o modo com o qual a guerra é retratada nas telas. Comparada à versão cortada — um digno (segundo Fuller), elegíaco e relativamente antiquado filme de guerra de 1980 com 113 minutos —, essa, com duas horas e quarenta minutos (e não as míticas quatro horas e meia), é uma nova experiência. Esse é um filme sobre o inferno e o tédio de se estar numa guerra, e a indiferença dos felizardos que sobrevivem em relação aos que em breve morrerão. Grosserias à parte — e o que seria um filme de Fuller sem grosserias? —, o filme agora está à altura das palavras que lhe servem tanto de slogan original como de última fala da narração em off: “A verdadeira glória da guerra reside em sobreviver.” Quando Agonia e Glória foi lançado em sua versão truncada (com a aprovação do diretor, segundo me contou uma fonte confiável), era um filme apanhado entre duas eras: um artefato fabricado por um estúdio tradicional, associado a um cinema que seguiu o excesso de extravagâncias rock ‘n’ roll pós-Vietnã e que jogou o decoro espacial/narrativo/temático pelo ralo para sempre — basicamente, um filme de 1959 em meados de 1980. Os épicos de Coppola e Cimino1 apresentavam protagonistas quase psicóticos, e isso fez a ideia de Lee Marvin guardando um esquadrão etnicamente equilibrado de jovens promissores parecer bastante obsoleto. Que os homens ingênuos foram os atores mais inexpressivos imagináveis não ajudou — Robert Carradine como o alter ego de Fuller ainda parece e soa como se tivesse saído de uma sessão dupla com Ralph Meeker/ Gene Evans numa sala de exibição com ar-condicionado. Mais de vinte anos depois, a “era Vietnã” do cinema adquiriu contornos antiquados, e a Segunda Guerra emergiu novamente como uma obsessão nacional. E, assim como nosso novo triunfalismo está em vias de desintegração, o filme de Fuller parece ain51 1 Respectivamente Atrás da Linha Vermelha (The Thin Red Line, 1998) e O Resgate do Soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1988). 52 da mais impressionante: um épico memorial de baixo orçamento (filmado de modo econômico em Israel e na Irlanda), tão simples e discreto quanto uma história contada por seu pai. O espírito do filme parece certo, de um modo que os pomposos filmes sobre a Segunda Guerra de Malick e de Spielberg1 não parecem, colocando suas claras virtudes de lado. A ideia de resignação plácida dividida entre Fuller e seu protagonista; as erupções repentinas de sexualidade desvairada; o aspecto levemente fabuloso da história, como se cada evento tivesse sido filtrado por anos de repressão, trauma, aceitação, e então solidificados como lendas personalizadas; o comportamento másculo emprestado da era de Os Doze Condenados (The Dirty Dozen, Robert Aldrich, 1967), que um dia pareceu tão asqueroso e que hoje parece um mecanismo de defesa razoável para qualquer jovem com medo de não voltar vivo para casa — tudo soa verdadeiro. Até a imaturidade dos atores, agora os homens esquecidos do passado, parece verdadeira: afinal, é sempre um bando de jovens que é enviado à guerra. Fuller, com seu ponto de vista de repórter atrás dos fatos, conhece algo que Spielberg, Kubrick, Malick e Coppola não conhecem. Para Fuller, a guerra, a verdadeira guerra, jamais poderá ser encapsulada ou reduzida à sua essência: quando você tenta “equilibrar” a insanidade da empreitada com discussões sobre Emerson diante da fogueira ou com monólogos interiores sobre a dualidade da natureza humana — quando você lhe confere uma forma própria —, você está conferindo à guerra mais reverência do que ela merece. “Veja, não há como retratar a guerra realisticamente, nem em livro, nem em filme” escreve Fuller em sua autobiografia publicada postumamente — e cada uma dessas palavras parece ter sido vociferada por telefone de uma cena de crime. “Só é possível capturar uma fração bem, bem pequena dela. Se você realmente quiser fazer seus leitores entenderem a batalha, algumas páginas do seu livro teriam que ser armadilhas, para pegá-los desprevenidos. Para que os espectadores tenham a ideia do combate real, você teria que atirar neles dos dois lados da tela. Mas mortes na sala de cinema seria ruim para os negócios.” Isso vem de alguém que escapou de Rommel no norte da África, que sofreu o pão que o diabo amassou na praia de Omaha, e que estava presente durante a libertação de um campo de concentração na Tchecoslováquia, tudo isso recriado aqui. Claro, e isso vale para todos os assuntos, não há uma maneira única e irrefutável de representar a guerra. Se parece que deveria haver uma, é simplesmente porque o abismo que separa os que passaram por essa experiência dos que não passaram é tão amplo, e porque a natureza da experiência é traumática na melhor das hipóteses e fisicamente arruinadora na pior — se você tiver sorte o bastante para ter sobrevivido àquilo, claro. O Resgate do Soldado Ryan (Saving Private Ryan, 1998), provavelmente um dos filmes mais influentes dos últimos vinte anos, é o óbvio contraponto. Como o dia D de Fuller pode ser comparado ao de Spielberg? Spielberg certamente ganha em termos de puro impacto físico, graças à sua habilidade consumada de lidar com sets com múltiplos campos de ação e entrecruzar movimento e som. A versão de Fuller é muito menos espetacular, o coeficiente “você está lá” é mais baixo, os momentos são dispostos como momentos no melhor sentido hollywoodiano, e não como instantes que parecem ter sido capturados de um fluxo contínuo de realidade. No entanto, a cena de Spielberg funciona mais como uma experiência abstrata que qualquer outra coisa, uma espécie de instalação audiovisual maximizada que poderia ser chamada “Praia de Omaha” ou “Massacrado por todos os lados”. Como sequência de cinema, é brutalmente resoluta, enquanto a de Fuller é impulsionada por uma lógica dramática, assim como uma maior preocupação com detalhes mundanos, mas não menos cruciais. Entendemos que as granadas norte-americanas caíram muito além da praia, que os alemães posicionados acima não são soldados inaptos para o combate (como se acreditava), que as cercas de arame farpado precisavam ser destruídas antes que os soldados que se acumulavam na praia pudessem avançar. Para mostrar a passagem do tempo, Fuller estabelece um dispositivo perspicaz que sobreviveu ao primeiro corte: um relógio de pulso no braço de um soldado morto, flutuando nas ondas cada vez mais sangrentas da Normandia. A cena é, então, centralizada nos torpedos Bangalore e nos homens sendo continuamente massacrados, até que Griff, interpretado por Mark Hamill, consegue sair dali, sob fogo cruzado. Na versão de 1980, a cena tem um poder simples e solene. Na versão reconstruída, Robert Carradine reencena Fuller correndo pela praia para alertar a seu comandante que a armadilha foi destruída. Um pouco antes de ele alcançar o coronel, ele repentinamente cai. Há um soldado morto a seu lado. A câmera faz uma panorâmica 53 para baixo e vemos, por um breve instante, que o estômago dele foi estourado e que seu intestino está exposto. A isso, segue-se um detalhe dos mais estranhos: Carradine enxerga um cigarro em bom estado próximo ao soldado moribundo, pega-o, coloca-o na boca dele, e levanta-se para continuar a corrida. Tão estranho quanto este momento é a cena em que o coronel recebe a notícia. Ele se levanta e grita: “Há dois tipos de homem lá fora: os mortos e os que estão prestes a morrer. Então vamos sair logo desta praia e pelo menos morrer longe da costa.” Foi o fim da satisfação por ter avançado. Fuller não tenta recriar o evento, como Spielberg faz. Os detalhes mais traumatizantes são quase sempre deixados de fora das histórias contadas pelos veteranos — eles estão além da compreensão de tal forma que é impossível recontá-los. “Cabeças, braços, dedos, testículos e pernas estavam espalhados por todo lado quando corremos pela praia, tentando desviar dos corpos”, escreve Fuller a respeito da chegada à praia de Omaha, colocando no papel o que é ao mesmo tempo muito chamativo para uma conversa casual e muito constrangedor para ser retratado visualmente com artefatos protéticos. Ao contrário de Spielberg, Fuller não tenta nos convencer de que estamos assistindo a um evento real. Ele sabe que, assim que você mostra alguma coisa, você não só está implorando para que a plateia questione a realidade daquilo como também está acobertando o horror, dando a ele a forma e a finitude que ele é impossibilitado de possuir quando é realmente vivenciado. Fuller permite que compartilhemos de seu próprio horror convulsivo ao nos dar imagens únicas, quase ideogramáticas — o braço de um morto, um cadáver com o intestino exposto —, que sugerem uma variedade de associações. No que o corte de 1980 era relativamente sóbrio, a nova versão é surpreendente. Quase todas as cenas agora ressoam por conta de detalhes excêntricos, porém, críveis, dos Legionários que cortam as orelhas dos soldados mortos (no clímax de uma cena de batalha a cavalo maravilhosamente intrincada) aos velhos fazendeiros alemães defendendo a pátria dos invasores norte-americanos, mas que se encolhem ao primeiro disparo do rifle de Marvin. Agora há uma cena com um jovem atirador, um corolário direto do clímax de Nascido para Matar, que termina muito perto do episódio de Soldado Ryan em que o esquadrão é atormentado sobre o destino do prisioneiro alemão. A cena do filme de Fuller é menos grandiosa 54 que ambas. O que fazer com esse impenitente jovem hitlerista que ninguém quer matar? Marvin encerra a discussão muito antes de Tom Hanks conseguir o mesmo, e decide dar ao menino a pior surra de sua vida, que o faz gritar pelo seu pai. De certo modo, é até divertido, uma dessas algazarras que geralmente se vê em filmes antigos sobre a Segunda Guerra, mas essa cena também tem uma lógica tresloucada: o que mais se faz com um menino? Fuller supostamente iniciou o projeto de Agonia e Glória na Warner Brothers em 1959, com John Wayne como protagonista, e tanto Richard Brooks quanto Dalton Trumbo sabiamente o aconselharam contra. A sentimentalidade sofrida de Lee Marvin fez maravilhas por Aldrich e Boorman, mas não acho que eles tenham encontrado melhor lugar para ela do que neste filme. Nesse ponto tardio de sua carreira, Marvin havia perdido aquele ar de Liberty Valance e adquirido sua autoridade desencantada, e, numa jogada inteligente, Fuller acertou todo o filme no ritmo solto do ator. “Lee realmente ficou bêbado umas duas vezes, mas, pelo amor de Deus, ele estava carregando o filme todo nas costas”, escreve Fuller, que afirma que ele e Marvin não tiveram que conversar muito. Não surpreende. Marvin lutou no Pacífico, onde foi o único sobrevivente de seu esquadrão em Saipan, e está enterrado em Arlington. É por isso, sem dúvida, que sua performance aqui é um milagre tão sereno. Na nova versão de Agonia e Glória, crianças são atraídas continuamente para Marvin — uma menina tunisiana, um menino siciliano que o agradece por ter se encarregado do enterro de sua mãe, e uma menina que decora seu capacete com flores e que depois é morta quando corre para se despedir dele com um beijo. Ele deixa as crianças se sentarem quietas a seu lado, nem acolhendo-as afetuosamente nem enxotando-as dali, permitindo que elas fiquem dentro de sua aura protetora, mas evitando o apego. E isso faz o já devastador episódio final do menino que morre em Falkenau ser muito mais forte. Três dos mais eloquentes minutos do cinema — o menino é carregado por Marvin, colocado sobre uma cama, retirado das sombras, trazido para a margem do rio e içado aos ombros de Marvin por alguns segundos, ao sol, antes de morrer. A ternura mais incomum, a simplicidade mais brutal. Se você quiser tremer de medo, veja O Resgate do Soldado Ryan — mas, lembre-se, só funciona uma vez. Se você quiser ponderar sobre se o mal está ou não dentro de nós, veja Além da Li55 nha Vermelha (The Thin Red Line, 1998). Se você quiser segurar o conceito da guerra em suas mãos, como um diamante preto elegante e perfeitamente formado, veja Nascido para Matar. Sem querer depreciar esses filmes, Agonia e Glória, em sua versão atual, pode ser o único que leva a experiência da batalha às últimas consequências. O filme nos dá uma ideia de por que homens como meu pai, cinquenta anos depois do término da Segunda Guerra, ainda choram quando as lembranças do que vivenciaram ressurgem rapidamente à superfície. 56 57 er por Feluellmesmo I. The Dark Page 1 60 Naquela noite Carl Chapman tocou a grandeza. Amanhã, as manchetes diriam: 12.000 ENCONTRAM A FELICIDADE! Quarenta e oito cabines cercavam a pista de dança no Madison Square Garden; sobre cada uma, uma flâmula na qual se lia o nome de um estado. O local estava lotado. Uma alegre mocinha polonesa de suéter vermelho encarava esperançosamente o rosto recém-barbeado de um motorista de caminhão com emprego fixo; um garçom-filósofo húngaro conversava gravemente com uma viúva russa inquieta e sem filhos; um bem esfregado servente de lavatório sorria tolamente para uma Cinderela obesa; um jovem alemão perplexo que não falava inglês ouvia atentamente ao agudo e enervado tagarelar de uma garçonete; um octogenário mascador de chicletes proveniente de Coney Island persuadia uma nervosa professora a compartilhar de seu interesse em antropologia, chamados de pássaros e sexo. Romeus bailavam com Julietas que tinham os dedos cruzados – sonhadores, grevistas, analfabetos, imigrantes nos primeiros estágios do processo de naturalização, balconistas otimistas que falavam lugares-comuns de maneira apaixonada, aventureiros outrora briosos diminuídos na presença de parteiras de meia-idade que entretinham sonhos quase desaparecidos e arrependimentos cada vez maiores. Olá, eu sou o Glen... Olá, eu sou a Pola... Aquele loiro é bonito... Olha, está olhando para nós... Venho de uma fazenda em Stor-Vindelsjo... Não seja tímido... Esse vestido é lindo. Eu faço vestidos. Trabalho numa fábrica... Você dança bem, moço... Esse era o Baile dos Corações Solitários. Um estandarte de quase vinte metros estendia-se de um canto a outro nos fundos do salão; dois enormes corações flanqueavam a legenda: CLUBE CORAÇÕES SOLITÁRIOS DO COMET. Cada um dos doze mil membros usava um crachá escarlate em formato de coração dependurado de um barbante vermelho afixado a um vestido ou lapela – e cada crachá daqueles significava uma assinatura anual do Comet de Nova York. Já houvera muitos Clubes Vamos-Nos-Conhecer, Clubes de 1 Originalmente publicado em The Dark Page (Glasgow: Kingly Reprieve, 2007). Tradução de Ismar Tirelli Neto. 61 Amantes Solitários, Clubes de Companhia. Mas o Comet era o primeiro jornal a vender Amor em escala maciça. E foi Carl Chapman, editor de Cidade do Comet, quem deu à luz a ideia, além de cuidá-la e fazê-la crescer até se tornar o mais irônico propulsor de circulação do universo jornalístico. Num canto próximo à cabine do estado de Idaho, ele saboreava seu próprio brainstorm. Seus olhos varriam a multidão com arrogância. Ela representava dólares e cêntimos, um aumento na circulação e elogios de seu editor. Ele sempre soubera que tinha o talento, a experiência e o amor aberrante do choque necessários ao planejamento de uma tal jogada; essa farsa provaria que jogar migalhas de romance aos famintos de amor pagava espetacularmente. Os mistérios, perigos, delícias e promessas descobertos hoje à noite, fariam de cada um dos presentes um leitor vitalício do Comet. Uma mulher baixa e morena estava diante dele, sorrindo, a cabeça inclinada de maneira coquete. Um grosso aparelho de ouro segurava seus dentes no lugar. Ela o olhava fixamente, esperando. Viu seu crachá oficial e foi-se embora. Então ele viu sua esposa. Ela estava dançando com um magro rapaz de Vermont com o queixo reentrado. Ela o estava fazendo rir. Rose sempre levara tudo na esportiva. Era essa uma das dúzias de motivos pelos quais ele se apaixonara tanto por ela. Eram tão afinados entre si que ela conseguia sentir a sua presença através dos casais que circulavam. Ela voltou-se, viu–o e acenou. Ele acenou de volta. Uma diminuta figura adentrou seu campo de visão – Julie Allison. Era tão pequena, e tão imensamente sincera; estava correndo para cima e para baixo, tratando que os membros se sentissem confortáveis, respondendo a perguntas, alegrando-se do amor que brotava entre aqueles estranhos que traziam os próprios corações nas mãos. Um rapaz alto e magricela atravessava a multidão com dificuldade, seus olhos azuis examinando os rostos impacientemente. Era a primeira vez naquela noite que Carl via Lancelot Seumas McCleary. Começou a varar as linhas para alcançá-lo. Uma sueca gorda, ruge aplicado às faces em dois discos flamejantes de laranja amarelado, trajando um vestido de veludo azul, apaixonou-se por Lance McCleary a poucos passos da cabine de Indiana e bloqueou-lhe a passagem, sorridente. Carl agachou-se atrás da cabine. “Sou Hulda”, ele a ouviu dizer para Lance. Ótima festa, yah?” 62 Carl deu uma risota. Lance dera um passo para trás ao ver surgir diante de si aquela montanha perfumada e reluzente. “Yah”, ele resmungou, numa mímica débil. Ela inclinou-se para a frente e leu-lhe o crachá pendurado na lapela. Número um-quatro-seis-oito-seis. Blick! Veja só, eu sou doistrês-nove. Membra velha. Você acabou de se juntar, yah?”. Antes que Lance pudesse responder, ela já o tinha arrastado para a pista de dança lotada. Carl esticou o pescoço para assistir. Dois compassos e a música parou. Lance desvencilhou-se e fugiu. Porém, a Número 239 não se deixava intimidar. Começara a caçada. Carl correu de detrás da cabine a tempo de ver as mãos dela se enroscando no pescoço de Lance. O fugitivo do amor girou. “Varsor Springer? Por que você foge?”, ela perguntou inocentemente, casualmente esfregando a listra de graxa marrom que tatuava seu cotovelo. Não se acanhe, vacker man. Rapaz adorável, gosto de você. Você gosta de mim, yah?” Ela apertou a mão de Lance carinhosamente; ele recuou sob a pressão. Procurava desesperadamente uma saída enquanto ela lhe murmurava que eram almas gêmeas. A firmeza do toque dela em seu braço o compelia a ouvir. Não havia mais nada que ele pudesse fazer, não havia saída alguma. Carl decidiu que Lance já sofrera o suficiente. Caminhou até eles, apartou-os cuidadosamente e dirigiu a ela uma graciosa vênia. “Logo mais, fotos”, ele lhe disse musicalmente. “Sua foto no jornal, yah?” “Eu? Porträtt?”, ela ofegou. Carl instruiu-a a esperar pelo fotógrafo perto da cabine da Carolina do Norte, e prometeu não perder de vista seu recém-encontrado noivo. “Yah!”, ela disse. Seus olhos bebiam Lance avidamente. Ela acariciou sua bochecha. “Vackerman”, ela disse, cantarolante. Depois foi-se embora com seus passos de pata-choca. Lance voltou-se para Carl, que agora ria incontrolavelmente. “Veja só isso, ele disse mordazmente, golpeando com o dedo o crachá preso à lapela. “Muito bonito!” Carl enxugou os olhos. Lance continuou. “Caí na conversa de Julie feito um tonto. Você sabia que eu cairia esse tempo todo. Quando eu encontrar aquelazinha –“Carl sorriu. Fora fácil arrastar o seu melhor repórter 63 investigativo ao Baile dos Corações Solitários, graças à Julie e seus olhos calorosos. Lance olhou secamente para o coração que lhe haviam fixado. “Eu fui louco de deixar você me arrastar até aqui. Bom, chefe, por que essa enganação?” “Acalme-se, Lance. Divirta-se um pouco”. “Sim, como aquele tonel coberto de pó-de-arroz! Se você não tivesse respondido ao meu SOS, ela teria –” “Você não pode culpá-la. O coração fraco dorme só. “Certo, você já deu suas risadas. De que se trata isso tudo?” “Você vai cobrir isso aqui hoje à noite. “Agora quem ri sou eu. Me trazer para cá é uma coisa, me fazer escrever a respeito é outra. “Qualquer um poderia escrever essa história, mas ela precisa de algo. E você o tem.” Lance bocejou. Passou os olhos pela multidão. “Vou para casa. Gosto de estar só.” “Por que você acha que te trouxe até aqui só para ficar te olhando, seu ruivo resmungão? Tenho vários sujeitos aqui cobrindo esse evento e todos eles vão me entregar a mesma lenga-lenga de sempre, mas o que eu quero é o toque McCleary”. A isso, a resposta de Lance foi curta, pontual, profana. “Quem disse que você vai ganhar o Pulitzer?”, disse Carl. “Tudo o que precisa fazer é andar por aí. A história acabará se escrevendo por si só”. “Mais cinco minutos nesse ninho de amor de infelizes e eu abro o berreiro!” “Era disso que eu estava falando. Lágrimas e tinta, um melado grudento e saboroso”. Lance parecia entediado, o que era bom sinal. Quando estivesse suficientemente aborrecido, escreveria; e quanto mais aborrecido, mais sentimental. “Lance, não há nada que apeteça mais ao gosto majoritário que um bom melado. Mas não muito grosso. Você odeia essa jogada o bastante para escrever uma ótima matéria. E lágrimas e tinta aumentam qualquer circulação.” Carl colocou um braço paternal sobre seu protegido. “Que me diz, rapaz? Dê ao papai aqui um bom melado – umas duas colunas.” Estranho, pensou que estivesse pedindo isso a Lance em vez de 64 mandando. Sabia que bastava dizer-lhe “Escreva!” e a matéria seria escrita. Mas ele compreendia Lance. Fora difícil, no início, guiar este tolo escrevinhador, seu protegido irlandês; cujas histórias tinham sido vulgares, cheias de peripécias, bombásticas, pejadas de veemência impassível e um pouco do azedume da gentileza. Ele reconhecera no jovem McCleary, então, um contínuo que ainda nem saíra do colégio, um jornalista nato – o tipo que, com devido treino, seria capaz de distanciar-se da matéria, estudá-la friamente, digeri -la cinicamente e escrevê-la com agudeza. Lance deu de ombros. “Certo, papai”, disse cansado, perscrutando a multidão. “Vou te dar tanta gosma que as rotativas vão emperrar.” Carl observou-o desaparecer. “Socorro! Sr. Chapman, socorro!” Voltou-se. 150 quilos de terror, máquina escorada sobre o ombro, faziam-lhe sinais. Era o fotógrafo do Comet; o gordo, simpático Amos Biddle, cercado por uma meia-dúzia de mulheres, o rosto transpirando de medo. Carl nunca vira fraquejar a imensa figura de Amos. Aproximou-se do limite do círculo e ouviu as barulhentas Corações Solitários bombardeando o fotógrafo. “Sou Pola Nogurski. Poso para retrato de novo, não?” “Gosto de homens gordos.” “Por favor, meu retrato no jornal amanhã?” Amanhã. Amanhã já estariam fora de circulação novamente, de volta aos seus baldes, esfregões e aventais. Pela segunda vez naquela noite, Carl bancou o herói. Rompeu o cordão e dirigiu-se a Amos, a voz cheia de sarcasmo. “Quando estiver cansado de fazer o Casanova.” Os olhos de Amos se esbugalharam num apelo desesperado. Carl voltou-se para as mulheres. “Deem uma folga para ele, damas. Ele está cansado, não percebem? Ele também tem trabalho a fazer.” Ouviram em silêncio, seus olhos ávidos banqueteando-se do rosto corado de Amos. “Vamos lá, chefe”, Amos passou com esforço pelas mulheres. Carl consolou-as dizendo “Depois – mais fotos para todas”. Ele alcançou Amos, que se detivera perto da cabine do Arizona para recuperar o fôlego. “Obrigado, chefe!” “Não se preocupe. Desperdiçou chapas?” “Não. A máquina estava descarregada o tempo inteiro”. “É nisso que dá, brincar que está tirando fotos delas. Agora co65 mece a fazer retratos de grupo dos Corações Solitários frente às cabines de seus respectivos estados”. “Todos os quarenta e oito?” protestou o preguiçoso fotógrafo. “Está reclamando?” “Não, não, chefe. Quarenta e oito? Quarenta e oito.” “Certo. Antigos namorados se reencontrando, novos romances, triângulos. Dê-me contrastes.” Amos se voltara para ir embora quando foi chamado novamente e apresentado a um gigante húngaro. “Este é Walter Zcekely”, disse Carl. “É uma falseta.” Daqui a pouco vou anunciar o espetáculo. Enquanto isso, vá colhendo material dele e de sua garota, Ilona – hmm.” “Mathusek”, completou Zcekely, rouco. “Lá está ela, sorrindo para nós. Flagre-os se encontrando como se fossem estranhos na cabine de Wisconsin. Mostre-os dançando, discutindo a pátria-mãe, o Tio Sam, os processos de imigração; mostre-os lendo o Comet, comparando crachás do clube, apaixonando-se, propondo, aceitando e beijando-se.” “Grande, chefe!” Amos estava vivo novamente. “Vamos lá, Romeu–, disse, conduzindo o cigano para longe. “Vamos começar a trabalhar nessa sua história de amor verídica. Você também, Ilona”. Fez sinal com ambas as mãos para que os Corações Solitários se alinhassem diante de suas cabines, enquanto assistentes corriam de um lado para outro, fazendo eco às suas ordens. Carl passeou pela multidão. Próximo à plataforma voltou-se, os olhos piscando enquanto tramava a próxima falseta. Notou um belo espécimen masculino a poucos metros de si, e perguntou-se se o seu corpo era tão bem talhado quanto o do garanhão do Michigan. Encolheu o estômago, constrangido. Novamente relaxado, balançouse do calcanhar à ponta dos pés, as mãos entrelaçadas atrás de si, admirando o exército de assinantes do Comet como se fosse César a admirar os destroços após uma campanha vitoriosa. Descalço, media 1,70m, mas preferia medir sua estatura em polegadas de letra impressa e ganhos na circulação. Agora entrado nos quarenta, e segundo seus próprios critérios, era maravilhosamente alto. Teria sido mau negócio, pensou, se não tivesse sido capaz de fazer jus à autoconfiança arrogante que exibira nos seus dias no Chronicle. Era assim que ele era – diferente de todos os outros. Nascera rebelde. Jamais se contentara em ser o melhor copidesque de 66 Park Row. Já não vira o que costumava acontecer a copidesques leais? Aos desgrenhados cavalos-de-batalha do ramo? A repórteres de rua varicosos e outros tantos aterrorizados pela sonda estomacal? Certo, o melhor copidesque e toda aquela sabedoria acerca da obediência... que os mansos herdam a terra... mas ele sabia que o seu chefe ia para casa todas as noites, onde lhe aguardavam uma esposa fiel e filhos que o admiravam. Ele também queria dar ordens de uma cadeira giratória, ter uma casa própria e casar-se com Rose. Doce, adorável, loira Rose dos olhos brilhantes. Sempre frágil. Sempre bela. Naquela noite, eles saíram... era seu quarto encontro com ela. Ela disse que ele estava gastando demais, mas ele só pensava na própria carreira. Pau-mandado do editorialista por dois anos! Não tinha direito a uma folga? Ele tinha grandes planos. Fora para isso que viera a Nova York em primeiro lugar: à procura de uma chance, um recomeço. “De onde você vem, Carl?” ela perguntou enquanto ele gastava seu último dólar em vinho. Ele continuou tagarelando, evadindo-se à pergunta. Sentia-se muito mal... No dia em que assassinaram o Globe de Nova York, ele foi promovido a um dos maiores cargos do jornalismo de Manhattan – a editoria de cidade do Comet de Nova York, então novidade nas bancas. Embarcar em algo tão novo revelou-se simples para ele, pois ele tinha como que selvas e selvas de ideias. O ajuste ao novo emprego, à nova vida, foi glorioso, empolgante, divertidíssimo. Encontrou uma equipe turbulenta e brigalhona e conseguiu transformá-la numa máquina de notícias leal ao extremo do fanatismo, por força da repetição diária, horária de seu slogan predileto: “muito do melhor!”. No princípio, o Comet representava apenas um morno desafio aos demais jornais, mas o cérebro de Carl foi a transfusão que lhe salvou a vida. Ele teve de lutar com jornalistas invejosos por conta de matérias simplórias. Ele se revoltava, batia com o punho na mesa e berrava ordens, aterrorizando os funcionários ao ponto de subjugá-los. Os homens lhe temiam e respeitavam, e seus piores inimigos reconheciam sua capacidade. Mas eram poucos os que o amavam. As manchetes eram grandes e ousadas, mas nunca tão grandes e ousadas quanto ele as visualizava. Não tinha amigos durante aqueles dias amargos em que era o rei da editoria de cidade, a coroa ainda reluzente, um lápis azul numa mão e uma aspirina na outra 67 até imortalizar a si próprio como marido e pai com a manchete-dasemana QUE BOM QUE ELE É MENINA, ROSE!”. No dia em que Tommy nasceu, prometeram-lhe um bônus por cada aumento de cem ou mil que ele pudesse gerar na circulação do Comet. Ele trabalhou com afinco, fez hora extra à sua mesa, sem casaco, em mangas de camisa... Seu primeiro amor era o jornal. O segundo, seu lar. Mas ele tinha descoberto a fórmula do contentamento total e jamais comprometeu a harmonia entre casa e mesa de trabalho. Ele a protegia zelosamente, preparado para defendê-la, pronto para lutar com qualquer um que ousasse roubar-lhe sequer um pedaço dela. Para ele, a vida estava completa. Em seguida, fez seus rivais coçarem a cabeça e assobiarem ao fundar o Clube Corações Solitários do Comet. A circulação foi aumentando rápida e seguramente. Ele tornou-se o prodígio agrisalhado do jornalismo e recebeu ofertas tentadoras de outros periódicos. Mas permaneceu leal ao Comet. Podia dar-se ao desfrute de ser leal agora. E então promoveu o Baile dos Corações Solitários. O Garden estava lotado. Ele sorriu, balançando-se dos calcanhares à ponta dos pés. Agora tinha tudo. Tinha Rose, dois filhos adoráveis, sua cadeira giratória, sua casa própria. Tinha alcançado sua meta. Ele era o Grande Editor. Era um marido devotado, um pai amado. Era o homem mais contente na Terra. Então ouviu duas palavras. Duas palavras que ameaçavam despi -lo de todo seu poder, glória e felicidade. “John Grant!” II. Carl girou sobre os próprios pés. Não conseguia ver nada além dos olhos negros que o fitavam – estranhos, hipnóticos, penetrantes. Havia neles qualquer coisa de vagamente familiar e amedrontadora. Acalme-se. Só estou cansado. Muito trabalho antes do baile. São só os nervos, só isso. Eu conferi. Eles disseram que ela estava morta. Ela está morta. Deu um passo para trás. Uma ilusão? A mulher de olhos negros deu um passo à frente. Uma realidade. A realidade agarrou-lhe o pulso. ”John, é você. É mesmo você!” 68 O sussurro provinha de uma garganta apertada de lágrimas. Do fundo de seus olhos veio uma súplica por reconhecimento. Seu rosto era pálido e vivo. O impressionante desfile dos anos correu pela mente dele. Ela fora corada e bonita, não esquelética e tísica. “Charlotte!” A palavra se arremessara de sua boca antes que ele pudesse detê-la. Agora era tarde demais para negar. O silêncio respondeu a ele. Os dedos dela cavaram a sua carne. Ela estava tentando falar. Reencontrou a voz, agradecida, trêmula, baixa. “John!” Pessoas e cabines e flâmulas e os flashes de Biddle começaram a tomar forma novamente diante de Carl. Lançou um olhar rápido ao redor. Preciso tirá-la daqui! Ninguém lhes prestava atenção. Tomou o braço dela e seguiu aos empurrões pela multidão, rumo à saída dos fundos que dava para um beco. Alguém encostou-se a ela no caminho e ela tropeçou. O botão da manga de Carl enredou-se no fio vermelho que ela levava fixado no vestido, à altura do coração – o crachá do Clube dos Corações Solitários. Ele desvencilhou o braço e continuou caminhando. Adentraram o beco. O ar correu para dentro dos pulmões dele. Ele murmurou uma pergunta e ela balbuciou uma resposta. Ótimo; ela não morava longe, só a umas doze quadras dali. Ele a ajudou a subir em seu cupê e saiu dirigindo. Ele precisava abastecer. Engraçado, como a gente consegue pensar em coisas bestas como gasolina quando – “É ali, John. Aquele com a luz acesa”. Ele parou diante de um edifício, seguiu-a rigidamente por um lance de escadas baratas – pareciam ser milhares. Do lado de fora de uma porta no segundo andar, ela remexeu os conteúdos da bolsa. O som de uma chave numa fechadura e uma porta se abrindo alcançaram os ouvidos dele na escuridão. Sentiu que ela passava adiante. Ela hesitou, tateou a densa escuridão sobre sua cabeça até encontrar o cordão de ligar a luz. “Entre, John.” Era úmido; um cheiro a remédio causou-lhe certa náusea. Ela deve estar doente, pensou. Ele fechou a porta e voltou-se lentamente; caminhando como se estivesse num pesadelo rumo à única janela do apartamento, que dava para a rua suja; baixou as persianas enquanto passava, a poucos dedos de distância, um trem elevado. Os 69 olhos dela não lhe deixaram enquanto ele dava meia-volta. Afinal, ele voltou-se para encará-la. Ela usava um vestido negro, esverdeado pelo tempo. Numa tentativa patética de parecer elegante, ela colocara um laço e uma gola de organdi branco. Ele sentiu-se feliz por poder sentir pena dela, e por essa pena ser tão impessoal. Ela interpretou seu silêncio equivocadamente. “Eu – eu mudei”, disse ela, como que se desculpando. Não acha? O que ele poderia dizer? Para ele, ela não passava de um esqueleto que ele havia fechado, trancado e lacrado num armário. Ele jogara a chave fora, já não lembrava onde. Encontrara paz e felicidade no esquecimento. Ela estava chorando. De alguma forma, as lágrimas sempre lhe caíram bem. Seu corpo bambeou. Por um instante, ele pensou que ela fosse cair. Ele a conduziu até a cama e uma mola reagiu sonoramente ao peso dela. Ele decidiu sentar-se a seu lado. A cama não dava para ambos. “Por quê, John? Por quê?” ela perguntou num sussurro. Conte para ela. Conte para ela. Mas ele não contou. Sentiu que os olhos dela o devoravam. Ela tomou as mãos dele nas suas e gentilmente o guiou até o lado vago da cama. Ele estudou aquelas mãos. Não eram suaves e róseas, conforme ele lembrava; mal podia acreditar que se tinham tornado tão ossudas, duras e secas. Um enxurro de memórias tomou-lhe de assalto. Quantas vezes já tinham se sentado juntos assim? Por um instante, a angústia acometeu-lhe; ele teria renunciado à carreira e a todas as suas posses para ser vinte anos mais moço e poder dar um passeio com ela perto de Holy Cross, em Worcester. Você sabe que não o faria, nem por todo o dinheiro que há no mundo. Lentamente, ela recuou as mãos. “A noite que você me deixou...”. Mostrou-lhe os pulsos, para que ele pudesse ver as cicatrizes que os riscavam. “Oh, John, estou tão feliz agora que o doutor me salvou. Eu não queria viver então. Fui-me embora. Vendi tudo. Até aquelas taças de vinho azuis que você tanto gostava. Lavei prato, roupa, chão – qualquer coisa que me desse dinheiro, de modo que eu pudesse continuar procurando. Eu tinha que te encontrar. Metime em encrencas, mudei de nome. Smith. Brown. Jones. Foi terrível, John. Eu estava sozinha. Tão sozinha! Precisava descobrir por que 70 você tinha fugido. Estava no meu direito. Preciso saber.” “Charlotte, estou casado”. Ele sentiu os dedos dela esfriarem. Levantou e começou a caminhar de um lado a outro como se estivesse numa jaula. Então lhe contou – de como tinha mudado o nome para Carl Chapman, de como tinha lutado e sonhado, e de como tinha conhecido Rose e finalmente realizado suas ambições. “Sou feliz, Charlotte. Você não saberia o que isso significa. Você nunca me viu feliz. Tenho um lar, um nome, um futuro.” Pronto, contei-lhe. É assim que se faz. Direto ao ponto. Acabar logo com isso. Vou conseguir administrá-la. Finalmente ela se pronunciou. Ele teve de fazer força para ouvir a palavra. “Casado?” Ele aguardou. Ela olhou para cima; olhos de dor encontraram os dele. O trem elevado passou rugindo, fazendo o quarto vibrar. Ela levantou, equilibrando-se na cabeceira. “E eu? Eu sou sua esposa”. “Não, Charlotte, você nunca foi minha esposa.” Nós ficamos juntos por um tempo e trocamos palavras e você me chamava marido e eu te chamava esposa, mas você nunca foi minha esposa. Você era muito possessiva. Sempre teu. Sempre teu. Eu estava numa rotina e você só me colocava para baixo. Quanto mais você gostava de mim, mais eu te odiava. Quanto mais você me encorajava, menos ambicioso eu ficava. Você me entediava. Você me irritava. O mais leve toque teu me dava engulhos. Eu não podia te suportar por mais um instante sequer. Precisava te deixar. Precisava te tirar da minha vida. Não, Charlotte, você nunca foi minha esposa. Ele disse, “Charlotte, tenho dois filhos.” “Não dou a mínima para eles. Você pertence a mim!” Olhe só para ela. A mesma Charlotte de sempre. Egoísta. Meu! Meu! Vinte anos e nenhuma alteração. Segurando. Segurando. “Uma coisa eu não penhorei!” Ela estendeu a mão esquerda com força. A luz que vinha de cima bateu de chapa no anel em seu dedo. A aliança piscou para ele. Ela agarrou seus braços num enlace frenético. “Por que você me abandonou, John? O que foi que eu fiz? Você era tudo para mim. Eu nunca te magoei. Eu te amava. Eu nunca parei de te amar”. Ele não conseguia desviar os olhos daquele rosto emaciado. 71 “Você não se divorciou. Isso não seria possível, John”. “Eles me disseram que você tinha morrido”, ele disse. Mas ela pareceu não ouvir o comentário. “Somos casados! Somos casados!” “Você foi casada com John Grant.” Havia uma pungência selvagem nessas palavras. “John Grant está morto. Tudo que tinha a ver com John Grant está morto. Tudo. Você precisa entender isso”. “Entender?”, ela berrou. “Você ainda é meu marido. Eu nunca desisti de te encontrar. Entender? Você é que devia demonstrar um pouco de compreensão para com a sua esposa. A sua verdadeira esposa!” Ela deu um puxão no crachá dos Corações Solitários dependurado sobre o coração. “Você compreende isso? Você compreende o inferno pelo qual tive que passar; o tanto que me rebaixei, a ponto de procurar companhia num clube” – num clube – de corações solitários – no seu clube?” Essas três palavras fizeram-na engasgar. Ela tossiu e ele desviou o olhar, tremendo, apiedado. Ele precisava por um fim a isso. Ele se endireitou, num gesto de finalidade. “Charlotte, eu amo minha esposa. Amo minha família. Nada me fará desistir deles. Nada. Você precisa ser sensata.” “Sensata! Nós fizemos um juramento. Até que a morte nos separe. Você me abandonou! Você chama isso de sensato? Eu quero minha chance agora. Eu mereço. Ele se deu conta de uma mudança de registro em seus pensamentos. A pena que sentia dela foi substituída por impaciência. “Tenho dinheiro, Charlotte...” Ela lhe beijava as mãos. “... você poderia ir embora. Eu conheço um médico nas Bermudas que poderia” Ela deu um salto. Seus olhos se tornaram furiosos e sua voz, uma espada balançando. “Seu trapaceiro! Sua fraude! Seu mentiroso!” “Charlotte!” “Eu vou contar para eles. Vou contar para eles quem você é de verdade. Vou contar para eles dessa mulher com quem você está vivendo! Vou contar... vou contar... vou contar...” Enlouquecida por sua própria histeria, ela correu em direção à porta e a abriu. Ele a puxou de volta e fechou a porta com estrondo. Ela voltou a atacar. “Vou contar!” Ela se atirou na direção da 72 porta. Ele puxou a mão dela da maçaneta, tomou-a pelos ombros e a afastou com violência. O rugido ensurdecedor de um trem elevado encheu o cômodo... Ela se agarrou a seu casaco. O punho da aliança por pouco não acerta o rosto dele. Em si, ele sentiu as paixões de um estranho, um homem que lhe era desconhecido, e seu punho acertou o lado da cabeça dela. Ela tombou para trás com um uivo de horror. A boca dele estava ácida; perdera a língua. Havia um silêncio vazio no cômodo enquanto ele tentava chamar por seu nome. Ela estava no chão, imóvel. Uma dor lhe varou a cabeça. Ele viu a si próprio golpeando-a e enterrou o rosto nas mãos trêmulas, mas a imagem continuava correndo diante de si em sua mente, vívida, horripilante. Ele a tinha golpeado repetidamente, não mais na intenção de impedi-la de alcançar a porta e desmascará-lo; ele tentara apenas destruí-la. Novamente chamou por ela e novamente fez-se silêncio e ela continuava no chão, imóvel, a cabeça contra o pé de ferro da cama. Debruçou-se sobre ela. Medo e alívio o arrebataram. Ele pôs as mãos atrás da cabeça dela e quando as retirou, estavam vermelhas... Passos! Era alguém que subia as escadas? Será que alguém tinha ouvido? Estão passando. Estão parando. Não, estão prosseguindo. Ele ainda estava agachado. O pânico tomou-lhe de assalto. Tenho que sair daqui! Mas seus pés estavam grudados ao chão; ele não podia mover-se... Apenas suas mãos estavam móveis. Com o lenço, uma mão limpava o sangue dos dedos da outra, cuidadosamente, um a um. Eram as mãos de um estranho. A ação delas o libertaram. Ele era Carl Chapman! Carl Chapman não tinha nada a temer, não havia nada que Carl Chapman não pudesse fazer. Ele precisava pensar... pensar... Obrigou-se a observar o corpo. Mais uma vez, o pânico: Corra! Saia. Saia. Ele o conteve. Seus olhos percorreram o cômodo, polegada por polegada; ele o via em seus mais minúsculos detalhes... Cumpria ensaiar cada passo, cada variável – e só então agir. O tique-taque do relógio parecia-lhe alto. Tinha a impressão de que o tempo passava correndo. Rápido! Rápido! E no entanto, ele continuava parado. Agora! 73 A bolsa dela – ele a abriu: um estojo de maquiagem, uma bolsa para trocados contendo três moedas de um centavo, uma de vinte e cinco e a chave do quarto, um maço de cigarros amarfanhado e uma caixa de fósforos, um batom, um pente, um anúncio de jornal, um lenço sujo e um bilhete da loja de penhores. Ele colocou tudo no bolso. Vasculhou as gavetas da cômoda começando pela de cima, investigando cada uma rápida e escrupulosamente, recolocando cada item em seu devido lugar. Mudei meu nome, tive que mudar. Smith, Brown, Jones. Tanto melhor. Não conseguiriam identificá-la. A última gaveta estava emperrada. Ele a puxou, balançou, empurrou para cima e para baixo. Uma fúria desarrazoada o invadiu. Teria mesmo de se delongar nisso? Retirou a gaveta de cima e, com o punho, golpeou a inferior até abrir. Não havia nada lá dentro. O armário vazio; a quitinete improvisada; debaixo da cama... nenhuma mala. Desfez a cama rapidamente, catou do chão uma revista de historietas de amor. Chinelos gastos também se encontravam ali.Precisava lembrar-se deles. A revista, os cigarros e os fósforos que estavam na bolsa deviam ficar na mesinha ao lado da cama. Os chinelos... levou-os ao banheiro, amaldiçoando o segundo que lhe custou encontrar o cordãozinho de ligar a luz. Uma camisola e um antiquíssimo robe de chambre estavam pendurados na porta. Posicionou-os sobre a cadeira do banheiro e trouxe para junto dela os chinelos. Dobrou uma toalha usada e pendurou-a no cabideiro da banheira. Sabonete... toalha de mão... pó... sais de banho... não havia sais de banho. Colocou a rolha no ralo da banheira e ligou a torneira. A água morna escorreu preguiçosamente. Acercou-se do corpo. O sangue! Que faria ele com aquele sangue? Agachou-se e ergueu a cabeça dela. O ferimento já secara. Fratura basal. Coágulo. Sorte... mas o pé de ferro da cama estava manchado. Umedeceu um canto de seu lenço e limpou a mancha. Agora estava pronto... a aliança saiu com facilidade, tão magra ela estava; tivera de amarrar um barbante em torno dela para mantê-la no lugar. Tirou-lhe os sapatos e arremessou-os ao outro lado do cômodo, como se ela os tivesse chutado para longe dos pés cansados. Em seguida, despiu o corpo. Levantou-se. Era difícil respirar. Esperou, decidido, até que suas 74 mãos parassem de tremer e pudesse engolir novamente. Encontrou um cabide no armário, colocou sobre ele o vestido e pendurou-o na porta aberta do armário. Levou meias e roupas de baixo para a pia da quitinete, encharcou-as, torceu-as e pendurou -as no varal que se estendia de um canto a outro. Agora, o último passo... Ele já tinha ensaiado isso em sua mente de maneira tão sólida, tão perfeita. Mas estava paralisado, lutando contra o terror que assomava dentro de si de tal modo que ele queria vomitar. Vamos lá. Você já foi repórter policial. Você já cobriu necrotérios. Você já os viu – tantos deles – de todos os tipos. Não pode parar agora. Não pode. Ande! Ele se debruçou, enganchou os braços sob os ombros dela e arrastou seu cadáver até o banheiro. A banheira ainda estava enchendo. Ergueu as pernas dela e deixou-as tombar sobre a borda. Agora estava ofegando. Forçando cada músculo, ergueu o corpo até deixá-lo de pé sobre a banheira. Os joelhos dela dobraram. Um dos pés escorregou e o corpo cedeu. Por um instante ele pensou que tudo estava perdido. Precisou lutar parar manter o equilíbrio. Rangeu os dentes. Lentamente, medindo a distância, deixou que os pés dela escorregassem até a extremidade da banheira. Pronto! Seu coração batia grosso à altura da garganta enquanto ele usava de todas as forças para amparar o corpo. Precisava ficar num determinado ângulo, de costas para as torneiras, a cabeça diretamente sobre elas. Era isso. O ferimento tinha que estar diretamente acima das torneiras. Um momento para se recompor... Ele deu um salto para trás. O corpo caiu. A nuca chocou-se contra as torneiras com um baque. Os braços se ergueram. Um dos pés meneou loucamente e caiu n’água com uma pancada. A água salpicou a parede, a camisola e o robe, derrubou a lata de talco e encheu um dos chinelos. Ele saiu ileso. Na ponta dos pés, evitando as poças no chão, entrou e colocou sobre uma delas o sabonete. Ele tinha terminado. Acabara. De volta ao quarto, arrumou o paletó e ajeitou os cabelos com as mãos. O contínuo refluir da água e sua própria respiração eram os únicos sons no apartamento. Agora vinha-lhe um desejo febril de partir. Abriu a porta, relan75 ceou pelo corredor escuro. Voltou-se para dar uma última e cuidadosa olhada. Precisava ter certeza. Um lampejo vermelho vivo saltou-lhe aos olhos. O crachá dos Corações Solitários! Seu pulso martelou. Se o tivesse esquecido! Rapidamente dirigiu-se ao vestido pendurado na porta aberta do armário, arrancou o crachá e saiu. Enquanto fechava a porta, o avassalador rugido de um trem que passava alcançou-lhe pela última vez. 76 77 Capítulo 5: Corra, Sammy, Corra1 A Third Face 78 Ainda sem ter completado meu décimo terceiro aniversário, forcei caminho para dentro do mundo dos jornais. Saía da escola às duas e meia e tinha que me apresentar ao [New York] Journal às três em ponto e trabalhar até que a edição ficasse pronta. Às vezes, dava meia-noite e o trabalho não estava terminado. Muitas noites, eu acabava dormindo debaixo da mesa de um repórter e aparecendo na escola no dia seguinte usando as mesmas roupas do dia anterior. Minha mãe ficava muito aborrecida quando isso acontecia. “Sammy, olhe pra você!”, ela dizia, com os olhos na minha calça imunda e camisa suja quando eu finalmente chegava em casa. “É realmente isso que você quer fazer?” “Isso é tudo que eu quero fazer, mamãe!” Até hoje eu não dou a menor importância a respeito de onde vou dormir, ou o que estou vestindo, desde que eu esteja envolvido com um projeto que eu adore. Nossa, como eu adorava trabalhar no Journal! Era uma aventura incrível para um garoto como eu, sedento para descobrir mais sobre o mundo. Sentado numa sala de aula na escola, com um livro sobre a carteira e com o professor molengando sem parar sobre uma fórmula matemática no quadro-negro, meus olhos olhavam para a janela, e minha imaginação ainda na sala de redação do Journal. Eu não podia esperar para sair da escola e voltar para meu trabalho como assistente. Na Park Row, rodeado por adultos numa frenética busca por notícias, eu crescia rápido, aprendendo principalmente sobre o lado mais escuro da humanidade. Havia uma montanha de informações a serem recolhidas e organizadas a cada santo dia, mas o que realmente vendia jornal era violência, sexo e escândalos. Havia exceções. Grandes julgamentos, brigas trabalhistas, obstruções parlamentares, tesouros escondidos, explorações ousadas e reviravoltas políticas podiam chegar a ser notícia de primeira página. A morte de uma pessoa famosa, poderosa ou amada funcionava bem também. Charles Dana, ilustre editor do New York Sun, estabeleceu o padrão para os repórteres americanos: “Quando um cachorro morde um homem, não é notícia, porque acontece toda hora. Mas se um homem morde um cachorro, isso é notícia.” Repórteres eram uma raça especial – parte cão de caça, parte sedutor, parte artesão da palavra – trabalhando de modo febril para fazer com que suas histórias não só 1 Originalmente publicado em A Third Face: My Tale of Writing, Fighting, and Filmmaking (Nova York: A.A. Knopf, 2002). Tradução de Ruy Gardnier. 79 tomem a dianteira dos outros jornais, mas também que superem as de seus colegas de jornal. Eu estava maravilhado com eles. Editores eram criaturas totalmente diferentes, onipotentes, enrugados, inabaláveis. Eles tinham o controle de toda a aparência e do tom do jornal. Com um risco de seus lápis vermelhos, eles designavam as histórias como manchetes de primeira página, encaixando fotos enormes e títulos chamativos. Com outra marca vermelha, matérias eram relegadas à página dois, ou ainda mais para o fundo e sem muito destaque. O fantasma de Horace Greenley, fundador do New York Tribune, devia estar velando os editores. Eles tinham que fazer escolhas difíceis todo dia em pouquíssimo tempo e em condições impossíveis. À medida que chegava a hora do fechamento, a tensão era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. “Quando exatamente esse filho da puta foi assassinado?”, gritava um editor com seu repórter pelo telefone. “Dois dias atrás? Precisamos de uma testemunha. Encontre uma! Isso, AGORA! Qualquer testemunha serve! É, imediatamente! Vamos imprimir em uma hora, porra!” No fim da hierarquia do jornal, os assistentes iam e vinham. Eu fiquei. Minha idade, meu entusiasmo e minhas pernas velozes impressionavam. Rapidamente os editores e os repórteres foram me conhecendo e apreciando minha velocidade e tenacidade. “Sammy, leve essa matéria para a mesa de esportes!” “Sammy, corra com isso até os linótipos!” “Sammy, vá pegar para mim as provas da sala de impressão!” Eu também era o garoto encarregado de trazer as caixas de cerveja clandestina estocadas na adega. Eles serviam a bebida quando atletas apareciam para visitar os jornalistas esportivos. Eram os maiores jogadores de beisebol do mundo, sujeitos como Tris Speaker, Roger Hornsby e Babe Ruth, passeando pelas nossas dependências, conversando, contando piadas e bebendo com Ring Lardner, Damon Runyon, William Farnsworth e Grantland Rice. Eu não era capaz de acreditar na minha sorte em ser uma pequena parte disso tudo. Durante as férias, eu passei para o turno do dia. Depois de meses e meses correndo com matérias, cerveja ou qualquer coisa que necessitasse de pés rápidos, fui designado para o necrotério do jornal, no porão, onde as reportagens e as fotografias eram recortadas e arquivadas. Eu amava a coleção de tesouros lá embaixo. Os repór80 teres precisavam de fatos para o jornal do dia que eram baseados em artigos já publicados. Eu procurava a informação nos arquivos poeirentos. Naqueles dias, a memória estava na cabeça de uma pessoa, não no chip eletrônico de um computador. ‘Sammy”, perguntava um editor, “quando Chapman roubou aquele banco em Jersey City?” “22 de julho.” “Que hora do dia?” “11:45 da manhã. Exatamente na hora em que o gerente estava saindo para almoçar com sua esposa.” “Me acha isso aí e me arruma uma ilustração.” “Sim, senhor.” Minha ambição maior era ser um repórter – um repórter de crime – com direito a matéria assinada. Trabalhava-se como assistente ou arquivista até que seu nome aparecesse em alguma promoção. Eles até podiam dar a você uma chance como repórter se você tivesse idade suficiente. Como eu tinha catorze e era o mais jovem assistente no jornal. Eu sentia que haveria uma eternidade de espera antes de ter a chance de seguir adiante. O abismo entre assistente e repórter parecia maior do que o Grand Canyon. Mas até parece que eu não ia esperar! Eu ia ser repórter custe o que custasse. Um dia, talvez, eu até me tornasse um desses editores que soltam fogo pelas narinas. Por Deus, e por que não o editor-chefe de meu próprio jornal? Meu objetivo imediato era conhecer o lendário editor-chefe do Journal, Arthur Brisbane, pessoalmente. Brisbane era como o papa. Sua Santidade não tinha jamais colocado os pés na sala de redação, ainda que lançasse uma majestosa sombra por cada mesa do local. Eu ouvi uma porrada de histórias sobre Brisbane, como ele montou a circulação, como ele usou a maior tipologia possível para criar manchetes colossais, como sua coluna “Hoje” era assunto no país inteiro, como ele era o jornalista mais bem pago no mundo. O nome de Brisbane era pronunciado com o máximo de respeito em qualquer lugar de Park Row, e mesmo assim eu nunca tinha sequer posto os olhos no grande homem. Parecia que ninguém tinha visto Brisbane a não ser os principais editores. Henry Hudson, um dos telégrafos veteranos do Journal, flagrou-me um dia passeando por perto da entrada da sala do sujeito. Eu tinha a esperança de ver um relance de Brisbane quando ele sa81 ísse para fazer xixi. O velho Hudson sorriu e explicou que o editorchefe tinha seu banheiro próprio. Eu realmente achava que o patrão ia usar esses rolos de papel de jornal como toalhas igual a nós, reles mortais? Brisbane tinha até sua própria entrada particular no prédio do Journal. Mas um dia, eu estava no escritório de Mulcahy e ouvi ele dizer a um dos assistentes mais velhos para ir até o escritório de Brisbane para um trabalho temporário de leva e traz. Eu segui o rapaz de 18 anos e o vi dirigindo-se ao banheiro para lavar o rosto e pentear o cabelo. Vi minha chance e decidi aproveitar. Corri até o corredor do sétimo andar passando pela provação dos sinais proibitivos nas paredes: “Pare!” “Corredor Privativo” “Não Perturbe!” “Não Entre”. Corri para o escritório com a placa “Editor-Chefe” e me vi numa sala de espera imensa e silenciosa como um túmulo. Duas secretárias estavam trabalhando em suas escrivaninhas. Havia pilhas de jornais e revistas por todos os lados. Imponentes estantes de livros iam do chão ao teto. A sala e as secretárias pareciam intocados desde que [William Randolph] Hearst inaugurara o jornal duas décadas atrás. Uma das senhoras olhou para mim em silêncio. “Mulcahy me enviou”, eu disse, mentindo entre os dentes. Ela pegou um telefone, disse algumas palavras e em seguida apontou para uma porta de mogno entalhada. Caminhei até o portal sagrado, abri e entrei como se estivesse entrando num templo. Lá estava ele sentado atrás de uma grande mesa, o grande Arthur Brisbane em pessoa, o discípulo de Joseph Pulitzer, o cérebro por trás de Hearst! Ele era alto e forte, impecavelmente vestido, com uma testa imensa. Apesar de ter 62 anos naquele momento, ele se movia como um atleta na casa dos vinte anos. Brisbane era ainda mais impressionante do que eu imaginara. Atônito, eu o observava como se ele fosse uma criatura de um outro planeta. “Você é da editoria?”, perguntou Brisbane. “Sim, senhor.” Ele me arremessou uma pasta. “Na esquina da rua Duane, estacionado no lado esquerdo da delegacia, tem um Lincoln. O nome do motorista é George. Ele está vestindo um suéter vermelho. Leve a minha pasta até ele e me espere no carro.” “Sim, senhor.” Pausei momentaneamente, esperando por alguma instrução adicional. “Qual o seu nome?”, perguntou Brisbane. 82 “Samuel Fuller.”, disse, “Todo mundo me chama de Sammy.” “Tudo bem, Samuel. Pode ir.” Saí correndo pelo corredor, passei pelo elevador e fui voando pela escada de pedra. Não havia vivalma ali, mas muitos já tinham corrido por esses degraus antes de mim. Trabalhávamos para um propósito comum, o de publicar notícias a cada santo dia para um jornal de cidade grande. O lugar cheirava à História. Eu amava aquele aroma. Teria sido impossível não ver o imenso Lincoln na rua Duane. Brisbane desceu alguns minutos depois e sentou-se ao meu lado no banco de trás. O carro deu partida e nós aceleramos pelas ruas em polvorosa até chegar a seu próximo compromisso. Ele revisou um texto, assinou com um “AB” e disse para voltar correndo até a editoria. Deslizei as páginas para dentro da minha jaqueta, saltei do Lincoln num cruzamento na parte central da cidade, peguei o metrô e fui correndo de volta para William Street e de lá até o sétimo andar, rápido como um relâmpago. Logo que Mulcahy descobriu minha artimanha, ele falou que ia me demitir. Passei alguém pra trás e merecia a demissão. Não menti para Brisbane, mas também não disse a ele a verdade. Verdade que eu era da editoria, só que não era a minha vez na fila dos assistentes. Quando Brisbane descobriu o acontecido, ele disse a Mulcahy que queria me ver novamente. Corri até o corredor que conduzia ao escritório de Brisbane. As secretárias velhas gesticularam para que eu seguisse adiante. Brisbane levantou quando eu entrei. Ele foi severo comigo mas admirou a minha garra. Em seguida, ele disse as palavras mágicas: “De agora em diante, Samuel, você será meu assistente pessoal”, adicionando sua expressão distintiva, “Não deixe isso subir à sua cabeça.” Nossa Senhora, eu era o rei da cocada! Nos meses seguintes, vi muitas vezes o Lincoln de Brisbane. Na frente de um hotel luxuoso, de um prédio de escritórios ou restaurante, eu dava um oi para George e sentava no banco de trás. Brisbane aparecia logo depois de uma reunião, ou após almoço de negócios. No assento largo e revestido de couro, estava o ditafone de Brisbane, com um cilindro de cera novo no tambor. Ele apertava um botão na máquina e o cilindro começava a rodar. Brisbane colocava a boca próximo do microfone do apetrecho e ditava um editorial. Quando terminava, ele me dava o cilindro e me dizia para correr até o Journal. Ele me dava um dólar de prata quando eu saía do carro. 83 “Pegue um táxi, Samuel, não um ônibus. Pode ficar com o troco.” “Sim, senhor.” “Não deixe isso subir à sua cabeça.” Isso era primeira divisão para mim, e eu fazia valer cada segundo. Eu estava completamente enamorado por Brisbane. Não fazia ideia de quanto tempo eu seria seu assistente pessoal, mas eu seria o melhor que ele já teve. Assim que o Lincoln deu partida, parei um táxi. Cheio de orgulho e determinação, saltei para dentro e disse uma palavra: “Journal.” Era tudo que se precisava dizer para um taxista de Nova York naquela época. Todo mundo conhecia o Journal em Park Row. Eu entregava o cilindro de cera para a secretária de Brisbane, que o colocava em outro ditafone para transcrever suas palavras na máquina de escrever. Daí eu seguia com o texto para os linótipos. Corria com a prova para a editoria. Faziam correções. Daí de volta para a sala de redação para mais uma prova e as correções finais. Era “Hoje”, o famoso editorial de Brisbane, uma coluna que seguia para cada jornal de Hearst em todo o país. Ainda que fosse muito sério, Brisbane tinha momentos brincalhões também. Um dia, na rua em frente ao Journal, ele apostou duas moedas que ele me ganhava numa corrida até a ponte do Brooklyn. Ele até carregaria sua pasta para me dar vantagem. Corremos por Park Row, o editor-chefe varapau e o pequeno leva e traz. Diabo, aquilo devia ser uma delícia de ver! Corri tudo que podia, mas Brisbane me ganhou. Dei a ele 25 centavos, mas ele me devolveu. Em seguida ele me levou ao Max’s Busy Bee pra comer hamburguer e milkshake. Os hambúrgueres de lá tinham muito molho e custavam quatro centavos. Os milkshakes eram sete centavos. Com ovo, dez centavos. Um dia, Brisbane anotou um endereço em Riverside Drive e me entregou. “Estarei aí essa noite”, ele disse. “Traga-me as provas assim que estiverem prontas, Samuel.” “Sim, senhor.” Com as provas do “Hoje” e uma tirinha de Winsor McCay na mão, segui para Riverside Drive. O lugar era nada mais nada menos que o pied-à-terre de Hearst em Manhattan, um apartamento magnífico que tinha vista para o rio Hudson. Brisbane se encontrava com Hearst regularmente para reuniões de estratégia. Eu entregava 84 as provas ou pegava cilindros de ditafone de um mordomo que respondia a campainha por lá. Numa de minhas visitas ao apartamento de Hearst no Riverside, o mordomo tinha ordens de me fazer esperar dentro da casa. Avisaram-me para esperar na sala de estar com os magníficos divãs e as impressionantes estantes entupidas de livros. Aguardei junto à enorme parede de vidro, desfrutando a vista gloriosa dos penhascos de Jersey do outro lado do Hudson. Brisbane saiu de um escritório com alguns executivos. Um deles era um homem alto e pesadão com sobrancelhas oblíquas e olhos muito tristes. Quando ele falava, fazia barulhos de ave. Sua voz soava como um pequeno apito agudo. Não havia nada pomposo a seu respeito exceto seu terno escuro caríssimo. Esse foi meu primeiro encontro com William Randolph Hearst. Você nunca adivinharia que aquele era o editor de jornal mais poderoso do mundo. Hearst não era só despretensioso, mas, enquanto os outros homens continuavam a discussão, Hearst persistia virando para Brisbane e perguntando: “O que você acha, Arthur?” O que quer que Brisbane aconselhasse Hearst sobre o tópico corrente seria aceito como decisão final. O Hearst que eu vi estava a uma longa distância do personagem tempestuoso e tirânico de Charles Foster Kane, que Orson Welles criou para Cidadão Kane, baseado na vida de Hearst. Eu amava a forma com que o filme de Welles enfatizava um conflito decisivo no mundo jornalístico da minha era, um conflito em que Arthur Brisbane desempenhava um papel central. Hearst herdou de seu pai o San Francisco Examiner em 1887, depois adquiriu o New York Morning Journal em 1895. Em 1896, ele lançou o Evening Journal e ganhou circulação com reportagens sensacionalistas, quadrinhos em cores e atrações escandalosas, outrora conhecidas como “jornalismo marrom”. Isso culminou com uma guerra de circulação com o New York World de Joseph Pulitzer. Uma competição feroz entre a velha e a nova escolas de jornalismo era uma das subtramas essenciais de Cidadão Kane. Na realidade, Brisbane desequilibrava a balança em favor de Hearst. Brisbane havia sido editor executivo no World, um jornal intelectualmente superior ao Journal. Hearst gastava enormes quantias de dinheiro para tornar o Journal mais gráfico, mais atraente, mais espalhafatoso que qualquer outro jornal do mundo. Ele precisava de mais um elemento: o maior editor-chefe do jornalismo. Ele conven85 ceu Brisbane a deixar Pulitzer e vir trabalhar no Journal em 1897. Brisbane deu a Hearst credibilidade jornalística, pavimentando a via para o Journal adquirir o crème de la crème da classe jornalística. Na grande cena de festa de Cidadão Kane, celebrando o crescimento de circulação do jornal, Kane anuncia a contratação dos melhores jornalistas que o dinheiro pode comprar, vindos direto de seu adversário. Foi exatamente isso que Hearst realizou a partir do momento que Brisbane chegou. Só não consigo imaginar Hearst fazendo um número de canto e dança com uma fila de coristas como Kane no filme! Brisbane ficou descontente com o World, muitas vezes em conflito com Pulitzer, que ficou cego no fim de sua carreira e morava em seu iate, Liberty, ancorado em alguma parte da Riviera. Ainda assim Pulitzer permanecia sendo o chefe. Ele era idolatrado em Park Row, sua integridade, sua lenda. Havia uma sensação de segurança ao ler o World. Cada frase no jornal era baseada em fatos conferidos. Pulitzer teve durante toda sua vida uma aversão por qualquer tipo de sensacionalismo. Como tantos outros imigrantes nesse país, Joseph Pulitzer veio da Europa num barco destinado a ancorar na ilha Ellis em 1864. Sem papéis de imigração, e com medo de ser mandado de volta pelas autoridades da imigração, Pulitzer pulou do navio na altura do porto de Nova York. Ele nadou milhas até ser capturado pelo barco da patrulha militar. Incapaz de falar uma frase em inglês, Pulitzer conseguiu seu primeiro trabalho no país limpando a estrebaria de burros da Primeira Cavalaria de Nova York durante a Guerra Civil americana. Desse começo humilde, ele cresceu para ser o editor de jornal mais respeitado no país. Essa é uma história e tanto que alguém deveria transformar num filme! Depois de sete anos trabalhando para Pulitzer, Brisbane não aguentava mais. Hearst explorava a richa entre os dois gigantes do jornalismo. No Journal, Brisbane desfrutaria não somente de mais liberdade para expressar suas próprias opiniões em editoriais de primeira página, mas também teria o maior salário entre todos os editores do país. Em 1952, eu tive a oportunidade de fazer um filme sobre as origens do jornalismo americano e a paixão pela imprensa livre. A Dama de Preto (Park Row, nde) foi o único filme que eu produzi com meu próprio dinheiro. Mas eu tinha que fazê-lo, nem que fosse para 86 prestar homenagem às memórias da minha juventude naquela rua que eu adorava. Até hoje eu sinto uma tremenda dívida de gratidão para os jornalistas dedicados que criaram e mantiveram Park Row, que foram tão essenciais para minha educação, que marcaram a ferro suas virtudes na minha imaginação. Quer saber? Cidadão Kane era um filme sobre a construção de um império, não sobre jornalismo. Eu quis fazer um pequeno filme em preto e branco sobre as vidas brilhantes daqueles repórteres e editores pioneiros que eram a espinha dorsal dos jornais de Nova York. A única coisa a respeito de Cidadão Kane que me irritou foi o modo como Welles adaptou Marion Davies, retratada de forma severa como Susan Alexander no filme. Vi Marion Davies em diversas ocasiões no apartamento de Hearst. Contrariamente à Susan cabeça-oca de Kane, Marion era esperta, charmosa e divertida. Ela sempre foi muito doce comigo. Hearts tratava-a com reverência o tempo inteiro, e ela parecia, até para meus olhos adolescentes, completamente apaixonada por ele. Eu lembro que ia ver os filmes dela no Cosmopolitan, uma sala de cinema na rua 57, perto de Columbus Circle, que Hearst tinha comprado para que a MGM exibisse filmes com Marion Davies. Contrariamente a Hearst, que se candidatou sem sucesso para governador de Nova York e para presidente, Brisbane não tinha ambições políticas. Tampouco ele estava interessado em tornar-se um magnata. Trabalhar como editor era sua vida. Ele veio de uma família ilustre. Seu pai, Albert, foi um dos primeiros socialistas nos Estados Unidos e fundou a Fabian Society junto com George Bernard Shaw. Um conselheiro respeitado para líderes em diversas áreas, Brisbane tinha opiniões que abriam clareiras nos anos 20. Enquanto eu pegava carona no banco da frente do grande Lincoln, eu virava para trás e observava-o discutindo assuntos complexos no banco de trás com figuras como Bernard Baruch, Charles Schwab e J.P. Morgan. Meu maior prazer era quando eu conseguia ir de carro sozinho com Brisbane. Assim eu podia bombardeá-lo com uma avalanche de minhas perguntas adolescentes. Ele era muito paciente com minha curiosidade desenfreada e tinha sempre uma resposta,encorajandome a ser questionador o tempo inteiro. “Quem inventou o ditafone?”, eu perguntava. “Charles Sumner Tainter”, respondia Brisbane. “Quando?” 87 “1886.” “Quem fundou o New York Herald?” “James Gordon Bennett.” “Quando?” “1835. Em sua adega. Com 500 dólares de capital. Foi o primeiro jornal a usar correspondentes estrangeiros, a ilustrar as matérias, a imprimir notícias financeiras de Wall Street.” O cérebro enciclopédico de Brisbane sempre me impressionou. Ele nunca foi condescendente comigo, mesmo nas perguntas mais ridículas. Suas respostas transformavam-se em histórias fascinantes. Ele explicava muitas coisas para mim a respeito de tantos assuntos diferentes, de esportes e como ele cobriu a luta entre Boston Strong Boy e Charley Mitchell na Inglaterra, até a filosofia e a obra de Charles Fourier, o francês utópico, que fez sensação com suas quatro leis para atingir harmonia universal, indo até os socialistas, e também histórias sobre seu próprio pai e a Brook Farm. Numa das saídas pelo carro de Brisbane, começamos a conversar sobre a Guerra Civil, um dos meus temas preferidos na escola. Sentado ao meu lado, estava um homem nascido em 12 de dezembro de 1864, dia da Invasão de Stoneman, de Bean Station, Tennessee, até Saltville, Virginia. Brisbane sabia tudo sobre George Stoneman e me contou mais sobre a Guerra Civil naquela corrida de carro do que eu tinha aprendido em meses na escola. Ele falava os nomes dos generais e dos políticos como se fossem velhos amigos, e descrevia batalhas como se elas tivessem acontecido ontem. Brisbane tinha o dom de fazer o ouvinte fazer parte de suas histórias vibrantes. Aprendi pra cacete a respeito de contar histórias com ele. E, mais importante, Brisbane cativou meu entusiasmo para trabalhar duro e aprender tudo o que fosse possível. Em outra ocasião, em seu escritório, Brisbane perguntou meu aniversário. Quando eu falei, ele começou a lembrar-se de agosto de 1912, quando ele estava cobrindo a guerra de Pancho Villa contra o governo de Díaz no México. Quando eu tinha apenas quatro anos, Brisbane estava em Columbus, Novo México, reportando a invasão de Villa de lá, onde dezesseis americanos foram mortos. Descrevendo Villa, Díaz, Madero e Huerta de experiência direta, ele tecia um relato emocionante que me mantinha na beirada da cadeira, com os olhos inchados e quase saindo do globo ocular. 88 Numa noite de sábado, eu tinha que pegar o OK de Brisbane numas provas da edição de domingo. Ele estava no apartamento de Hearst na Riverside Drive, onde um baile à fantasia estava acontecendo. Todo mundo estava fantasiado. O mordomo estava fantasiado como Benjamin Franklin. Ele me conduziu do corredor até a cozinha. Dei uma espiada no que acontecia. Uma orquestra tocava valsas e, vestidos como condes, caubóis e arlequins, algumas das maiores celebridades daquele período enchiam a cara na sala de estar barulhenta e esfumaçada de Hearst. A cozinha de Hearst era algo que eu nunca tinha visto antes, um aposento moderno de azulejos brancos com quase nada além de uma mesa de aço inoxidável. O cozinheiro e seus assistentes foram tirar uns minutos de folga. Brisbane apareceu, ele próprio fantasiado de cozinheiro, vestindo um enorme chapéu e avental. Ele estava engraçado pra cacete, mas eu não tive coragem de rir. Ele examinou as provas, assinou com “AB” e depois instruiu o verdadeiro cozinheiro para que ele fizesse um frango para eu levar comigo para casa. Apertaram um botão e todos os utensílios de cozinha, incluindo um maldito fogão, apareceram saídos da parede. Uma bandeja cheia de frangos assados foi tirada do forno. O próprio Brisbane embrulhou uma das aves em papel de cera. O molho foi colocado num pote de vidro num saquinho separado. “Aqui, Samuel”, disse Brisbane, me entregando os dois sacos. “Agora não vá sujar suas roupas. E não conte nada disso para ninguém no trabalho.” “Sim, senhor, e obrigado!” Corri com as provas de volta para o Journal e levei o frango com o molho para casa, para comer com a minha família. No dia seguinte, não consegui resistir e mencionei para um certo repórter, Nick Kenny, que ganhei um frango assado da fabulosa cozinha pessoal de Hearst, das mãos do próprio Brisbane. Minha fanfarronice foi estúpida, uma ânsia adolescente e petulante de me revoltar contra as ordens de Brisbane. “Você está realmente íntimo do patrão, Sammy”, disse Kenny. “Fale pro Brisbane que eu sou um jornalista bom pra cacete e eu te dou um dólar.” Peguei a nota. Era mais dinheiro para minha família. Uns dois dias depois, achei uma abertura com Brisbane para elogiar Kenny. “Quanto ele deu a você para que dissesse isso?”, perguntou Brisbane. 89 “Um dólar”, eu disse. “Diga pra ele que isso não é dinheiro bastante”, sorriu Brisbane. O jovem repórter correu atrás de mim por toda sala da editoria, xingando e ameaçando me encher de pancada. Um de nossos mais respeitados jornalistas esportivos, Bill Farnsworth, costumava me encostar na parede com perguntas sobre Brisbane, também. Alguma vez o patrão tinha feito um comentário sobre a página de esportes, sobre os quadrinhos, sobre as colunas? Eu dava de ombros... “Se você ouvir alguma coisa do nosso departamento, avise pra mim”, disse Farnsworth, enquanto me passava dois bilhetes para uma grande luta no Madison Square Garden. Nessa época, eu estava frequentando o moderno e amplo colégio George Washington High School na rua 192, a primeira instituição com mistura racial da cidade. Mas meu coração no fundo não estava na escola. Eu estava me mordendo para ser um repórter policial, somente passando pelos protocolos escolares para agradar minha mãe. Um dia, implorei a meu ilustre patrão para me mandar pra rua e me deixar fazer reportagens de crimes para o Journal. “Você é jovem demais, meu garoto”, disse Brisbane. “Você tem que ter ao menos 21 para esse tipo de emprego. Seria irresponsabilidade de minha parte deixar você frequentando delegacias ou indo em cadeias para entrevistar os meliantes. Samuel, reportagem policial é um trabalho árduo. Você é muito jovem pra isso.” “Mas eu já fui junto com repórteres, já visitei cenas de crime, já fui ao necrotério. Já observei como eles falam com a polícia, com as testemunhas, como eles conseguem as histórias. O senhor sabe que eu sou rápido, sr. Brisbane. Posso aprender. Estou pronto para começar agora. Por favor!” Não tinha como mudar a opinião dele. Mas mesmo assim eu não estava pronto para abandonar meu sonho de virar repórter policial. Nem mesmo Arthur Brisbane podia ser capaz de fazer isso comigo. Foi aí que numa visita a um bar clandestino junto com alguns repórteres do Journal, eu conheci Emile Henri Gauvreau, editor-chefe do New York Evening Graphic, um diário que havia sido inaugurado em 1924. Gauvreau era um homem baixo e espirituoso, orgulhoso de sua incrível semelhança com Napoleão. Ele penteava seu cabelo do mesmo jeito que Bonaparte para que a semelhança fosse ainda mais pronunciada. Gauvreau veio para Nova York depois de ter passado 90 pelo Hartford Courant, de Hartford, Connecticut. “Sei de tudo sobre você, Fuller”, disse Gauvreau. “Você é o leva e traz de Brisbane. Você ganha 14 dólares por semana. Também soube que você trabalhou no arquivo do Journal. Sammy, por que você não vem trabalhar comigo no Graphic? O que você acha de ser o chefe de nosso arquivo por 18 por semana?” “Eu quero ser um repórter, sr. Gauvreau”, eu disse. “Um repórter policial”. “Você é um pouco novo demais pra isso, não é, Sammy?” Eu podia usar um rapaz inteligente como você para construir o nosso arquivo.” “Só vou deixar Brisbane e o Journal se você me deixar ser um jornalista de verdade. E com um dedo na editoria policial.” “Puxa, Sammy, estamos em 1928, caceta!”, disse Gauvreau. “Temos que lutar contra a Lei Seca, contra anarquistas, contra fascistas, Al Capone, assassinatos do crime organizado, Deus sabe mais o quê, e você quer ser um jornalista. Não posso deixar você fazer isso, não aos dezesseis.” “Dezesseis e meio!”, corrigi. Contudo, notei que não ia chegar a lugar nenhum com isso, então propus um negócio. “Se em seis meses, quando eu fizer dezessete, sr. Gauvreau, o senhor me deixar ser um repórter, eu vou trabalhar agora no seu arquivo.” “Combinado”, ele disse. E apertamos as mãos para confirmar o acerto. Foi difícil contar a Arthur Brisbane que eu estava deixando o Journal e ele. Foi provavelmente a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na vida. Estávamos no banco de trás de seu Lincoln quando eu expliquei o acordo que fiz com Gauvreau para trabalhar no Graphic. Brisbane ficou sentado, quieto. Foi um daqueles momentos que parecem durar uma eternidade. Tive que morder meu lábio para não chorar. O rosto de Brisbane estava sério. Se ele estava chateado, ele não demonstrou. “Samuel, o Graphic não vai durar”, ele disse. “O que você quer fazer da vida, meu garoto?” “Eu quero ser editor-chefe de um grande jornal, como o Journal!” “Trabalhar no Graphic não vai arrumar para você um contrato de editor-chefe em lugar nenhum.” “Talvez não, sr. Brisbane”, eu disse, “mas eu preciso agarrar essa oportunidade. Eu quero ser um repórter, e quanto mais cedo melhor.” 91 “Então vá ser um repórter, meu garoto”, disse Brisbane. Ter sido assistente pessoal de Arthur Brisbane por dois anos e meio faria sempre parte da minha fibra. Brisbane tornou-se uma figura paterna essencial para mim. Mas agora eu tinha que seguir em frente. Saí de seu carro pela última vez. Apertamos as mãos pela janela aberta. Ele me disse que eu podia ligar para ele toda vez que precisasse de ajuda. Agradeci pela oferta, mas nunca utilizei o oferecimento. Corte para doze anos depois. Manhã de natal, 1936. Hollywood, Califórnia. Esquina de Hollywood e Vine. Na edição matutina daquele dia, eu descobri que Arthur Brisbane tinha morrido. Fiquei atônito e chorei desavergonhadamente. O menino vendedor de jornais que me vendeu o exemplar perguntou se eu precisava de um médico. Eu disse a ele que estava doente de tristeza e que nenhum médico podia me ajudar. “Vá em frente e venda seus jornais”, eu disse amarguradamente. “É pra isso que eles são impressos”. 92 Capítulo 11: Esqueça a grandeza1 Quando eu estava bem no meio da escrita de A Página Negra (The Dark Page), um velho amigo de Park Row, Hank Wales, apareceu para me ver. Vinte anos mais velho que eu, Wales era um jornalista renomado, com um montão de prêmios jornalísticos em seu currículo. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hank escreveu uma série de artigos sobre um soldado corajoso chamado Sargento York, que tornou-se a base para o famoso e homônimo filme com Gary Cooper, dirigido por Howard Hawks em 1941. Hank também tinha coberto a execução de Mata Hari, a famosa espiã, e inventou a palavra “tanque” para aqueles indomáveis veículos militares. Wales era tão conhecido nos círculos de imprensa, que Robert Benchley escreveu um roteiro, baseado em sua carreira, chamado Correspondente Estrangeiro (Foreign Correspondant). Alfred Hitchcock dirigiu a história em 1940, com Joel McCrea e Laraine Day. “Vamos escrever um filme juntos, eu e você!”, disse Hank. “Tem alguma boa história?” Ambos rimos. Com todas as experiências impressionantes que ele teve, Hank Wales estava me pedindo um argumento. Eu estava emocionado com o fato de um sujeito tão formidável querer colaborar comigo. Mas eu tinha um livro para terminar. “Olha, Hank”, eu disse, “estou escrevendo o grande romance americano!” “Todo mundo está escrevendo o grande romance americano, Sammy. Esqueça a grandeza. Vamos nos divertir.” Não era uma época alegre. Os acontecimentos no tabuleiro global estavam ficando mais severos. No verão de 1940, a Alemanha lançou ataques aéreos contra a Inglaterra. Os Estados Unidos olhavam e esperavam, porque a opinião pública era contra entrar na guerra. Com sua nação em estado de sítio, o magnífico discurso de Churchill sobre “sangue, sofrimento, lágrimas e suor” injetou fogo nos corações, estabelecendo o tom para guerra total contra os invasores nazistas: Vocês perguntam qual é o nosso objetivo? Posso responder em uma palavra: é vitória, vitória custe o que custar, vitória a despeito de todo o terror; vitória, por mais longo e árduo que seja o caminho a tomar; pois sem vitória não há sobrevivência. 1 Originalmente publicado em A Third Face: My Tale of Writing, Fighting, and Filmmaking (Nova York: A.A. Knopf, 2002). Tradução de Ruy Gardnier. 93 Hank Wales e a Batalha da Grã-Bretanha me persuadiram a colocar de lado A Página Negra. Durante o bombardeio nazista sobre a Inglaterra, entre toda a destruição aleatória. Descobrimos que os escritórios da Associated Press tinham sido atingidos. Eu sugeri a Hank que nós criássemos a história a partir de alguns jornalistas que tivessem que se esconder no porão de um hotel em Londres para sobreviver aos ataques aéreos. Com apenas algumas máquinas de escrever e um telégrafo, eles continuam enviando as notícias. O argumento era totalmente no estilo de Hank. Começamos a trabalhar no roteiro numa manhã de segundafeira. Hank conhecia de cor as ruas de Londres. Enquanto ele andava de um lado para o outro me fornecendo dados locais para avivar a história, eu seguia atacando a minha Royal. Conversando assim, conseguimos montar a ação, as viradas narrativas e os diálogos. O primeiro tratamento de 90 páginas estava terminado antes do café da manhã de sábado. Depois de ovos, bacon e bolinhos crocantes de batata, encontramos um agente, Charles Feldman, que porventura estava em seu escritório no fim de semana. Ele vendeu nosso roteiro para a 20th Century Fox na manhã da segunda-feira seguinte por 50 mil, quantia que eu e Hank dividimos, deduzindo aí a comissão de Feldman. Chamamos o filme de Confirm or Deny (“Confirmar ou negar”, nde). A única forma que os jornalistas escondidos em Londres tinham de contatar seu escritório nova-iorquino era por telégrafo. O editor desvairado quer mais informação sobre a situação na Inglaterra. Do outro lado do Atlântico, parece que Hitler vai atacar em breve a América do Norte. Enquanto as bombas caem sobre Londres, o escritório de Nova York continua enviando questionários urgentes em código Morse, pontuando cada pergunta com o comando “Confirmar ou negar”. A tensão cresce, fazendo com que os jornalistas tenham que lidar com suas mais profundas crenças e temores. Era um argumento bom pra cacete. A Fox adquiriu para dar a Fritz Lang, que começou o filme, mas abandonou depois de apenas alguns dias. Archie Mayo acabou terminando Confirm or Deny (1941) com Don Ameche, Joan Bennett e Roddy McDowall. Meses depois do término do filme, recebi uma ligação de Fritz Lang, me convidando para almoçar. Essa foi a primeira vez que nos encontramos frente a frente. Eu adorava os filmes de Lang, sobre94 tudo Vive-se uma Só Vez (You Only Live Once, 1937), sobre um inocente que é jogado na prisão. Lang queria me explicar por que ele largou Confirm or Deny apenas alguns dias depois do começo da filmagem. Ele me disse que amava nosso roteiro, mas que o estúdio insistiu que ele fosse reescrito no último minuto, e as revisões foram decepcionantes. Nós concordamos que o roteiro original tinha mais ação, mais emoção e, certamente, mais culhão do que o filme de Archie Mayo, que a Fox eventualmente lançou. Esse episódio, junto com muitos outros durante meus primeiros anos em Hollywood, tornou-me cada vez mais consciente da importância do diretor. Como escritor, minha relação com um filme tinha sempre sido através do roteiro. Progressivamente, eu comecei a apreciar a habilidade do diretor para construir os planos, fazer os atores interpretarem os diálogos e mover a câmera. Cada diretor tinha uma forma própria de contar uma história. Por que certos filmes deixavam sua marca por toda a vida? Primeiro, a história era excelente. Mas tão importante quanto, era a forma como o diretor filmava. Nas mãos de diretores talentosos, os personagens tocavam você, faziam você sentir as dores e os prazeres, conversavam com a sua alma. Havia alguns tremendos diretores trabalhando em Hollywood naqueles dias. Alguns deles mudaram para sempre o modo como eu olhava para os filmes. Eu adorava Variedades (Varieté, 1925), de E.A. Dupont, porque ele me fez prestar atenção no estilo. Era uma fábula formidável sobre um ex-trapezista que é solto da prisão depois de cumprir anos de pena por assassinato. Dupont rodou o filme como um poema. Outro filme de estilo distintivo era O Fugitivo (I Am a Fugitive From the Chain Gang, 1932), de Mervyn LeRoy, com o deslumbrante Paul Muni coagido a fazer parte de um campo de prisioneiros de trabalhos forçados por um crime que ele não cometeu. LeRoy faz você sentir a injustiça terrível com a qual seu herói deve se defrontar. Inferno Negro (Black Fury, 1935), de Michael Curtiz, exerceu um bom bocado de influência em mim também. Paul Muni é novamente o protagonista, como Joe Radek, que deve lidar com todas as mentiras e frustrações que acontecem durante uma greve de mineradores. Tendo visto greves durante meus anos como vagabundo, achei que o filme era convincente. O soberbo Consciências Mortas (The Ox-Bow Incident, 1943), 95 de William A. Wellman, também deixou uma marca profunda. Ao contrário da maioria dos faroestes daquela época, o filme de Wellman exibia reações honestas e humanas. Um fazendeiro local é assassinato e tem seu gado roubado. O vilarejo, com o acréscimo de alguns andarilhos liderados por Henry Fonda, formam uma milícia para agarrar o perpetrador. Na ânsia de justiça, eles enforcam homens inocentes. Ao invés de lágrimas falsas e remorso, os filhos da puta bebem para tentar esquecer seus horríveis atos. Meu filme preferido desses anos de formação foi O Delator (The Informer, 1935), de John Ford. É realmente uma obra-prima. De todos os diretores maravilhosos que eu conheci em Hollywood antes da Segunda Guerra Mundial, eu dava atenção especial a John Ford. John tinha uma visão de cada filme que ele dirigia, e tinha a determinação de passar essa visão para a tela. John me apoiou bastante nos primeiros anos, quando eu precisava. Ele tornou-se um amigo e um mentor. Ford me convidava para seus sets, e quando eu comecei a dirigir, ele aparecia nos meus. Eu estimava os tempos que passávamos juntos. Alguns críticos, procurando um epíteto que pegasse, me chamaram de “o John Ford judeu”. Era uma coisa ridícula de se dizer, embora eu entendesse que as pessoas precisassem de pontos de referência. Mas vamos ser sinceros, perto do monumental Ford, eu seria sempre um neófito. Para entender o escopo da carreira de John, é preciso lembrar que ele começou como ator muito antes do cinema falado, com um pequeno papel em O Nascimento de uma Nação (The Birth of a Nation, D.W. Griffith), em 1915. Nos quase sessenta anos seguintes, John Ford dirigiria por volta de 140 filmes. John era um gigante, tendo feito de tudo em Hollywood. Eu aprendi coisa pra cacete com Ford, mas uma das lições mais importantes foi a modéstia. Ford era o mais discreto dos homens. Quando perguntavam o que fez com que ele chegasse a Hollywood, ele respondia: “o trem”. Por desejar controle artístico completo, Ford começou a produzir seus próprios filmes. O desejo de modelar cada aspecto de seus filmes resultou em algumas de suas melhores obras: Legião Indomável (She Wore a Yellow Ribbon, 1949), Rio Bravo (Rio Grande, 1950), Depois do Vendaval (The Quiet Man, 1952) e O Homem Que Matou o Facínora (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962). O modo como ele controlava todo o processo foi sempre uma inspiração para mim. Eu nunca tentei imitar sua obra nem a de ninguém, a 96 propósito –, mas ser mencionado no mesmo contexto que o grande Ford será sempre um profundo elogio. Permaneci próximo dele até sua morte, em 1973. Para mim, John Ford era tudo que eu amava e respeitava a respeito de Hollywood. Dois outros diretores completos, Howard Hawks e Raoul Walsh, também se tornaram meus amigos. Antes de começar a dirigir, Hawks, que tinha o apelido de “raposa cinza”, tinha trabalhado como piloto de avião e automobilista. Como Ford, Hawks queria sua independência, então ele tornou-se seu próprio produtor na maioria dos filmes. Eu me impressionava com o estilo de Hawks, especialmente com a forma com que ele não hesitava em lidar com todos os gêneros, fossem eles comédias ou filmes de mistério ou faroestes. Eu adorei Scarface – A Vergonha de uma Nação (Scarface, 1932), Uma Aventura na Martinica (To Have and Have Not, 1944) e À Beira do Abismo (The Big Sleep, 1946). Mas Howard e eu tínhamos personalidades muito diferentes. Ele era um sujeito extrovertido e sofisticado que adorava festas. Eu era mais primitivo, um solitário que via os amigos um de cada vez. Uma vez, Hawks me perguntou: “Você caça?” Balancei a cabeça. “Não pesca?”, ele perguntou. “Não”. “Bem, que tipo de esporte você pratica?”, indagou Hawks. “Eu escrevo.” “Olhe só, Sammy”, explicou Hawks com ares de tio, “nesse meio de trabalho existe um código social. Você não pode ficar sentado numa mesa dia e noite datilografando. Você tem que caçar ou pescar ou jogar baralho ou alguma coisa do tipo. Você precisa ir a festas, beber com as pessoas, ser visto...” “Não gosto de toda essa presepada”, eu disse. “Ficar fazendo social é um saco. Eu gosto de ficar sozinho, inventando personagens e histórias na minha Royal...” “Venha caçar comigo”, ele disse. “Você vai gostar.” “Atirar num pobre infeliz do cacete, Howard, seja uma raposa, um rinoceronte ou um coelho, é injusto.” “OK, Sammy, OK”, disse Hawks, entendendo minha sintonia. “Você é um escritor, não um caçador.” Não obstante as nossas personalidades profundamente diferentes, eu era louco por Howard Hawks e pelo modo como ele fazia 97 filmes. Eu nunca fui caçar com ele, mas depois da guerra eu dei a ele um rifle de caça de dois canos com uma cruz de ferro que eu trouxe da Alemanha. Na arma estava gravada a frase “À glória de Hermann Göring”. A Raposa Cinza adorou. Como Ford, Raoul Walsh era um pilar de Hollywood. Ele adentrou no meio como um ator em filmes mudos, fazendo o papel de John Wilkes Booth em O Nascimento de uma Nação. Numa carreira que durou cinquenta anos, Walsh fez mais de cem filmes, incluindo o fantástico Seu Último Refúgio (High Sierra, 1941). Ele adorava dirigir, e às vezes pegava projetos só para continuar trabalhando, sem uma convicção profunda a respeito da história. Eu adorava o senso de humor malandro e o jeito discreto de Raoul, o tipo de cara que trabalha duro sem se levar demais a sério. No fim dos anos 70, levei Raoul para almoçar no Musso & Frank’s com Christa (Fuller, sua última esposa, nde). Ele devia ter quase noventa anos nessa época. Ele ainda tinha ótima aparência. Com um grande chapéu de caubói, ele podia estrelar no faroeste de qualquer um. Nós nos divertimos bastante com Raoul. Essa foi a última vez que eu o vi. Eu estava progredindo com A Página Negra, mas toda hora que eu precisava de algum dinheiro, o livro tinha que ser colocado de lado. Eu escrevia um roteiro, vendia, depois voltava a trabalhar no romance. Power of the Press (O Poder da Imprensa, nde) foi comprado pela Columbia, dirigido por Lew Landers e finalmente lançado em 1943. Era sobre um editor de jornal parecido com Hearst, que morria, deixando seu jornal nova-iorquino para um velho amigo, um jornalista respeitável do Meio-Oeste. Gangs of the Waterfront (Gangues da Orla, nde) era uma continuação de Gangs of New York [Gangues de Nova York, roteiro de Fuller, filmado em 1938 por James Cruze, nde]. A Republic Pictures produziu e George Blair dirigiu. Só foi lançado em 1945, um filme policial bem direto que eu finalizei com muita rapidez. Meu roteiro seguinte se chamava Warden Goes to Jail (O Carcereiro Vai Para a Prisão). John Huston tinha me apresentado a seu pai, Walter. Fiquei tão impressionado que quis escrever um argumento que pudesse ser um veículo para Walter. Para pesquisar, eu tive que arrumar algum material de contextualização sobre Alcatraz, então, fui a São Francisco por duas semanas. Minha história era sobre um diretor de prisão severo que mata um homem que está 98 em cima de sua mulher e vai preso na mesma cadeia em que ele outrora havia sido carcereiro. Os prisioneiros não exatamente se vingam dele. Eles simplesmente observam como ele vai lentamente enlouquecendo, vítima das próprias regras de sua prisão. Adorei escrever a fábula de um homem que cria suas próprias leis e depois é morto por elas. A Paramount comprou o roteiro, mas nunca produziu o filme. Eu estava aprendendo que um dos aspectos mais frustrantes do sistema hollywoodiano era que, muitas vezes, as histórias mais enérgicas como Warden Goes to Jail não chegavam até a tela. Isso me deixou tão furioso que eu pensei seriamente em tentar partir para a direção. Assim, meus roteiros não apenas seriam filmados, mas o filme lá na tela também pareceria com o jeito que eu o escrevi. Olha só, por volta de 1941, eu estava me saindo muito bem em Hollywood, vendendo histórias e roteiros um atrás do outro. Tinha alguns amigos bem-sucedidos, e estava ganhando um belo dinheiro. Ainda assim, eu considerava meu período em Hollywood como algo temporário. No fundo do meu coração, eu sempre sonhei ser um editor-chefe. Até um jornal de cidadezinha me bastaria. Sempre me pareceu que eu tinha um pé dentro e outro fora da indústria cinematográfica. O jeito como eles reescreviam meus roteiros me deixou progressivamente insatisfeito com o fato de ser apenas um roteirista. Eu não era mais capaz de ver um filme sem questionar o julgamento do diretor, imaginando como um plano particular poderia ser melhorado, me perguntando por que diabos o diretor não gritou “Corta!” antes, numa sequência que não acaba nunca. Desde o começo da indústria cinematográfica, sempre houve um conflito entre roteiristas e diretores. O conflito continua até hoje. Há roteiristas que ficam irritados pela forma como os diretores traduzem suas histórias em filmes. Há diretores que conseguem fazer um grande filme apenas com o tufo de um roteiro. Finalmente, consegui entender que é impossível dizer quem é mais importante para o produto final, o roteirista ou o diretor. Não há solução para esse antagonismo natural da forma como os filmes são feitos, e nunca haverá. A minha abordagem pessoal do tema foi virar escritor/diretor. Mas, por enquanto, havia conflitos mais importantes com os quais se preocupar. Hitler era o mestre da Europa Continental, tendo primeiro ocupado a Tchecoslováquia, depois invadido a Polônia, engolfado a Dinamarca, a Noruega e os Países Baixos, e em seguida 99 a França. Estava claro para todo mundo que os nazistas eram criminosos que precisavam ser detidos. Na manhã de domingo do dia 7 de dezembro de 1941, eu estava dirigindo meu carro em Los Angeles, ouvindo o rádio. Foi assim que eu ouvi a notícia do ataque a Pearl Harbor. Meu romance, os roteiros que eu estava fazendo em Hollywood, meus planos para começar a dirigir filmes, tudo isso repentinamente pareceu desimportante. Essa era, como disse o presidente Roosevelt ao Congresso, uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos, o gigante colossal, finalmente atentou para os perigos da passividade. Tão logo o Congresso votou pela guerra contra o Japão e a Alemanha, eu tinha certeza sobre aquilo que eu devia fazer. Fui até o escritório de recrutamento do exército americano e fiquei na fila junto com todos os jovens que ali esperavam. Com 29 anos de idade, eu era muito mais velho que a média dos sujeitos que decidiam se alistar. Felizmente eles precisavam de muitos soldados, então não havia parcialidade contra “velhos” voluntários como eu. Havia uma entrevista obrigatória com um oficial de recrutamento. Eu pedi algumas semanas antes de ser mandado para o campo de treinamento, de modo que eu pudesse terminar a primeira versão de meu romance. O oficial me deu esse tempo extra. Depois ele me perguntou por que eu queria ir à guerra. Cacete, eu certamente não estava me alistando com a ideia de me tornar um herói. Perguntei se podia ser sincero com ele, e ele disse que sim. Então eu disse a ele que, claro, eu fiquei inspirado pelo chamamento às armas feito por Roosevelt contra os agressores; no entanto, os prospectos da vida militar, ficar de uniforme, marchar, carregar um rifle, lutar não me davam exatamente uma ereção. O que permanecia no meu cérebro era que eu tinha uma puta de uma oportunidade de cobrir a maior história policial do século, e nada ia me impedir de ser uma testemunha ocular. 100 Capítulo 15: Falkenau1 No fim de abril de 1945, nós avançamos até a região Sudetenland da Tchecoslováquia. Seis anos antes, em 15 de março de 1939, os nazistas invadiram a Sudetenland e dissolveram a Tchecoslováquia, tornando-a um protetorado alemão. A desculpa era que os tchecos tinham preconceito contra pessoas que tivessem antepassados alemães. Foi em Sudetenland que Hitler pela primeira vez mostrou suas pretensões reais como um tirano destruidor de nações e criador de impérios. Ninguém condenou a agressão nazista naquele momento. Agora a guerra para acabar com Hitler completava um ciclo, de volta a seu lugar de nascimento. Nosso objetivo final nessa ofensiva era Karlsbad, espremendo os nazistas entre os nossos avanços e os russos que se dirigiam no sentido oeste. Berlim caiu. Os exércitos alemães na Dinamarca, na Holanda e no Norte renderam-se. Mas o inimigo ainda resistia na Tchecoslováquia. Se os nazistas não iam desistir, nós íamos forçá -los a lutar. Em 6 de maio, nós começamos a sair da cidade de Eger em direção a Falkenau, uma distância de mais ou menos trinta quilômetros, quando armamentos antitanque destruíram quatro de nossos tanques. O regimento sofreu 51 baixas antes do cair da noite. Na manhã seguinte, o ataque foi retomado. Nosso oficial em comando, o general Clift Andrus enviou uma ordem urgente para o quartelgeneral para “cessar todos os avanços”. Os minutos tiquetaqueavam enquanto nós esperávamos ouvir a definitiva capitulação alemã. E, finalmente, surgiu a notícia duas horas depois que os alemães tinham assinado uma rendição formal e estavam tentando se comunicar com suas tropas na Tchecoslováquia e na Áustria para ordenar que eles parassem a luta. O cessar-fogo de 7 de maio foi universal. Adentramos Falkenau naquela noite e tomamos um tapa forte na cara, primeiro das hordas de alemães chegando de Karlsbad, fugindo dos russos para render-se aos americanos. Havia milhares de soldados, muitos acompanhados por suas esposas e filhos. Mais de 45 mil prisioneiros de guerra passaram por Falkenau nos três dias seguintes, criando o trabalho fundamental de ter que controlar toda essa gente. Mas o choque mais profundo nos esperava quando entramos pelo portão da frente do campo de concentração de Falkenau localizado a apenas umas mil jardas da cidade e cercada 1 Originalmente publicado em A Third Face: My Tale of Writing, Fighting, and Filmmaking (Nova York: A.A. Knopf, 2002). Tradução de Ruy Gardnier. 101 por barreiras de arame farpado. Entre as duas torres de observação principais, havia uma placa sinistra que dizia KONZENTRATIONSLAGER FALKENAU. Ainda havia alguns SS ferrenhos no campo que não sabiam que a guerra tinha acabado. Eles atiraram contra nosso grupo e depois tentaram fugir num carro de comando. Um de nossos soldados acertou o carro com um tiro de bazuca, sentenciando a fuga num cogumelo flamejante de fogo e fumaça. Atacamos os nazistas remanescentes e os desarmamos. E, então, descobrimos a verdade terrível sobre o campo. Nas barracas, estavam homens e mulheres com olhos ocos, incapazes de mexer seus corpos esqueléticos. Eles foram torturados, surrados e serviram de cobaias. Em outro prédio, havia cadáveres jogados uns em cima dos outros como jornais velhos. Alguns deles ainda nem eram cadáveres. Como zumbis, eles levantavam suas cabeças raspadas e nos olhavam, com os olhos afundados em aflição, boquiabertos, eventualmente estendendo a mão, tentando apalpar alguma coisa, implorando por ajuda em silêncio desamparado. O que tinha acontecido naquele campo de concentração era impossível de acreditar, ia além de nossos mais horríveis pesadelos. Estávamos nos sentindo esmagados por presenciar face a face toda essa carnificina. Ainda tremo ao me lembrar daquelas imagens dos vivos agachados com os mortos. O fedor dos corpos em decomposição jorrava até seu rosto e fazia você querer parar de respirar. Num dos prédios, nós nos escondemos atrás de um montinho branco para nos proteger de algum defensor nazista tardio. Foi só então que eu percebi que o montinho era um amontoado de dentes humanos retirados das vítimas do campo. Um pouco mais distante havia amontoados de escovas de dentes, óculos e escovas de barba. Ainda mais estarrecedor era uma pequena colina de membros humanos artificiais. Numa cabana colada a uma das paredes do campo, havia uma pilha de cadáveres nus empilhados como lenha. Uma última visão do horror esperava por nós: o crematório. Quando irrompemos naquela construção, a fumaça das granadas que tínhamos jogado pela janela ainda preenchia o salão. Estava tudo silencioso agora. A fila de portas de aço que conduzia aos fornos alongava-se à nossa frente. Olhei para os fornos e então examinei o primeiro deles. Quando eu vi os restos dos corpos lá cremados, eu não consegui controlar minha repulsa. Vomitei. Eu queria sair dali 102 a todo custo, mas eu não conseguia me impedir de olhar o segundo forno, e depois o terceiro, hipnotizado pelo impossível. Pelo amor de Cristo, as pessoas tinham realmente sido cozinhadas naqueles fornos! A prova incontroversa estava ali em frente, diante de meus próprios olhos. Um de nossos soldados, um alistado que afetivamente chamávamos de Weasel, foi olhar o quarto forno. Olhando de volta para Weasel estavam os olhos assustados de um SS que rastejou para lá para se esconder entre os cadáveres carbonizados. A Schmeisser nas mãos do nazista era inútil, pois ele estava congelado de medo. Desde o treinamento básico até a guerra, Weasel sempre teve um problema com matar. Apertar o gatilho de sua M1 era a coisa mais difícil do mundo. Naquele momento, entretanto, ele estava tão dominado pela repugnância que ele atirou à queima-roupa entre os olhos do SS. Novamente e mais uma vez, ele apertou o gatilho, esvaziando seu clipe. Depois ele carregou outro clipe e esvaziou esse outro também. Sem palavras, nós caminhamos para fora do crematório tão retesados quanto múmias, pressionando lenços contra nossas bocas e narizes, tentando processar o fedor e a repulsa. A descoberta do que a SS estava fazendo com os presos do campo de Falkenau era coisa demais para tolerar. Encontramos fotografias de mulheres nuas perseguidas por cães ferozes passando por guardas sorridentes da SS. Eram assassinos perversos, matando civis inocentes, uma trágica mistura de judeus, tchecos, poloneses, russos, ciganos e alemães antifascistas. Os soldados da SS que nós organizamos em forma de círculo imediatamente começaram a denunciar um ao outro. Na derrota, toda a mentalidade nazista – sua grande filosofia de coragem, lealdade e superioridade ariana – virou mingau. Eu raramente vi soldados se comportarem daquela maneira. Se apenas Hitler pudesse estar lá para observar seus amados SS denunciarem uns aos outros. Goebbels recusou-se a apertar a mão de Jesse Owens nas Olimpíadas de 1936 porque sua super-raça era superior. Como eu gostaria que Goebbels visse sua super-raça derrotada, lívida de medo, pronta para entregar Hitler e o soldado ao lado. Eles agiam como animais acossados e indóceis. Os médicos chegaram logo em seguida com comida, remédios e sangue, tentando salvar quantas vidas fossem possíveis. Nós voltamos às barracas cheias de ocupantes subnutridos e separamos os 103 vivos dos mortos. Os sobreviventes tinham mãos macabras e braços ossudos com números tatuados, um conto de Edgar Allan Poe que virou realidade. Tínhamos que trabalhar com trapos sob nossos narizes porque o fedor das pilhas de corpos provocava automaticamente ânsia de vômito. Quando carregávamos um sobrevivente de peso pena, era como ninar uma criança. Os trabalhos forçados e a malnutrição teriam graves consequências. Nós estávamos liberando -os. Mas não havia jeito de salvá-los. Muito poucos sobreviveriam. Eles só estavam livres para morrer. A cidade de Falkenau era uma comunidade respeitável com uma população honrada vivendo em casas limpas com jarros de flores em suas janelas. Não parecia possível que logo depois da colina havia centenas de infelizes em condições sub-humanas que só tinham duas saídas. Uma rápida, pela câmara de gás. Ou a lenta, via morte ou inanição. O comandante de nosso batalhão, capitão Kimble R. Richmond, levou um esquadrão para Falkenau e juntou o prefeito, o açougueiro, o padeiro e outros representantes respeitados. Ele queria saber como diabos eles podiam continuar com suas vidas de sempre enquanto as pessoas estavam morrendo no campo ali do lado. Todos eles juraram que não tinham ideia do que estava acontecendo no Konzentrationslager. A maioria disse que era contra Hitler. Capitão Richmond sentiu asco. Nós aprendemos a duvidar das confissões dos civis durante toda a campanha. Todo árabe na África do Norte afirmava que era antinazista. Todo francês jurava obediência à França livre. Os sicilianos odiavam Mussolini. Os belgas detestavam Hitler. Nós descobrimos, como era esperado, mais e mais alemães que nunca haviam sido membros do partido nazista. O Capitão Richmond ordenou que uma delegação de moradores aparecesse nos portões do campo na manhã seguinte ou então teriam que enfrentar o pelotão de fuzilamento. Richmond queria ter certeza de que aquelas pessoas iriam descobrir o que estava acontecendo apenas a alguns poucos passos das entradas de suas casas. Naquela noite, eu fui chamado para o batalhão CP. Richmond e eu tínhamos uma boa relação desde que ele sofrera um ligeiro ferimento de bala nazista que tinha furado seu capacete de aço. Quando ele saiu da clínica, ele procurou em todo canto por seu capacete. Ele considerava-o seu talismã de boa sorte. Fui eu que guardei o capacete para ele. 104 “Filho da puta”, disse o Capitão Richmond, sorrindo enquanto eu entregava a ele o capacete com o buraco de bala, “Se você quiser um capacete como esse, Fuller, vai ter que levar bala!” Richmond sabia que minha mãe tinha me enviado uma câmera de cinema Bell & Howard 16mm portátil. O capitão queria que no dia seguinte eu me postasse numa parede com boa vista do campo de concentração para filmar o abominável espetáculo. Eu estava prestes a fazer meu primeiro filme. Comecei fazendo imagens do capitão Richmond dando suas ordens aos honrados cidadãos de Falkenau. Eles tinham que preparar as vítimas para um funeral decente, depois levá-las ao local do enterro numa carroça. Daquela forma, eles nunca poderiam dizer novamente que eles não sabiam o que estava acontecendo em seu próprio quintal. Eu filmei umas duas dúzias de cadáveres sendo retirados daquela cabana pútrida colada à parede do campo e sendo preparados para o enterro, um por um, embrulhados em lençóis brancos no chão, e posteriormente empilhados na carroça. Quando a carroça estava cheia de cadáveres, os moradores a empurravam até o local do enterro especialmente preparado. Prisioneiros de guerra, a maioria dos adolescentes Hitlerjugend, ajudaram a colocar os corpos amortalhados numa cova coletiva. Por mais reles que fosse a consolação, essas vítimas nazistas foram enterradas com dignidade. Meus vinte minutos de película 16mm registraram o solene dia do juízo daqueles civis. O espetáculo era de torcer o coração, e me deixou entorpecido. Eu registrei provas da indescritível crueldade do homem, uma realidade que os perpetradores poderiam tentar negar. No entanto, uma câmera de cinema não mente. Quando eu finalmente cheguei em casa, no outono de 1945, eu guardei aquela filmagem e nunca mexi nela novamente. Seria doloroso demais assistir, traria de volta todos os horrores dos anos de guerra. Aqueles vinte minutos foram um testamento para as vítimas de Falkenau e para os milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração nazistas. Numa inspeção final dos prédios do campo, nosso sargento ouviu um gemido por trás de uma pilha de roupas surradas. Ele girou e quase atirou numa garota cadavérica que lentamente levantava a cabeça. Seus olhos pretos e afundados estavam aterrorizados. Ela parecia ter por volta de dezoito anos porque ela estava tão frágil e esquelética. Ela podia ser mais velha ou mais nova. O sargento pegou a garota em seus braços e levou-a para as instalações do ex-comandante da SS. 105 Nos dias seguintes, enquanto acampávamos pelas redondezas e equipes médicas tentavam salvar os sobreviventes dos campos, o sargento cuidou da garota e tentou trazê-la de volta do limiar da morte. Ele alimentou-a com rações líquidas e depois convenceu o cirurgião do regimento a conseguir um pouco de leite, vegetais e frutas para ela. Ele até conseguiu um bife. Havia uma caixa de música no posto de comando da SS. Ele deu a caixa a ela. A jovem mulher estava fraca demais até para falar. Aos poucos ela começou a ficar com as bochechas um pouco mais coradas. Ela ouvia a caixa de música o dia inteiro e, às vezes, conseguia sorrir. Nunca vimos o sargento tão feliz. Ele não conseguia aceitar o fato de que sua protegida estava doente demais para sobreviver. “Estou tão cansado de matar gente”, disse ele, “que gostaria de manter pelo menos um vivo”. A garota morreu alguns dias depois. O sargento não permitiu que nenhum de nós o ajudasse a enterrá-la, recusando qualquer assistência, até do capelão. Ele fez um túmulo rústico com as próprias mãos. Ele vestiu a garota morta com um vestido cor-de-rosa e sapatos marrom escuros que o escriturário de correio de nossa companhia conseguiu para ele. Ele, cuidadosamente, preparou o cadáver, colocou a caixa de música por cima de sua barriga e colocou as mãos em volta dela. Ela tinha um sorriso no rosto. Em seguida, ele fechou o caixão. Ele cavou uma sepultura não muito longe dos portões do Konzentrationslager e lá depositou o corpo da garota. De longe, nós o observamos cobrir a cova, enchendo a pá de terra de modo contínuo e dolorido. Depois que ela foi enterrada, o sargento nunca mais falou nada a respeito dela. Nós tampouco. Para todos nós, no entanto, ela permanecia um símbolo daqueles momentos de luto cheios de sofrimentos e perdas inacreditáveis. O fim de todas as hostilidades foi um choque silencioso. Era difícil aceitar que a guerra finalmente tinha acabado. Eu não conseguia acreditar que não tinha mais que dormir com a minha mão no rifle, que cada barulho não era o começo de um ataque inimigo, que eu podia acender um charuto à noite sem me preocupar com um franco-atirador metendo uma bala no meu cérebro. Em pouco tempo estaríamos voltando para casa. Voltar à civilização era o tema de todas as nossas conversas, de nossas piadas, de nossos sonhos. Mas a reentrada era assustadora também. Como podíamos contar ao mundo aquilo que vivenciamos? Aquilo que testemunhamos? Como cada um de nós conseguiria viver consigo mesmo? 106 Capítulo 31: Mato Gross01 Com oito filmes no currículo, agora estabelecido como um roteirista e cineasta em Hollywood, eu deveria estar dormindo em paz, coberto por aqueles lençóis de seda do meu casarão de Beverly Hills. Nada podia estar mais distante da verdade. Eu me revirava a noite inteira, atormentado por pesadelos horríveis. Visões terríveis da guerra enterradas em meu cérebro davam as caras assim que eu começava a cochilar. Pilhas de cadáveres. Uma mão esquelética sendo estendida em direção ao céu pedindo ajuda. Bombas explodindo. Soldados sendo retalhados. A música era meu remédio imediato. Eu levantava, descia as escadas e me deixava imergir em Beethoven, Bach ou Mozart. Eles aliviavam meu espírito. Percebi que a única forma de me livrar das minhas memórias de guerra era fazer um filme sobre elas. O argumento inteiro estava na minha cabeça. Eu estava carregando ele comigo como se fosse uma peça de mobiliário pesado. O filme iria capturar a realidade do combate sem nenhuma das mentiradas hollywoodianas – sem heróis, apenas soldados tentando sobreviver. Minha versão era profundamente pessoal, mas a violência e a insanidade eram universais. Comecei a escrever as cenas e os diálogos. Um roteiro surgiu ao longo dos anos e de várias revisões. Talvez, depois de fazer esse filme eu pudesse dormir melhor. Nem em meus piores sonhos eu pensei que ainda levaria mais 25 anos até eu ter a chance de dirigir Agonia e Glória (The Big Red One, 1980). Naqueles dias, (Darryl) Zanuck organizava festas de fim de semana em sua casa em Palm Springs. Martha e eu fomos algumas vezes. Minha esposa gostava de fazer social com os executivos de estúdio e estrelas de cinema que lá apareciam, então eu tolerava todo esse negócio. Os charutos e a vodca eram OK, mas por mim eu ficava em casa, e além disso eu poderia ficar escrevendo roteiros na minha Royal. De qualquer forma, conheci algumas figuras interessantes. Eu admirava a esposa de Darryl, Virginia, uma dama. Hedda Hopper, a colunista de Hollywood, aparentemente era sempre convidada. Eu me dava bem com Hedda. Ela até perguntou se eu faria um filme sobre sua vida, mas isso era só papinho de coquetel. Howard Hughes apareceu uma vez. Conversamos um pouco. Ele sabia tudo sobre mim, via Jean Peters. Hughes era um sujeito estranho, mas nos demos bem. Ele me ligou umas duas vezes em 1 Originalmente publicado em A Third Face: My Tale of Writing, Fighting, and Filmmaking (Nova York: A.A. Knopf, 2002). Tradução de Ruy Gardnier. 107 seguida para fazer um filme com ele. Como tantos projetos, isso nunca se materializou. Num fim de semana, Zanuck me levou até seu escritório pessoal no terraço de sua casa de Palm Springs. Ele tinha acabado de chegar de uma competição de caça numa fazenda de uma área selvagem da região central do Brasil chamada Mato Grosso. Ele me deu um livro para ler chamado Tigrero, de Sacha Siemel. O estúdio tinha comprado os direitos. Zanuck explicou que quando um felino selvagem ataca algum animal de criação, os donos da fazenda contratam um tigreiro para seguir o rastro do animal e matar o culpado, geralmente um jaguar, embora o predador pudesse ser um diante de uma variedade de espécies. O melhor tigreiro de que Zanuck teve conhecimento fora um velho índio da selva que nunca usou um revólver ou um rifle, apenas uma lança para caçar os felinos. Conversamos sobre preparar um filme que se passaria em Mato Grosso. Eu li o livro. Tinha um bom material de pesquisa. Mas a melhor coisa era o título. Antes de escrever o roteiro, eu disse a Zanuck que precisava conhecer o Mato Grosso. Darryl concordou. Meu apetite para fazer filmes em lugares longínquos já havia sido aguçado por Casa de Bambu (House of Bamboo, 1955). Talvez a selva brasileira conseguisse tirar a minha cabeça daquelas dolorosas memórias de guerra. Embrulhei minha máquina de escrever e minha câmera de 16mm, dei adeus à minha mulher e à minha mãe, e subi num avião para o Rio de Janeiro. As pessoas que eu conheci no Rio disseram que eu era louco de ir ao Mato Grosso. As tribos indígenas do interior ainda tinham a fama de cortar e encolher as cabeças de seus inimigos. Num bar no Rio, soube de um índio xavante cuja fotografia estava na primeira página de todos os jornais do Brasil. Seus olhos afiados pareciam estar olhando para mim. O homem tinha sido separado de sua tribo por uma enorme inundação. Ele foi encontrado longe de sua terra tribal e recusou todo tipo de alimentação, até que morreu como um animal faminto. Agora eu realmente queria explorar a selva e ver esses índios com meus próprios olhos. Do Rio, voei até São Paulo. Lá eu conheci meu guia, que conhecia alguns dos muitos dialetos nativos. Também achei que precisava de uns sujeitos fortes, por via das dúvidas. Dois ex-membros da aviação brasileira que conheci num bar pareciam dar pro gasto. Ofereci contratá-los como patrulheiros. Eles acharam que eu era um tipo de 108 personagem como Hemingway numa grande competição de caça. Falei que estava fazendo reconhecimento de locações para um filme, e não caçando animais selvagens. Ao invés de dinheiro, eles queriam ser pagos em pele de jaguar. Mandei-os ao inferno. A Fox fretou um avião particular para me levar terra adentro. Era um avião de dois lugares, o tipo de aeronave que borrifava pesticidas nas plantações e descarregava suprimentos em pistas de pouso isoladas. Zanuck estocou o avião com bastante vodca e charutos. Primeiro, viajamos para Ribeirão Preto, depois mudamos para um avião ainda menor para o voo até Goiânia. Finalmente descemos no coração do Mato Grosso, numa pequena localidade chamada Tesouro. O piloto falou que voltaria em algumas semanas para nos pegar de volta. A selva era um lugar inflexível e bárbaro. Viajamos a cavalo e de canoa. Os primeiros índios que encontramos foram os jivaros. Eles não ficaram nada contentes com a nossa chegada, então seguimos adiante. Comecei a fazer algumas imagens do terreno com minha câmera. Nas margens do rio Araguaia, nos deparamos com membros da tribo carajá. Eles imediatamente nos convidaram para visitar seu acampamento isolado. Do outro lado do Araguaia, que os carajás chamavam de “Rio dos Mortos”, ficava a tribo xavante. Lembrei da matéria de jornal sobre o xavante que preferiu morrer de fome a ser separado de sua tribo. Ali estava eu, a um pulo de distância da terra natal pela qual ele morreu. Tendo baixa estatura, eu não representava nenhuma ameaça para os carajás. Logo de início eu me dei bem com os chefes da tribo, que convidaram a mim e ao meu guia para ficar com eles por quanto tempo eu quisesse. Os carajás tinham três chefes. Um era o caçador, outro, o pastor e outro, um guerreiro. O chefe guerreiro tinha a menor influência, porque a tribo nunca tinha entrado em guerra. O que eu descobri naquela parte remota do Mato Grosso foi uma sociedade muito mais pacífica e afetuosa do que a nossa. Pouco a pouco, eu comecei a me sentir como o selvagem e a ver os carajás como os civilizados. Os carajás descenderam dos Incas, e sua língua soava como japonês. Meu intérprete não conseguia entender nada. Mas a língua nunca foi um problema. Os carajás falavam com seus olhos, e eu os entendia. Fisicamente, era um povo bonito, com a pele escura, maçãs do rosto altas e cabelos de ébano. Espiritualmente eles eram belos também, seres humanos alegres, hospitaleiros e generosos. 109 Não tinham leis, juízes ou polícia, nem precisavam. Não tinha crime, ciúme nem cobiça. Do amanhecer até o crepúsculo, eles estavam constantemente ocupados, cuidando de suas crianças, consertando suas cabanas, pescando no Araguaia. A abundância de peixe garantia comida de sobra para cada um. Dinheiro era inútil. Quando eles precisavam de arroz e remédios, eles trocavam peixe por suprimentos com os brancos rio abaixo. As cabanas eram simples e bem conservadas. Mangas cresciam por toda a parte. As crianças chupavam a fruta – como se fossem pirulitos – da manhã até a noite. Os carajás tinham seus deuses para a chuva, para o sol e para as árvores. Alguns peixes e pássaros eram sagrados. Antes de cada caçada ou pescaria, os carajás rezavam com seus chefes. O clima tropical impunha um limite natural a respeito de quanta comida eles traziam para a vila, porque os restos estragariam. Eles sabiam exatamente do que precisavam para sobreviver e nunca abusaram da abundância da selva. Os homens colocavam pequenos gravetos sob os lábios inferiores para enfatizar sua masculinidade, e também pintavam os corpos com círculos pretos e brancos. Apesar de não ter instrumentos musicais, os carajás adoravam dançar e cantar. Sua dança de fertilidade era um apelo especial para o bem-estar do Deus da abundância. As mulheres colocavam belas flores por trás de suas orelhas e moviam os pés no ritmo da batida, esfregando suas barrigas. O resto da tribo cantava e batia palmas. Os homens envolviam seus rostos com ramos de plantas e circulavam em volta das mulheres. Os casais carajá eram monogâmicos, apesar de eles andarem sempre pelados, exceto por um tapa-sexo preso em suas cinturas. Eu vestia shorts o tempo todo e fiquei muito bronzeado, exceto na bunda. Quando eu me lavava no rio, a branquidão dali de trás surpreendia a todos. Eles pegavam as bagas que eles usavam para tatuagens e esfregavam em mim, tentando me “curar” da minha pele pálida. Dos costumes dos carajás que eu filmei, um dos mais dramáticos era o rito de puberdade dos garotos. Todo garoto de treze anos de idade tinha que ser submetido a ele para tornar-se um homem. Primeiro, eles trespassavam o pênis com uma agulha de madeira. O rapaz não podia mover um músculo durante o ritual. Depois eles pegavam um dente de piranha e arranhavam as pernas do garoto até sair sangue. Ainda assim, ele não podia se mexer. Se ele se mo110 vesse, eles paravam a cerimônia e recomeçavam o ritual do começo. As adolescentes tinham seus próprios rituais de feminilidade. Eles aconteciam dentro de uma cabana, longe dos homens. Eu nem cogitei em pedir para filmar, porque eu já me sentia como um intruso. À noite, se eu precisasse fazer xixi, a vila inteira acordava para garantir que eu não seria atacado por um animal selvagem quando eu saísse da cabana. Eles foram muito tolerantes comigo. Eu consegui ganhar o gesto máximo de aceitação ao ser convidado para dormir na tenda do chefe espiritual. Ele era um homem venerado, cego e gentil. Foi uma das maiores honras que já recebi. Durante minha estada com os carajás, escrevi um tratamento para Tigrero. Minha história começava numa prisão no Rio de Janeiro. Uma mulher ajuda o marido a escapar matando um carcereiro. Depois ela contrata um tigreiro para cruzar o Mato Grosso com eles. O tigreiro vive num mundo isolado, mas rico em cores, vistas e sons. Ele vê poesia nas árvores, nos chamados dos pássaros exóticos, nas trilhas de animais na floresta. Ele consegue fazer com que o casal cruze um rio caudaloso até uma ilha que está encolhendo como consequência das grandes chuvas. Na subida das águas, a mulher repentinamente escorrega e cai. O marido tenta salvá-la do afogamento, mas ele só observa, e tenta salvar sua própria pele. A mulher sobrevive, mas o grande amor que ela tinha por seu marido se transforma em ódio. Meu argumento não tinha como tema a covardia ou o egoísmo. A ideia era que não se deve odiar alguém por tentar salvar-se primeiro. O marido do meu argumento ama sua mulher, mas ama a si mesmo um pouco mais. Era hora de ir pra casa. Fiquei vivendo com os carajás por diversas semanas. Parti relutantemente, parcialmente tentado a adiar meu retorno, mas eu tinha mulher e mãe para cuidar, e um roteiro para escrever. Foi difícil pra caramba sair de um lugar onde eu vivenciei tanta paz e felicidade. Eu sabia que queria voltar e fazer meu filme na selva do Mato Grosso. Eu agradeci aos carajás do fundo do meu coração e prometi que voltaria. Zanuck adorou meu argumento e os filmes caseiros que rodei durante minha estada no Brasil. Ele conseguia ver que as minhas descrições cheias de vida eram tiradas da realidade, e partilhava meu entusiasmo por fazer um filme tendo como locação a selva. Ele conseguiu John Wayne para fazer o papel do tigreiro, Ava Gardner como a esposa e Tyrone Power como o marido. 111 Eu imaginei uma abertura grandiosa para o filme, e filmei parte dela com minha câmera de 16mm e lentes anamórficas. Um crocodilo ataca um pássaro no Araguaia. Um segundo crocodilo aparece, maior que o primeiro, e rouba o prêmio. Eles lutam pela presa, retorcendo e espancando a água. O crocodilo grande mata o menor, fazendo a água ficar vermelha. Um cardume de piranhas aparece e ataca o crocodilo vitorioso. Finalmente um condor dá um rasante e voa com a presa. Ali estava o maldito ciclo da vida: sobrevivência. No fim da sequência, uma palavra gigantesca apareceria na tela: TIGRERO. Ia ser um filme de botar pra quebrar! Tudo na produção estava alinhado, até que as companhias seguradoras viram um impedimento. Era arriscado fazer o seguro de grandes estrelas indo filmar nos ermos do Brasil, então os prêmios eram muito altos: seis milhões de dólares para Wayne, seis milhões para Gardner e três milhões para Power. Darryl ficou enraivecido. Ele mostrou aos executivos de seguros as minhas filmagens de locação nas cercanias do acampamento dos carajás. Claramente, a área toda era segura. Era mais perigoso filmar nos fundos do estúdio da Fox. Mas aqueles caras de seguradora com seus paletós cinzas e gravatas borboletas foram inflexíveis. Afinal de contas, a selva brasileira estava cheia de selvagens e animais comedores de gente. O estúdio decidiu engavetar o projeto. Filmes não produzidos fazem parte do negócio tanto quanto aqueles que são produzidos. Fiquei terrivelmente decepcionado a respeito do destino de Tigrero. Ainda assim, consegui perceber que o período que passei com os carajás me deu uma nova visão da vida, renovando a minha fé na raça humana por completo. Contra o pano de fundo de sua terra indômita e as crueldades da Mãe Natureza, os carajás haviam criado uma sociedade cheia de bondade e felicidade. O riso era um elemento essencial da cultura deles. Na maior parte do tempo, eu não sabia do que eles estavam rindo. Mas o riso deles era tão contagioso que eu ria com eles. Uma parte importante da minha alma ferida foi curada durante o período que passei em Mato Grosso. Eu reaprendi a diferença entre alegria e prazer. O prazer era passageiro. Escrever, ouvir música, partilhar, amizade real, isso me dava alegria. Imerso novamente em escrita e pesquisa, rapidamente completei um outro roteiro, chamado Renegando o Meu Sangue (Run of the Arrow, 1957). Parei de ir aos convescotes de Zanuck, preferindo passar meu tempo com pessoas mais gratificantes, como meus ami112 gos músicos Max Steiner, Victor Young e Harry e Gretchen Sukman, ou meus amigos roteiristas, como Richard Brooks ou Dalton Trumbo. Eu estimava aquelas pessoas porque eles conheciam o valor da vida, da amizade, da integridade. A enorme criatividade deles me alimentava, e seu afeto me ajudava a superar as minhas violentas memórias de guerra. Os carajás me mostraram que a vida era um equilíbrio delicado entre violência e não violência. Eu nunca conheci um grupo de pessoas mais gentis. A coisa mais escandalosa que eu vi deles foi quando eles lutavam de brincadeira uns com os outros. Eles tomavam cuidado para não machucar ninguém e não destruir nada. No entanto, se um membro de outra tribo invadisse seu território e levasse alguma de suas crianças, eles perseguiriam o invasor e o matariam. Seus filhos eram seu futuro, então o ladrão estaria vitimizando toda a tribo. Aconteceu uma vez quando eu estive por lá. Eles cortaram a cabeça do ladrão de crianças e trouxeram-na à aldeia. Eles penduraram a cabeça do lado de fora da cabana dos pais da criança e fizeram uma fogueira embaixo com madeira especial e ervas para que a cabeça encolhesse. O processo durou diversos dias e noites. Eles acreditavam que o ladrão não era de todo mau. O pouco bem que houvesse no infeliz passaria para os pais em luto, criando assim algum tipo de retribuição para o filho perdido.z 113 Capítulo 37: Respirando Vingança1 1 Originalmente publicado em A Third Face: My Tale of Writing, Fighting, and Filmmaking (Nova York: A.A. Knopf, 2002). Tradução de Ruy Gardnier. 114 Minha mãe morreu na primavera de 1959 com 85 anos de idade. Durante toda minha vida, Rebecca Fuller foi minha maior apoiadora. Não há nada a dizer quando um homem perde sua mãe. É só um terrível vazio. Meu casamento com Martha já não ia bem, e a morte de minha mãe selou o destino do enlace. Eu queria sair da grande mansão de Hearst cheia de empregados e voltar a viver de modo mais simples, trabalhar em paz com as minhas histórias e me reestruturar. Decidi deixar a casa para Martha e tudo dentro dela, exceto minha máquina de escrever Royal e a escrivaninha de Mark Twain que eu comprei de Clara, filha de Twain. Martha assinou os papéis do divórcio contra mim por crueldade mental. Eu aceitei a coisa toda. Que diferença fazia o nome que eles davam? O relacionamento estava terminado. Meu advogado disse que eu estava completamente doido por deixar a casa para ela. Ele ameaçou nunca mais falar comigo de novo, a não ser que eu quisesse dividir meio a meio. Todavia, insisti para que Martha ficasse com tudo. Eu sabia que recomeçaria tudo de novo e queria deixar garantido que ela estaria em segurança. Eu não tinha paciência para um acordo de divórcio tortuoso. Através de mim, Martha conheceu seu outro marido, Ray Harvey. Ray foi um oficial do exército altamente condecorado na Guerra. Ele se mudou para Hollywood e estava trabalhando para os estúdios como consultor técnico. Como garantia de autenticidade, eu contratei Ray em Baionetas Caladas (Fixed Bayonets!, 1951) e Proibido! (Verboten!, 1959). Ele veio à minha casa em diversas ocasiões. Nós três costumávamos nos divertir bastante. No verão de 1959, eu estava finalmente às vésperas de um acordo multimilionário com a Warner Brothers para escrever, dirigir e produzir Agonia e Glória (The Big Red One, 1980). O filme acompanharia um sargento corajoso e seu esquadrão de soldados da infantaria durante as campanhas da Primeira Divisão no norte da África, na Sicília e na Europa. Reuni umas mil páginas de ação e diálogo e fiz desenhos mentais da maior parte do filme. Jack Warner adorou meu argumento e arrumou John Wayne para fazer o papel do sargento. Eu não adorava a ideia de Wayne na pele do personagem, mas eu segurei meus comentários negativos naquele momento. A Warner pagou o dinheiro para a pesquisa de locações, para que eu revisitasse todos os campos de batalha mais importantes do Big Red One. Decidi levar Martha comigo. Era nossa viagem de despedida. Levei também Ray Harvey comigo. Enquanto eu fotografava as locações, Ray estabelecia planos para os detalhes técnicos da produção, já que ele seria nosso elo com o exército americano para o filme. Foi durante essa viagem à Europa e ao norte da África que Martha e Ray começaram a ter fortes sentimentos um pelo outro. Eu não ia ficar no caminho deles. Quando voltamos para casa, me mudei para um canto modesto em Hollywood, abrindo espaço para Martha e Ray começarem suas vidas juntos. Permanecemos todos amigos, o que parecia bizarro para aqueles que viam de fora. As pessoas me viam como um excêntrico incorrigível por ter mudado de estilo de vida de modo tão drástico. Nunca me importei com o que ninguém pensava, porque estava ocupado demais com os preparativos para o filme mais importante que eu faria. Richard Brooks e Dalton Trumbo me aconselharam a não filmar Agonia e Glória com John Wayne. A alegação era que Wayne seria bem sucedido em encolher a minha história, transformando uma luta sombria pela sobrevivência e sanidade num filme patriótico de aventuras. Pensei muito sobre isso e achei que eles tinham razão. Eu não podia me arriscar a comprometer esse filme. Quando eu falei ao Jack Warner que eu queria outra pessoa no papel de Wayne, o acordo malogrou. A morte de minha mãe, o divórcio e a suspensão de Agonia e Glória bateram muito forte em mim. Tornei-me uma figura solitária, não socializando nem com meus estimados amigos roteiristas e colegas músicos. Tudo que eu queria era ficar sozinho para absorver toda aquela dor do meu próprio jeito. Felizmente não havia muito tempo para me lastimar, porque eu estava trabalhando em dúzias de ideias para filmes. Maluco como é o mercado do cinema, meu projeto seguinte veio da Columbia, o estúdio com o qual eu tinha discutido por causa do lançamento de O Quimono Escarlate (The Crimson Kimono, 1959). Apesar de meus problemas com eles, ofereceram para mim outro filme com Ray Stark como produtor. Ray queria que eu escrevesse e dirigisse um filme baseado num artigo de revista cujos direitos ele tinha adquirido. O artigo, escrito por um jornalista de Boston chamado Joseph Dineen, tinha como tema os gângsteres que operavam não apenas em Chicago e Nova 115 York, mas também em outras cidades pelo país, como Boston. Boston tinha até seu equivalente ao chefe Al Capone. Stark adorava o título do artigo, “Underworld, U.S.A.” [Submundo E.U.A., nde]. Eu também. O primeiro filme de gângster que eu vi foi Paixão e Sangue (Underworld, 1927), de Joseph von Sternberg, com Clive Brook e George G. Bancroft. Ben Hecht ganhou um Oscar por aquele roteiro. O filme definiu o gênero através de sua história e da iluminação, muito antes dos elementos tornarem-se clichês. Eu queria ir além dos filmes clássicos de gângster como Inimigo Público (The Public Enemy, William A. Wellman, 1931) e Scarface (Scarface,1932) para falar de alienação e corrupção, inspirado mais na dramaturgia grega. Também fui influenciado por um excelente livro chamado Here Is to Crime [Um Brinde ao Crime, nde], de Riley Cooper, um jornalista cuja pesquisa extensiva provou que o crime nos Estados Unidos realmente compensava. Minha abordagem de A Lei dos Marginais (Underworld, U.S.A., 1961) seria manter o foco num criminoso que fosse um solitário, um homem cujo único motivo para respirar fosse a vingança. Um solitário não pode, por definição, ser um “gângster”. Ele ou ela nunca sente-se confortável pertencendo a um grupo. As minhas relações com os rapazes do estúdio começaram com o pé errado desde o momento em que deixei que eles lessem minha primeira cena, um começo arruaceiro que tinha início com o close das costas de uma linda mulher, a câmera subindo numa grua para revelar cada vez mais mulheres atraentes de pouca roupa e alinhadas para formar um mapa dos Estados Unidos. Em seguida, uma das mulheres começa a fazer um discurso estimulante sobre o novo “Sindicato das Prostitutas”, que ela julga ser necessário para o prosseguimento de suas carreiras. Corridas de táxi e contas de lavanderia seriam dedutíveis do imposto de renda. Cafetões seriam proibidos. A prostituição é um trabalho como qualquer outro, ela diz, e agora elas querem reconhecimento oficial. A prostituição seria sempre parte da economia nacional, então, por que não se sindicalizar, estabelecer seus próprios salários mínimos, conseguir planos de seguridade social e benefícios de aposentadoria, como qualquer outro trabalhador, mulher ou homem? Enquanto a mulher conclui seu discurso glorioso, o enorme título aparece na tela: UNDERWORLD, U.S.A. A câmera segue a prostituta de discurso inflamado até um camarim. Enquanto ela troca de roupa, o cano de uma arma desliza 116 por sua boca e dispara, explodindo sua cabeça. Os títulos e os créditos continuam a passar. As prostitutas fogem desesperadas. Uma delas associa-se com meu protagonista solitário, comprometendo pessoas do alto escalão da sociedade em prostituição, contrabando e tráfico de drogas. Sam Briskin e outros executivos da Columbia acharam minha sequência de abertura completamente chocante. Bem, eu estava mostrando como o crime tinha se tornado parte da própria construção da nossa nação. De que outra forma eu apresentaria isso que não de modo chocante, quase indecente? Fiz a pesquisa para provar que nenhuma parte do país estava ilesa. Pelo amor de Deus, crime era um assunto chocante! Lá estava eu, frente a frente com os formadores de opinião hollywoodianos, com toda aquela atitude puritana dos anos 50 ainda embutida em seus cérebros. Briskin me disse que toda a minha sequência inicial tinha que ser eliminada. Era carnal demais, brutal demais, para dar partida no filme. Por que não substituir por uma narrativa em voz off? Eu redargui que se eu não pudesse mostrar as minhas ideias visualmente, seria melhor fazer um programa de rádio, e não um filme. “Sam, a sua cena da prostituta é pesada demais”, disse Briskin. “OK”, eu disse, sem me sentir perturbado pela recusa do meu argumento. “Vamos nos concentrar no meu solitário. A semente de uma vendeta para toda a vida foi plantada em sua mente desde cedo, como Dumas e O Conde de Monte Cristo. Talvez quando ele fosse apenas uma criança”. “Isso”, disse Briskin, “o público adora vingança”. “Então, que tal isso: um filho da putinha criado no mundo do crime vê seu pai sendo assassinado por gângsteres. O único legado do pai a seu filho é uma obsessão por vingar-se dos assassinos. O garoto cresce e entra na vida criminosa também. Ele inventa um esquema para usar os próprios funcionários do governo dos EUA para eliminar os homens que ele quer matar.” “Como assim?”, perguntou Briskin, novamente com ar preocupado. “Sabe como é, promotores federais.” “Não podemos mexer com eles, Sammy.” “Por que não? Já até entrei em contato com o Departamento de Justiça. Eles me arrumaram diversas informações. Falei também com Charles Anslinger.” 117 Briskin disse que não era verossímil que meu personagem negociasse diretamente com funcionários federais. Eu disse a ele que isso acontecia sempre. A ideia era mostrar uma mente criminosa trabalhando. Meu solitário é lento em certas coisas que pessoas consideradas normais fazem rapidamente, mas ele está dez milhas à frente em tudo que diz respeito à sua obsessão com vingança. A sangue-frio, ele usará todo mundo que ele precisar usar, incluindo a garota que está apaixonada por ele. Por que não também os federais? Se o público entendesse o tipo de obsessão, eles entenderiam meu protagonista e o clima do meu filme. “Você tem que mencionar a palavra ‘comissão’?” “OK”, disse. “Vou chamá-los de ‘Comitê Policial Federal’. São de oito a dez advogados extremamente inteligentes trabalhando num escritório, acumulando provas de todo tipo de atividade criminosa. Mas eles não são tão tortuosos quanto meu protagonista. Quando chega a hora de ganhar dos outros em esperteza para conseguir o que quer, ele é tão brilhante quanto o príncipe de Maquiavel. Ele só tem uma coisa em mente: acertar as contas com os desgraçados que mataram seu pai.” Depois de mais uns dois tratamentos de roteiro, Briskin liberou o projeto para produção. O aspecto do meu argumento que finalmente o convenceu foi a ideia do filho vingando a morte de seu pai. Na minha versão final, nós conhecemos Tolly Devlin como um garoto na primeira cena de A Lei dos Marginais. Ele já é um ladrãozinho de rua. Tolly e sua mãe substituta, Sandy, veem um homem apanhar até ser morto num beco escuro. É o pai de Tolly, um bandido pé-rapado. Apesar de ser capaz de dedurar um dos assassinos, um gângster chamado Farrar, o garoto se recusa a cooperar com o promotor público, Driscoll. Ainda moleque, Tolly já sabe que ele deseja conseguir vingança em seus próprios termos. Vinte anos de vida criminosa depois, Tolly, agora interpretado por Cliff Robertson, se reencontra com Farrar em seu leito de morte numa enfermaria de prisão. Tolly engana o moribundo para que ele diga os nomes dos outros três assassinos, atiçando-o com a possibilidade do perdão. Os três assassinos, Smith, Gunther e Gela, são parte de um enorme sindicato do crime. Metodicamente, Tolly persegue os três, um por um. Primeiro ele resgata Cuddles, uma mulher de bandido, e a convence a denunciar Smith por outro crime que ela o viu cometer. De118 pois Tolly arruma trabalho dentro do sindicato, fazendo um acordo com Driscoll, agora o comissário do combate ao crime, para incriminar Gunther como traidor. Gunther é morto por um dos próprios assassinos do sindicato numa explosão de carro. Em seguida, Tolly ganha as graças do patrão de todos os líderes do sindicato, Connors, que manda matar Gela porque Tolly também o denuncia. Enquanto isso, Cuddles se apaixona por Tolly, que de início a esnoba por ela querer família, e depois decide que ela deveria ser a mãe de seus filhos. A decisão de Tolly em viver uma vida ordeira não significa que ele vai continuar cooperando com o comissário policial. Ele se recusa a armar contra Connors, o chefão. O único motivo de Tolly foi a vingança pessoal contra os assassinos de seu pai. Mas quando Connors manda matar Cuddles, Tolly persegue-o até seu quartel-general numa piscina e o assassina brutalmente. Ferido num entrevero por um funcionário do sindicato, Tolly cambaleia pelas ruas, desmoronando no mesmo beco escuro onde ele viu seu pai morrer. Meu último plano faz um close no punho cerrado de Tolly, prova fatal de uma vida vivida com ódio e frustração. Tolly é hostil, rebelde e autocentrado, não muito estimável no cômputo geral. Motivado pelo egoísmo e pela sobrevivência, Tolly é concebido num molde semelhante ao de Skip McCoy em Anjo do Mal (Pickup on South Street, 1953). Quando eu escrevo o personagem assim, eu nunca penso se o público vai sentir empatia por ele. Algumas pessoas vão. Outros vão balançar a cabeça e reprovar. Tudo que eu tento fazer é ser verdadeiro. Conheci muitos desses bandidos no meu expediente como repórter policial lá em Nova York. Eles eram exatamente assim. Um reles criminoso em Manhattan, um beberrão em Clichy, uma prostituta em São Francisco, um viciado em heroína em Londres, eles existem e têm uma história. Também não é uma história bonita. Eles são, como escreveu Milton, tragados e perdidos no vasto útero da noite antes da criação. Não estou lidando aqui com reis beneficentes, princesas deslumbrantes ou príncipes charmosos que nasceram com castelos, joias e legados suculentos. Desde que meus personagens nasceram, suas vidas foram duras e injustas. Eles vão ter que aprender a lutar para sobreviver. Eles são anarquistas, viraram-se contra um sistema que eles consideram como tendo os traído. É por isso que eles acabam tomando a lei em suas próprias mãos. Tolly ainda dá um passo além, explorando o detestável sistema para conseguir a eliminação de seus inimigos. 119 A atitude anarquista de meu protagonista é influência de Jean Genet, o romancista e dramaturgo francês de meados do século XX, cujos escritos mostravam muita rebeldia contra a sociedade e suas convenções. Os livros e as peças de Genet estão cheios de renegados da sociedade, confrontados pela onipresença do crime, do sexo e da morte. Suas peças são contaminadas de crueldade. Para Genet, os conceitos morais são absurdos. Eu li pra cacete o material de Genet e senti familiaridade com seu universo rude. Eu também adorei a biografia que Jean-Paul Sartre escreveu sobre esse homem controverso, Saint Genet – Ator e Mártir (1952). Genet era o filho ilegítimo de uma prostituta, e foi pego roubando com dez anos de idade. Ainda no começo da adolescência, ele estava pagando uma série de penas por roubo e prostituição homossexual que abarcavam quase treze anos. Em 1947, em seguida à sua décima prisão por roubo, Genet foi sentenciado à prisão perpétua. Na prisão, ele começou a escrever e ser publicado. Sua crescente reputação literária levou um grupo de autores franceses de ponta a fazer uma petição pelo perdão a ele. O presidente da França concedeu o perdão em 1948. Olhe só, em meus argumentos, eu nunca julgo meus personagens. O papa prega a paz. O gângster prega a morte. Seus meios e jeitos, seus sermões fazem sentido para eles. Mas um escritor não torce para nenhum personagem. Ele observa. Ele narra. Ele descreve. É papel do público reagir. Meu chefe mafioso explica friamente a Tolly como a máfia sempre fica um passo adiante da lei. CONNORS (sorrindo): Sempre haverá gente como Driscoll. Sempre haverá gente como nós. Mas desde que nós não tenhamos qualquer tipo de registro em papel, enquanto nós gerirmos a National Projects com operações de negócios legítimas e pagarmos os impostos da renda adquirida com receita legítima e doarmos para a caridade e gerirmos bazares de igreja, vamos ganhar a guerra. Nós sempre ganhamos. É o público que tem que julgar esse sujeito, não o escritor. Um espectador pensa, “Cacete, que desgraçado esperto!” Outro pensa, “Meu Deus, ele é astuto como todos os líderes!” Outro ainda pensa, “Que homem horrível, que assassino a sangue-frio!” Os assassinos e mafiosos que eu conheci quando estava trabalhando como repórter só queriam uma coisa: sobreviver. A pena capital para esses criminosos têm como única finalidade a vingança, 120 uma emoção poderosa em todos nós, muito humana, muito difícil de transcender. Mesmo assim, acho que devemos evitar sucumbir à vingança. A pena de morte nunca dissuadiu ninguém de praticar assassinato. Sou contra ela apenas porque a considero um ato bárbaro. Ela nos torna indiretamente assassinos também. Diabo, eu entendo os bons argumentos para a pena capital, já que os assassinos e os estupradores são bárbaros também. Eles são liberados da cadeia e às vezes cometem crimes semelhantes. Nossa primeira reação a um crime selvagem é dizer: olho por olho, dente por dente. Mas, e todas as pessoas inocentes que foram executadas como retribuição a um crime do qual elas foram falsamente acusadas? A grandeza do sistema americano é que a Quinta Emenda garante proteção contra a compulsão humana à vingança rápida, com o devido processo da lei. Em A Lei dos Marginais, eu queria mostrar como os gângsteres não são mais brutamontes, mas executivos respeitáveis e pagadores de imposto. Há funcionários obstinados do governo tentando erradicar o crime pelos meios legítimos no filme. Meu comissário fala para sua equipe de jovens advogados, descrevendo o difícil caminho adiante. DRISCOLL O crime organizado hoje é muito mais intelectual do que foi alguns anos atrás, e muito mais complicado de criar processos, então nós, advogados, fomos indicados para encontrar algum jeito de processá-los... Nosso trabalho é acabar com a burocracia e surgir com um plano de batalha jurídico letal para acionar os sindicatos. Para conseguir a imagem austera e escura que eu precisava para o filme, eu contratei Hal Mohr como meu câmera. Hal tinha filmado por volta de dezoito filmes em sua longa carreira como câmera, na ativa desde os anos 20, com filmes que incluíam Cantor de Jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927), Shanghai Lady (Shanghai Lady, John S. Robertson, 1929), Capitão Blood (Captain Blood, Michael Curtiz, 1935) e O Selvagem (The Wild One, Laslo Benedek, 1953) . Pedi a meu amigo Harry Sukman que fizesse a trilha sonora. Novamente, Harry surgiu com a mistura exata de tensão, melodrama e violência. Selecionar o ator para filmar Tolly era a minha decisão mais importante. Eu tinha um bom número de estrelas promissoras prontas 121 para o papel. Cliff Robertson destacou-se. Cliff e eu nos demos bem desde o começo porque ele também tinha sido um repórter antes de virar ator. Ele nunca tinha sido um protagonista, mas ele me convenceu que podia ser Tolly. Minimizando sua aparência de galã, Cliff deu a Tolly um exterior tranquilo, pilotado internamente por uma alma torturada e sombria. Cliff acabou tendo uma baita duma carreira. Ele interpretou uma grande variedade de papéis, chegando a viver até John F. Kennedy em O Herói do PT-109 (PT 109, Leslie H. Martinson, 1963), e ganhou um Oscar por sua atuação em Os Dois Mundos de Charly (Charly, Ralph Nelson, 1968). Mas eu me arrisco a dizer que Cliff nunca teve outro papel que fosse tão perturbador quanto meu Tolly. De todas as muitas críticas e análises de A Lei dos Marginais que apareceram ao longo dos anos, uma permanece comigo. Ela chegou a mim através de fofoca hollywoodiana, uma observação que um gângster real aparentemente fez para seus colegas sobre a ofuscante obsessão de Tolly para vingar a morte de seu pai. “Ah, se o meu filho”, disse o chefe da máfia, “tivesse esse tipo de afeição por mim!” 122 123 Eric Sherman e Martin Rubin (1968) Entrevista Samuel Fuller 1 124 Eric Sherman e eu éramos dois universitários entusiastas, mas inexperientes quando entrevistamos Samuel Fuller em sua casa em Los Angeles em novembro de 1968. Sam e sua adorável esposa, Christa, nos convidaram gentilmente para um jantar primeiro. Depois de muito vinho e conversa, a entrevista só foi começar um pouco antes da meia-noite. Com frequência, Sam se referia a cada um de nós como “rapaz” e ele pareceu tirar um prazer insidioso ao nos oferecer charutos cubanos e uma vodca potente. Os copos eram logo preenchidos novamente assim que déssemos um simples gole, e então vinha o encorajamento para que bebêssemos. Eventualmente, um dos entrevistadores desmaiou, mas ele era incansável. “Qual é o problema, rapaz? Você está cansado? Eu não estou! Tem mais alguma pergunta?” Por volta das três da manhã, ele se apiedou de nós, e voltamos para completar a entrevista um ou dois dias depois. A personalidade de Sam tinha um campo de força tamanho que, por muitos dias após a entrevista, Eric e eu nos pegamos falando com inflexões Fullerescas e usando suas distintivas gírias (“tostão” para “dinheiro”, “bimbar” para “transar”, “lero-lero” para “besteira”). Mesmo para novatos como eu e Eric, ficou rapidamente claro que apenas uns poucos micromilímetros abaixo dos modos fulgurosamente implacáveis de Sam havia muita doçura e gentileza. Talvez tenha demorado um pouco mais para discernir que sua persona Runyonesque2 era uma fachada para um artista instruído e sensível, com dimensões que nunca tocaram seus filmes, escritos ou entrevistas (como o seu judaísmo, por exemplo). Acho que Eric e eu tivemos sorte ao ver Sam falar de forma tão direta e substancial sobre sua arte, com menos ênfase no interpretando-o-personagem-de-Sam-Fuller que domina outras entrevistas que li ou ouvi. Talvez isso tenha ocorrido por conta das horas avançadas, ou da vodca polonesa, ou ainda por ele ter sido generoso com dois rapazes imaturos de Yale. Eu Matei Jesse James P: Em Eu Matei Jesse James (I Shot Jesse James, 1949), o personagem de Robert Ford [John Ireland] aparenta ser um calhorda a princípio. Mas, com o avanço do filme, ele parece ficar mais afável. R: Não discorrerei muito sobre Robert Ford. Na verdade, eu gosto 1 Originalmente publicado em The Director’s Event: Interviews with Five American Film-Makers (Nova York: Atheneum Books, 1970). e republicado em Samuel Fuller: Interviews (Conversations with Filmmakers), organizado por Gerald Peary (Jackson: University Press of Mississippi, 2012). Tradução de Guilherme Semionato. (N.D.T.) 2 Referência aos escritos de Damon Runyon, autor e jornalista norte-americano conhecido por contos que celebraram o demi-monde nova-iorquino durante a vigência da Lei Seca. O adjetivo “Runyonesque” refere-se aos personagens e eventos pitorescos que povoam seus relatos. (N.T.) 125 dele porque ele fez algo que deveria ter sido feito bem mais cedo na vida de Jesse Woodson James. Jesse James foi um veado incompetente que fingiu ser uma moça para o Quantrill’s Raiders aos 15 anos. Agindo como uma prostituta, ele tentava os soldados para dentro de uma cabaninha chamada “A casa do amor”, onde eram roubados e mortos por aqueles desgraçados do bando dele. Aos 18, Jesse e seu irmão assaltaram um trem-hospital, onde roubaram todos os feridos e em seguida os mataram. Já que eu desprezo o sr. James (e daria meu olho direito para fazer um filme com a verdadeira história de Jesse James), eu sempre simpatizei com Robert Ford. Um dia, a verdadeira história de Jesse James será contada. E vai chocar as pessoas. Implacável! Cruel! Hoje temos fedelhos por aí que supostamente estão envolvidos com drogas e eles assaltam bancos e mulheres. Eles são fichinhas diante desses caras antigos. Eles matavam as pessoas no ato. P: No seu filme, quão bem você acha que Robert Ford entendeu seus próprios motivos ao matar Jesse? R: Ah, ele sabia que seria anistiado. Ele teve que escolher entre a liberdade, uns trocados, uma mulher e uma roça — e seu amigo [Jesse]. Sendo humano, Ford naturalmente decidiu que o cordeiro sacrificado seria seu amigo. Ah, ele entendeu isso muito bem. O que ele não entendeu, até o fim do filme, foi que ele andava num estupor. Eu tentei arranjar um homem hesitante, incerto, nem idiota, nem esperto e alerta. A última fala do filme é minha [versão da] história. Ford diz à menina: “Vou contar a você algo que não contei para ninguém. Sinto muito por ter matado Jesse. Eu o amava.” Eu queria aquele tipo de associação. Robert Lippert, o homem que financiou o filme, não pescou isso. Ele achou que era só um relacionamento meio Damão e Pítias, mas deixou assim mesmo. P: Em que medida você se apoiou no conhecimento popular para a cena em que Jesse James é baleado? Na sala de estar de Jesse no filme, o quadro na parede está torto. A plateia saberia a versão popular da morte de Jesse e reagiria a ela? R: Mesmo crianças, todos nós já vimos ilustrações de Jesse sendo alvejado enquanto ajustava um quadro na parede. Eu buscava a simplificação do que nós conhecemos, mas também que ela tivesse 126 uma perspectiva nova. Tentei captar a sensação da arma e daquela sala estranha ao entortar a câmera. Eu queria que a câmera entortasse levemente numa direção e o quadro em outra. De modo que, quando uma cancela a outra, temos a morte. Queria algo estranho no começo, mas que, quando acabasse, tudo voltasse a ser simples, numa linha, mortos ficam geralmente na horizontal. Eu adoro o oeste. Eu já li muito sobre o oeste e fico chocado, envergonhado, que não haja um filme que tenha contado a verdadeira história da conquista do oeste — constituindo 90% de estrangeiros, 100% de mão de obra, nada a ver com armas. Ruas, montanhas, estradas, pontes, riachos, florestas — é isso o que conquistar o oeste significa para mim. Dureza! Uma luta assombrosa, assombrosa. Mas [em vez disso] nós temos, como vocês sabem, caubóis e índios e tudo o mais. Shane chega à cidade, dá uma geral e vai embora. Ele faz isso toda semana agora na televisão. É por isso que eu não queria cavalgamento no filme. Depois que terminamos de rodá-lo, Lippert colocou algumas imagens de arquivo de pessoas cavalgando por aí. Eu não queria aquilo. Não estou interessado em histórias de cavalaria. Nem interessado em Jesse eu estou. Estou interessado em Ford, e em como deve ser difícil para um assassino matar alguém, especialmente uma pessoa que ele conhece. Como é difícil! Capacete de Aço R: Eu fiz Capacete de Aço (The Steel Helmet, 1951) em dez dias. Dez dias! Um set. Metade de um dia com toda a equipe no Griffith Park! Usei 25 universitários como figurantes. [Só] 25 homens! Não tínhamos dinheiro para mais nada. Eu os fiz parecerem umas 350 ou 400 pessoas. Às vezes, quando você não tem grana, você improvisa, e o resultado é melhor. P: A relação entre o sargento Zack e o menino em Capacete de Aço é similar ao relacionamento entre Price e Drew em O Barão Aventureiro. Zack não percebe o apego do menino a ele até o menino ser morto... R: Ah, sim! Entendo o que você quer dizer. O que quer que exista entre eles de emocional cresce neles. Sim, você está certo. Zack simboliza perfeitamente um sargento: não tem emoções. Ne127 nhuma! Porque se você tiver emoções, você não está na guerra. Não há tempo para emoções. A guerra vira um trabalho. Você acorda. Você trabalha um pouco. Talvez você saia em patrulha ou para a batalha. Sua luta é muito breve. Você descansa. Você caga. Você come. Então você sai e atira de novo. Você vai dormir. Então você acorda... Se você fizer isso por três anos, é só um trabalho. É uma máquina poderosa dentro de você. A única emoção que você tem é: “Quando vou sair daqui; quando alguém vai me substituir?” É a única emoção que se experimenta na guerra. Você fica ciente dos sons. Você fica ciente da observação. E você fica ciente da confiança num homem. Muito ciente. Se eu souber que vocês dois estão à minha direita, então tudo bem. Se eu estiver preocupado com vocês, estarei em apuros. Então eu pensei que seria uma cena muito eficiente se Zack estourasse, não apenas por causa do inimigo ou do tiroteio e tudo aquilo, mas por causa do garoto. Você nunca deve perder a cabeça com alguém que está do seu lado. O garoto estava do lado dele. Você entendeu o riscado; havia um amor crescente ali. Era uma história de amor. Quando Zack explodiu, matou um prisioneiro de guerra desarmado. Para mim, aquilo não deveria causar choque. Mas causou na imprensa. Um tremendo choque. Muitos editoriais. Tenho todos os jornais. Entrevistas enormes de página inteira perguntando: “você mataria este homem?” Veja, eu acho que é meio estúpido quando você está na guerra, não atirar só porque um homem colocou as mãos dele para cima. Cinco minutos atrás, ele estava atirando em você. A munição dele acaba e ele coloca as mãos para cima. O que quero dizer é que certamente não há lei. Se houver lei na guerra, então estamos completamente loucos. Do jeito que as coisas estão, só estamos 99% loucos. Mas se existir uma lei... Como pode haver uma lei para um ato ilegal? Então, eu não posso me preocupar com a morte de um prisioneiro. Não significa coisa alguma para mim. Absolutamente nada. Eu acho que a ideia de atirar num homem é mais importante. Eu não me importo se ele é um amigo ou um inimigo. Mas a ideia de que nós tenhamos leis, a Convenção de Genebra, regras e regulamentos serve para ocultar muitas coisas estúpidas. P: Por que você deu tanta ênfase ao monumento de Buda no filme? 128 R: Eu queria colocar sangue nas mãos do Buda, especificamente. Queria mostrar o sangue escorrendo de suas mãos para o comunista. Achei que seria muito tocante ter uma morte ali no colo do Deus dele, e instantes antes de o templo todo desaparecer. Mas Buda ainda permanece. O grande Buda, em Kamakura, no Japão, estava cercado por um enorme templo. Há centenas de anos, houve um terremoto. Tudo foi demolido, exceto este Buda... Ah! Você viu isso em Casa de Bambu (House of Bamboo, 1955). Aquele era o Buda de Kamakura. Eu conhecia a história daquele Buda e achei estranho o fato do monumento ter sido poupado, assim como as relíquias gregas que temos hoje. Não sei como diabos algumas colunas permanecem e outras não. Era essa peculiaridade que eu queria alcançar com a presença do Buda em Capacete de Aço. P: No fim do filme, após o grande ataque ao templo, os três sobreviventes são todos excluídos de alguma forma — o negro, o oriental e o sujeito careca. Isso adiciona uma nota um tanto derrotada à “vitória” sobre os norte-coreanos. R: Eu adicionei uma fala de propósito nessa cena que é estritamente coisa de milico. Não importa o que acontecer, quando a batalha chega ao fim, tem sempre alguém que vai dizer: “Estou com fome.” E tem sempre um camarada que está prestes a vomitar. Mas o tema de Capacete de Aço está no final. É o que eu queria mostrar: que aquele não é o fim. Guerras continuam e continuam. Não há fim para a história. Baionetas Caladas R: Em Baionetas Caladas (Fixed Bayonets, 1951) queria contar a história de um sujeito [Richart Basehart] que não consegue matar um soldado inimigo. No final, quando ele consegue — por puro desespero, pânico, frustração e falta de coordenação —, eles o elogiam, e ele aceita o louvor. É isso o que acontece nas guerras. Para mim, a emoção das guerras — e há uma emoção tremenda — está na morte. É nela que estou realmente interessado, porque é o único mistério. É por isso que eu sempre a dramatizo. Não acho que nada seja mais dramático em filmes do que a morte, mesmo que suponhamos ter sangue frio e ser levianos em 129 relação a ela. Não conheço outro assunto. [Na guerra,] eu raramente ouvi um moribundo fazer um discurso. O que geralmente se ouvia, quando um homem era alvejado perto de você, era: “Ah, não. Que droga. Ah, que droga. Ahhh, nããããão. Por favor. Por favor. Eu, não.” P: É isso que o soldado “mudo” de Capacete de Aço diz quando é morto. R: Ah, verdade! É isso que ele diz. É isso que se diz, e se diz mesmo. É egoísta. Todas as saídas são egoístas e pessoais. E é assim que deve ser. P: As cenas de batalha em Baionetas Caladas são impressionantes e bastante incomuns: cortes rápidos, enclausuradas, nada espetaculosas, muito realistas e assustadoras. R: Bastante íntimas, sim. Para começar, eu tinha uma tremenda máquina de gelo. O set foi construído, e eu ensaiei os atores e os dublês. Então estava preparado. Disse a todo mundo: “Só saiam do palco. Vão tomar um ar. Dar uma relaxada.” Depois disse: “Encham de gelo.” Aí a mangueira fez uma barulheira e o set todo era gelo puro. Então eu chamei os atores de volta. E qual foi a surpresa deles! Aqueles tombos eram reais, nada de atuação. Você não ficou meio em pânico? Eram reais. Eles escorregavam por todo lado. Eles sabiam que explosões estavam acontecendo por ali, e tinham que escapar de lá. Isso me faz lembrar de um incidente engraçado em Baionetas Caladas. Um de nossos dublês estava machucado. Nada sério, ele só torceu a perna. Mas eu descobri que quando dublês se ferem e deixam o filme seus pagamentos são interrompidos. Então tive uma ideia. Disse a meu assistente: “Use-o como um ferido.” Bom, no final daquela semana, eu tinha uma lista de feridos gigantesca! Qualquer um que se machucasse continuava no filme como ferido. Só que eram feridos de verdade! Se um camarada não conseguia andar no filme é porque ele realmente não conseguia andar. P: Eu gosto da cena no início do filme em que toda a tropa bate em retirada, e o pelotão da retaguarda fica para trás. Eles estão parados lá, congelados de frio, enquanto uma melodia abafada e 130 muito distorcida aparece na trilha. R: Eu queria uma combinação de “On the Banks of the Wabash” e “Taps”. Pensei que era uma melodia tocante para a cena. Estava muito ansioso para captar o efeito da retaguarda: o abandono. P: Nesta cena, quando as tropas batem em retirada, você passa pelos rostos dos homens na retaguarda. Quando eles cruzam o rio no final, suas caras passam todas pela câmera e eles parecem quase idênticos em relação ao início. A situação deles é a mesma. R: Você pegou a ideia de equilíbrio disso? Todos, exceto os que não sobreviveram. Anjo do Mal P: A cena de abertura de Anjo do Mal (Pickup on South Street, 1953) — quando Richard Widmark pega o caderninho da garota que contém a informação secreta — é encenada sem diálogos. Isso confere à ação bastante ambiguidade. É só muito depois que você descobre o que realmente aconteceu. Então, em vez de “comunistas versus mocinhos”, você está preocupado com assuntos pessoais desde o princípio. R: Você está certo sobre a ambiguidade. O final é assim também. Algumas pessoas pensaram: “Bom, acho que Widmark vai fugir com a menina e serão felizes.” Eu dei a ela uma fala no final para mostrar que eles nunca vão mudar. O policial diz: “Não importa o que aconteça, eu vou encontrar esse filho da mãe em uma ou duas semanas com a mão no bolso de alguém.” Ela diz: “Quer apostar?” O modo como ela disse isso serviu para que a plateia sentisse que ele eventualmente vai voltar a roubar, e ela vai voltar a fazer o que quer que estivesse fazendo antes. É isso que eu curti à beça no filme: a ideia de ter um ladrão, um informante da polícia e uma prostituta incompetente como os três personagens principais. O filme foi rodado entre 18 e 20 dias na Fox. Um filme grande para mim. A coisa toda foi filmada no centro de Los Angeles, e eu usei vários truques para fazê-lo parecer Nova York. P: Ainda que você tenha estabelecido a cidade de forma indelével no filme, você parece mais interessado nos indivíduos do que nas estruturas, políticas ou não, que os envolvem. 131 R: É por isso que eu minimizei a situação política em Anjo do Mal. Não estava interessado na estrutura. Eu poderia ter uma grande cena com cinquenta ou sessenta figurantes. Eles estão todos reunidos, e o cabeça diz: “Isso é terrível. E quanto ao partido [comunista]?” Você nunca escuta a palavra “partido” no meu filme. Você nunca é avisado de que o homem do FBI em, Anjo do Mal, é do FBI. Ele é só do governo. Eu não queria especificar isso. Logo antes de eu filmar, [Klaus] Fuchs, o espião britânico, foi preso por vender informações à Rússia. O homem do governo no filme diz a Widmark: “Você sabe do Fuchs. Você sabe o que ele fez.” Widmark diz: “Eu não sei do que você está falando. Eu não me importo.” personagens favoritos, Lightnin’ Louie. R: Lightnin’ Louie foi interpretado por Victor Perry, um mágico expert em carteado de Chicago. Foi seu primeiro e último filme. Eu o encontrei por acaso. Perguntei a ele: “Você tem habilidade com as mãos?” Ele disse: “Se eu tenho habilidade? Veja minha performance.” Eu disse: “O que eu queria no meu filme é um homem tão indiferente às pessoas que ele despreza inclusive as pessoas para quem vende informação — especialmente se elas o incomodarem enquanto ele come. É por isso que eu quero um homem como você, com um barrigão. Agora eu quero ver você pegar uma grana com os pauzinhos e continuar a comer com eles.” Você gostou desse toque? Foi exatamente por isso que eu o usei. P: Este parece ser seu filme mais marcado pelo close-up. Até mesmo os close-ups viravam supercloses. R: Ah, sim. Você notou isso? Eu gosto de fazer isso às vezes. Eu Matei Jesse James também foi filmado com muitos close-ups porque não estou interessado no banco ou nas pessoas do banco. Estou interessado no funcionário que será morto e no homem que vai atirar nele. É a mesma coisa em Anjo do Mal. Agora que penso nisso, havia poucos figurantes no filme, poucas pessoas por ali. Casa de Bambu P: Eu gostei do modo que você moveu a câmera principalmente. R: Se sua câmera está movendo, e sua ação também prossegue — rapaz, ação é o que você tem. Se há ação e sua câmera está imóvel, não funciona tão bem. É melhor também não acompanhar a ação apenas. Novamente, é o seu olho. Eu quero ir além dele. Então você tem dois pares de olhos: a câmera está se movendo e seus próprios olhos também. P: Logo antes da cena da morte de Thelma Ritter, há uma tomada em que ela vende suas gravatas, à noite, numa área de construção. Aquela cena me deu uma sensação infernal de submundo. Era isso que você queria? R: Ah, não. Eu queria algo que está nascendo logo antes de alguém morrer. Eu queria algo vivo. Eu queria uma daquelas máquinas incríveis, fogo, luzes e vida. Vivo! Ruidoso! Porque logo vai estar muito quieto — para ela. P: Só mais um detalhe: queria perguntar a você sobre um dos meus 132 R: Casa de Bambu foi o primeiro filme norte-americano que fiz no Japão, e marcou a primeira vez que realmente usei locações. P: A sequência anterior aos créditos — o assalto ao trem e o assassinato à sombra do Monte Fujiyama — foi muito impressionante. R: Eu não queria mostrar o Monte Fuji como você sempre o vê, com as cerejeiras em flor. Eu queria branco contra branco contra branco. No primeiro plano, eu queria aquele trem preto. Eu queria um quê sombrio, austero. Então, enquanto nos afastávamos da morte, do assassinato do soldado, você via uma mulher correndo. Os créditos entravam, e a gente começava a ganhar a riqueza da cor aos poucos. Quando ela reporta o crime à polícia, estávamos em cores. Isso me excitou. P: Como Capacete de Aço, Casa de Bambu é essencialmente uma história de amor entre dois homens, Robert Stack e Robert Ryan. R: Certamente. O melhor exemplo disso foi uma fala que dei a Ryan. Ela aparece logo depois do primeiro roubo. Ryan está tentando entender por que, no caso de Stack, ele quebrou a regra da gangue de matar homens feridos para que eles não falem com a polícia. Primeiro, ele diz a Stack: “Não sei por que salvei seu pescoço.” Então ele se vira para os outros homens e diz: “Alguém poderia me dizer por que eu fiz isso, por favor?” Esta é a grande fala, a que os estabelece de modo firme. Eu 133 queria que ela deixasse as pessoas um pouco nervosas, porque é geralmente algo que um homem diz sobre uma mulher: “Por que eu me casei com ela? O que estou fazendo com ela? Por que saí com ela? Alguém poderia me dizer por que fiz isso, por favor?” Ryan enunciando essa fala foi o máximo que consegui chegar a esse respeito. P: O modo com que julgamos ambos os personagens é típico dos seus filmes. Nos níveis estrutural e institucional, Stack é um policial disposto a pôr fim numa onda de crimes, e devemos nos simpatizar com ele. Mas na esfera mais pessoal — a história de amor entre dois homens —, Ryan desperta mais compaixão. R: Eu disse a Ryan para nunca dizer “meu pai”, e sim “papai”. De cara, você tem que gostar de qualquer sujeito que diz “papai”, porque ele gosta do pai dele. Quando Stack fala sobre sua família, foi chato. Afinal, ele é só um policial. Um policial da Califórnia. Não significa nada. P: O modo como Ryan dirigia seu sindicato do crime era fascinante. Um assalto era conduzido como uma manobra militar, com mapas de batalha, instruções, reconhecimento, fotografias. R: Depois da guerra, tentei vender à MGM uma história sobre um grupo de homens que pertenciam ao mesmo pelotão e que, quando a guerra acaba, formam uma quadrilha. Eles tomam o Forte Knox usando a mesma manobra militar com que destruíram uma fortificação na praia de Omaha. O estúdio não gostou da ideia. Então, quando me pediram para fazer Casa de Bambu, pensei em usar isso. Renegando o Meu Sangue R: Eu queria que Rod Steiger fizesse o protagonista porque ele não parecia um típico herói norte-americano. Ele era gorducho. Pensei que ele fosse parecer desajeitado em cima de um cavalo, e foi o que aconteceu. Ele era perfeito para aquele papel; era um desajustado. O personagem de Steiger se tornou um fanático religioso no que se refere ao ódio. Ele agia da mesma forma que perdedores agem na guerra, nesse caso, os confederados. P: Você frequentemente usa objetos de cena como algo além de um 134 símbolo ou motivo, quase como um personagem, como o capacete de Capacete de Aço e o projétil em Renegando o Meu Sangue (Run of the Arrow, 1957). R: Sim. Meu título original para o filme foi O Último Projétil (The Last Bullet). Foi isso que me fez começar a pensar em toda a história: o que aconteceu com o último cartucho disparado na guerra civil? Achei que era um bom título, mas ficaria parecendo um faroeste. P: Neste filme e em Dragões da Violência (Forty Guns, 1957) você usou várias fusões muito lentas. Por quê? R: Para contribuir com o clima. Eu tentei cronometrar cada uma daquelas fusões para fazer com que parecessem música, uma melodia bonita, e eu tinha o inferno acontecendo logo antes ou logo depois delas. Não conseguiria outro contraste a não ser que usasse uma cena extensa amparada em diálogos e eu não queria isso. P: Por que você se concentrou em pés em vez de em rostos na cena da corrida da flecha? R: Eu filmei essa cena sem meu protagonista. Steiger havia torcido o tornozelo logo antes de sua filmagem, e foi levado ao hospital. Usei um índio jovem em seu lugar. Ninguém notou. Eles acharam que eu estava sendo supercriativo, muito artístico: “Imagine só! Quase um garoto maravilha, um gênio! Sensacional! O modo como ele filmou a cena mostrando apenas os pés!” Bom, de qualquer forma, eu teria filmado cerca de 80% dessa sequência apenas com pés, porque está aí toda a ideia da corrida. Mas ocasionalmente eu teria elevado a câmera e mostrado o rosto de Steiger, assim como fiz com [Jay C.] Flippen. Mas não podia, porque ele estava no hospital. Joe Biroc, o operador de câmera, foi excelente nesta cena. Há duas tomadas com dois pequenos pontos à distância; é o índio correndo atrás de Steiger. Não sei como Biroc captou isso, mas foi exatamente aquilo que eu queria: você precisa olhar por um tempo antes de conseguir notá-los, porque ao redor as cores são muito vívidas, e aí você vê um pontinho perseguindo outro. 135 No Umbral da China P: Eu gosto da cena em que Angie Dickinson deixa [Lee] Van Cleef e explode o depósito de munições, o que ocasiona a morte dela. É feito tão rápido. Ela nunca para e pensa: “O que eu estou fazendo?” Ela simplesmente faz, porque precisa. Decisões como essas são encontradas com frequência em seus filmes — por exemplo, em A Lei dos Marginais (Underworld U.S.A, 1961), quando Tolly Devlin mata Boss Connors, e em O Beijo Amargo (The Naked Kiss, 1964), quando Kelly mata Grant. R: Se há algo conectado à morte, deve ser rápido, a não ser que você tenha uma boa razão dramática para prolongar. Por exemplo, em A Lei dos Marginais, quando [Cliff] Robertson vai matar Paul Dubov. Eu não me importei em prolongar ali, porque para início de conversa ele vai manipular a morte deste homem; depois, ele vai torturá-lo; e, por último, não será ele que o matará. Mas se Robertson fosse ele mesmo cometer o ato, eu o teria colocado atirando na cabeça de Dubov assim que entrasse pela porta. É bastante difícil para mim aceitar muito lero-lero antes de um tiroteio. Em vez disso, eu quero impacto. Quando disse a Angie para correr por aquela caverna, eu concebi tudo aquilo como algo que duraria cinco segundos ou menos, desde o início da corrida até a explosão. Não apenas porque o tempo é importante, mas porque se ela andasse entraríamos numa categoria perigosa: agora ela vai refletir a respeito. Ela estaria hesitante e ela não deveria estar hesitante. É como um suicídio. Se você vai se matar, se mate. Não chame a polícia, sua mãe, seu pai e seu tio. Mas você mencionou algo que me é muito específico: a rapidez. Essa cena não chocou você um pouco? Dragões da Violência 3 Título original do filme. Literalmente: Quarenta armas. (N.D.T.) 136 R: Eu não gosto do título Forty Guns3; é insignificante para mim. Eu ia chamá-lo de Mulher com um chicote (Woman with a Whip). Originalmente, Marilyn Monroe queria interpretar a protagonista. Ela gostou da ideia de uma menina cercada por tantos homens. Achei que ela era nova demais para o que eu queria. Queria algo meio mãe-irmã ali. Os dublês se recusaram a fazer a cena em que a personagem de Stanwyck é arrastada por um cavalo. Eles acharam que era perigoso demais. Mas Stanwyck disse que faria ela mesma, e fez. Fizemos pela primeira vez, e eu disse: “Não gostei. Foi longe demais da câmera. Não está saindo como eu quero.” Então tentamos novamente, e eu também não gostei. Ela não reclamou. Tentamos uma terceira vez, e foi exatamente como queria. Ela se machucou um tanto. P: Há um vigoroso senso de morte no filme, conectado especificamente a atos sexuais. O exemplo mais notável disso é a cena do casamento, em que o noivo é baleado e cai morto em cima da noiva. R: Eu gostei da ideia de uma cama de lua de mel ser um túmulo. Ele estava morto na única vez em que conseguiu tocá-la. Pensei até em contrastar essa cena um pouco, no que tange seu aspecto sexual, com outra em que a filha do armeiro tenta conseguir de [Gene] Barry uma arma. Eu achei que poderia me divertir um pouco com sexo, porque as conotações estavam todas lá. Tinha uma tomada em que ele olha para a garota pelo cano de uma arma, e, enquanto ela caminha, ele a acompanha, assim como a câmera. Quando estive em Paris, Godard me disse que usou essa tomada em Acossado, exceto que, em vez de um rifle, [Jean-Paul] Belmondo enrola um jornal e segue [Jean] Seberg quando ela anda pelo quarto dele. Não pude usar meu desfecho original. Pediram para que eu o mudasse, e o mudei. O final original era poderoso. Tinha [Barry] Sullivan encarando o assassino, o irmão caçula de Stanwyck. Nele, o irmão pega Stanwyck e a segura à sua frente. Ele sabia que tinha atingido o ponto fraco de Sullivan. Eu o fiz desafiar Sullivan. E Sullivan mata Stanwyck. Então ele mata o sujeito e some. Era o fim do filme. Eu precisei adicionar aquela fala em que Sullivan diz que posicionou a arma de forma tal a não matar Stanwyck. Ela está viva no final, e eles estão felizes. Não gostei daquele final. Muitas pessoas gostaram, porque elas gostam de ver o rapaz e a moça juntos. Eu não acho isso importante. Acho que é muito mais dramático da outra forma, porque Sullivan precisa explodir. É por isso que ele não usava uma arma havia dez anos. Mas, assim que 137 ele aperta o gatilho, ele é um homem diferente. Ele é um carrasco e mata tudo o que aparecer à sua frente. É um final pesado. Já vi muitos filmes, Matar ou Morrer (High Noon, Fred Zinnemann, 1952) e outros, em que o vilão pega a moça e a coloca à sua frente, o que põe o herói numa situação bem constrangedora. Sempre, no último minuto, ela o empurra e o herói o mata. Não gosto disso em nenhum faroeste. Não faz sentido. Proibido! P: Proibido! (Verboten!, 1959) parece ser seu filme mais caótico. Todas as cenas foram feitas num estilo diferente. Por exemplo, cenas documentais se alternaram a outras filmadas num set de rua, e montagens rápidas se mesclaram a longas tomadas. O que uniu essas cenas foi que quase a totalidade delas lidava com uma forma de histeria. R: Fico feliz que você tenha comentado isso. Eu usei esse contraste durante as filmagens para ajudar a manter o caos, porque eu sou muito sensível a respeito do tema da Alemanha do pós-guerra. Eu tinha um final bom, mas fui forçado a mudá-lo. O soldado norte-americano era alvejado no final. Ele era morto por um policial militar, outro soldado norte-americano, que viu esse camarada andando perto da fogueira e atirou nele porque estava vestido como um civil. O outro soldado aparece e diz: “Quem é?” Depois, vira o corpo com seu pé e diz: “Ah, caramba, outro chucrute.” Não que eu queira que todo herói morra. Nesse caso, achei que seria mais impactante. Sou muito próximo do tema de Proibido!. Durante a guerra, discutíamos muito sobre se havia diferença entre um alemão e um nazista. Com a exceção de uma experiência que tive, não encontrei um alemão sequer, do dia que invadimos a Alemanha, ao final da guerra, na Tchecoslováquia, que disse ser nazista. A única exceção foi uma menina de 15 ou 16 anos numa cidadezinha nas redondezas de Aachen. Estava em patrulha junto com vários homens, e pedimos água a ela. Ela nos disse para sumirmos dali. A gente até tentou impressioná-la dizendo que atrás da gente havia a primeira divisão de infantaria, com 12 mil homens. Mas ela nem ligou. Foi a única alemã que eu encontrei que disse ser nazista e nos mandou para o inferno. Não vou me esquecer disso. Todo 138 mundo disse: “Não sei o que está acontecendo.” Assim como o sulista de Renegando o Meu Sangue. Sabe, é sempre o outro. Era algo delicado para mim. Eu filmei muito durante a guerra. Não apenas as coisas boas. Coisas ótimas. Coisas minhas. Coisas que você não vê nos filmes oficiais do exército. A última batalha da Segunda Guerra Mundial foi em Falkenau, na Tchecoslováquia. A cidade era próxima de um campo de concentração. Era um campo para soldados russos, mas muitos norte-americanos estavam nele. Eles morriam de tuberculose. As plaquetas de identificação foram removidas, então não dava para saber quem era norte-americano e quem não era. O comandante da companhia [norte-americana] foi para a cidade de Falkenau com um grupo de homens. Ele parou pessoas na rua e perguntou: “E quanto ao campo? Como eles os tratavam?” Eles disseram: “Não sabemos nada sobre o campo.” Ele disse: “Dê uma pá a eles.” Ele pegou um grupo de pessoas — alemãs — e marchou com elas em direção ao campo. Ele as obrigou a pegar os mortos, enfileirá-los, vesti-los, colocá-los em carrinhos e levá-los à cidade onde os enterrariam. Eu tenho tudo isso em filme [de 16mm]. Dureza! Registrei coisas como eles jogando terra num túmulo, o rosto do cadáver descoberto. Esses jovens hitleristas tinham que descer, cobrir o rosto com um lenço, e prosseguir o enterro. Bem pesado! Os mortos eram trazidos em carrinhos para a cidade, e um menino bem jovem corre com um rifle de brinquedo. Ele não sabe que um funeral está ocorrendo. Ele faz bang-bang-bang em direção aos corpos com seu rifle. Tenho tudo isso em filme. P: Você achou as pessoas que você encontrou na Alemanha do pósguerra ideológicas? R: Não havia política. Frustração, fome, derrota e jovens selvagens, bem selvagens. A Alemanha era assim naquela época. P: Por que você usou tanto Wagner e Beethoven na trilha? R: Para mim, Beethoven e Wagner são política, espiritual e musicalmente incompatíveis. É por isso que eu fiquei muito excitado em usá-los. O surgimento de Hitler foi contado por Wagner. [Fuller murmura Wagner, e progressivamente sobe a voz]. Foi assim que Hitler fez. Ele começou com um homem, depois eram dois, [ de139 pois três etc.]. É por isso que eu usei muito a música. Além disso, foi ótima para o final. Minha nossa! Wagner, o fogo, os rapazes loiros e os cavalos. Meu Deus, impossível não dar certo. P: As forças destrutivas no filme parecem perder o controle. R: Sim. Eu tentei expressar isso numa cena especialmente, em que um neonazista diz ao jovem líder alemão: “Não podemos explodir esses caminhões porque eles estão carregando remédios para as pessoas. Nós vamos lutar contra esses americanos malditos, e nós vamos mentir, trapacear, roubar e matar. Faremos tudo, mas as pessoas precisam dos remédios.” O líder diz: “Que se danem.” O outro diz: “Mas são alemães!” E o líder diz: “que se danem!” É por isso que, em Proibido!, eu queria captar essa sensação de... você usou a palavra caos, que é boa. Eu queria captar a sensação de fúria e perversidade animais. O Quimono Escarlate R: Uma das mais antigas expressões para se referir a sexo é: “Vamos mudar a nossa sorte.” Isso significa: “Vamos lá pegar uma mulher de cor.” Achei que daria um efeito legal inverter isso, para que, quando a moça branca tivesse se apaixonado pelo camarada japonês, ele dissesse: “Espere aí. Eu quero ter certeza de que você realmente me ama. Algo me diz que, assim como os brancos ‘mudam a sua sorte’ com negros, você está se divertindo ao saber como é transar com um oriental.” Não sei por quê, mas deixei essa fala. Não sei se [agora] dá para entender essa ideia. Um dia eu consigo. Certa vez até planejei usar essa fala em Renegando o Meu Sangue. Eu queria que aquela índia pensasse: “Como será que é transar com um branco?” Enfim, essa ideia originou O Quimono Escarlate (The Crimson Kimono, 1959). Há um quê experimental nesse filme. A coisa toda foi filmada no centro [de Los Angeles], no bairro japonês. Já que eu estava filmando muita coisa à noite nas ruas com câmeras escondidas, precisei usar um filme de alta sensibilidade. Não podia usar iluminação. A cena inicial foi a mais difícil que já filmei, e olha que eu já rodei cenas com mil homens em Mortos que Caminham (Merrill’s Marauders, 1962). Eu escondi três câmeras, uma num telhado, outra num caminhão, outra num carro. Quan140 do a garota caiu, depois do tiro, ela o fez no meio de uma rua de muito tráfego. Não encenamos aquilo. Era tráfego de verdade. Se um idiota tivesse saído com um carro, ela seria atingida. A cena mais perigosa que já filmei. P: Eu gosto dos contrastes no final. O assassino é alvejado na rua, enquanto todas as pessoas ao redor estão vestidas com esmero, usando adereços que tilintam. R: Há outra cena em que usei música para estabelecer um contraste. Várias bandas participam daquela celebração no final. Uma toca música clássica, outra música japonesa, outra músicas de sucesso. Sempre que eu cortava do assassino para seu perseguidor, a música mudava. Isso me deu a nota destoante e caótica que eu queria. Eu achei que o final do filme foi muito honesto. Eu detesto fracassados, mentirosos e falsos. Detesto cenas, e eu já vi milhares delas, em que um cara perde a moça para outro sujeito e diz: “Bom, nós continuaremos amigos. Não se preocupe.” Não! Não no meu filme. Ele se lixava se o cara era japa ou branco. Ele estava irado porque o cara roubou a garota dele. E continuou irado. A Lei dos Marginais R: Eu pensei em fazer [O Conde de] Monte Cristo, fazer algo do Dumas. Com uma exceção: em vez de se vingar dos rapazes pessoalmente, ele [Cliff Robertson] usaria a lei para matar as pessoas de que não gosta. Achei que era uma abordagem bem boa para a história. P: O tema da purificação está presente no filme inteiro. Começa com Tolly Devlin [Cliff Robertson] esterilizando instrumentos no hospital penitenciário e termina quando, ao morrer, ele tropeça numa lata de lixo que diz: “Mantenha sua cidade limpa.” R: Novamente, eu queria um contraste. Além da esterilização dos utensílios, disse a Robertson para colocar as ataduras bem gentilmente, bem precisamente no homem, tal qual um cirurgião. Eu queria atingir esse efeito: ele é asseado em relação às ataduras, mesmo que esteja enganando o homem que as recebe. Também tentei tirar um contraste sempre que podia entre o asseio do líder da National Projects e a discussão que ele conduz sobre drogas, prostituição e assassinatos. É por isso que eu esco141 lhi a locação na piscina. Eu queria aquela atmosfera vazia, limpa que se tem ao redor de uma piscina. É uma pena que não dá para cheirar nos filmes, porque há um odor antisséptico numa piscina, como numa academia. Pensei que a coisa mais limpa do mundo é uma piscina. Então eu coloquei a tal organização criminosa se reunindo lá, em vez de num escritório pomposo, ou numa sinuca ou num desses lugares sombrios onde gângsteres se reúnem geralmente. Eu queria alcançar um contraste em relação ao que eles falam, que é tão sórdido e baixo. P: Você retratou a National Projects, a organização de fachada de A Lei dos Marginais, como uma típica empresa, com calculadoras, contadores e tudo o mais. R: Tudo é feito mecanicamente, quase como robôs, como computadores. Eu não duvido que o crime hoje seja controlado por computadores. Se eu fosse fazer esse filme hoje, mostraria apenas vinte máquinas, mais nada. Sem pessoas, só todas as máquinas. Eu queria passar a ideia de mecanização com o filme. P: Parece que crime foi definido em A Lei dos Marginais como ausência de emoção. R: Sim. E também como uma fachada de cidadania participativa. Não se esqueça de que Boss Connors [Robert Emhardt] disse: “Tudo o que precisamos fazer é pagar um pouco de impostos, ir à igreja, mandar algumas crianças para a escola, arranjar uns projetos beneficentes. Vamos vencer. Sempre vencemos. Sempre venceremos.” P: A frieza da organização se reflete particularmente bem em Gus, o personagem de Richard Rust, o assassino de aluguel. Ele mata sem qualquer comprometimento, de modo quase casual. R: Pois aí está um personagem honesto. Ele não é um psicopata; não há insanidade alguma nele. Ele só tem um emprego. Ele certamente não está interessado em matar aquele menino. Não há vingança naquilo. Não há qualquer emoção nele. É isso o que acaba por aterrorizar Robertson — o modo como Rust diz: “Temos que matar essa garota. Se você fizer um bom trabalho, vai cair nas graças do chefão.” Sua única emoção reside no fato de que aquilo vai aproximá-lo do chefão. Matar a garota não significa nada. Não queria que Rust fizesse algo que desviasse do persona142 gem do assassino de aluguel, exceto por uma coisa. Disse a ele: “Quando você estiver se preparando para matar alguém, coloque seus óculos escuros. Daí nunca saberemos se você quer ver algo ou não, ou se você sente ou não alguma coisa.” Perceba, eu queria me afastar da emoção. Não queria um personagem como nos velhos filmes de gângsteres: ele gosta de sua mãe, sustenta o irmão, tem um cachorrinho, alimenta seu peixinho dourado. P: Tolly Devlin [Robertson] é o único no filme que age por razões pessoais. Ele não foi motivado por uma matéria de jornal; ele realmente presenciou o assassinato de seu pai. R: Eu usei a mesma coisa em Anjo do Mal. Esta é a natureza humana: [Richard] Widmark não se importava com nada. Nadinha! Mas quando ele descobriu que alguém apanhou por ele, que alguém que ele conhecia foi agredido, ele disse: “Então é isso. Chega!” e foi logo atrás dos inimigos. É um tema de que eu gosto num filme. Nunca gostei de um homem que faz coisas heroicas por motivos falsos ou chauvinistas, que não seja por uma necessidade emocional, pessoal. Se uma manchete de jornal diz: “grande herói salva 12 mil pessoas de serem bombardeadas num estádio”, nós sabemos que ele não salvou 12 mil pessoas. Ele salvou uma. É isso que eu estou tentando mostrar. Mortos que Caminham P: O tema do lutador é transferido para o seu próximo filme, Mortos que Caminham. É resumido quando Merrill [Jeff Chandler] diz: “Contanto que você consiga dar mais um passo, você pode lutar.” R: Isso é só 50%. Eu queria ir além disso. Queria mostrar que, quando ele diz: “Você faz o que eu faço”, isso significa: “Quando eu morrer, você morre.” Isso é o principal que eu queria mostrar. Filmamos tudo em locação. Quando filmávamos nessa cidadezinha nas Filipinas, eu notei um menino que sempre me seguia. Então eu disse a Claude Akins, um dos meus atores: “Eu tive uma ideia.” Esta cena foi improvisada, e ficou muito boa. Os Marauders chegam à cidade. Eles estão descansando, estão exaustos, estão famintos, mas estão muito cansados para comer. O menino aparece e olha para a barba de Akins. Quando ele começa a coçar 143 a barba, isso me deu outra ideia: alimentá-los. Então uma senhora chega e oferece arroz ao soldado norte-americano, que, como você sabe, é o soldado mais bem alimentado do mundo. Quando Akins [sargento Kolowicz] percebe a idiotia e a estupidez, a ironia e a vergonha, de que ele, um homem grande, corpulento e bem alimentado, estava recebendo comida de uma velhinha magricela, ele começa a chorar. Isso, para mim, é mais importante que qualquer outra coisa no filme. P: O filme terminou de modo estranho, antes que fosse resolvido. R: O final foi um fracasso. O filme ia terminar originalmente com o aeroporto sendo tomado. Seria um desfecho com muita ação. Eles decidiram não filmá-lo por duas razões, as duas envolvendo dinheiro. Então eu disse: “Tudo bem. Tudo o que me resta é terminar o filme no momento em que eles andam e dar um fade out.” Alguém se adiantou e colocou não apenas uma narração ali, mas também imagens de arquivo de soldados marchando. Bem, isso foi coisa deles. Paixões que Alucinam R: Não sei há quantos anos queria fazer um filme expondo as condições em manicômios nos Estados Unidos. Então eu decidi que o faria como ficção, em vez de um documentário denunciando a situação. Disse: “Que se dane. Consigo dar uma de Nellie Bly!” Nellie Bly, como você sabe, fingiu ser uma maluca por um tempo no hospício da Wards Island muitos anos atrás. Então pensei em dramatizar a história de um homem que vai para um manicômio a fim de resolver um caso de assassinato e acaba louco. Fico feliz que não tenha feito o filme assim que pensei na ideia. Mesmo que a história tivesse sido a mesma, não seria tão atual: a combinação Oppenheimer-Einstein-Teller, a tremenda situação que envolve [James] Meredith, e os vira-casacas da Coreia. Então coloquei tudo isso junto e modernizei, o resultado foi Paixões que Alucinam (Shock Corridor, 1963). Gostei de ter feito esse filme. Gostei da ideia de usar cor antes de um homem ficar lúcido. Quando ele está em desvario e pensando em alguma coisa, assim que vemos a cor, sabemos que 144 logo depois ele voltará a ser racional por alguns instantes. Então cada pessoa tinha suas próprias visões. Para o soldado sulista, eu usei muita coisa que filmei com minha própria câmera no Japão, quando pesquisei locações para Casa de Bambu. Foi o que usei para o pesadelo dele. Eu tenho uns oito mil pés de filme rodados em Mato Grosso. Fui lá uma vez para achar locações, e vivi com a tribo dos Carajás por seis ou sete semanas. Usei isso para o pesadelo do negro. No pesadelo de Peter Breck no final, a cachoeira faz parte das Cataratas do Iguaçu, em Mato Grosso. Filmei tudo isso em Cinemascope e em 16mm. Não tinha nada em 35mm, daí tive que fazer a ampliação de negativo de 16mm para 35mm. E lá estavam elas, dando um efeito maluco sem qualquer esforço meu. P: Há alguma razão para que o dr. Boden [Gene Barry] não tenha um pesadelo visual, e sim um auditivo? R: Ah, foi intencional. Não sei bem por quê, mas quando penso em laboratórios, Oppenheimer e tal, me dá alguma coisa. Vejo edifícios e grandes cômodos, câmaras vazias, buracos minúsculos, e vozes saindo deles. Tipo “Dr. Fulano, você poderia comparecer a tal lugar.” Não vejo telefones. Apenas interfones. Uma coisa estranha, grande, meio ficção científica — era isso que eu queria. Também queria algo que afastasse Boden dos outros: vozes e, mais importante, a frieza delas. P: O grande tour de force é claramente a cena da tempestade com raios e trovões no corredor. Você poderia falar mais sobre como a filmou? R: Claro! Eu achei que seria original mostrar uma tempestade como se ela estivesse acontecendo bem ali naquele lugar. Eu precisei de muita água. Você deve entender que aquilo era uma situação perigosa, porque não havia lugar para que a água escoasse naquele palco sonoro em particular. Você tem que ter um tanque subterrâneo para a drenagem. Do contrário, você pode destruir muitos equipamentos. Não tínhamos nada disso, mas fizemos mesmo assim, porque sabia que seria o último dia de filmagem. Eu precisava de que desse certo na primeira tomada. Para me assegurar disso, eu tinha uma câmera normal no [Peter] Breck e uma segunda posicionada acima dela, inclinada para baixo e filmando em 145 close-up. Não queria ter que parar; não havia tempo. Então estava tudo preparado para mim. A porta estava aberta, e meu carro estava ligado. Acabei saindo bem rápido, porque sou um covarde. Não queria estar por perto quando o gerente de estúdio entrasse e começasse a fazer perguntas. Quando Breck gritou, esperei uns vinte segundos. Queria o maior grito que conseguisse. Depois, disse “Deixa pra lá” e saí correndo. Nunca retornei — ao estúdio e ao set. P: Como você avalia o personagem do dr. Cristo [John Matthews]? Você o acha compassivo ou memorável? R: Não acho. Para mim, o dr. Cristo é um símbolo de todas as autoridades num hospital. Eu o dramatizei para que ele se mostrasse compreensivo até o ponto em que ele fica levemente desconfiado. P: Cristo diz: “Não dá para interferir na mente”, sugerindo que esta é a razão pela qual o repórter ficou louco. Mas me pergunto se você estava tentando dizer mais do que isso, que todos têm essa insanidade dentro de si. R: Claro. Eu deveria ter enfatizado mais isso no filme. Deveria ter deixado mais claro que, para o repórter querer fazer isso, voluntariar-se como interno num hospício, ele já tinha que ser um pouco louco antes de mais nada. Todos nós temos uma inclinação natural para gritar, ou dar ataques ou quebrar coisas. Mesmo que você não ache que isso seja uma forma de insanidade, eu acho. Tenho certeza de que, junto com a morte, a insanidade é um dos temas mais interessantes. Digo, ela me intriga. O Beijo Amargo P: Eu acho que, em muitas maneiras, O Beijo Amargo é mais “chocante” do que Paixões que Alucinam. R: É, sim. P: Na verdade, eu diria que é o filme mais chocante que você fez. Parece que você se esforçou muito para obter uma reação da plateia, especialmente quando você puxa o tapete de tudo na cena do abuso infantil. 146 R: Eu queria trazer algo diferente à tona, mas não sei se fui bem-sucedido, porque não tínhamos muito dinheiro, cacete. Eu tinha uma cena em que Constance Towers [Kelly] confronta os moradores da cidade depois que eles descobrem que ela é inocente. Inicialmente eles estavam prontos para linchá-la, agora eles queriam vindicação. Ela os manda para o inferno. Não filmei essa cena, não tinha dinheiro. Ela os chama de hipócritas, o que é compreensível. Mas o mais importante é que ela percebe como ela era feliz em sua profissão [prostituição]. Ela diz, com efeito: “Como é emocionante quando você termina de se deitar com esses cretinos, eles te pagam e você vai embora. Você não tem mais que escutá-los, suas histórias e suas mentiras, como eu tenho que escutar as mentiras de vocês todos os dias.” Eu achei que seria bem eficiente se a garota matasse um santo, e ninguém acreditasse que o santo é, na verdade, culpado de um crime horrível. Era a premissa que eu queria. Como eu transformo esse homem num santo e o canonizo? Eu o transformei no homem mais doce do mundo, tão afeito à caridade: hospitais, uma cidade que recebe seu nome, e assim vai. Então quando eu concebi o filme como algo chocante, a impressão original que queria era de uma história de amor maravilhosa, mas quase sem graça, porque muito, muito comum: a menina pobre vinda de um lugar miserável, o cara rico que se apaixona por ela. Bom, eu odiava essas histórias. Então eu sabia que ia me divertir no momento em que ela o encontra molestando a criança. Quando você viu o filme, esta cena chocou você? P: Para dizer o mínimo. R: Que bom. Era o que eu queria. Não estou dizendo que eu queria que ela chocasse você em si, isoladamente, mas sim diante da narrativa. Muitas pessoas não gostaram do filme. Alguns amigos meus disseram: “Ah, por que você o colocou tentando abusar da menina?” Não sei, talvez eles se ressentissem da cena devido a algum segredo, algum desejo secreto. O que eles esperavam que eu fizesse? Digamos que não houvesse aquela cena. Eu não teria filmado a história. Não haveria história, na minha opinião. Não estou interessado na menina pobre. Eles filmaram essas histórias na Metro e na Warner por cinquenta anos: ela muda de vida, conhece um cara, às vezes, descobre que ele é bacana, às vezes, descobre que ele é ordinário, mas há sempre um final feliz. 147 P: A sequência de abertura, em que Towers surra o cafetão enquanto sua peruca cai, é estonteante. A plateia sofre uma agressão antes mesmo da aparição dos créditos iniciais. R: Isso surpreendeu você, esse começo? Não há fade in, como você sabe. Abrimos com um corte direto. Naquela cena, os atores usaram efetivamente a câmera. Eles seguraram a câmera; ela estava amarrada neles. Para a primeira tomada, o cafetão tem a câmera atada a seu peito. Eu disse a Towers: “Bata na câmera.” E ela bateu na câmera, na lente. Daí eu inverti. Coloquei a câmera nela, enquanto ela batia à beça nele. Achei que funcionava. Ela teve dificuldades de se maquiar no fim da cena, porque teve que usar a lente como espelho. Quando os créditos vêm, ela está olhando para a lente. P: Há muitas referências artísticas no filme, referentes especialmente a Grant [Michael Dante], o milionário. As mais incríveis são relativas a Beethoven. R: Ah! Para começar, eu queria mostrar que o milionário é um homem muito “bacana”; ele gosta de se sentar e ouvir música, e todas essas coisas. A menina é carente disso tudo. Beethoven é um símbolo. Poderia ser qualquer outro compositor ou artista. P: Qual era o seu objetivo com a viagem imaginária a Veneza durante aquela cena romântica? R: Eu queria muito aquilo por várias razões. Para começar, estou tentando vendê-lo como um cara poético, musical — o camarada que ela tanto quer. Ela nunca teve nada assim antes. As cenas em Veneza me deram a chance de mostrar aquilo efetivamente. Mas o que eu queria mais do que qualquer outra coisa era usar aquilo para chegar ao Beijo, ao Beijo Amargo. Para essa cena, eu os coloquei na gôndola, com as folhas caindo. Eu cortei dali para a cena em que eles se beijam no sofá. Outra folha cai. Nunca saberemos se aquilo é coisa da cabeça dela ou se realmente aconteceu. Assim que ela o beija, ela se afasta. Ele diz: “Qual é o problema?” Ela diz: “Nada.” É nesse momento que ela deveria ter dito: “Há algo de errado com você.” Mas ela não disse. Eu precisava ter coisas melosas, piegas e românticas naquela cena. Não poderia apenas colocá-los se beijando no sofá. Precisava de todo aquele climinha falso por uma razão: pensei 148 que se desse a ele muito lero-lero — tudo aquilo sobre poetas, pintores, escritores e músicos —, nós entenderíamos melhor por que ela não faz objeção a ele naquele instante. Eu precisava ter um homem que simbolizasse tudo que ela desejava. Daí exagerei. Precisei exagerar. Quando ela descobre o segredo do homem e percebe que ele lhe deu um Beijo Amargo, ela fica chocada, e ele fica chocado por ela estar chocada. Já que ela é uma prostituta, ele achou que ela fosse entender por que ele gosta de menininhas. Tubarão R: Quando fiz Tubarão (Shark, 1969), eu tive o que achei ser um lampejo de inspiração: fazer uma história sobre quatro personagens amorais. Um é cientista [Barry Sullivan]: amoral. Outro é a menina com quem ele transa [Silvia Pinal]: amoral. Outro é o jovem herói [Burt Reynolds]: amoral. O último é o policial [Enrique Lucero]: amoral. Achei que seria interessante mostrar não apenas traição em cima de traição, mas também acharmos que sabemos quem é o maior sacana deles e então descobrirmos que a garota está por trás daquilo tudo: ela é a mais desprezível. Ela tem uma chance de sair dali viva, se ela for sincera com o protagonista. Mas ela não faz isso. Ela é responsável pela própria morte. Ele a deixa morrer. Tentei algo diferente ali. Eles estão apaixonados e tudo o mais, e eu coloquei o herói na posição de não apenas deixá -la morrer, como também na de fazer pouco caso daquilo. Achei que aquilo era excitante. Eu gosto da ideia de um caso de amor em que o homem descobre que era usado pela mulher. Eu dei a ela uma fala ótima. Na última fala do filme — agora descubro que os produtores a colocaram antes e que ela não é mais a última —, ela diz: “Nós somos um casal de sacanas, a diferença é que eu sou rica.” Era isso que eu queria. Eu filmei coisas bem legais. Por exemplo, quando o barco está afundando no final, ele pega um cigarro aceso e o atira ao mar. Eu me concentrei no cigarro. Um peixe o vê (o peixe sendo um símbolo do tubarão), pensa que é alguma coisa, e então o apanha. Pssshhht! [Som de um cigarro sendo apagado.] É o final do filme. Mas eu acho que eles cortaram. Muitas coisas foram cortadas. 149 Como você sabe, eu pedi para que eles tirassem meu nome daquela coisa, porque eu não gostei do corte que vi. Eu o achei terrível. Eu disse a eles que queria restaurar meu corte original. Eles disseram que não sabiam se conseguiriam pegar o filme do México. Não conseguiam localizá-lo. Foi uma confusão tão grande. Então eu disse a eles: “Não me incomodem mais com isso.” Pode ser o pior filme do mundo, ou pode acabar sendo uma surpresa para mim. Não sei. O que eu sei foi que me diverti com os personagens, porque fui além do básico nisso de revelar o vilão. Eu também não tinha um cara que deixava a garota ser presa; ele a deixa ser comida por tubarões. Nunca vi nada assim num filme antes. Você viu? É o meu final. Foi o que filmei. A única razão pela qual eu dei o título de Caine para este filme originalmente foi que nós fomos a um restaurante no México onde o atendimento era péssimo. Fiquei irritado, e enquanto a raiva aumentava me senti como Caim, então disse: “Bem, vamos chamar o filme de Caine.” É isso. Cacete. Me senti péssimo. Aí o produtor viu uma notícia na Life, com algumas fotos de um cara sendo morto por um tubarão ou algo assim, intitulada “Shark”. Daí eles mudaram o título! Bem, esta é a carreira cheia de altos e baixos de um ex-office boy. Uma carreira de trinta anos. 150 151 Secao de fotos O Beijo Amargo 153 Renegando o Meu Sangue 154 155 Anjo do Mal Anjo do Mal 156 157 Eu matei Jesse James Anjo do Mal 158 A Lei dos Marginais 159 A Lei dos Marginais O Quimono Escarlate 161 Dragões da Violência Dragões da Violência 163 Casa de Bambu 164 Casa de Bambu 165 Paixões que Alucinam Paixões que Alucinam 167 O beijo amargo O beijo amargo 168 169 Cão Branco Cão Branco 170 171 Mortos que caminham 172 173 Fotos de Samuel Fuller Fotos de Samuel Fuller 174 175 Fotos de Samuel Fuller 176 filmografia comentada Eu Matei Jesse James I Shot Jesse James 1949, 35mm, 81 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Ernest Miller Música: Albert Glasser Produção: Carl K. Hittleman Companh ia Produtora: Lippert Pictures Elenco: Preston Foster, Barbara Britton, John Ireland, Reed Hadley, J. Edward Bromberg, Victor Kilian, Tom Tyler, Tom Noonan, Eddie Dunn, Margia Dean Classificação Indicativa: 16 anos O filme oferece um retrato de Bob Ford (John Ireland), o homem que matou seu próprio amigo, Jesse James (Reed Hadley), pelas costas para receber perdão da justiça e poder casar com a namorada. 180 A sequência de abertura de Eu Matei Jesse James possui a contundência e a precisão que vão caracterizar grande parte dos filmes de Fuller: uma decupagem inscrita a mármore, onde as figuras dos assaltantes se contrapõem, num campo e contracampo incisivo, às dos funcionários do banco; as posições dos oponentes são demarcadas em planos de uma mineral entalhadura; e a câmera se esmera em mapear milimetricamente os detalhes – o pé do caixa do banco, que ameaça pisar no alarme; as mãos nos coldres que orquestram este explosivo “teatro de câmara”: sim, porque, como em tantas de suas cenas, o plano médio e o close rivalizam em veemência agônica. Uma microfísica das paixões inaugura-se aqui; teatro de câmara e arena, onde o gesto acumplicia-se de forma intensiva com o objeto que designa ou envolve: amortalha-o. Onde o corpo é o índice de um campo de forças que se encarnam de forma provisória em seres, ritmos, objetos; forças que ameaçam, na vitalidade animosa do contracampo, implodir os frágeis limites dos corpos que as contêm. Mas esse embate frontal e fatal entre dois containeres de forças é o signo visível (diria antes: háptico, em seu entalhe de alto-relevo) de combates mais sutis ou simbólicos: a força e a lei, a reconciliação e a diferença, o campo e a cidade, o western e o teatro burguês. Só que esse jogo violento entre formas de viver e valorar em Fuller nunca é esquemático ou diretivo; conhece reentrâncias, intervalos, infiltrações: es- gueira-se e enleia-se. Ao matar Jesse James, o que Bob deseja é se apossar de seu desejo: Cynthy. E em um mesmo movimento, domesticar-se, integrar-se: à lei, à cidade. Mas o Jesse James que Fuller nos pinta está longe de ser um personagem dominado pela Hybris, um selvagem indomável. Talvez, nem Nicholas Ray, – esse diretor camerístico, tão atento à finitude dos seres-, tenha nos mostrado um Jesse doméstico, comezinho, frágil... e desejante como este. Se o espetáculo que Fuller encena é um teatro frontal da guerra, as motivações dos personagens, os atalhos do roteiro são ambíguos, equívocos: nunca sabemos exatamente a natureza das relações de Cynthy como atriz e cantora– o seu patrão, interessado talvez em explorar seus outros dotes, recita para John Kelley as peças em que ela atuara; mas é Cynthy, o objeto deste possível contrato erótico, quem vai avisar a Kelley da iminente vinda de Bob para matá-lo; Jesse James se insinua para Bob, parece querer que ele desempenhe outros papéis, além do de capataz e filho do coração; e este sublimemente cândido olhar com que a esposa de James olha para o assassino, em que programa determinista caberia? O gênio deste primeiro filme de Fuller reside nesta contraposição entre a intensidade bélica da mise en scène e a finura crepuscular com que se captam as intermitências do desejo e as inflexões da força. Luiz Soares Jr. 181 O Barao Aventureiro The Baron of Arizona Proteu é uma figura da mitologia grega que manifesta a potência de metamorfose, a polimorfa plasticidade do ser, o querer “ser um outro”– esta aliás poderia ser a divisa para a toda a obra de Fuller; uma saga da diferença, nas palavras de Lourcelles. Este “barroquismo ontológico”, esta exuberante e tentacular aspiração a mascarar-se e mimetizar-se possui um cortejo de ilustrações em seus filmes. Em Casa de Bambu, A Lei dos Marginais, Paixões Que Alucinam, Renegando o Meu Sangue, o que se encena é 1950, 35mm, 97 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: James Wong Howe Montagem: Arthur Hilton Música: Paul Dunlap Produção: Carl K. Hittleman Companhia Produtora: Deputy Corporation Elenco: Vincent Price, Ellen Drew, Vladimir Sokoloff, Beulah Bondi, Reed Hadley, Robert Barrat, Robin Short, Tina Pine, Karen Kester, Margia Dean, Jonathan Hale Classificação Indicativa: 16 anos Um drama histórico sobre uma página esquecida da formação política dos Estados Unidos: James Addison Reavis (Vincent Price), um trapaceiro notório que se arvorou em dono do estado do Arizona por volta de 1872. 182 uma aventura de despersonalização, em que um personagem se infiltra numa comunidade alienígena – um hospício de alienados, uma tribo indígena, gangues – com o propósito de perverter ou dominar a “economia” de poder do lugar, mas acaba fulminado neste jogo: o estratagema torna-se uma armadilha, o jogador virtuose vira peão num puzzle em que a subjetividade se dispersa e finalmente se perde, tragada pelo redemoinho das paixões. O Barão Aventureiro é o filme em que a demiurgia metamórfica da obra de Fuller se encarna num personagem exemplar que tenta, ao percorrer um vasto circuito de máscaras e peripécias, literalmente apossar-se de um mundo – no caso o estado do Arizona – , encarnar-se em todos os seus elementos: veios e rios, homens, trabalhos e noites; mas ele possui em comum com o policial infiltrado de Casa de Bambu uma paixão, que vai transtornar os seus planos, domar e diferir o fluxo de sua vontade de potência: Barão é uma grande história de amor – aqui, à esposa dedicada, que ao final do filme finalmente encontra o homem soterrado sob o mutirão dos personagens. À imagem e semelhança do Proteu que retrata, o filme integra em sua trajetória outros avatares do romanesco: certo clima de complô de filme noir, com direito inclusive a cenas de linchamento, sublinhadas por um expressionismo de bico de pena, sob o açoite da fotografia metálica de James Wong Howe; o inventário dos grandes e variados espaços, cenário de western por onde trafega este pioneiro na arte americana por excelência da desterritorialização, espacial e existencial: arredores campesinos de Madrid, acampamento cigano, um mosteiro tenebrista que não estaria mau num thriller gótico da dupla Tourneur-Lewton; e esta câmera centrífuga, descentrada, sob o influxo da qual os personagens são implicados numa arena de forças, sempre instável e flutuante; neste constante ricocheteio entre espaços e personagens, intensificado por uma montagem em staccato, assinala-se uma cena de jogo onde o central e o frontal da estética clássica são dinamizados pela trajetória vertiginosa do personagem. Já neste segundo filme, todo um programa futuro se delineia: aqui, a opulência do barroco de Fuller encontra uma carne e um mundo para habitar. Luiz Soares Jr. 183 Capacete de Aco The Steel Helmet 1951, 35mm, 85 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Ernest Miller Montagem: Philip Cahn Música: Paul Dunlap Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Deputy Corporation Elenco: Gene Evans, Robert Hutton, Steve Brodie, James Edwards, Richard Loo, Sid Melton, Richard Monahan, William Chun, Harold Fong, Neyle Morrow, Lynn Stalmaster Classificação Indicativa: 16 anos Durante a Guerra na Coreia, um sargento e um jovem órfão se unem a um grupo de soldados norte-americanos. Eles procuram abrigo num templo budista, imaginando estarem a salvos. 184 Filme de forte teor institucional, realizado em homenagem à Infantaria do exército americano, Capacete de Aço é a primeira das produções de guerra de Fuller. Rodado com um orçamento modesto e quase todo em estúdio, o filme projetou o nome do diretor dentro dos grandes estúdios (ele assinaria em seguida um contrato com a Fox). Alimentando-se da própria economia dos cenários e imprimindo uma abordagem frontal e despojada este pequeno grupamento terrestre, Fuller projeta sobre nós a mítica silhueta do soldado da infantaria, encarnado de maneira mais ou menos acabada por Gene Evans no papel do Sargento Zack. Evans aqui é menos um herói do que um “soldado ideal”: experiente, metódico, ele não se furta em declarar seu amor pela Infantaria. Praticamente todas as discussões do filme giram em torno de questões de caráter militar, sejam as funções exercidas pelos soldados (sargento, oficial, médico, rádio) ou os pelotões onde serviram anteriormente. Fuller mesmo nunca parece perder de vista esse espírito institucional, a exemplo de um plano no final do filme em que vemos perfilados os rostos de um negro, um oriental e um branco como os únicos soldados sobreviventes da emboscada no templo. Curiosamente, um filme tão orgulhoso do próprio oficialismo nos reserva um final pouco vitorioso: as chances de sucesso com o prisioneiro coreano escorrem pelas mãos num ataque sentimental de Zack, e no final a única vitória daqueles soldados não é senão a própria sobrevivência. Quando as tropas americanas chegam ao templo para resgatá-los, no lugar dos festejos, nossos sobreviventes são melancolicamente reincorporados à multidão de soldados em sua marcha eterna (“Esta é uma história sem fim”, avisam os créditos finais). Porque os soldados, em Fuller, não cessam de fazer este caminho entre a grandeza e a insignificância (sendo a insignificância maior aquela que se revela, justamente, no momento de suas próprias mortes inevitáveis). Haverá sempre no mundo coisas maiores do que o homem, seja a instituição militar ou uma estátua de Buda, que não se sabe se assombra ou se protege aqueles soldados insignificantes a seus pés. Calac Nogueira 185 Baionetas Caladas Baionetas Caladas revelam um cineasta de Durante a intervenção chinesa na Guerra da Coreia, um general americano recebe ordens para recuar sua divisão além do rio, tendo que atravessar uma ponte aberta ao fogo comunista. Ele decide tentar enganar os inimigos e deixa na retaguarda um pelotão de 48 homens, colocando-o numa passagem estreita nas montanhas, com ordens de “fazerem bastante barulho”. personalidade e talento dentro de uma produção rotineira de filme de guerra. A primeira são dois personagens quaisquer estabelecendo o mote narrativo do filme – “para liderar é necessário mais que cérebro, é necessário ter coragem” – como um momento desimportante e corriqueiro. Em seguida, a reunião de oficiais que monta uma estratégia de retirada e monta uma operação de retaguarda que vai, com quase certeza absoluta, sacrificar o pelotão que ficará para defender o território enquanto o resto vai embora: as decisões são filmadas de modo seco, sem laivos de patriotismo ou bravura para condenar 48 homens à morte quase certa e salvar 15 mil. A matemática está correta, a estratégia é correta, mas ainda assim o preço da vida humana fica patente. Mas, no terceiro momento, é que vem a genialidade: a cena seguinte mostra o exército partindo em retirada e o pelotão remanescente parado, avolumado num canto, e Fuller passa um bom tempo filmando essa procissão fúnebre antecipada, fixando audaciosamente sua câmera no rosto de cada homem que está prestes a enfrentar a operação suicida, em closes, em movimentos de campo e contracampo, e num brilhante travelling lateral que parece durar infinitamente e já expressa ritmicamente o futuro presumido desses homens. Uma forma que pensa: a lentidão 1951, 35mm, 92 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Lucien Ballard Montagem: Nick DeMaggio Música: Roy Webb Produção: Jules Buck Companhia Produtora: Twentieth Century Fox Film Corporation Elenco: Richard Basehart, Gene Evans, Michael O’Shea, Richard Hylton, Craig Hill, Skip Homeier Classificação Indicativa: 16 anos 186 Há três coisas que logo no começo de Fixed Bayonets da sequência constrói um bolsão de nada que precisa ser completado pelos olhos do espectador. Só depois disso, é que o filme efetivamente apresenta seus personagens, e dentre eles, o protagonista, Denno, um homem que não consegue apertar o gatilho contra o inimigo e que se vê na iminência – para ele, no pânico – de ter que liderar seu pelotão. O que remete diretamente à questão da coragem delineada no primeiro diálogo do filme. Primeiro filme de Fuller na Fox, Baionetas Caladas é melhor resolvido em termos narrativos do que seus filmes anteriores, mas as asperezas temáticas e o prazer pelo pelotão multirracial são atenuados. Mas os grandes avanços de Fuller nesse filme não são como roteirista, são como diretor. A mesma lentidão usada no começo é a arma da outra grande cena do filme, quando Denno arrisca a vida tendo que passar por um caminho cheio de minas para salvar o sargento Lonergan, baleado. Os planos alongados, a sequência de montagem e, sobretudo, a ausência de música na cena – algo bem incomum para o tipo de produção – fazem brotar o comportamento humano em toda sua nudez na luta da coragem contra o instinto de sobrevivência. Novamente, Fuller cria o vazio (a espera, o silêncio) para aí inserir a verdade da emoção. Ruy Gardnier 187 A Dama de Preto Park Row 1952, 35mm, 83 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: John L. Russell Montagem: Philip Cahn Música: Paul Dunlap Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Samuel Fuller Productions Elenco: Gene Evans, Mary Welch, Bela Kovacs, Herbert Heyes, Tina Pine, George O’Hanlon, J.M. Kerrigan, Forrest Taylor, Don Orlando, Neyle Morrow, Dick Elliot Classificação Indicativa: 16 anos No final do século XIX, um jornalista consegue abrir seu próprio jornal e logo se transforma num grande sucesso. A herdeira de um dos maiores jornais da cidade começa uma forte oposição contra ele. 188 “Único filme que produzi com minha própria grana”, A Dama de Preto é Samuel Fuller em seu modo mais confessional, apaixonado, livre e idealista. Não era um filme que ele queria fazer, era o filme que ele tinha que fazer, e assim o filme está inteiramente impregnado de todos os altos ideais de Fuller para mitigar através do cinema a carreira que ele queria ter e não teve (ao menos não diretamente), a de um editor-chefe. Aqui Fuller entrega-se ao máximo de seu lirismo enfático, à poesia feita à base de pontos de exclamação (nenhum outro grande diretor teve dois de seus filmes com títulos exclamativos), à mistura desbragada entre história do jornalismo, guerra de ímpetos, canto de louvor e história de amor frustrado. Mas tudo que o filme tem de malresolvido – em especial a “dama de preto”, entre a literalidade de personagem e a simbologia de um patamar histórico – ele tem de magistral na linguagem visual e nos arroubos emotivos. Não tendo nenhum produtor para podar suas ideias mais extravagantes, Fuller faz aqui um dos planos-sequência mais geniais da história do cinema, ao acompanhar Phineas Mitchell do bar à rua – onde acontecem três brigas de socos e pontapés – ao escritório do jornal adversário, The Star, e em seguida, às instalações destruídas de seu próprio jornal, The Globe. Os movimentos bruscos de câmera, o dinamismo provocado pelas variações de ângulo e, sobretudo, os solavancos de uma câmera colada ao corpo do operador de câmera conseguem traduzir visualmente uma quase táctil sensação de ira, injustiça e pura energia cinética, tudo isso em velocidade atordoante. A Dama de Preto, pelo caráter factual do “estive lá” – Fuller foi menino de entregas, arquivista e repórter policial em Park Row, embora o filme seja ambientado algumas décadas antes do pequeno Sammy ter lá posto o pé – e pelo senso de obrigação inigualado nos outros filmes em “fazer passar a mensagem”, ilustra perfeitamente a fórmula de Serge Daney segundo a qual Fuller é sempre, e ao mesmo tempo, “um correspondente de guerra e um educador louco”. A relação desse filme com a história do jornalismo americano ajuda a compreender a loucura da pedagogia fulleriana: o que precisa ser ensinado é a bravura dos homens, é a obstinação, o ímpeto pela inovação, pelo desbravamento e pela verdade intensiva – coisas que, no plano visual, seus filmes mais que traduzem: suscitam. O que no plano estilístico significa: invenção à frente das normas, e em se tratando do cinema narrativo americano, o conflito é fascinante. A Dama de Preto termina como uma matéria de jornal, com “Thirty” ao invés de “The End”, e, mantendo a metáfora, é óbvio que o subgênero é o panfleto, com a implícita tomada de posição, as cores excessivas e nenhum distanciamento. Ruy Gardnier 189 Anjo do Mal Pickup on South Street 1953, 35mm, 75 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Joe MacDonald Montagem: Nick DeMaggio Música: Leigh Harline Produção: Jules Schermer Companhia Produtora: Twentieth Century-Fox Elenco: Richard Widmarrk, Jean Peters, Thelma Ritter, Murvyn Vye, Richard Kiley, Willis Bouchey, Milburn Stone Classificação Indicativa: 16 anos Skip McCoy (Richard Widmarrk) é um batedor de carteiras que furta a bolsa de Candy (Jean Peters) no metrô. Dentre os objetos roubados está um microfilme a ser contrabandeado para o exterior por espiões comunistas. Espiões americanos que seguiam a mulher para identificarem os agentes inimigos percebem a ação criminosa, mas não conseguem deter a fuga de Skip. Todos agora estão atrás dele. 190 Anjo do Mal é um dos mais notórios filmes de Fuller, e é o filme no qual ele deixa sua marca no film noir. Tem todos os requintes de uma obra-prima do cineasta. É ágil, integrando a ação e a emoção de seus personagens com movimentos e cortes súbitos e precisos – não possui nada de excesso. É direto, tudo que está em cena é essencial. Integra uma rede de intrigas em que marginais ficam no limite entre serem heróis ou vilões, muitos caindo pelo caminho, onde quem está lá mantendo a “ordem”, ou quebrando-a, luta cada um de seu modo pela sobrevivência. Fuller valoriza um ideal de moral, colocando sua mocinha, que poderia ser uma femme fatale, mas na verdade é a personagem mais inocente em cena, dizendo “melhor um batedor de carteiras vivo que um traidor morto”. Perdida nessa guerra entre ordem e desordem – que nesse mundo significava comunistas –, ela só consegue ter esse papel tão tradicional em filmes do gênero enquanto é roubada no trem pelo marginal por quem iria depois amar. Aliás, as sequências nos trens têm um elemento de sensualidade incrível. A troca de olhares, o movimento lento das mãos, são cenas que realmente sugerem uma relação quase que sexual. Se na primeira sequência o vemos roubar a carteira da mocinha, fazendo com que toda essa trama fosse descortinando-se diante de nossos olhos, mais ao final ele volta em cena para executar mais um assalto, dessa vez no ex-namorado comunista dela, e essa segunda vez não é menos sensual, com o agravante de que ele rouba o revólver do vilão do filme, sua arma, “castrando-o”. Essa sensualidade existe em muitos filmes de Fuller, mas encontra nessas cenas seu momento mais explicito. São apenas pequenas amostras dentro de um filme incrível, uma aula de estilo, de construção de um universo e uma realização de um mestre maior do cinema em seu auge. Guilherme Martins 191 Tormenta Sob os Mares Hell and High Water Uma pequena cena de Tormenta Sob os Mares expõe a marca infalível de Samuel 1954, 35 mm, 103 min, 2.55 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Jesse L. Lasky Jr., Samuel Fuller Fotografia: Joe MacDonald Montagem: James B. Clark Música: Alfred Newman Produção: Raymond A. Klune Companhia Produtora: Twentieth Century-Fox Elenco: Richard Widmark, Bella Darvi, Victor Francen, Cameron Mitchell, Gene Evans, David Wayne, Stephen Bekassy, Richard Loo Classificação Indicativa: 16 anos Um cientista e sua equipe rumam ao Ártico em um submarino em busca de provas de um iminente ataque comunista que poderia culminar com a Terceira Guerra Mundial. 192 Fuller: após capturarem um prisioneiro, os personagens liderados pelo Capitão Jones precisam obter dele uma informação. Um dos tripulantes do submarino se oferece para disfarçar-se de soldado inimigo e tentar descobrir o que eles precisam saber junto ao prisioneiro. A missão é um sucesso, mas o personagem acaba desmascarado pelo inimigo e morto friamente antes que a tripulação possa chegar para ajudá-lo. Uma morte banal, estúpida, completamente inesperada (não estávamos, ali, em um dos clímax dramáticos do filme). Mas que morte não é, em si, sempre estúpida e banal? Em Fuller, a morte é uma regra; é preciso que os personagens morram, trata-se de um de seus temas centrais. E há também a outra face da moeda: morte aqui é também sinônimo de sacrifício, outra ideia que guia seus filmes de guerra. A morte banal do tripulante provoca um estranhamento num filme que até então mantinha certa leveza, impulsionado pela personagem feminina de Bella Darvi, que alegra o ambiente do submarino. Algumas coisas precisam ser ditas aqui: que essa presença feminina, tal como a encontramos, não existe em nenhum outro filme do diretor, sendo, provavelmente, remanescente do roteiro escrito por Jesse Lasky Jr. Nos filmes de Fuller, as mulheres em geral ou inexistem, ou são parte natural de uma realidade brutal e desencantada. Temos boas razões para acreditar, portanto, que o romance entre Bella Darvi e o Capitão Jones é uma concessão. Nada porém que destrua a eficácia do filme. Digamos apenas que não é tarefa das mais simples realizar um filme quase inteiramente passado num submarino, ambiente monótono, feio, apertado, sem grandes atrativos. O Cinemascope e as cores, sem dúvida, emprestam aqui alguma vida, e a decupagem alternada entre exterior/interior do submarino confere eficiência às sequências de ação embaixo d’água. O maior mérito de Fuller, no entanto, é conseguir transmitir a sensação de claustrofobia do ambiente, por exemplo, na cena em que os personagens lutam contra a escassez de oxigênio enquanto tentam escapar de outro submarino. Contrariando toda a fantasia infantil que cerca o ambiente dos submarinos, tudo o que desejamos durante boa parte do filme, juntamente com aqueles corpos suados dos tripulantes, é reemergir e inspirar um pouco de ar puro. Calac Nogueira 193 Casa de Bambu House of Bamboo 1955, 35 mm, 102 min, 2.55 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Harry Kleiner Fotografia: Joe MacDonald Montagem: James B. Clark Música: Leigh Harline Produção: Buddy Adler Companhia Produtora: Twentieth Century Fox Film Corporation Elenco: Robert Ryan, Robert Stack, Shirley Yamaguchi, Cameron Mitchell, Brad Dexter, Sessue Hayakawa, Biff Elliot, Sandro Giglio, Elko Hanabusa Classificação Indicativa: 16 anos No Japão, ex-soldados americanos integram uma gangue violenta envolvida em assassinatos, jogos e assaltos. A morte de um sargento estadunidense em uma ação criminosa coloca a polícia do exército americano no caso: um militar consegue se infiltrar na quadrilha dos assaltantes com a ajuda de uma mulher japonesa. 194 Entre todos os diretores americanos que iniciaram suas carreiras ainda durante a época do sistema dos grandes estúdios, Samuel Fuller foi decerto aquele que demonstrou o menor entusiasmo pelos bons modos do cinema narrativo. Isso lhe garantiu uma reputação de um cineasta excêntrico, um brucutu primitivo que chamava atenção pelas suas ideias e soluções absurdas. Nada podia ser mais falso e é sempre bom retornar a Casa de Bambu, um filme em que, sem sacrificar nada da sua personalidade, revela uma coesão e clareza que desmentem por completo essa reputação. É o filme mais formalista de Fuller, com destacado controle do quadro em Cinemascope e uso dos mais expressivos de cores que não estariam deslocados num filme de um cineasta mais conhecido pela expressão visual dos seus filmes, como Vincente Minnelli. A Tóquio do pós-guerra, território semiocupado, é um dos muitos espaços em transição que refletem a fronteira moral e as muitas tentações que acometem seus protagonistas. Os elementos mais tradicionais – o policial infiltrado, a honra entre ladrões, etc. – servem de ponto de partida, mas o foco emocional de Casa de Bambu se volta para uma série de triângulos entre personagens que se identificam com ideias como moralidade, masculinidade e legalidade de forma escorregadia , e essa lógica triangular acompanha a fluidez da encenação de Fuller como se o filme fosse uma série de encruzilhadas em que cada personagem precisasse optar entre dois caminhos possíveis carregados de significados. Fuller se aproveita muito bem da inversão de papéis: o sensível Robert Stack como um protagonista que tem dificuldades de disfarçar a própria truculência, enquanto o durão Robert Ryan dá ao seu vilão um ar sedutor quase romântico, ainda que não menos violento. Casa de Bambu, por vezes, se aproxima de um romance neurótico cujos planos sempre muito equilibrados sugerem uma violência pronta a brotar a qualquer momento, como se o filme quisesse sair do controle, mas desejasse manter um decoro insuspeito. Diante disso, o final num tiroteio é notável, com Ryan, sua máscara civilizada abandonada por completo, a atirar em todas as direções a partir de um globo giratório enquanto o universo ao redor dele é mostrado com uma precisão hitchcockiana. É uma das grandes cenas de ação do período, e, como todo, este Casa de Bambu é um lembrete de que Fuller é muito mais que o clichê que se formou em torno dele. Filipe Furtado 195 Renegando o Meu Sangue Run of the Arrow 1957, 35 mm, 86 min, 2.00 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Joseph Biroc Montagem: Gene Fowler Jr. Música: Victor Young Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: A Globe Enterprises Inc. Production, RKO Radio Pictures (presents) Elenco: Rod Steiger, Sara Montiel, Brian Keith, Ralph Meeker, Jay C. Flippen, Charles Bronson, Olive Carey, H.M. Wynant, Neyle Morrow, Frank DeKova, Tim McCoy Classificação Indicativa: 16 anos Ao final da Guerra Civil, soldado confederado que não aceita a derrota é capturado e por fim adotado pela tribo Sioux. Com o acirramento do conflito entre brancos e índios, ele assume o papel de intermediário. 196 Os personagens de Fritz Lang são aqueles que fazem do ódio e do ressentimento sua cruzada moral. Já para os de Samuel Fuller, cineasta parente de Lang (contrapõe e interpõe a civilização e as paixões humanas), o ódio e o ressentimento configuram um impasse moral. Em Lang, o mal absoluto, em Fuller o mal como evidência comum da ordem do mundo. O personagem O’Meara, interpretado por Rod Steiger é um rancoroso que faz da reação a sua ação. Não aceita a rendição do Sul aos ianques na Guerra da Secessão, “renega seu sangue” e tenta se tornar um sioux. Casa com uma índia, caça e guerreia com eles, mas declara “sou cristão”. Não negocia o destino de sua alma, portanto a contradição: não pode partilhar do destino do povo que escolhe. Fuller filmou a “história dos vencidos” em quase todos os seus filmes e Renegando o Meu Sangue é o seu trabalho que frisa a verdade desse ponto de vista, que assume a escolha desse lugar do qual Fuller se encarrega com asserção e amor (amor, porque ele deixa a paixão para o seus personagens). Como testemunha da História, Fuller nunca fez um épico e nem o faria, a grandiloquência nunca o atraiu. No western, ao contrário de Ford que encena o mito do nascimento de uma nação, Fuller aqui testemunha – é importante insistir nisso – de maneira seca, coloquial e até brusca (mas com suprema elegância) um episódio que encerra uma guerra e dá início aos Estados Unidos da América: episódio nada heroico. Há a rendição do general Lee e a vergonha e o sentimento de traição do soldado O’ Meara. Para ele, o país foi fundado em um sentimento de derrota e vergonha. Como sempre em seus filmes, as primeiras cenas (as aberturas de Fuller mereceriam um longo ensaio) são uma síntese, uma espécie de relato factual. Fuller foi jornalista e romancista genuinamente “moderno e norte-americano” e por isso sabia que a descrição do fato só existe enquanto síntese objetiva, não enquanto digressão subjetiva. Esse pragmatismo tão americano do cineasta faz de sua narrativa algo vibrante em que a crise do sujeito decorre de suas ações, de suas escolhas, nunca de sua imobilidade; e o filme, fiel a essa ética, não possui um só plano preciosista, não realiza um só corte que seja cínico: tudo está em função da mais elementar franqueza estética e moral, por isso, inimigo da propaganda ideológica, do simulacro, da estupidez moral e do fascismo. Renegando o Meu Sangue é de uma ternura inconformista única no cinema. Francis Vogner dos Reis 197 No Umbral da China China Gate 1957, 35 mm, 97 min, 2.35 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Joseph F. Biroc Montagem: Gene Fowler Jr., Dean Harrison Música: Max Steiner, Victor Young Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Globe Enterprises Elenco: Gene Barry, Angie Dickinson, Nat ‘King’ Cole, Paul Dubov, Lee Van Cleef, George Givot, Gerald Milton, Neyle Morrow, Marcel Dalio, Maurice Marsac Classificação Indicativa: 16 anos Um grupo de mercenários precisa atravessar o território inimigo durante a guerra do Vietnã para destruir um depósito de armas. 198 No Umbral da China é um filme premonitório sobre o futuro envolvimento americano no Vietnã. E não apenas por ser um destes filmes construídos a partir de uma missão condenada. As imagens iniciais de cinejornal rapidamente desaguam no mais puro delírio pulp. No Umbral da China se interessa não nos fatos da Indochina, mas por encontrar imagens que traduzam, com força, a verdade emocional por trás dela. Suas imagens são puro artifício e Fuller encontra nelas uma instabilidade que reflete a da sua heroína, uma prostituta euro-asiática, que nas suas próprias palavras, é “um pouco de tudo e um muito de nada”. A Indochina de Fuller é um espaço em ebulição perdido entre os desejos dos seus vários ocupantes: os comunistas, os colonialistas, os capitalistas e os quase sempre esquecidos locais. É um destes conceitos bem típicos de Samuel Fuller no qual esta ebulição encontra vazão na confusão de uma prostituta, um conceito, à sua maneira, grosseiro e exato. Nat King Cole pode estar em cena a cantar sobre uma ponte da China, mas o filme se recusa a en- tregá-la: já não há ponte possível entre as muitas vontades e posições que dominam aquele espaço pós-colonial, somente o adiar de uma explosão inevitável de todas elas. O filme sugere uma versão contemporânea de Renegando o Meu Sangue, filme que o cineasta rodou à mesma época. Como na maior parte dos filmes políticos de Fuller, o que alguns veem incorretamente como confusão de ideias ou puro primitivismo é, na verdade, um trajeto muito claro do individuo em meio à confusão ideológica do seu tempo. No Umbral da China pode, à primeira, vista sugerir um filme menos particular que outras obras do diretor no período, mas estão aqui a maioria das suas obsessões: a Ásia, o racismo, a guerra. O nome The Big Red One até é invocado pouco antes da primeira tentativa do cineasta em realizar seu filme de memórias de guerra. Todos esses elementos se combinam num amplo painel pulp do homem em conflito numa terra de ninguém. Filipe Furtado 199 Dragoes da Violencia Forty Guns 1957, 35 mm, 79 min, 2.35 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Joseph Biroc Montagem: Gene Fowler Jr. Música: Harry Sukman Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Globe Enterprises, Twentieth Century Fox Film Corporation (presents) Elenco: Barbara Stanwyck, Barry Sullivan, Dean Jagger, John Ericson, Gene Barry, Robert Dix, Jidge Carroll, Paul Dubov, Gerald Milton, Ziva Rodann, Hank Worden Classificação Indicativa: 16 anos Jessica Drummond (Barbara Stanwyck) é uma fazendeira de pulso firme que comanda uma equipe de quarenta homens. Ela vive tirando o irmão de encrencas. Quando Griff Bonnell (Barry Sullivan) chega à pequena cidade, Jessica experimenta um sentimento novo e seu irmão acaba sendo preso. 200 Durante sua carreira, Fuller teve incursões em diversos gêneros, levando seu olhar para muitos estilos dos clássicos do cinemão americano. O faroeste é explorado aqui e torna-se um campo dominado com maestria, permitindo que ele subverta regras do gênero sempre que lhe convém. Não estamos diante de um bangue-bangue usual: estamos diante de um jogo de poder entre dois polos, mulher e homem, cuja trajetória pregressa à narrativa tem fama e traz medo em quem com eles se depara. Como Fuller não brinca em serviço, há um pouco de tudo: tiroteios incríveis, male bonding, um tornado devastando tudo que passa pelo caminho, arruaceiros, e o crepúsculo do oeste, assombrando o modo de vida dos personagens em cena. Não é um tema raro no gênero, mas o fim do estilo de vida dos pistoleiros e do universo do faroeste poucas vezes encontrou um tratamento tão direto, e não necessariamente nostálgico. É numa das cenas que dialoga diretamente com isso que o filme tem seu momento mais fantástico, onde após uma emboscada perfeita para o assassinato de Griff Bonnell (Barry Sullivan), seu irmão mais novo surge inesperadamente atirando no assassino pe- las costas. O momento, que deveria ser de alívio e felicidade, torna-se de uma amarga decepção quando o irmão mais velho pergunta para o mais novo: “O que fazemos agora? Agora você matou um homem”. A consciência moral de Fuller retorna em seus personagens marginais, não apenas no seu olhar, e ambos os personagens centrais, Griff e Jessica Drummond (Barbara Stanwyck), estão cientes de que seu status poderá ruir em pouco tempo, e tudo aquilo que eles representam para aquela sociedade deixará de existir ao fim do filme, quando, enfim, ficam juntos e podem isolar-se daquele universo que um dia dominaram. Faltou citar pelo menos um elemento clássico do gênero que aparece ali pra nos divertir: as canções com seus números integrados à narrativa. Apesar de ser um filme bem sério, Fuller tira sempre um humor dessas situações: aquele bando de homens do velho oeste tomando banho juntos, as cantorias orquestradas com as saídas e entradas dos personagens na cena. Mais uma obra de mestre, sempre trabalhando cada instante, cada reenquadramento para expressar o sentimento ali em cena. Guilherme Martins 201 Proibido! Verboten! 1959, 35 mm, 93 ou 87 min, 1.85 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Joseph Biroc Montagem: Philip Cahn Música: Harry Sukman Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Globe Enterprises, RKO Teleradio Pictures Elenco: James Best, Susan Cummings, Tom Pittman, Paul Dubov, Harold Daye, Dick Kallman, Stuart Randall, Steven Geray, Anna Hope, Robert Boon, Sasha Harden Classificação Indicativa: 16 anos Uma história de amor entre um soldado americano e uma alemã durante a Segunda Guerra mistura-se ao tema da impaciência da população local em relação aos ocupantes e ao mercado negro. A situação complica-se com as intrigas de um grupo de militantes neonazistas. 202 Partindo da típica história de amor entre um soldado das forças de ocupação e uma moça local (ver Stromboli, entre outros filmes), Fuller empreende um amplo retrato da Alemanha pós-guerra. O farto uso de imagens de arquivo e a trilha sonora, que recorre a peças de Beethoven e Wagner, conferem um tom operístico à narrativa, o que serve para reforçar a pequenez dos personagens diante da situação. Na realidade, Fuller parece pouco interessado no romance de guerra em si, servindo-se dele ao sabor de seus interesses: chama atenção, por exemplo, o caráter dúbio e volátil dado à personagem de Helga. Longe de encarnar uma heroína virtuosa, ela oferece razões suficientes, a nós e a David, para que desconfiemos de suas intenções (as circunstâncias da guerra influenciam a personagem, conferindo-lhe um caráter complexo). Por outro lado, há um franco maniqueísmo quando se trata de abordar os nazistas, sempre reduzidos à própria monstruosidade. Essa vilanização, porém, não deixa de ser justificada naquela que talvez seja a grande cena do filme: a “conversão” de Franz durante o julgamento de Nuremberg. Ao recorrer aqui a imagens de arquivo dos campos de concentração, Fuller expõe uma faceta sua nem sempre notada: a do cineasta de exploitation. A Fuller sempre interessou a brutalidade, jamais tendo se furtado de filmar a deformação (O Beijo Amargo) ou a violência (todos os filmes) da maneira mais frontal possível. “Eu vi um filme. Eu não sabia”, grita Franz aos prantos para David. Essa visão do horror que nos descreve o menino não deixa de ser aquela que experimentamos em cada filme do diretor. Calac Nogueira 203 O Quimono Escarlate The Crimson Kimono 1959, 35 mm, 82 min, 1.85 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Sam Leavitt Montagem: Jerome Thoms Música: Harry Sukman Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Globe Enterprises Elenco: Victoria Shaw, Glenn Corbett, James Shigeta, Anna Lee, Paul Dubov, Jaclynne Greene, Neyle Morrow, Gloria Pall, Pat Silver, George Yoshinaga, Kaye Elhardt Classificação Indicativa: 16 anos Em Los Angeles, dois amigos, veteranos combatentes da Guerra da Coreia, trabalham juntos como detetives da divisão de homicídios e estão encarregados de resolver o assassinato de uma dançarina. Durante as investigações, eles se apaixonam por uma misteriosa mulher. 204 Na Main Street de Los Angeles, às oito da noite, Sugar Torch, uma loira belzebu, faz um striptease na casa Burlesque, onde é a atração principal. Ao entrar no camarim depois de fazer um gracejo no segurança distraído, encontra uma figura de sobretudo, chapéu e óculos escuros que atira na pintura pendurada na parede e em seguida dispara em sua direção. A stripper sai correndo pela rua e é alvejada por um tiro em meio ao trânsito de carros. O que esse trecho inicial nos revela? Muito. Isso não quer dizer que nesse início o filme nos dê as chaves de compreensão do mistério, mas induz o espectador a uma imersão singular em um universo, tanto que começa em um plano geral aéreo, seguido de outro que revela a rua de inferninhos, na sequência um striptease, e, depois dos tiros, a câmera volta à rua em meio ao movimento urbano noturno onde Sugar Torch é assassinada miseravelmente. Sua morte é exato oposto da morte de dimensões épicas de Tony Camonte em Scarface. Morre como “qualquer uma”. O tempo não para, e ela é só mais um cadáver na noite. No dia seguinte, a imprensa marrom já fez o seu trabalho, e a polícia começa o seu. Estamos em um dos grandes filmes noir de Samuel Fuller. O fato de o diretor trabalhar nas caracterizações e regras do gênero – seja noir, guerra ou western – dá a ele esta possibilidade de conceber universos atravessados pela contradição, sem apelar para truques de roteiro e psicologia vagabunda. Todos os personagens que conhecemos, entre o assassinato da garota e a descoberta do autor do crime em O Quimono Escarlate, estão expostos em suas ambiguidades. Os policiais de Fuller, como seus bandidos e mercenários, são profundamente afetados pelo elemento humano em jogo. As paixões, sejam elas quais forem, é o que os desestabiliza, mas não os arrefecem. O assassinato da stripper é um ponto de partida para o desnudamento de algo que, no entanto, não dissimula sua imagem: uma comunidade urbana, moderna, com diferenças profundas – conciliáveis ou inconciliáveis – e injustiças flagrantes entre seus membros. Durante o filme, o crime parece se tornar secundário, porém, se vimos tudo começar nele, voltamos para ele em seu final. Nesse ínterim, temos os dois policiais, o branco e o nissei, ambos apaixonados por uma pintora a quem protegem e amigos de uma outra pintora, mais efusiva e inteligente só que constantemente bêbada. Há também uma observação curiosa sobre mistura de culturas, com freiras coreanas e ocidentais engajados na cultura japonesa, cemitérios de heróis de guerra nisseis que lutaram contra o país de seus pais e etc. Para tanto, uma mise en scène que relaciona fatores distintos. Fuller conjuga os interiores (estúdio) e exteriores, a construção de um espaço dramático e o agenciamento caótico de uma locação a céu aberto. Enfim, o realismo colateral de Samuel Fuller que aqui explora todas as suas ambivalências com uma elegância bruta (na ação, nas asserções) e sutil (no ritmo, nos detalhes). Francis Vogner dos Reis 205 A Lei dos Marginais Underworld U.S.A 1961, 35 mm, 99 min, 1.85 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Hal Mohr Montagem: Jerome Thoms Música: Harry Sukman Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Globe Enterprises Elenco: Cliff Robertson, Dolores Dorn, Beatrice Kay, Paul Dubov, Robert Emhardt, Larry Gates, Richard Rust, Gerald Milton, Allan Gruener, David Kent, Tina Pine, Sally Mills, Samuel Fuller Classificação Indicativa: 16 anos Aos quatorze anos, Tolly Devlin (Cliff Robertson), um pequeno delinquente, vê seu pai sendo assassinado em um beco. Vinte anos mais tarde, descobre que os assassinos fazem parte do alto escalão do sindicato do crime, e infiltra-se nele para pôr sua vingança em prática. 206 Ao encarar o assassino moribundo de seu pai, Tolly Devlin murmura entre os dentes: “Eu, que sou o retrato de meu pai, Tom Devlin”. A Lei dos Marginais é a literal ilustração desse credo filial: o close no rosto do protagonista arremata cada sequência do filme, inaugura todo embate. Os incidentes e personagens com que sua marcha se choca são subsumidos por esta figura esfíngica: uma consciência aqui se forja e se prova através de uma ominosa trama de acidentes, uma trilha perversa de pais substitutos (os chefões) e duas figuras femininas (Cuddles, a matronal dona do bar; Sandy, a frágil “flor do lodo”) que prometem refúgio para a atormentada hybris do justiceiro. O modelo descrito aqui corresponde a um gênero clássico na literatura ocidental: o romance de formação (Bildungsroman). Através do encontro com várias figuras, um menino vai sendo aliciado por um vórtice aterrador, um no man’s land inominável, ao qual é impossível resistir: crescer, este opróbrio. Experiência terrivelmente dialética: identificando-se com os modelos com que se defronta e, em um mesmo movimento, ultrapassando-os, substituindo-os, traindo -os; vingando-se de sofrer o que lhe fazem sofrer: crescer, esta maldição. A clivagem esquizofrênica que atravessa a obra de Fuller – na qual um personagem sempre se vê seduzido ou ameaçado pela possibilidade de tornar-se um Outro – aqui se refrata e se distribui ao longo de uma cadeia de personagens venais (os chefões), de escalas na trajetória de reconciliação com o passado que o personagem empreende. A questão aqui é de natureza ontológica: Tolly não é mais um menino, mas permanece aferrado às suas origens, faz da sua vida um meio de servir a um móbil primordial: permanecer à sombra do Pai. A infância é presente, mas como um fantasma; como todo fantasma – vivência passada que não foi simbolizada, integrada ao logos – , ela volta, mas franzida de assombro: a surra mortal no pai; as bonecas de Cuddles, em grandes angulares; o assassinato da menina. Nessas sequências onde refulge um chiaroscuro febril, o expressionismo aparece em Fuller com propósitos de conjuração; uma certa infância do cinema serve ao terror de uma outra infância – à presentificação de um outro espectro, agora individual. Este é, com Cão Branco, o grande filme de horror de Fuller; o filme em que as presenças (e o mundo noir onde se movem) flutuam na gravitação de uma Origem trágica, um fatum fantasmático. Ao contrário do calvário final de Brando no filme de Kazan, a via crucis com que A Lei dos Marginais se conclui – um estertórico plano-sequência do personagem em agonia – não sublima, mas eterniza a culpa e a maldição. Luiz Soares Jr. 207 Mortos que Caminham Merrill’s Marauders 1962, 35 mm, 98 min, 2.35 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Milton Sperling, Samuel Fuller Fotografia: William Clothier Montagem: Folmar Blangsted Música: Howard Jackson Produção: Milton Sperling Companhia Produtora: A United States Productions Photoplay, Warner Bros. Pictures (apresenta) Elenco: Jeff Chandler, Ty Hardin, Peter Brown, Andrew Duggan, Will Hutchins, Claude Akins, Luz Valdez, John Hoyt, Charlie Briggs, Chuck Roberson, Chuck Hayward Classificação Indicativa: 16 anos O General Frank D. Merrill (Jeff Chandler) conduz os 3.000 voluntários americanos de sua 5307 Composite Unit, conhecidos como “Merrill’s Marauders”, atrás das linhas japonesas pelas selvas de Burma. Baseado no livro de Charlton Ogburn Jr. 208 Oferecido por Jack Warner a Fuller como uma espécie de “ensaio geral” para, em sequência, realizar Agonia e Glória, Mortos Que Caminham é um filme em que brilham o Fuller roteirista e o Fuller paisagista, mas o Fuller propriamente cineasta tira férias. Baseado na campanha do general de brigada Frank Dow Merrill, que avançou com um contingente de três mil homens atrás das linhas inimigas pelo território da Birmânia, o filme segue o ethos fulleriano no que diz respeito à guerra – na guerra o que importa é continuar vivo –, mas não apresenta muitas ideias novas sobre como filmar a guerra ou como se deparar visualmente com os acidentes naturais do sudeste asiático (diegeticamente, a Birmânia; factualmente, as Filipinas) e a relação dos soldados com o ambiente. Para piorar, os contratempos: o filme era para ser estrelado por Gary Cooper, que foi diagnosticado com câncer pouco antes das filmagens; e, no fim, a própria Warner, descontente com o pouco fervor patriótico, decide mudar completamente o fim do filme, além de alterar radicalmente a montagem de uma cena cabal, uma batalha num labiríntico local para armazenamento de combustível. O núcleo dramático é a relação de pai e filho entre Merrill e Stock, um segundo tenente sem família que fora simbolicamente adotado anos antes pelo general. Merrill é o impiedoso e obstinado líder, que parece querer seguir adiante sem se importar com o estado lamentável de seus comandados; Stock é o líder que se compadece e sente cada morte como a sua, e pede a cada instante pela baixa de seus soldados. Mas é só no terço final que essa dinâmica efetivamente mostra real alcance dramático, com os marauders de Merrill absolutamente extenuados, tendo alucinações, andando como zumbis – finalmente há uma tradução em português feliz! –, famintos, doentes, desidratados, ou, como resume o médico do grupo, diagnosticados com “acumulação de tudo”. Os monólogos de Merrill, sabendo-se com os dias contados e filosofando que para seguir adiante é preciso só dar um passo atrás do outro, traduzem também a devida intensidade dramática às raias da insanidade para aquele grupo que luta além do limite de suas forças. Fuller também se esmera em enquadrar a natureza, usando a grua para observar a comida lentamente chegando via paraquedas num descampado, ou em contra-luzes de soldados chegando ao topo de uma colina ao entardecer. Mas as ideias aqui são fragmentadas, pedindo uma real organização de conjunto que não há nem na exigência da Warner nem, aqui, na vontade de Fuller. Ruy Gardnier 209 Paixoes Que Alucinam Shock Corridor 1963, 35 mm, 101 min, 1.75 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Stanley Cortez Montagem: Jerome Thoms Música: Paul Dunlap Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: Leon Fromkess-Sam Firks Productions Elenco: Peter Breck, Constance Towers, Gene Evans, James Best, Hari Rhodes, Larry Tucker, Paul Dubov, Chuck Roberson, Neyle Morrow, John Matthews, Bill Zuckert, John Craig Classificação Indicativa: 16 anos Um presunçoso e respeitado jornalista (Peter Breck) compromete-se a resolver um assassinato cometido num hospício. Para tanto, ele se interna como louco na própria instituição, mesmo sob protestos da namorada stripper (Constance Towers). A princípio, o jornalista sente prazer em simular sua loucura, mas, aos poucos, perde a lucidez em contatos com os outros internos, principalmente com os que testemunharam o assassinato. 210 Que lugar é esse onde o jornalista Johnny Barrett se interna a fim de investigar um assassinato? Não é somente um manicômio, mas o espaço onde algumas imagens fundadoras da identidade americana vagam como almas penadas (notadamente: o patriotismo, o racismo, a guerra). Imagens aberrantes ou reflexos invertidos do que encontra-se nas ruas, elas não deixam de ser um retrato bastante fiel dos EUA daquele período – e que América miserável é essa onde um pobre jornalista ambicioso sonha com as láureas do prêmio Pulitzer enquanto sua namorada ganha a vida como stripper (“Pagam melhor que o escritório”, ela justifica)? Paixões Que Alucinam é, ao lado de O Beijo Amargo, o filme em que Fuller confirma sua vocação de cineasta marginal, distanciando-se definitivamente de grandes gêneros do cinema americano (o western, o filme de guerra, o gangster noir) para realizar statements livres sobre a sociedade americana. A modernidade sempre latente de sua obra torna-se escancarada, irreversível: nesses dois filmes, Fuller parte da imagem como matéria-prima. Deixa-se de partir do mundo, como no cinema clássico, para partir-se efetivamente da própria imagem, investigando suas potências plásticas e seus sentidos instituídos. Tudo são imagens em Paixões Que Alucinam, seja as incrustações de Constance Towers sobre o rosto atormentado de Johnny ou os internos que se põem a encenar um barco descendo o Mississippi: os corpos dos loucos se desdobram em representações infinitas do mundo dentro do limitado espaço do manicômio. O hospital psiquiátrico é, assim, um bunker de imagens aprisionadas que se precipitam e se impulsionam em direção ao mundo exterior. Nesse sentido, as imagens em cores da cascata, dos índios e da estátua de um Buda são menos lembranças perdidas na consciência do que pontos de fuga: imagens cegas, tácteis, que não dizem nada efetivamente. São esses breves momentos, porém, aqueles em que nos vemos livres da prisão do manicômio para, tocando o mundo, reencontrarmos toda a sua liberdade. Calac Nogueira 211 O Beijo Amargo The Naked Kiss 1964, 35 mm, 90 min, 1.75 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Stanley Cortez Montagem: Jerome Thoms Música: Paul Dunlap Produção: Samuel Fuller Companhia Produtora: F & F Productions Elenco: Constance Towers, Anthony Eisley, Michael Dante, Virginia Grey, Patsy Kelly, Marie Devereux, Karen Conrad, Linda Francis, Bill Sampson, Sheila Mintz, Patricia Gayle Classificação Indicativa: 16 anos Kelly (Constance Towers) resolve mudar de vida e vai trabalhar como enfermeira de um hospital infantil para deficientes físicos numa pequena cidade. Mas, em Grantville, ela descobrirá que a perfeição e a tranquilidade do lugar escondem pessoas mesquinhas e doentes, que podem até machucar as mais indefesas criaturas. 212 Depois de realizar seu filme mais escandaloso, com invenções em nível absurdo de ebulição, Fuller insiste na radicalização, mas investe, ao contrário, na doçura. O Beijo Amargo não é seu único filme com uma mulher como protagonista, mas é seu único filme que soa como um drama feminino, ou como um melodrama, na forma de mostrar um personagem de exceção encalacrado num meio social que exclui aqueles que vivem fora de papéis bem determinados. Mas Fuller parece fazer de tudo para que O Beijo Amargo seja um melodrama impossível: que heroína é apresentada seduzindo e depois atacando um homem, empunhando uma garrafa em direção à câmera e sendo flagrada totalmente careca ao cair de uma peruca? A violência e o ritmo frenético do filme transformam-se em elegância e estilização visual quando, meses depois, essa mesma mulher chega a uma cidadezinha e transforma-se numa virtuosa enfermeira que ajuda crianças com problemas ortopédicos a superar algumas de suas deficiências. No caminho oposto está seu par, ou contrapar, milionário filantropo e verdadeiro dono-coronel da cidadezinha em questão, que ao longo do filme revela sua ignominiosa perversão sexual. Formalmente O Beijo Amargo também obedece à lógica dos extremos que se chocam. Em termos de ritmo, fotografia e im- ponência, tem o refinamento de um drama adulto europeu; mas nas viradas de roteiro e nos momentos de maior intensidade dramática – em especial a guinada que o filme dá em seu final para o mistério policial –, toda a verve pulp é requisitada, sem qualquer medo de quebrar o equilíbrio de tom. A cena decisiva do filme, por fim, utiliza a música para curto-circuitar o angelical e o demoníaco: a mesma canção entoada em closes pelas crianças com deficiências motoras do hospital, o cúmulo da inocência e da ternura, é minutos depois trilha sonora para uma sequência de abuso sexual seguida de violência e morte, ressignificando brutalmente o pathos da pureza infantil da música em sonhos estilhaçados de aceitação social e redenção. O Beijo Amargo faz Kelly traçar o caminho dos dois arquétipos femininos, de puta a mãe, ainda que substituta (a que protege as crianças), e o faz à custa da falência da moral masculina (o homem do dinheiro e o homem da lei não são dignos da confiança do espectador). Nada mal para um diretor que é geralmente acusado de fazer filmes apenas para gostos masculinos. Constance Towers, paradoxalmente frágil e inabalável, dá o diapasão da força de uma personagem magnífica, que espelha um filme brilhante. Ruy Gardnier 213 TubarAo Shark 1969, 35 mm, 92 min, 1.33 : 1 Título Alternativo: Caine Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller, John Kingsbridge Fotografia: Rául Martínez Solares Montagem: Carlos Savage Música: Rafael Moroyoqui Produção: Mark Cooper, Skip Steloff Companhia Produtora: Cinematográfica Calderón S.A., Heritage Entertainment Inc. Elenco: Burt Reynolds, Arthur Kennedy, Silvia Pinal, Barry Sullivan, Enrique Lucero Classificação Indicativa: 16 anos Um atirador perde sua carga perto de uma pequena cidade costeira do Sudão e fica preso por lá. Quando uma mulher o contrata para invadir um navio afundado nas águas infestadas de tubarões, ele vê a chance de compensar suas perdas. 214 Este é um filme em que as bordas são mais cintilantes do que os motivos centrais: a ambientação do hotel pulgueiro no Sudão com seu dono gordão e mau-caráter cercado de concubinas, as malandras estratégias de sobrevivência do (anti) herói oportunista Caine (Burt Reynolds), o garoto pequeno viciado em tabaco, o médico bêbado, as imagens submarinas com tubarões não adestrados, a gravidade das cenas filmadas em plongée (tomada de cima dos ventiladores de teto) e etc. Todos esses elementos possuem uma energia muito intensa, mesmo com a sujeira involuntária e com o cadenciamento um pouco exausto da montagem, bagunçada pelos produtores. É só experimentar ver o filme sem som: Fuller faz da composição e do ritmo interno dos seus planos imagenssíntese da sua força atrevida, ambígua e de sinceridade cristalina. Sinceridade, que se diga, que é postura estética antes de tudo. O diretor repudia o simulacro e não acredita na dissimulação do artifício (talvez nisso resida seu famoso desprezo por Hitchcock), por isso, mesmo em condições de produção adversas, seu talento se sobrepõe aos defeitos com radical desenvoltura. No entanto, quem conhece a obra do diretor, estranha uma parte importante da engrenagem dramática. O vilão interpretado por Barry Sullivan mais serve aos desencadeamentos do conflito roteirístico do que aos paradoxos amor/ódio, lealdade/traição que o filme aqui apenas sugere (as mesmas polaridades resultaram em maravilhas em um filme como O Quimono Escarlate); a trama da busca do ouro escondido no navio afundado – motivação primordial do drama – não tem os tradicionais paroxismos que vemos Fuller realizar em outros filmes em que as ambições dos personagens se equilibram entre o trágico e o patético. Só que essa fama de filme-problema faz mais mal à apreciação de Tubarão do que ao filme propriamente dito. Essa fama de filme “genial, mas ruim” é um clichê que não se sustenta. Se o filme fosse de um Joe D’Amato, seria chamado de obra-prima. Burt Reynolds – considerado por alguns um dos desastres do filme – é um ótimo herói fulleriano. O personagem físico e cínico se adequa bem à persona do ator. Mas como é de costume no universo cinéfilo, as verdades prontas estão à mão e o rigor crítico está em falta, e o Tubarão de Fuller passou para a história como o seu filme malquisto (porque malvisto). Um equívoco, para dizer o mínimo. Francis Vogner dos Reis 215 Dead Pigeon on Beethoven Street 1973, 35 mm, 102 min, 1.33 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Jerzy Lipman Montagem: Liesgret Schmitt-Klink Música: The Can Produção: Joachim von Mengershausen Companhia Produtora: Bavaria Atelier, Bavaria Film, Chrisam Productions, e Westdeutscher Rundfunk (WDR) Elenco: Glenn Corbett, Christa Lang, Sieghardt Rupp, Anton Diffring, Stéphane Audran, Eric P. Caspar, William Ray, Alexander D’Arcy, Anthony Chinn e Verena Reichel. Um detetive americano é assassinado na Alemanha por uma gangue internacional. Seus amigos querem vingança. O filme é na verdade um episódio para uma série policial alemã. 216 Dead Pigeon on Beethoven Street começa com um pombo morto na Rua Beethoven e termina com uma perseguição pastelão. Assim como os outros filmes que Samuel Fuller realizou na Europa, há uma autoconsciência aqui do que seria “um filme de Samuel Fuller”, que lembra um pouco os filmes que Howard Hawks realizou nos anos 60, e, a certa altura, o protagonista até assiste a uma versão dublada de Onde Começa o Inferno (Rio Bravo, 1959), como que para reforçar essa conexão. Se Fuller foi o mais político dos cineastas da sua geração, tirá-lo da América significa fazer com que seus filmes operem sem centro, permitindo que, por vezes, os vários gracejos fullerianos eternizados pelos seus imitadores existam quase num universo à parte. Se esse clima de pastiche atrapalha um pouco os filmes posteriores a Cão Branco, ele se encaixa com perfeição aqui. Dead Pigeon on Bethoeven Street é o único filme de Fuller dos anos 70 e trata da sua resposta ao cinema americano do período, completo com Stéphane Audran a interpretar uma lésbica identificada como Dra. Bogdanovich. Na superfície, encontramos a mesma cinefilia que anima vários dos neo-noirs do período, mas o desespero aqui é genuíno, e não, emprestado de outros livros e filmes. Dead Pigeon on Beethoven Street não é um filme exatamente sem centro, mas um filme sobre perder um centro – não surpreende que alguns dos seus momentos mais marcantes sejam aqueles em que se reforça a ideia de exílio –, sua intriga política é expurgada por uma anarquia trágica. No final termina-se na sarjeta, não sobre a chave do fatalismo pretensamente adulto dos seus pares, mas com a certeza de que se é vitima de uma piada cósmica perversa. A impotência sugerida pelo filme lembra muito a que encontramos em vários filmes do nosso Cinema Marginal. Nas sequências finais, quando o pior detetive da história do cinema tem a chance de se vingar num duelo de espadas – Fuller acredita na ideia de que a soma do cinema de ação americano viril com a sensibilidade europeia resulta em farsa – e, por fim, escapa numa fuga digna de comédia muda, já não resta nada para além de uma risada impotente e desesperada. Filipe Furtado 217 Agonia e Gloria The Big Red One 1980, 35 mm, 113 ou 162 min, 1.85 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Adam Greenberg Montagem: Morton Tubor Música: Dana Kaproff Produção: Gene Corman Companhia Produtora: Lorimar Productions Elenco: Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine, Bobby Di Cicco, Kelly Ward, Stéphane Audran, Siegfried Rauch, Serge Marquand, Charles Macaulay, Alain Doutey, Christa Lang O filme funciona como o diário de combate da famosa Primeira Infantaria americana durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando como se lutou, como se suou e sangrou na guerra e como foi possível sobreviver a ela. Ao mesmo tempo que participa de importantes eventos do conflito, o pelotão se envolve em diversos incidentes cotidianos dos civis involuntariamente envolvidos no horror da guerra. 218 A justamente famosa sequência da descoberta dos campos de concentração, filmados pelas tropas americanas, é o evento que estabelece o significado da guerra para Fuller. A guerra é, como o cinema, este horizonte ominoso de vidência onde se deflagram toda a espécie de revelações, todo o espectro de epifanias. Não apenas as epifanias espetaculares da técnica ou as encenações sangrentas do poder, em seu campo de provas soberano. Revelações do caráter dos personagens, seus modos de sofrer e ser sofrido pelo mundo – de ser Um e Outro. Agonia e Glória é esse bloco de anotações – um tanto diário, um tanto experimento entomológico, um tanto In memoriam– em que o cineasta encontra à sua disposição, pela derradeira vez, vastos meios para elaborar as suas estratégias de demiurgia e desvelar uma perturbadora fenomenologia do mundo, à escala do mundo. A guerra é este tablado gigantesco em que o cerne do fenômeno é revelado sob o impacto da arma de que o cinema dispõe para atingir os seus propósitos de manifestação e conhecimento das aparências: o choque. Subitamente, o verdadeiro significado do contracampo no cinema de Fuller nos é revelado, pois restituído ao seu meio de cultura original, ao seu stand primeiro. Até então, o contracampo em seu cinema nos parecera uma espécie de palavrão na cadeia sintagmática da sequência – uma irrupção e um golpe, um eletrochoque no campo –, mas situados no espectro emocional do personagem, tendo assim um significado expressionista. Mas havia algo aquém, de mais essencial em jogo. Fuller, em sua participação célebre no Pierrot le fou de Godard, comparou o cinema a uma praça de Guerra. Mas reside aí um insight mais sutil que o simples panegírico do cinema como uma física das paixões; Agonia e Glória nos prova que a guerra e o cinema têm em comum o fato de serem experiências radicais do fenômeno – aquele momento em que os modos de ser da aparência se revelam, sob o golpe (certeiro e violento, em ambos os casos) da câmera e do tiro. O cinema é uma máquina teratológica onde se produzem visões bigger than life, cataclismas e holocaustos da percepção; as próprias condições fenomenológicas a que está submetido o espectador de cinema – amarrado à cadeira e na escuridão – assinalam não apenas (como bem o pensou Schefer) esta consanguinidade fenomenológica com o sonhador, mas também com o torturado, aquele que sofre (no sentido de ser objeto de) o império das imagens sobre si. Uma ontologia da experiência cinematográfica se desdobra aqui, tanto no objeto da representação (o mundo propriamente dito, devassado pela câmera, retalhado pela montagem) quanto no da recepção. Agonia é uma summa da experiência de Fuller – na guerra, entre os seus e entre os outros, entre seus filmes e seus filhos. Mas também é sobre nós, estes sonâmbulos, estes vampiros. Estes que um dia sonharam o mundo, sem jamais conseguirem serem lá. Luiz Soares Jr. 219 CAo Branco White Dog 1982, 35 mm, 90 min, 1.78 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller, Curtis Hanson Fotografia: Bruce Surtees Montagem: Bernard Gribble Música: Ennio Morricone Produção: Jon Davison Companhia Produtora: Paramount Pictures Elenco: Kristy McNichol, Christa Lang, Vernon Weddle, Jameson Parker, Karl Lewis Miller, Karrie Emerson, Helen Siff, Glen Garner, Terrence Beasor, Tony Brubaker Uma jovem (Kristy McNichol) aspirante a atriz encontra um cão branco perdido na rua e resolve adotá-lo. Ela, aos poucos, percebe que se trata de um animal treinado a vida toda para atacar pessoas negras (a exemplo dos ‘cães brancos’ da África do Sul). Ao perceber o comportamento racista do cachorro, ela o entrega a um treinador de animais, ele próprio negro, para tentar reeducar o animal. Baseado no romance de Romain Gary. 220 Samuel Fuller realizou alguns dos mais evocativos closes de todo o cinema. Poucos diretores se mostraram tão habilidosos ao deixar sua câmera repousar sobre o rosto de seus atores. Mais do que qualquer um de seus outros filmes, Cão Branco é um trabalho construído em cima de closes, ainda que não necessariamente no volume desses planos, certamente na ressonância dos mesmos. Porém, não é sobre um ator que a câmera de Fuller se volta, mas sobre o cão branco do título. Os melhores momentos de Cão Branco são aqueles em que seu personagem principal se vê frente a frente com o treinador negro que tenta descondicioná-lo e a câmera de Fuller baixa à altura do animal e permite o drama chegar até o espectador com todo seu impacto. O filme consegue captar a violência extrema do processo de condicionamento, tanto aquele que seu protagonista sofreu antes do filme começar, quanto do duro processo de tentar rompê-lo. Cão Branco é o Au Hasard Balthazar do cinema americano, seu animal é tocante justamente porque é um completo inocente que carrega com ele toda uma violência sócio-histórica imposta pelo homem. Um dos maiores talentos de Samuel Fuller sempre foi justamente localizar conceitos fortes e dar a eles uma vida bem distante da abstração de uma simples ideia. Nesse sentido, Cão Branco é o seu maior triunfo, seu personagem principal capaz de expressar consigo todo um longo processo histórico de violência. O filme mostra o racismo em ação com uma selvageria rude, de uma honestidade que o cinema raramente alcança. Por exemplo, uma das melhores e mais simples soluções de Fuller é deixar claro que nenhum personagem negro mostre qualquer surpresa diante da existência do cão, ele é mais um dado da violência racial diária e não algo que possa chocar. Isso tudo porque Cão Branco é um filme desinteressado em ensinar lições ou destacar as virtudes dos seus personagens: é um filme honesto porque sabe que não há redenção possível para o racismo. Cão Branco se ocupa somente de posar a câmera sobre aquele animal, ao mesmo tempo uma figura brutal e o único inocente em toda a história, e nos lembrar de que ele traz consigo todos nós. Filipe Furtado 221 Ladroes do Amanhecer Les voleurs de la nuit 1984, 35 mm, 98 min, 1.37 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Olivier Beer, Samuel Fuller Fotografia: Philippe Rousselot Montagem: Catherine Kelber Música: Ennio Morricone Produção: Antoine Gannagé Companhia Produtora: Parafrance Films, Alain Sarde Elenco: Véronique Jannot, Bobby Di Cicco, Victor Lanoux, Stéphane Audran, Camille de Casabianca, Micheline Presle, Rachel Salik, Marthe Villalonga, Andréas Voutsinas, Claude Chabrol, Samantha Fuller, Christa Lang François (Bobby Di Cicco) e Isabelle (Véronique Jannot) se conhecem em um escritório de desempregados. Ele é violoncelista e ela, historiadora de arte. Os dois acabam se apaixonando e tentam ganhar dinheiro como músicos de rua, mas nada parece dar certo. Isabelle sugere, então, que eles roubem três escritórios. 222 Após o lançamento fracassado de Cão Branco ter atormentado sua vida, Fuller foi à França dirigir este pequeno filme de roubo. Se em tese é um filme de gênero, na prática, é um trabalho – que soa bem atual – sobre dramas cotidianos da sociedade contemporânea, já que é um filme sobre desemprego. Seus dois protagonistas, jovens perdidos – especialmente o rapaz –, meio malucos, na forma como alternam suas emoções e parecem sempre descontrolados. Depois de trombarem com alguns personagens que enriquecem o universo fulleriano, cheio de participações divertidas, eles resolvem que vão se vingar das pessoas que deveriam auxiliá-los na busca por emprego no auxílio social, mas apenas os humilhavam. É tudo bobo, mas não há como não rir de Claude Chabrol interpretando um dos inimigos. Dali em diante, o filme se diverte ao colocar os personagens comparando-se a grandes bandidos do cinema, embora sua saga seja pé-no-chão, com roubos fracassados, visitas envergonhadas a bandidos de verdade, longe do glamour do crime. Quando uma das vítimas morre num acidente – e, claro, eles não têm culpa de nada –, os dois iniciam uma fuga desajeitada, que terminará de forma trágica. Não sem a piscadela no fim, em que se descobrirá que eles realmente não tinham cometido o crime. Mas já era tarde demais: na tentativa de escapar dali, eles acabaram deixando vítimas no caminho. Há algo de verdadeiramente estranho neste filme. São muitos personagens inocentes, num sentido quase infantil, como o policial que trabalha no teatro e mesmo o casal central – em contraste com o exagero dos outros, que poluem esse ambiente com atuações pesadas, até bem engraçadas. Fuller apostou em realizar na França um filme que, em sua concepção, falasse aos franceses. Esses, aparentemente, não compreenderam o que fazia um mestre do “cinema americano” naquele universo. Não é muito justo que se critique o filme sobre este aspecto: ele funciona como fábula sobre o assunto, mas está longe de ser um de seus melhores trabalhos. Há alguns bons momentos, mas Ladrões do Amanhecer oscila em sua força, e é bem esquecível. Guilherme Martins 223 Uma Rua Sem Volta Street of no Return 1989, 35 mm, 93 min, 1.85 : 1 Direção: Samuel Fuller Roteiro: Jacques Bral, Samuel Fuller Fotografia: Pierre-William Glenn Montagem: Jacques Bral, Jean Dubreuil, Anna Ruiz Música: Karl-Heinz Schäfer Produção: Jacques Bral Companhia Produtora: Animatógrafo, France 3 Cinéma, Thunder Films International Elenco: Keith Carradine, Valentine Vargas, Bill Duke, Andréa Ferréol, Bernard Fresson, Marc de Jonge, Rebecca Potook, Jacques Martial, Christa Lang, Samantha Fuller Depois de alcançar o sucesso, um cantor (Keith Carradine) tem sua carreira arruinada ao disputar o amor de uma mulher (Valentine Vargas) com um criminoso (Bill Duke) que destrói sua garganta no meio de uma luta. Baseado em livro de David Goodis. 224 Quanto já não se disse que o último Fuller para o cinema, Uma Rua Sem Volta, é um trabalho menor? Muitas vezes, e dizse “menor” para não se dizer “ruim”. É um clichê que não serve de argumento valorativo para os filmes do diretor. Fuller não é Fellini. Todos os filmes de Fuller – seja o coloridíssimo cinemascope de Tormenta Sob os Mares da Fox, seja este ordinário e opaco filme B, Uma Rua Sem Volta – são, sob certo aspecto, “filmes pequenos”, “filmes menores” frente ao sistema de valores que rege o juízo do bom desempenho artístico, da grande obra de arte. O diretor forjou um método no qual sempre e em qualquer situação consegue extrair uma expressividade singular e intensa. Não depende do aparato e nem do artifício, mas de uma organicidade da câmera com a ação, do ponto de vista com a moral. Sendo assim, com todo respeito: quanto pior o filme de Fuller, mais evidentes são as suas qualidades. Afirmar isso não é inverter valores: na falta de equilíbrio, os filmes “ruins” de Fuller deixam ver, sem cerimônia, a violência criadora da câmera, a redução de tudo ao mínimo denominador comum. A câmera serve para documentar intensidades: a força intimidadora dos primeiros planos, o corpo a corpo da câmera com a violência que filma, o ritmo sereno das panorâmicas que perseguem ações frenéticas e o efeito emocional dos cortes. O primeiro plano de Uma Rua Sem Volta é de um homem tomando uma martelada na testa, e o que se vê a seguir é uma briga de gangues. A violência é explícita e frontal, como nunca antes na carreira do diretor. A câmera de Fuller atravessa a briga: só pode filmar uma ação desse tipo a partir de um ponto de vista interno. Era a única maneira de não ser cínico em uma época (os anos 80) em que a violência no cinema apostava na ironia pós-moderna. Fuller experimentou as trincheiras da Segunda Guerra, documentou um campo de concentração, e para ele não se pode filmar impunemente a violência: deve-se filmá-la de perto e sem muitas mediações. Essa abertura de Uma Rua Sem Volta adota o ponto de vista dos mendigos (e é a eles que voltaremos no fim), mais especificamente de um mendigo mudo interpretado por Keith Carradine que (admirável paradoxo) era astro de rock. O cineasta, como sempre, se interessa mais pelo olhar do homem pequeno, do marginal, da escória, do pária. E não é só um olhar gerador de sentido, mas um olhar de testemunha, pois, para um exjornalista como Fuller, não há nada escondido que não peça para vir à luz. Francis Vogner dos Reis 225 La Madonne et le Dragon 1990, 90 min Título Alternativo: Tinikling Direção: Samuel Fuller Roteiro: Samuel Fuller Fotografia: Alain Levent Montagem: Catherine Kelber Música: Marc Hillman e Patrick Roffé Direção de Arte: Jean-Pierre Clech Produção: Jean-François Lepetit Companhia Produtora: Canal +, Flach Film e TF1 Elenco: Jennifer Beals, Luc Merenda, Patrick Bauchau, Behn Cervantes, Pilar Pilapil, Christa Lang, Reginald Singh e Samuel Fuller. A história de dois fotógrafos de notícias que cobrem a revolução do povo nas Filipinas. 226 Mais uma vez, Fuller parece tentar se aproximar de linguagens contemporâneas, ao mostrar um grupo de fotógrafos que acompanha de perto uma guerra sanguinária em território tomado pela miséria. A pobreza, e os personagens marginalizados por ela ressurgem outra vez, embora o filme seja mostrado sob o ponto de vista dos fotógrafos ocidentais, em meio à guerra nas Filipinas. É um filme estranho, sem medo de pesar a mão ao mostrar imagens como as de crianças lutando por comida no lixão, muito pela firmeza de Fuller – as imagens nunca se tornam pornográficas. A primeira metade do filme acompanha uma trama de guerra, em que os fotógrafos, um casal, e um garoto que eles ajudam, tentam sair vivos do combate sanguinária entre exército e militâncias. Fuller sabe bem como situar os personagens para que só conheçamos aquilo que forma a moral de cada um a seu momento. Ao retornar para a segurança da região urbana, o rolo de filme com a foto de um militar executando uma mulher desaparece, e esse item passa a ser decisivo na luta pelo poder na cidade. O filme se torna mais uma aventura com personagens trapaceiros e um universo cheio de marginais, cada um lutando pelo seu objetivo – seja dinheiro, seja política, seja salvar um inocente envolvido. É um filme quase invisível, desconhecido mesmo dos entusiastas do cineasta – injustamente –, mesmo que não se trate de um ponto alto de sua obra. Lembra demais os faroestes políticos, em que personagens amorais vão se conscientizando ao se envolverem no meio de um combate guerrilheiro. Tem a sua força e não merece o desconhecimento, já que sequer podemos dizer que o filme sumiu. Talvez o que atrapalhe é que parte da trama em que o filme com a foto fica sendo negociado entre vários grupos é um pouco desinteressante, e soa como se ele apenas repetisse uma cartilha que domina. Isso não é suficiente, em todo caso, para diminuir La Madonne et le Dragon. Guilherme Martins 227 Sobre os Autores Manny Farber Pintor, professor e crítico de arte e de cinema. Escreveu para publicações como Time, The Nation, The New Republic, Artforum, Film Culture e Film Comment, entre outras. Foi professor de arte e de cinema na University of California, San Diego, de 1970 a 1987, dedicando-se a partir daí às artes visuais, ao lado de sua mulher Patricia Patterson. Faleceu em 2008. Filipe Furtado Redator da Revista Cinética e ex-editor da revista Paisà. Escreveu para espaços como Contracampo, Cine Imperfeito, Teorema, Rouge, The Film Journal e La Furia Umana. Mantém o blog Anotações de um Cinéfilo (http://anotacoescinefilo.com). Ruy Gardnier Crítico e pesquisador. Foi fundador da revista de cinema Contracampo, que editou até 2008. É editor do blog de crítica musical Camarilha dos Quatro, crítico de cinema para o jornal O Globo e pesquisador do acervo audiovisual do Circo Voador. Foi curador de retrospectivas de Julio Bressane 228 e Rogério Sganzerla, e editor dos catálogos das retrospectivas John Ford, Abel Ferrara e Revisão do Cinema Novo. Nicholas Garnham Professor emérito de estudos de mídia na Universidade de Westminster, em Londres. Entre 1962 e 1970, foi montador e diretor na BBC. Foi diretor do British Film Institute entre 1973 e 1977. Publicou, entre outros, os livros M: A Film by Fritz Lang (1968), Samuel Fuller (1971), The Economics of Television (1987) e Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of Information (1990), entre outros. Kent Jones Crítico de cinema, arquivista e diretor -assistente de programação na Film Society of Lincoln Center, Nova York. É membro do conselho editorial da revista Film Comment, colaborador das publicações Cahiers du Cinéma, Bookforum e Cinemascope, e membro permanente do comitê de seleção do New York Film Festival. É também corroteirista de Minha Viagem à Itália (1999), documentário de Martin Scorsese sobre cinema italiano. Luiz Soares Junior Calac Nogueira Crítico de cinema e tradutor. É redator da Revista Cinética e mantém o blog Dicionários de Cinema (http://dicionariosdecinema.blogspot.com.br), de traduções de crítica de cinema francesa. É mestre em filosofia da arte pela UFPE com dissertação sobre Heidegger e fenomenologia. Crítico de cinema e atual editor da revista eletrônica Contracampo (www.contracampo.com.br). Guilherme Martins Crítico de cinema. Foi redator da revista eletrônica Contracampo e da revista Paisà. Atualmente escreve para a revista eletrônica Interlúdio ( www.revistainterludio.com.br ) Francis Vogner dos Reis Crítico de cinema, professor e roteirista. Foi editor e cofundador da revista Cine Imperfeito, é redator da Revista Cinética e colaborador das revistas Cahiers du Cinéma España, Filme Cultura, Teorema, Miradas del Cine, La Furia Umana e Foco Revista de Cinema. É roteirista do filme Carisma Imbecil, de Sergio Bianchi, além de ter ministrado cursos (Cinesesc) e oficinas (Faculdade Cásper Líbero) de cinema. Luc Moullet Crítico de cinema e cineasta. Começou a escrever sobre cinema nos Cahiers du Cinéma aos dezoito anos, tendo sido o primeiro a defender o cinema de Fuller com mais consistência. Seu primeiro longa-metragem é Brigitte e Brigitte (1966). Outros filmes: Uma Aventura de Billy le Kid (1971), Anatomia de uma Relação (1976), Gênese de uma Refeição (1978) e Os Assentos do Alcazar (1989). 229 creditos Patrocínio Banco do Brasil Realização Centro Cultural Banco do Brasil Produção Firula Filmes Curadoria Julio Bezerra Coordenação de Produção José de Aguiar Marina Pessanha Produção Executiva José de Aguiar Marina Pessanha Assistente de Produção Executiva Rafael Bezerra Produção de Cópias Fábio Savino Produção Local Maria Sayd ( RJ) Daniela Marinho ( DF) Renata da Costa ( SP) 230 Identidade Visual PANTALONES: Igor Moreira Jandê Saavedra Farias Ricardo Souza Projeto Gráfico-Editorial PANTALONES: Ricardo Souza Legendagem Eletrônica Tucumán Distribuidora de Filmes Revisão de Cópias KM Comex Transporte Nacional KM Comex Liberação Alfandegária Luiz Balthazar Carlos Henrique Vasconcelos Transporte Internacional Luiz Balthazar Carlos Henrique Vasconcelos Assessoria de Imprensa Thiago Stivaletti (SP) Cristiano Bastos (DF) Cláudia Oliveira (RJ) Catálogo Agradecimentos Idealização Julio Bezerra e Ruy Gardnier Ana Beatriz Vasconcelos Carlão Reichenbach Christa Fuller Dona Lenha Mediterrâneo Eduardo Cantarino Eduardo Valente Ever Vaca Eric Sherman Fabio Savino Hernani Heffner Hotel Meliá Inácio Araújo Jaiê Saavedra Juliano Gomes Kent Jones Luc Moullet Manny Farber Martin Rubin Mika Kaurismaki Nicolas Garnham Samantha Fuller Organização Editorial Ruy Gardnier Tradução de Textos Mariana Barros Ruy Gardnier Ismar Tirelli Neto Guilherme Semionato Luiz Soares Jr. Revisão Ana Vitor Manuela Medeiros As imagens publicadas neste catálogo tem como detentoras as seguintes produtoras/distribuidoras: FOX, Park Circus, Hollywood Classics, Beta Filmes, Thurner Films; além de Samantha Fuller e Christa Fuller. A organização da mostra lamenta profundamente se, apesar de nossos esforços, porventura houver omissões à listagem anterior. Comprometemo-nos a reparar tais incidentes em caso de novas edições. 231 Samuel Fuller: Se você Morrer eu te Mato ! CCBB SP - 20 a 31 de março de 2013 Rua Álvares Penteado, 122, Centro, São Paulo - SP CCBB DF - 26 de março a 14 de abril de 2013 SCES, Trecho 02, lote 22, Brasília - DF CCBB RJ - 16 abril a 05 de maio de 2013 Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro - RJ O papel empregado neste livro é o Pólen Soft 80g/m2 As fontes utilizadas são das famílias Firepower, TrashCinema e Kreon A produção gráfica – impressão e acabamento – foi executada na Gráfica Stammpa, no Rio de Janeiro, RJ.
Baixar