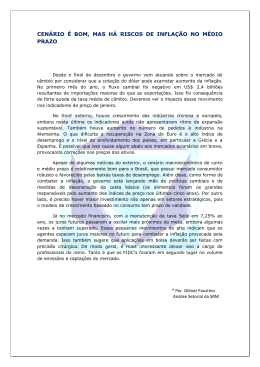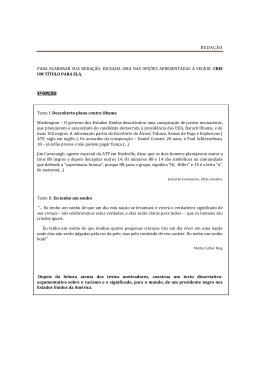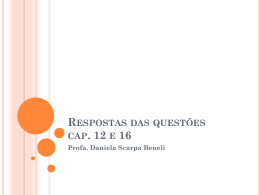Dossiê com notícias sobre a “Crise Econômica”
FOLHA DE SÃO PAULO – CADERNO MAIS! – 19/10/2008
O cidadão incomum
Na época de maior liberdade de expressão, de crítica e de voto de toda a história, sociedade é vítima
impotente da irracionalidade da economia, defende filósofo
RENATO JANINE RIBEIRO
ESPECIAL PARA A FOLHA
Que implicações morais terá, para o cidadão incomum -o que pertence à classe média ou à rica-, a atual
crise financeira?
Essa parte está chocada, porque se vê diante do que muitos chamam de a pior crise dos últimos 79 anos,
ou seja, desde o crack da Bolsa de Nova York, em 1929. Aquela crise comandou a ascensão do nazismo na
Alemanha e outros fenômenos que culminariam na Segunda Guerra Mundial. Por isso, o quadro assusta.
Nesse desenho geral, pode ser questão secundária tratar da expectativa dos mais endinheirados ante o seu
dinheiro talvez virando pó. Mas esse tema ronda a consciência de muita gente.
Quando foi instituída a nova moeda brasileira, em 1994, muitos correntistas começaram a sentir perdas nos
seus investimentos em fundos. Isso não foi freqüente, mas aconteceu. Antes, com a inflação, sempre havia
um rendimento nominalmente positivo -mesmo que fosse inferior à depreciação da moeda e, na verdade,
implicasse uma perda de dinheiro.
Impressão da perda
Mas uma coisa é, psicologicamente, você ver sua aplicação subir de 100 cruzeiros para 101, quando a
inflação foi de 2% e, portanto, você perdeu um cruzeiro; outra é a sua aplicação passar de R$ 100 para R$
99,50, caso em que fica evidente a perda de valor. O que choca, então, não é a realidade de ganhar ou
perder: é a impressão de ganhar ou perder.
Isso é curioso. Uma das qualidades dos mercados, nos dizem seus defensores, é o elemento de
racionalidade que introduzem na vida econômica. Não há dúvida de que eles funcionam bem, por exemplo,
para evitar absurdos soviéticos, como o de produzir cigarros que não podiam ser segurados na posição
vertical -porque o fumo caía no chão. Permitem uma articulação entre vendedor e comprador -ou entre
fornecedor e usuário- mais espontânea e melhor do que faria uma burocracia fechada sobre si própria.
Mas, ao mesmo tempo, os próprios defensores da racionalidade dos mercados usam termos como "eles
estão nervosos", "é preciso acalmá-los" e outros, de forte sentido antropomórfico -como se os mercados
fossem gente dotada de psique, como eu e você. Pior ainda, como se fosse gente particularmente nervosa,
que somente se acalma com injeções enormemente caras -uma delas foi de US$ 700 bilhões.
Ora, como esperar que gente nervosíssima tome decisões racionais? Parece um desatino. Daríamos o
controle das armas nucleares a gente que precisa drogar-se para ficar calma? Prefiro que não.
"Sempre mais"
Será que a atual crise nos ajudará a questionar a ilusão de mercados que enriquecem quem neles aplica e
que, ademais, introduzem um elemento de racionalidade na vida social? Será um enorme ganho se assim
for. Afinal, ilusões nunca trazem muita felicidade. Mas não acredito nesse desenlace otimista, iluminista.
Na verdade, está em jogo o modelo do "sempre mais". Ele perpassa toda a nossa vida. Os computadores,
os celulares, os aparelhos digitais aumentam sempre em recursos. Nós os usamos? Muito poucos. E muito
pouco. Mas eles continuam se intensificando, à medida que equipamentos que ainda nos servem se tornam
obsoletos e não podem mais ser consertados. O único exercício da "hybris", da desmedida, que encontrou
um limite em nosso tempo foi o do jato supersônico. Deu errado, parou, voamos subsonicamente, ponto
final.
Mas corremos atrás de megapixels e de memória RAM, para não falar de carros e cigarros. Seria bom
aproveitar esta crise para questionar a idéia, vitoriosa na política e na mídia, de que só a resolveremos
mediante medidas que a médio prazo -creio eu- a agravam.
Estamos num mundo com mais liberdade de expressão, de crítica, de organização e eleição do que em
qualquer época do passado. Mas não decidimos nada sobre a economia. Ela é governada pelo próprio
capital.
Fomos "nós, o povo", que geramos a crise? Claro que não. Mas quem pagará a conta? Nós, o povo.
Surpreende, nesse contexto, que haja quem acuse a esquerda -mesmo a esquerda que passou pela
construção do Muro de Berlim e por sua queda sem esquecer ou aprender nada, a esquerda que se nutre
de vento ideológico- de irresponsável. Se há quem não teve culpa alguma nessa crise toda, foi a esquerda.
O capital e seus representantes se mostraram irresponsáveis numa escala talvez sem par nos últimos
quase 80 anos.
Liberdade pouco fecunda
Dizem-nos que o único jeito de não piorar a crise é dar mais pão-de-ló ao dragão faminto, é nutrir a
serpente
que
causou
essa
crise
para
que
ela
continue
nos
envenenando.
É a mesma coisa que aceitamos quando nossas cidades são destruídas pelo uso do carro individual: em
vez de limitá-lo, em vez de adesivar os veículos (como fazemos com os cigarros) com os dizeres "O
ministério
adverte:
carros
matam,
aleijam
e
poluem",
multiplicamos
o
seu
uso.
Com sorte, adiamos o Juízo Final. Mas também o tornamos mais inevitável e implacável. Isso teria de
mudar. Temos de sair do nervosismo dos mercados e procurar algo mais racional, sensato, sustentável.
Mas conseguiremos? Com toda a inegável liberdade de nosso tempo, e inclusive a minha de dizer isso,
essa liberdade se mostra pouco fecunda. O que temos de democrático encontra aí seu buraco negro, a
caverna que o engole. Podemos continuar votando, sim, e eu o farei com o orgulho de quem só votou para
presidente, pela primeira vez, aos 40 anos. Mas gostaria muito que nossas liberdades políticas gerassem
resultados de verdade.
(RENATO JANINE RIBEIRO é professor de ética e filosofia política na USP e autor de, entre outros livros, "Ao Leitor
sem Medo" (ed. UFMG).)
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1910200801.htm
A era da modéstia
Após a febre consumista dos anos 1990 e 2000 à custa de empréstimos maciços, americanos
desaprenderam a viver com poucos recursos, mesmo os de classe mais baixa
KENNETH SERBIN
ESPECIAL PARA A FOLHA
Quando eu era criança e jovem, nos EUA, aprendi que cada geração deve conquistar um padrão de vida
mais alto que a geração anterior.
Devido à primazia econômica de meu país, atingi a maioridade nos anos 1960 e início dos anos 1970
acreditando em que as necessidades básicas da vida eram garantidas e em que eu poderia
automaticamente buscar uma carreira que me desse tanto sucesso financeiro quanto realização pessoal.
Ambos os meus avôs se mudaram da Europa para os EUA, aprenderam inglês e obtiveram empregos
trabalhando com as mãos. Um deles era estofador de móveis, e o outro trabalhava numa fábrica.
A vida ficou difícil durante a Grande Depressão, mas, no boom do pós-Segunda Guerra, todos os seus
filhos ingressaram na nova maioria formada pela classe média e desfrutaram o maior conforto da história da
humanidade. Meu pai não cursou faculdade, mas sempre teve emprego trabalhando com máquinas ou
como técnico. Graças aos hábitos econômicos dele e de minha mãe e à ajuda de meus avós, sempre
tiveram casa própria sem contrair hipoteca.
O começo do fim
Mas o primeiro choque petrolífero, em 1973, aliado à inflação causada pelos orçamentos federais inchados
da era da Guerra do Vietnã e da "grande sociedade" do presidente Lyndon B. Johnson, trouxeram em seu
bojo um longo período de estagflação e incerteza. Foi o começo do fim do grande sonho da classe média
americana.
Em 1978, ingressei na Universidade Yale, esperando encontrá-la fervilhando com o idealismo e o ativismo
que haviam tão notoriamente dinamizado os campi universitários alguns anos antes. Em lugar disso, porém,
me deparei com uma ênfase grande sobre o pré-profissionalismo, termo sombrio que refletia a realidade
econômica
difícil
que
minha
geração
começava
a
enfrentar.
Resumindo, significava que uma educação universitária se tornara algo altamente competitivo e que já não
representava garantia de um bom emprego.
Em 1981, enquanto o país se esforçava para recuperar-se dos juros de 20% do final da década anterior,
meu pai perdeu seu emprego, depois de 25 anos trabalhando para sua empresa. Em uma economia que
iniciara um processo acelerado de desindustrialização e, em alguns setores, se tornara incapaz de competir
com países como o Japão, ele foi obrigado a aceitar outro emprego recebendo pouco mais que o salário
mínimo -e sem benefícios.
Minha mãe já trabalhava em tempo integral para ajudar a pagar minha educação universitária e esperava
poder deixar o emprego depois que eu me formasse, em 1982. Mas teve que continuar trabalhando para
ajudar a poupar para a aposentadoria de meus pais. Comparada com o resto do mundo, a economia
americana ainda oferecia oportunidades para os jovens e criativos.
Fui viver e estudar no México e no Brasil e contei com apoio sólido para obter um Ph.D em história e
conseguir um emprego acadêmico, um privilégio imenso num mundo em que a maioria das pessoas
trabalha em empregos estressantes das 9h às 17h. Mas, depois de me casar e virar parte da engrenagem
econômica, na casa dos 30 anos, lutei para conquistar os benefícios econômicos que meus avós e meus
pais
tinham
desfrutado
no
período
de
1945
a
1973.
Meu avô materno não chegou a concluir o ensino médio, mas, mesmo assim, na década de 1950, terminou
de pagar, em pouco tempo, uma casa própria muito boa localizada num bom bairro.
Trabalho duro
Minha avó nunca trabalhou nem um dia em sua vida. Agora, mesmo munido de um Ph.D, tive dificuldade
em comprar um apartamento próprio e fui obrigado a contrair uma hipoteca de 30 anos. Minha mulher e eu
só conseguimos comprar uma casa com quintal depois de ela encontrar um emprego, efetivamente
dobrando nossa receita. Contraímos mais uma hipoteca de 30 anos.
A vida de pós-graduando e bolsista no Brasil me preparou bem para um estilo de vida simples, assim como
o fez meu casamento com uma brasileira que, na juventude, freqüentemente vivera na quase-pobreza. Nós
dois -ela de modo mais visceral do que eu- conhecemos a fragilidade da existência para a maioria dos
humanos.
Mas a maioria dos americanos não faz idéia de como é a vida nos países mais pobres. Protegidos e
doutrinados por jingles comerciais que promovem o consumismo de maneira suave, eles vivem em um
mundo de fantasia, que reforça o desejo de viver melhor do que viveram seus pais.
Como em minha situação, para equiparar-se ao padrão de vida da geração anterior, as famílias americanas
passaram a precisar de pelo menos dois assalariados trabalhando em tempo integral.
Mas como superar esse padrão? Os EUA encontraram uma solução em meados dos anos 1990.
Para começar, suas grandes empresas transferiram a produção para a China e outros países em que se
pagavam salários miseráveis. Isso manteve baixos os preços nos EUA, mas também acelerou a
desindustrialização e enfraqueceu a saúde geral da economia. Em segundo lugar, os EUA reduziram as
restrições ao crédito. Depois de me graduar, em 1982, não consegui cumprir as exigências para ter um
cartão de crédito. Hoje os americanos possuem mais de 600 milhões de cartões de crédito e carregam
trilhões de dólares de dívida pessoal.
Espantosamente, mesmo na esteira do derretimento multitrilionário das hipotecas de alto risco, ofertas de
novos cartões de crédito continuam a chegar pelo correio. Com a autorização de seus pais, até mesmo
crianças têm cartões de crédito nos EUA.
As gerações de meus avós e de meus pais costumavam economizar antes de fazer compras grandes. Nas
décadas de 1990 e 2000, os americanos saciaram sua fome por toda uma gama de bens -televisores de
tela grande, restaurantes de alta classe, esportivos utilitários que consomem muito combustível, carros
importados de luxo, festas de aniversário luxuosas para seus filhos e grandes residências adquiridas com
pequeno
ou
nenhum
pagamento
à
vistapor
meio
de
empréstimos
maciços.
O século americano conquistou grandes vitórias para o mundo, tais como a elevação global da expectativa
de vida. Mas o crescimento econômico maciço e a transformação do dinheiro em artigo que é transferido
eletronicamente
mudaram
as
percepções
humanas
do
dinheiro
e
do
poupar.
A maneira aleatória, movida pelo pânico em que as autoridades públicas vêm tratando a crise, revela que
ninguém compreende realmente o significado de um sistema de múltiplos trilhões de dólares.
Lamentavelmente, em colaboração com as próprias pessoas que ajudaram a promover essa "débâcle", as
autoridades
estão
buscando
escorar
o
sistema,
em
lugar
de
reformá-lo.
Religião do sucesso
Confortavelmente posicionados no centro dele, muitos americanos pensaram que o crédito fosse ilimitado e
abandonaram
qualquer
senso
de
responsabilidade
pessoal.
Cada vez menos americanos sabem viver modestamente, até mesmo entre as classes mais baixas.
Em termos morais, os norte-americanos substituíram o cristianismo por uma nova religião do sucesso. Essa
religião não tem vida após a morte nem consideração pelas gerações futuras, pois seu credo consiste em
consumir o máximo possível aqui e agora.
(KENNETH SERBIN é professor de história na Universidade de San Diego (Califórnia) e autor de "Padres, Celibato e
Conflito Social" (Companhia das Letras), entre outros livros. Tradução de Clara Allain)
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1910200802.htm
Círculo virtuoso
Historiador inglês mostra como elementos culturais de um país são exportados e retornam
atualizados
PETER BURKE
COLUNISTA DA FOLHA
Apesar do interesse recente manifestado por estudantes de arte, música, literatura e idéias pela história da
chamada "recepção" de itens culturais diferentes em lugares e tempos distintos e entre diferentes grupos
sociais, curiosamente pouca atenção vem sendo dada ao que se poderia chamar de "circularidade cultural".
A metáfora do círculo diz respeito a adaptações de objetos culturais estrangeiros que são tão completas que
o resultado às vezes é reexportado com sucesso ao lugar de origem do objeto.
Exemplo disso é a circularidade entre os domínios do sagrado e do profano. Nos tempos do cristianismo
primitivo, a igreja se apropriou do discurso e da iconografia oficiais do Império Romano, representando
Deus ou Cristo de maneiras antes reservadas ao imperador. Nos primórdios da Europa moderna, o Estado
às vezes se apropriava novamente desses temas.
Como no cinema
Alguns dos contemporâneos de Luís 14 consideravam que o rei cometera blasfêmia ao autorizar que
fossem acesas luzes diante de sua estátua em Paris, como se ele fosse um santo.
Mas o rei estava simplesmente voltando a uma prática da Antigüidade romana. Outro tipo de circularidade é
o que se dá entre a cultura "alta" (ou erudita) e "baixa" (ou popular). Escritores famosos da Renascença,
como Ariosto, Rabelais, Shakespeare e Cervantes, buscaram inspiração na cultura popular de seus tempos,
mas suas próprias obras retornaram ao povo, às vezes sob formas simplificadas.
Voltando do passado ao presente, um estudo da máfia siciliana feito por um sociólogo italiano comenta o
que o autor do estudo chama de "identidades circulares". Membros da máfia gostam de assistir a filmes
sobre a máfia e modificar sua aparência (roupas, óculos escuros e assim por diante) segundo o exemplo
dado por Robert de Niro e outros atores.
Sociólogos e antropólogos já reconhecem o papel que eles próprios exercem na construção ou invenção
das tradições que estudam. Os adeptos do candomblé recorrem a livros dos acadêmicos Roger Bastide e
Pierre Verger, enquanto a tradição dos gaúchos, como bem observou Ruben Oliven, deve algo aos
antropólogos norte-americanos Ralph Linton [1893-1953] e Donald Pierson [1900-95]. Alguns percursos
circulares envolvem viagens entre continentes. Quando retornei ao Reino Unido depois de cumprir serviço
militar na Ásia meridional, em 1957, comprei um tapete de orações muçulmano como suvenir. Na volta, com
tempo para examinar o tapete mais de perto, descobri uma etiqueta dizendo "Made in Birmingham".
Fabricado para o mercado religioso de exportação, o tapete foi repatriado como artigo turístico.
A música oferece muitos exemplos de circularidades intercontinentais. Tome-se, por exemplo, o muito
conhecido desenvolvimento da música afro-americana no Brasil, em Cuba e nos EUA no século 20.
Alguns músicos no Congo têm se inspirado no trabalho de seus colegas em Cuba, e alguns músicos de
Lagos [na Nigéria], no de seus colegas brasileiros. Em outras palavras, a África imita a África por intermédio
da América, descrevendo uma trajetória circular, mas que não termina no lugar onde começou, já que cada
imitação é também uma adaptação.
Ciclo da cana
Na literatura, Gabriel García Márquez descobriu as possibilidades literárias de sua região nativa no norte da
Colômbia com a leitura de William Faulkner [1897-1962], cujo Condado de Yoknapatawpha é sob alguns
aspectos o modelo que inspirou Macondo.
Mas hoje o mundo imaginário de García Márquez já conquistou a América do Norte, além de muitos outros
lugares. De modo semelhante, os romances de José Lins do Rego, escritos uma geração antes e tratando
das fazendas do Nordeste brasileiro, foram inspirados nos romances de Thomas Hardy [1840-1928],
ambientados no oeste da Inglaterra. A história das relações culturais entre o Japão e o Ocidente ao longo
dos séculos 19 e 20, em especial, oferece vários exemplos fascinantes desse tipo de circularidade.
Um escritor britânico que fez sucesso no Japão do século 19 foi o escocês Samuel Smiles, autor de "SelfHelp" [Auto-Ajuda, 1859], coletânea de histórias de sucesso de indivíduos que saíram da pobreza e
enriqueceram graças a seus próprios esforços e inteligência. O grande êxito desse livro pode sugerir que os
japoneses tivessem se convertido aos valores vitorianos. Contudo, no século 17, o escritor popular Iharu
Saikaku já tinha publicado uma coletânea de contos sobre pessoas empreendedoras cujo trabalho árduo foi
recompensado com a conquista de riquezas.
Um outro exemplo: o poeta irlandês William Butler Yeats escreveu uma peça, chamada "At the Hawk's Well"
[O Poço do Falcão, 1917], no estilo dos dramas tradicionais do teatro nô japonês. Um escritor japonês, por
sua vez, adaptou "O Poço do Falcão" como peça do teatro nô, encenada em Tóquio em 1949.
Samurais do Ocidente
Retornando à música, Puccini inspirou-se na música japonesa para compor sua ópera "Madame Butterfly"
(1907), mas os japoneses, por sua vez, adaptaram Puccini.
Mais recentemente, compositores japoneses, como Toru Takemitsu, foram influenciados por ocidentais
como Pierre Boulez e John Cage, compositores que já tinham sentido a atração da música do Japão. Nas
artes plásticas, a interação entre a descoberta ocidental do Japão e a descoberta japonesa do Ocidente
também é claramente visível.
Ernest Fenollosa, que chegou ao Japão em 1878 para lecionar na Universidade Imperial, tornou-se
entusiasta da arte japonesa tradicional. Por estranho que pareça, ao fazê-lo ele exerceu influência sobre
artistas japoneses. A descoberta japonesa dos impressionistas se deu após a descoberta um pouco anterior
da arte do Japão, especialmente das xilogravuras coloridas dos séculos 18 e 19, por Edouard Manet, Henri
Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh e outros. Artistas japoneses do final do século 19 foram, por sua vez,
inspirados
pela
obra
de
Toulouse-Lautrec
e
seus
contemporâneos.
No caso do cinema, estaríamos justificados em suspeitar que a ascensão dos filmes sobre samurais de
Akira Kurosawa e outros diretores japoneses deve algo à tradição do western americano. Se for esse o
caso, o elogio teve sua recíproca quando John Sturges criou "Sete Homens e Um Destino" (1960), uma
"tradução"
cultural
do
famoso
"Os
Sete
Samurais"
(1954),
de
Kurosawa.
Os australianos criaram a vívida frase cultural auto-irônica "servilismo cultural" para descrever sua relação
com a Europa, de modo geral, e a Inglaterra, em particular -uma subserviência cultural à potência
colonizadora, apesar de se odiarem por isso. Um sinal de servilismo cultural certamente é tomar algo do
exterior que já existia em seu próprio país. O Japão dos séculos 19 e 20 exemplifica esse processo com
clareza
particular,
mas
está
muito
longe
de
ser
o
único
a
fazê-lo.
(PETER BURKE é historiador inglês, autor de "O Que É História Cultural?" (ed. Zahar). Escreve na seção "Autores", do
Mais! . Tradução de Clara Allain .)
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1910200806.htm
Escavando a terra letrada
Organizador da "História dos Intelectuais na América Latina", Carlos Altamirano diz que região vive
revival político
SYLVIA COLOMBO
O uruguaio José Enrique Rodó (1872-1917), o venezuelano Andrés Bello (1781-1865), os argentinos
Sarmiento (1811-1888) e Juan Bautista Alberdi (1810-1884) e o brasileiro José Bonifácio (1763-1838) são
apenas alguns nomes de destaque de um surpreendente time de pensadores da América Latina do século
19. De diferentes filiações ideológicas, boa parte deles é herdeira da tradição da elite letrada dos tempos de
colônia. Após as revoluções de independência, que começaram em 1810, tornaram-se referências para o
debate político, social e cultural sobre o futuro de seus países e do continente. O diálogo era mais comum
entre as nações de língua hispânica, enquanto o Brasil, de modo geral, permanecia apartado das
discussões. Há poucos estudos que avaliem a produção e as idéias desses homens de um modo amplo.
Agora, o lançamento, na Argentina, do primeiro volume da série "Historia de los Intelectuales en América
Latina" (História dos Intelectuais na América Latina, ed. Katz, 588 págs., 129 pesos, R$ 87), dirigido pelo
historiador das idéias Carlos Altamirano, vem ajudar a completar esse espaço. A obra terá vários volumes.
Em cada um, artigos de intelectuais de diferentes países. Neste, escrevem as brasileiras Maria Alice
Rezende de Carvalho, Lilia Moritz Schwarcz e Laura de Mello e Souza. Leia, abaixo, os principais trechos
da entrevista que Altamirano concedeu à Folha.
FOLHA - Como se iniciou o projeto?
CARLOS ALTAMIRANO - Primeiro veio a idéia de promover uma história dos intelectuais na América
Latina que questionasse figuras às vezes admiradas, às vezes desprezadas, do discurso edificante e
normativo que predominava no estudo do intelectual. A situação não era similar em todos os países e, em
alguns, como Brasil ou México, existe hoje uma produção historiográfica e sociológica muito importante e
inovadora sobre o tema. À margem desses países, a situação era muito desigual e nos faltava uma história
geral. Esse é o ponto de partida.
FOLHA - Como "La Ciudad Letrada", de Ángel Rama (1926-83), inspirou o projeto?
ALTAMIRANO - Eu havia lido "A Cidade Letrada" quando apareceu, em 1984, e não havia me motivado
muito intelectualmente. Mas quando me pus a pensar na possibilidade de uma história das elites
intelectuais, a revisar o que tínhamos, uma vez que não nos encontrávamos no ano zero, o livro de Rama
surgiu como obra incontornável, por causa dos debates que suscitou em seu tempo. Ele introduziu uma
ruptura na tradição de que fazia parte, a do "americanismo", afirmando que não há melhor modo de
prosseguir uma tradição do que rompendo com ela.
FOLHA - O sr. diz que, nos últimos dez anos, houve um renascimento da história política na América
Latina. Uma explicação para isso seriam as mais de duas décadas de redemocratização em alguns
países?
ALTAMIRANO - Sim, há um renascimento da história política, o que não significa que se volte à história
política tradicional, que se praticou predominantemente no século 19, e sobre a qual se fundou o saber
historiográfico nos nossos países. Ainda que termos como cidadania e república retornem, nesse novo
momento a volta a esses temas traz outras perguntas e outros instrumentos. A pesquisa hoje se volta a
outros temas ou enfoques, como âmbitos e práticas sociais, o estudo das sociedades de idéias e das
práticas de leitura. Com isso, se coloca um novo foco nas elites culturais do século 19.
FOLHA - Qual é a tendência da produção intelectual no continente?
ALTAMIRANO - Que os intelectuais falem uns para os outros, quer seja por meio do debate, quer por
movimentos ou revistas, foi e segue sendo parte da vida intelectual de sempre. Teoricamente, isso não
impede que intervenham no debate público e falem para a opinião daqueles que são cidadãos, como o
intelectual, mas não necessariamente a seus colegas. A expressão "intelectual público" foi cunhada para
isso, para indicar uma atitude que já não é a do profetismo político ou a do ideólogo, como no passado, mas
tampouco a do expert. Entendo que essa figura do intelectual público, que se quer mais próximo ao cidadão
que ao preceptor da nação ou do povo, é hoje bastante corrente em nossos países.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1910200809.htm
- 18/10/2008 - 19h48
Bush se oferece para receber cúpula de líderes sobre crise
da Efe, em Washington
O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, se ofereceu hoje para receber em um futuro próximo
uma cúpula de líderes da comunidade internacional para coordenar de forma conjunta a resposta global à
crise financeira mundial.
"Estou desejando presidir a cúpula e receber propostas do presidente da França, Nicolas Sarkozy, e de
outros nos próximos dias", declarou Bush em Camp David, onde recebeu, além do líder francês, o
presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso.
O líder americano convidou Sarkozy e Durão Barroso para a residência presidencial nas montanhas de
Cacoctin para conversar com eles sobre a crise financeira e discutir possíveis idéias e propostas para
solucioná-la o mais rápido possível.
"É essencial que trabalhemos juntos, pois estamos juntos nesta crise", afirmou Bush em uma rápida
entrevista conjunta.
Sarkozy reforçou a fala do presidente dos EUA e propôs buscar uma resposta mundial para a crise.
Bush disse que tanto líderes de países desenvolvidos como de nações em desenvolvimento serão
convidados para a cúpula.
Por outro lado, Sarkozy disse que, considerando que a crise surgiu em Nova York, é possível que se
encontre uma solução nesta cidade, em referência a sua proposta de que a cúpula do G8 (os sete países
mais desenvolvidos do mundo e a Rússia) e de outras economias ocorra na cidade.
O líder francês também afirmou que a cúpula deveria acontecer o mais rápido possível, de preferência
antes do final de novembro.
Idéias de todo o mundo
A Casa Branca informou que Bush, ao qual somente restam três meses no cargo, quer escutar idéias de
todos os líderes, não somente dos europeus, mas também dos asiáticos e dos países em desenvolvimento.
"Para que esta reunião possa ser um êxito, temos que estar abertos a boas idéias de todo o mundo",
declarou Bush em Camp David.
Na opinião de Sarkozy, a comunidade internacional está colaborando estreitamente para atenuar os efeitos
da crise.
"Estamos falando com a mesma voz", afirmou Sarkozy, que também disse que a crise oferece uma grande
oportunidade para revisar as políticas financeiras.
Durão Barroso também fez um apelo para que a comunidade internacional promova uma resposta rápida à
crise.
"Necessitamos de uma nova ordem financeira global", declarou.
Controles
Sarkozy e Durão Barroso tentam convencer Bush de que agora é uma boa oportunidade para dar um novo
impulso a iniciativas dirigidas a coordenar melhor o controle dos mercados financeiros.
Bush não respondeu às sugestões dos dois líderes europeus, mas indicou que nesta crise e em uma nova
ordem global do sistema financeiro é essencial que preservem os fundamentos do capitalismo democrático.
O presidente americano também afirmou que é importante que resistam ao isolamento e que continuem
com as políticas de mercado aberto, uma opinião que compartilhou Sarkozy.
"Queremos trabalhar com os americanos para criar o capitalismo do século 21", declarou o líder francês.
A oferta de Bush de presidir a cúpula de líderes aconteceu apesar de a Casa Branca ter dito anteriormente
que não ia haver grandes anúncios na reunião.
Sarkozy e Durão Barroso chegaram à base aérea de Andrews, nos arredores de Washington, procedentes
do Canadá, onde participaram de uma reunião com o recém reeleito primeiro-ministro Stephen Harper.
Em Camp David assistem a uma reunião de trabalho, seguida de um jantar, na qual analisarão junto com
Bush formas de coordenar a resposta dos países desenvolvidos à grave crise financeira.
Leia mais
Europa e EUA se reúnem para negociar reforma do sistema financeiro
Reservas chinesas podem ser "salvação" para crise global
UE aprova plano de resgate de bancos da zona do euro
Chanceler da Alemanha adverte para desaceleração da economia do país
Cúpula da UE discute ação coordenada contra crise
Especial
Leia a cobertura completa sobre a crise dos EUA
(HTTP://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/FOLHA/DINHEIRO/ULT91U457781.SHTML)
FOLHA DE SAO PAULO - CADERNO MAIS! - 12/10/2008
Paradoxos da crise
BORIS FAUSTO - COLUNISTA DA FOLHA
Tornou-se um lugar comum falar do fim da hegemonia norte-americana e até do deslocamento do eixo do
mundo para os países asiáticos, numa constatação que mescla razões de ordem estrutural com o papel
desempenhado pelos agentes históricos. De fato, seria simplista atribuir ao governo de George W. Bush
todos os problemas que os EUA vêm enfrentando. Mas isso não contradiz a nítida percepção de que a
chegada de Bush e sua gente ao poder agravou fatores negativos já existentes, além de criar muitos outros.
Na área econômica, o governo republicano gerou os déficits gêmeos das contas externa e interna; no plano
internacional, as intervenções militares, já de si bastante controversas, de outros tempos, transformaram-se
em aventuras guerreiras unilaterais, culminando na invasão do Iraque. Os direitos humanos foram
pisoteados, a ponto de admitir a "tortura leve" e o escândalo dos presos sem julgamento, na prisão de
Guantánamo. Por fim, a crença na liberdade ilimitada do mercado e na sua auto-regulação redundou no
milagre da multiplicação infinita de papéis virtuais até que tudo viesse a terminar numa crise avassaladora
cujo alcance e duração ninguém pode prever. Mas é significativo constatar que, em meio à crise, gerada a
partir dos EUA, sua moeda e, principalmente, os títulos do Tesouro sejam vistos como portos seguros.
Como bem notou Celso Ming, em "O Estado de S. Paulo" de 5/10, o dólar vem se valorizando não apenas
com relação ao real, mas também em relação ao euro e outras moedas, enquanto se intensifica a corrida
dos investidores rumo aos papéis do Tesouro americano, sem a expectativa de obter ganhos, em busca tão
somente da redução de riscos. Seguindo adiante, a crise explodiu paralelamente a uma disputa eleitoral
com ressonâncias internacionais, como se verifica seja pela acolhida entusiástica de Barack Obama
[candidato democrata] na Europa, seja pela atenção que a mídia dedica à disputa, em todo o mundo. Na
verdade, após a razia provocada pelo triunfo da aliança entre neoconservadores e fundamentalistas, a
possibilidade da abertura de novos caminhos se torna agora possível. Paradoxalmente, o agravamento da
crise econômica veio concorrer para tanto, não obstante seus terríveis efeitos sociais e financeiros. E isso
por duas razões básicas. Em primeiro lugar, porque o quadro atual coloca a economia no centro do debate,
favorecendo os democratas. Não há contorções verbais ou encantos femininos que possam ofuscar esse
fato. Tudo indica que a corrida apertada de algumas semanas vai se converter numa clara vitória de
Obama, salvo surpresas de última hora.
Nova agenda
Em segundo lugar, porque a crise impôs uma nova agenda. Não se trata apenas da intervenção do Estado
para evitar um colapso do sistema financeiro, medida de emergência que qualquer governo teria de tomar,
no sentido de evitar o pior, quaisquer que sejam as justas críticas aos mágicos de Wall Street. Trata-se,
sobretudo, de uma inflexão no plano da política e das idéias, após os vários anos em que o neoliberalismo neste caso, a expressão, usada e abusada, faz sentido- se impôs como as tábuas da lei. Quais são as
possibilidades e os limites da agenda do governo Obama? Ainda é muito cedo para que nos arrisquemos a
previsões, mas alguns pontos sensíveis de mudança podem ser apontados. No plano internacional, há a
perspectiva de que os EUA abandonem uma política unilateral desastrosa e se coloquem como legítimos
parceiros de um mundo multipolar, com credenciais democráticas válidas, na qualidade de exemplo, e não
de imposição. Sob esse aspecto, a crise contribui para que o unilateralismo guerreiro perca força, quanto
mais não fosse, pelos limites impostos aos gastos militares. No plano interno, a crise desempenha um papel
limitador, diante dos bilhões de gastos, a título de socorro financeiro, previstos no recente pacote
econômico, sem falar em outros que possam vir. Num primeiro momento, que poderá prolongar-se, o
provável governo democrata terá de se dedicar a uma engenharia complexa para restaurar a confiança dos
mercados e atender a necessidades sociais mais prementes. Mas será difícil, num quadro recessivo,
aumentar gastos para atacar a fundo o desemprego, investir em fontes de energia alternativa, generalizar o
serviço público de saúde, reduzir os impostos que sobrecarregam a classe média -essa menina dos olhos
dos democratas. Conseguirá Obama manter a confiança da maioria dos cidadãos americanos, transmitindolhes com clareza a percepção de que está governando em circunstâncias especiais, sem trair seu
programa? Dotes de comunicação, para tanto, não lhe faltam. Se ele se sair bem, poderá postular um
segundo mandato, provavelmente, em condições bem mais favoráveis. Em caso contrário, a direita raivosa
fará estragos nas mentes provincianas e o governo Obama será visto, inclusive com a carga das tintas
raciais, como um interregno exótico, a ser desfeito. De uma forma ou de outra, se a hegemonia americana,
com a configuração imaginada após a queda do Muro de Berlim [1989], é coisa do passado, o mundo
continua a voltar-se para os EUA, num misto de esperança e ansiedade. Mas, se McCain vencer, a
ansiedade vai afogar a esperança.
BORIS FAUSTO é historiador e preside o Conselho Acadêmico do Gacint (Grupo de Análise da Conjuntura
Internacional), da USP. É autor de "A Revolução de 30" (Companhia das Letras).
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1210200807.htm
Crise econômica nos EUA domina campanha de McCain e Obama
Americanos foram traídos por jogos de azar de Wall Street, diz republicano.
Democrata promete transformar a prosperidade em prioridade.
A crise dos mercados continuou a dominar a campanha eleitoral americana nesta terça-feira
(16).
AP
McCain durante ato de campanha nesta terça-feira (16) em Tampa, na Flórida. (Foto: AP)
O candidato republicano à presidência americana, John McCain, que havia afirmado na segundafeira, em plena turbulência no mercado financeiro, que os fundamentos econômicos de seu país
eram sólidos, explicou nesta terça que estava se referindo aos "trabalhadores americanos".
"Eu disse que os fundamentos de nossa economia eram os trabalhadores americanos. Sei que os
trabalhadores americanos são os mais sólidos, os melhores, os mais produtivos e os mais
inovadores", declarou McCain durante uma entrevista à rede de televisão ABC.
Segunda-feira, quando a crise financeira levou o banco Lehman Brothers pedir concordada,
derrubando as Bolsas do mundo todo, o senador do Arizona disse que os fundamentos da economia
eram "sólidos".
"Senador McCain, de quê economia estamos falando?", perguntou em tom irônico seu rival
democrata, Barack Obama.
"Os trabalhadores americanos foram traídos pelos jogos de azar de Wall Street. Foram traídos pela
corrupção e o desamparo que colocam em risco seu futuro. Vamos solucionar isso", disse McCain
no canal ABC.
Ele também se comprometeu a proteger as contas bancárias dos trabalhadores americanos e a
"solucionar" a crise imobiliária. "Devemos atuar de modo que possamos conservar suas casas. E
para isso tenho um plano sólido."
AFP
Barack Obama saúda eleitores em Golden, Colorado, nesta terça-feira (16). (Foto: AFP)
Prosperidade
Já o candidato democrata, Barack Obama, prometeu nesta terça restaurar a estabilidade econômica
dos Estados Unidos e transformar a prosperidade dos americanos em sua prioridade número um,
durante um discurso de apresentação de seu programa econômico.
"Minha prioridade como presidente será a estabilidade da economia americana e a prosperidade dos
americanos", disse Obama durante um comício em Golden (Colorado).
"Sou candidato à presidência para que os sonhos dos americanos nunca mais sejam ameaçados",
disse.
O senador de Illinois destacou que se esforçará para aliviar a classe média e não "as grandes
empresas que criaram o problema".
Tentando nitidamente se distanciar de seu adversário republicano John McCain, Obama defendeu
"medidas imediatas" para relançar o emprego e resolver a crise imobiliária.
Obama acusa McCain de apoiar a política econômica do presidente George W. Bush, que
"fracassou completamente".
"Franklin Delano Roosevelt e Harry Truman não enfiavam a cabeça na areia, nem recorriam a uma
comissão" para resolver os problemas econômicos, disse Obama, referindo-se à proposta de
McCain de designar uma comissão de investigação parlamentar para determinar as causas da crise
bancária sem precedente que está abalando os Estados Unidos.
Ele lembrou seu desejo de lançar um plano de emergência de US$ 50 bilhões, que permitirá,
segundo ele, salvar um milhão de empregos graças a um programa de grandes obras e anunciou
"seis princípios" para reformar o mercado financeiro impondo uma regulamentação mais severa.
"No entanto, as mudanças que necessitamos (nas instituições financeiras) precisam ir almé das leis e
regulamentações. As instituições financeiras têm que trabalhar melhor na gestão dos riscos", avisou,
considerando que os dirigentes destas instituições deveriam arcar com as conseqüências de seus
erros.
Obama também prometeu lutar contra a corrupção em Washington, e denunciou a presença de
lobistas na equipe de campanha de McCain.
"Baixarei os impostos de 95% dos assalariados americanos", garantiu Obama, afirmando que quem
ganha menos de US$ 250 mil por ano não pagará "um único centavo a mais de impostos". Ele
sustentou que sua política fiscal é "três vezes mais favorável à classe média" que a de McCain.
Obama também prometeu permitir que todos os americanos tenham acesso a um plano de saúde
"comparável ao dos membros do Congresso". Ele anunciou a intenção de contratar "um exército de
professores" para que as crianças americanas sejam mais competitivas em uma economia
globalizada.
Sobre a energia, ele lembrou que quer lançar um plano de US$ 150 bilhões em dez anos para
favorecer o desenvolvimento das energias sustentáveis, que permitirá segundo ele criar cinco
milhões de empregos. Obama também se pronunciou a favor do desenvolvimento da exploração das
reservas de gás natural e das pesquisas para a retomada da construção de centrais nucleares "sem
perigo".
http://g1.globo.com/Noticias/0,,MUL762046-15525,00.html
10/10/08 - 18h25 - Atualizado em 10/10/08 - 18h25
Crise econômica afeta a saúde? Dados são confusos
Está claro que há correlações no âmbito da saúde pública.
Mas resultados não costumam ser previsíveis.
A maioria das pessoas está preocupada com a saúde da economia. Mas será que a economia
também afeta sua saúde?
Sim, afeta, mas nem sempre na maneira como você espera. Os dados que temos hoje sobre como
uma crise econômica influencia a saúde de um individuo são surpreendentemente confusos.
Está claro que ganhos econômicos de longo prazo levam a melhorias na saúde geral da população,
tanto em países em desenvolvimento quanto em países industrializados.
Mas se a retração econômica atual irá custar caro para sua própria saúde ou não, depende, em parte,
dos seus hábitos de saúde quando as coisas vão bem. E estudos econômicos sugerem que as pessoas
tendem a não cuidar de si mesmas em épocas de prosperidade – bebendo demais (especialmente
antes de dirigir), jantando em restaurantes de comida gordurosa e deixando de lado exercícios
físicos e consultas médicos por causa de compromissos de trabalho.
"O valor do tempo é maior durante tempos de economia em crescimento", disse Grant Miller,
professor assistente de medicina em Stanford. "Então as pessoas trabalham mais e fazem menos
coisas que são boas para elas, como cozinhar em casa e fazer exercício; e as pessoas sofrem com
mais estresse devido às exigências de trabalho durante períodos de crescimento econômico".
Padrões similares têm sido vistos em alguns países em desenvolvimento. Miller, que está estudando
os efeitos dos preços flutuantes do café na saúde na Colômbia, afirma que apesar de a queda dos
preços ser ruim para a economia, ela parece melhorar a saúde e as taxas de mortalidade. Quando os
preços estão em baixa, os trabalhadores têm mais tempo de cuidar dos filhos.
"Quando o preço do café aumenta repentinamente, as pessoas trabalham mais na plantação e
passam menos tempo fazendo coisas em casa, incluindo coisas que são boas para as crianças", ele
disse. "Devido ao fato de que o que mais importa para a saúde de uma criança ou de um bebê na
Colômbia rural não é cara, mas exige uma quantidade substancial de tempo – como amamentar,
trazer água limpa de longe, levar a criança para uma clínica de saúde distante para vacinação
gratuita – as taxas de mortalidade infantil aumentam".
Aqui no país, um efeito similar apareceu na tempestade de pó durante a Grande Depressão, segundo
um artigo de 2007 de Miller e colegas, publicados no "Proceedings of the National Academy of
Sciences".
Os dados parecem contradizer uma pesquisa dos anos 1970 sugerindo que em épocas difíceis
existem mais mortes de doenças cardíacas, cirrose, suicídio e homicídio, assim como mais entradas
em hospitais mentais. Mas essas descobertas não foram contestadas, e muitos economistas
ressaltaram falhas na pesquisa.
Em maio do ano 2000, o Quarterly Journal of Economics publicou um artigo surpreendente
chamado "As Recessões São Boas Para Sua Saúde?", de Christopher J. Ruhm, professor de
economia da Universidade da Carolina do Norte, Greensboro, com base em uma análise medindo
taxas de mortalidade e comportamento de saúde em relação a mudanças na economia e taxas de
desemprego de 1972 a 1991.
Ruhm descobriu que as taxas de mortalidade declinaram drasticamente nas recessões de 1974 e
1982, e aumentaram na recuperação econômica da década de 1980. Um aumento de um ponto
percentual em taxas de desemprego correspondia a 0,5 pontos percentuais na diminuição da taxa de
mortalidade – ou cerca de 5 mortes a menos a cada 100.000 pessoas. Em geral, a taxa de
mortalidade caiu em mais de 8% no período de 20 anos de maior declínio econômico, devido à
diminuição de doenças cardíacas e acidentes de carro.
A crise econômica pareceu impactar fatores que têm menos a ver com prevenção e mais a ver com
bem-estar mental e acesso à assistência médica. Por exemplo, as mortes por câncer aumentaram
23%, e as mortes por gripe e pneumonia aumentaram levemente. Os suicídios aumentaram 2%,
homicídios, 12%.
Essa questão pode ser mais relevante em uma crise econômica não-relacionada a empregos ou
renda, mas se a retração aumenta a lacuna entre ricos e pobres, e se existe uma rede de saúde
adequada disponível para aqueles que perderam seus empregos e seguros.
Durante uma década de recessão econômica no Japão que começou nos anos de 1990, as pessoas
desempregadas tinham duas vezes mais probabilidade de ter uma saúde ruim em comparação
àquelas com empregos estáveis. Durante a grave crise econômica do Peru nos anos de 1980, a
mortalidade infantil saltou 2,5 pontos percentuais – cerca de 17 mil crianças a mais que morreram
por causa do colapso dos gastos com saúde e programas sociais.
Em agosto, pesquisadores da Free University of Amsterdam observaram estudos de saúde com
gêmeos na Dinamarca. Eles descobriram que indivíduos nascidos durante uma recessão tinham
riscos maiores de desenvolver problemas cardíacos na vida e viviam, em média, 15 meses menos do
que aqueles nascidos em condições melhores.
Gerard J. van den Berg, professor de economia e co-autor do estudo, disse que bebês de famílias
pobres sofreram mais em uma recessão, porque suas famílias não tinham acesso a uma boa
assistência médica. Condições econômicas desfavoráveis também podem causar estresse, que pode
interferir na relação entre pais e filhos e no desenvolvimento infantil, afirmou.
Ele observou que outros estudos descobriram que as recessões podem beneficiar bebês por
permitirem aos pais passar mais tempo em casa.
"Esse cenário pode ser relevante para famílias abastadas onde um dos pais perde o emprego e o
outro ainda consegue dinheiro suficiente", ele disse. "Mas em uma crise onde a família pode ter que
incorrer perdas grandes e a renda familiar é insuficiente para a nutrição adequada e a assistência
médica, os efeitos adversos de nascer em uma recessão parecem ser muito mais relevantes".
Aqui no país já existem sinais do efeito da economia na saúde. Em maio, a empresa de pesquisa de
mercado Information Resources informou que 53% dos consumidores afirmaram estar cozinhando
todas as refeições mais do que a apenas seis meses atrás – em parte, sem dúvidas, devido ao
aumento nos preços de comidas prontas. Ao mesmo tempo, os preços dos seguros de saúde estão
aumentando. Com prêmios e co-pagamentos, o trabalhador médio com plano de saúde paga quase
um terço dos custos médicos – cerca de duas vezes mais que há dois anos, segundo Paul H.
Keckley, diretor executivo da Deloitte Center for Health Solutions.
Nos Estados Unidos, que, ao contrário de outros países industrializados, não têm um plano de saúde
nacional, a recessão iminente pode custar ainda mais caro. Cerca de 46 milhões de americanos não
têm seguro de saúde, afirma Keckley, e mesmo entre os 179 milhões que têm, cerca de 1 em cada 7
podem falir com uma única crise de saúde.
A crise econômica "não traz boas notícias para a indústria da saúde", ele disse. "Pode ter alguns
pontos positivos, mas a vejo como algo preocupante".
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL794242-5603,00.html
Entendendo a crise econômica mundial
Por Alceu Garcia
O traço singular das crises econômicas desde o início do século 19 é a dificuldade de entrever com
precisão a causa ou causas que as deflagram. No passado as depressões podiam ser imputadas
claramente à guerras, revoluções ou catástrofes naturais. A economia capitalista moderna é
diferente. Quando tudo parece estar indo bem, inexplicavelmente emergem estranhas convulsões de
seu bojo, que não podem ser explicadas por esse ou aquele evento específico. Como não poderia
deixar de ser, os estudiosos do assunto aventaram ao longo do tempo inúmeras hipóteses para a
compreensão das flutuações econômicas.
Todos conhecem ao menos vagamente a teoria marxista que atribui ao capitalismo contradições
imanentes e inexoráveis cada vez mais graves e que ao fim e ao cabo levariam à sua superação pelo
comunismo. A hipótese de Marx pertence ao gênero das teorias da superprodução, segundo as quais
o capitalismo seria tão produtivo que haveria um encalhe de mercadorias em vista da incapacidade
das massas para adquiri-las. A outra teoria mais conhecida é a de Keynes, que integra o grupo do
subconsumo. Para o inglês, que divisava contradições internas no capitalismo muito parecidas com
as de Marx, as crises são o reflexo da insuficiência de poder de compra por parte da população. Os
seguidores de Marx e os discípulos de Keynes divergem entre si em detalhes, mas concordam no
principal: a economia de mercado é intrinsecamente instável e perversa. É imperativo para a
felicidade geral da humanidade que ela seja abolida tout court, conforme os marxistas, ou reformada
e estritamente controlada pelo Estado, segundo os keynesianos.
Marx e Keynes diziam que sob certas condições a escassez – a impossibilidade de ter tudo ao
mesmo tempo – poderia ser suprimida e os povos ingressariam então no nirvana terrestre da
abundância. Bastava superar a propriedade privada dos meios de produção, no caso do alemão, ou
reduzir à zero a taxa de juros, conforme o britânico, para que esse feliz estado de coisas substituísse
o desnecessário vale de lágrimas de dura labuta que aflige os homens desde a expulsão do paraíso.
Em outras palavras, os dois mais famosos e influentes economistas dos últimos cento e tantos anos
acreditavam em Papai Noel e no coelhinho da páscoa. Que sejam justamente esses embusteiros os
dois mais famosos e influentes economistas sintetiza muito bem a confusão moral e o descalabro
intelectual vigente. Marx e Keynes não foram homens de ciência, e sim expoentes do grupo mais
nefasto de todos os tempos, o dos intelectuais socialistas militantes, que superaram com folga os
estragos pretéritos de conquistadores sanguinários como Átila, Tamerlão ou Cortez. Suas teorias
acerca dos ciclos são tão desonestas e erradas que já nasceram refutadas. Num debate célebre na
época, início do século 19, o economista francês Jean-Baptiste Say conseguira demonstrar os erros
cabais de seu colega inglês Malthus, que formulara uma teoria das crises econômicas depois
requentada e enfeitada por Marx e Keynes, cada um a seu modo.
De sorte que, para quem quer compreender o que está ocorrendo com a economia global no
presente, deve em primeiro lugar descartar in limine as explicações dos economistas marxistas e
keynesianos. No Brasil, terra em que 99% dos economistas tem Marx no coração e Keynes na
cabeça, isso significa desprezar quase in totum as análises dos pseudo-especialistas.
Tampouco há como levar a sério os palpiteiros baratos e propagandistas vulgares como Veríssimo,
Sader e similares. Para entender o que está se passando é preciso recorrer às análises e pesquisas de
estudiosos sérios.
Como os chamados monetaristas da Escola de Chicago. Para eles, em resumo, a estabilidade
econômica depende da relação entre a quantidade total de dinheiro em circulação e a quantidade
total de bens e serviços produzida. Enquanto houver equivalência entre ambas essas magnitudes de
modo que uma terceira magnitude, o nível geral de preços, permaneça estável, tudo irá bem. Os
problemas decorrem da queda ou aumento excessivo da oferta de moeda, gerando deflação ou
inflação. Para os monetaristas, a razão principal da grande depressão dos anos 30 teria sido o mau
gerenciamento monetário do banco central americano, que permitiu uma queda abrupta da
quantidade de dinheiro – deflação - quando assistiu a uma quebradeira geral de bancos (cujos
depósitos à vista – dinheiro – deixaram de existir) sem nada fazer. A crítica que se faz aos
monetaristas é que eles raciocinam em termos de agregados, ou seja, adotam uma teoria
macroeconômica dos ciclos que acaba não diferindo muito da
macroeconomia keynesiana, e padece de limitações semelhantes. Ademais, tanto na crise americana
atual quanto na corrente estagnação japonesa, velha de dez anos, a teoria monetarista falhou na
previsão das crises, pois o nível geral de preços em ambos os casos estava mais ou menos estável, e
também na correção delas, pois não houve quebras bancárias e deflação e mesmo assim o problema
continuou. Em defesa dos economistas de Chicago, contudo, deve ser dito que eles ajudaram a
humanidade derrotando os keynesianos numa grande batalha teórica nos anos 60 e 70 centrada nas
origens e causas da galopante inflação de preços da época, bem como que eles em geral criticam
ferozmente o intervencionismo econômico do protecionismo, monopólios, subsídios, déficits e
controle de preços.
Mas a economia não trata de agregados imaginários, meros entes de razão, e sim de seres humanos,
suas ações e escolhas num mundo de escassez, imperfeições e incerteza.. Nesse plano mais
concreto, chamado de microeconomia, alguns teóricos, como Joseph Schumpeter, foram pesquisar a
dinâmica das crises econômicas. Esse grande economista partiu do modelo conhecido como
equilíbrio geral walrasiano para concluir que a única variável capaz de perturbar esse equilíbrio e
deflagrar as crises seria a inovação tecnológica. A teoria da destruição criativa, como ficou
conhecida, é muito interessante, mas peca por assumir os postulados irrealistas e insatisfatórios do
equilíbrio geral e por concentrar a inovação em determinados períodos, seguidos de calmarias
técnicas, quando se sabe que no mundo real ela está ocorrendo o tempo inteiro.
A teoria articulada por Ludwig von Mises sobre antigos insights da escola monetária inglesa do
século 19 e das investigações sobre o capital e o juro de Bohm-Bawerk e Wicksell, depois
desenvolvida por Friedrich Hayek e outros, evita as armadilhas da macroeconomia e da
microeconomia walrasiana, pelo que, na minha ótica, fornece a mais completa ilustração das
flutuações econômicas. Passemos a testá-la. A ênfase é na moeda, como é o caso dos monetaristas,
porém a abordagem é primariamente microeconômica, concentrando-se nos efeitos que o advento
de moeda-crédito nova prvoca nos agentes econômicos. Os economistas austríacos notaram que as
crises revelam subitamente que a maior parte dos empresários e investidores erraram em suas
estimativas do estado futuro do mercado, de modo que suas expectativas de lucratividade foram
frustradas. O erro empresarial é normal (afinal, errar é humano) e acontece o tempo todo, pois o
futuro é por definição incerto. A singularidade das crises é a enorme quantidade de erros de
avaliação simultâneos por parte de empresários experientes e especuladores astutos. Entender a
causa desses blocos de erros é a chave para decifrar o mistério das crises.
Num mundo em que tudo é heterogêneo só o dinheiro é homogêneo. A moeda tem a função vital de
expressar as razões de troca entre as mais variadas coisas – os preços – numa única unidade de
conta apta a permitir o cálculo econômico racional. Os preços monetários transmitem informações
aos agentes econômicos sobre a escassez relativa dos fatores de produção e dos bens de consumo, e
com base nessas informações os agentes traçam seus planos e tomam suas decisões. Caso esse
delicado mecanismo de transmissão de informações via preços seja danificado, os agentes estarão
mais propensos a planejar sobre dados ilusórios de realidade e portanto a tomar decisões erradas.
Para haver investimento é preciso antes ter havido poupança, a diferença positiva entre o que as
pessoas produzem e o que consomem. A poupança agregada reflete uma inclinação geral das
pessoas de adiar o consumo no presente em troca de mais consumo no futuro. Se, ao contrário,
ocorrer uma preferência generalizada pelo consumo no presente, a poupança agregada é reduzida ou
até substituída pelo consumo do capital existente, o que resultará em consumo futuro declinante e
queda do padrão de vida. Numa economia de mercado desenvolvida, a poupança chega às mãos dos
investidores mediante complexos sistemas de intermediação e o preço que equilibra a procura e a
oferta de poupança existente é o juro. Esse preço é absolutamente fundamental para o cálculo
econômico dos empresários, que não investirão em linhas de produção cuja rentabilidade seja
menor do que os juros que terão que pagar sobre os recursos tomados. O juro sinaliza a escassez de
poupança e informa que não dá para produzir tudo no momento, mas apenas os bens de consumo
mais urgentemente desejados pelos consumidores. Outra informação vital fornecida pela taxa de
juros é sobre o tempo a ser consumido no projeto de investimento até que os bens de consumo
estejam prontos para serem oferecidos no mercado. Um projeto que consome tempo demais para
maturação corre o risco de morrer na praia por falta de recursos para mantê-lo, pois até que se
comece a vender e lucrar há que pagar os salários dos empregados, os fornecedores de insumos etc.
Se porém os bancos decidem emprestar além das suas reservas, eles falsificam dinheiro (pois
depósitos sujeitos à cheque criados ex nihilo são dinheiro em circulação), criam uma
pseudopoupança e consequentemente a taxa de juros, reduzida artificialmente, deixa de ser um sinal
confiável. Os empresários e investidores são induzidos a acreditar que há mais poupança real do que
efetivamente existe. Todas as crises são precedidas de períodos de prosperidade febril caracterizada
por amplos investimentos em bens de capital e de maturação lenta. Por outro lado, o dinheiro falso
bombeado pelos bancos na economia termina por alimentar grandes movimentos especulativos nas
bolsas de valores e em outros mercados (como o de imóveis). O estimulante dessa febre ilusória de
otimismo eufórico é o crédito artificialmente barato provido pelo sistema financeiro sob o comando
dos governos.
A distorção na cadeia produtiva que se segue decorre do fato de que a criação de dinheiro falso não
implica em que os fatores de produção e bens de consumo também possam se materializar
magicamente. Eles continuam limitados e escassos como antes. Como há mais dinheiro comprando
as mesmas coisas, os empresários passam a disputar ferozmente entre eles os fatores de produção,
cujos preços sobem. De outro ângulo, a remuneração desses fatores, como os salários dos
empregados, começa a ser despendida em bens de consumo, cujos preços tendem a subir. A inflação
monetária pode ser contrabalançada por um aumento da produtividade (queda dos preços de alguns
bens de consumo pelo aumento da oferta), de modo que o nível geral de preços permaneça
relativamente estável, como ocorreu nos anos 20 e nos anos 90 nos Estados Unidos. Entretanto, a
expansão do crédito além da poupança real fatalmente distorce a alocação de recursos. O aumento
da demanda por bens de consumo força os empresários dos setores mais próximos do consumo final
a competir com os setores mais distantes pelos fatores de produção. A farra do crédito barato,
contudo, gera inflação e estende demais o endividamento dos agentes econômicos, de modo que,
mais cedo ou mais tarde, o governo e os bancos são forçados a elevar os juros e restringir a oferta
de crédito. Chega de emprestar; a hora agora é de cobrar as dívidas. O aumento dos juros e dos
preços dos fatores subitamente deixa nus com a mão no bolso os empresários do setor de bens de
capital. Eles se dão conta de que suas previsões estavam erradas, que não conseguirão recuperar o
que investiram e aí começa o salve-se quem puder do corte de custos e demissões. As crises sempre
começam nos setores da estrutura de capital mais afastados do consumo final e só mais tarde vão
derrubando o resto.
A recessão, na ótica da teoria austríaca, é o acerto de contas inevitável com o complexo de decisões
erradas tomadas no passado com base no falso sinal dos juros baixos. Os empresários têm que
ajustar seus planos ao nível de poupança efetivamente existente. Muitos quebram e são excluídos do
rol dos empreendedores. Os assalariados empregados nas indústrias insustentáveis perdem seus
empregos e têm que procurar outros em setores mais sólidos. O desemprego sobe dramaticamente.
Os investimentos em bens de capital e terra não conversíveis são sacrificados. Não há outro jeito.
Quanto menor for a intervenção externa nesse necessário processo de regeneração do organismo
econômico mais rápida será a sua recuperação. A tremenda crise mundial de 1921 foi superada em
apenas um ano. Já a crise similar de 1929 se prolongou por mais de dez anos e a convulsão japonesa
de 1992 se arrasta até hoje. Isso porque os governos resolveram intervir e só agravaram os
problemas. Medidas protecionistas para "preservar empregos", gastos deficitários estatais para
"gerar empregos", barateamento do dinheiro com juros zero ou até negativos ("reflação"), controle
de preços, subsídios às indústrias periclitantes, seguro-desemprego para sustentar a "demanda
efetiva" e medidas do gênero impedem a recuperação e prolongam a recessão, transmutada
desnecessariamente em depressão.
A economia de mercado é construída por milhões de contratos entre sujeitos livres, ou seja, pela
cooperação voluntária e mutuamente vantajosa para as partes segundo suas valorações pessoais e
intransferíveis. A base desse sistema incrivelmente complexo é uma atmosfera geral de confiança
(daí "crédito") em que os contratantes cumprirão as obrigações pactuadas. Ao contrário do que
pregam os enfadonhos intelectuários socialistas, o capitalismo pressupõe uma moralidade social
saudável. O elo que possibilita e liga economicamente todas essas relações privadas é o dinheiro.
Ora, se o dinheiro é sujeito à manipulação fraudulenta pelos governos e bancos, violando a regra
moral básica de não roubar, a imoralidade é infundinda no próprio coração do sistema,
corrompendo-o gravemente. A inflação é uma espécie de leucemia econômica, em que o sangue do
corpo econômico é deliberademente envenenado. É claro que mais cedo ou mais tarde os órgãos
aparentemente saudáveis começarão a falhar e o paciente descobrirá de repente que está seriamente
doente.
A propósito, é abordando o problema do ponto de vista ético que se constata mais facilmente o
absurdo das propostas keynesianas para evitar ou curar as depressões. Para Keynes e seus
sucessores, o Estado se subtrai às regras morais válidas para as criaturas comuns, pois ele não só
pode como deve gastar mais do que arrecada (onerando assim o patrimônio de terceiros contra a
vontade deles!) e falsificar dinheiro em bases permanentes. Essas falcatruas oficiais são conhecidas
pelos eufemismos de "política monetária" e "política fiscal". Ora, o Estado é uma abstração. O que
ontologicamente existe são indivíduos investidos dos poderes de governo. Não pode ser fecundo um
sistema social em que vige uma moral para uns e outra inteiramente contrária para outros. A
tendência é a imoralidade dos que estão por cima contaminar todo o corpo social, o que de fato tem
acontecido sistematicamente.
A inflação é como as drogas. O primeiro passo para curar um viciado em drogas é parar de tomar a
substância. Depois virão os sintomas da crise de abstinência que o indivíduo terá que suportar até
limpar seu organismo para poder então levar uma vida sã. A medicina keynesiana, todavia,
recomenda atulhar o paciente com a mesma droga em que ele se viciou além de outras igualmente
nocivas! Não admira que tantos "pacientes" sujeitos à essa terapia charlatanesca tenham chegado
perto de bater as botas. O Brasil é um desses pacientes e os charlatães keynesianos fervilham em
torno dos candidatos à presidência, os já famosos quatro cavaleiros do apocalipse.
Encerrado esse breve esboço teórico das crises econômicas, passemos agora a examinar a atual
recessão à luz dessa teoria. Os anos 90 foram tempos de grande prosperidade nos Estados Unidos, a
mais forte economia do mundo. No comando estava o "senhor dos mercados", Alan Greenspan,
chefe do banco central americano. É curioso que analistas sérios possam ter acreditado que a saúde
econômica mundial dependesse da batuta de maestro de um único homem. Dá para crer que a
inacreditavelmente intrincada complexidade da economia global pudesse ser conduzida
intuitivamente por um super-homem, que quando sentia uma dorzinha ominosa nas articulações
baixava os juros e quando ouvia uma misteriosa voz interior os aumentava? Pois é nisso que a mídia
dominante quis que se acreditasse. A verdade é bem outra. Greenspan pisou no acelerador da
expansão monetária em meados dos anos 90, aumentando a quantidade de dinheiro em 10% ao ano
e depois em 15% ao ano. Por que fazer isso? Porque politicamente é interessante; os políticos têm
horizonte de curto prazo e fazem qualquer negócio para que a economia cresça, mesmo que esse
crescimento seja insustentável. Seus sucessores que se virem com a crise.
Essa orgia de dinheiro barato desencadeou os investimentos de longo prazo insustentáveis previstos
na teoria austríaca dos ciclos, bem como jogou gasolina nas brasas da especulação desenfreada. As
ações da Nasdaq foram à estratosfera, muito embora fosse público e notório que as novas empresas
"ponto.com" levariam anos, e até décadas, antes que começassem a operar no azul. Greenspan
começou a falar em "exuberância irracional" na época, mas era ele quem estava abrindo as
comportas da irracionalidade. E ele sabia disso muito bem, vez que foi aluno de Ludwig von Mises
e conhece a teoria monetária das crises muito melhor do que eu.
Como reza essa teoria, a expansão monetária não pode durar para sempre, sob pena de a inflação
destruir a economia. Greenspan então falava em "pouso suave" do nível de atividade econômica,
excessivamente aquecido, e aumentou a taxa de juros em 1999, reduzindo o crescimento monetário
para menos de 8% anuais. A contração nos setores de bens de capital prevista pelos austríacos já
tinha se iniciado quando o pouso suave virou uma aterrissagem forçada assustadora. A bolha da
Nasdaq estourou, reduzindo à pó as economias de milhões de investidores. Quase seiscentas
empresas "ponto.com" faliram. A recessão chegou para valer no ano de 2001 e continua bastante
séria até o momento. É claro que a crise nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro.
Outro ponto de comprovação da teoria austríaca é a corrente epidemia de fraudes contábeis em
grandes empresas e bancos americanos. É óbvio que jamais aconteceu uma assembléia geral de
grandes empresários para combinar uma maquiagem contábil generalizada. Essas coisas são feitas
no maior segredo. Cada empresa tomou sozinha a decisão de mentir ao público. O fato de que tanta
delas tenham feito a mesma coisa ao mesmo tempo reflete o desespero comum a cada um desses
conglomerados diante do complexo de estimativas erradas induzidas pela política monetária
traiçoeira de Greenspan. Não se trata aqui de relativizar e desculpar os crimes cometidos por esse
pessoal. Um erro não justifica o outro e a desonestidade deles tem que ser punida. Mas não se pode
esperar que um sistema imoral gere moralidade. De maneira que a recente declaração de Greenspan
contra a "ganância infecciosa" é farisaica e tem por meta tirar o dele da reta. E a grande imprensa
mundial engoliu essa isca com a maior sofreguidão, pois, eterna cortesã do Estado que é, não
poderia admitir que o "senhor dos mercados" não passa de um super-trambiqueiro e fraudador
emérito. Por outro lado, a revelação das fraudes demonstra a superioridade da ordem de mercado,
pois não se pode enganá-la por muito tempo. A triagem dos lucros e perdas é implacável, cedo ou
tarde os prejuízos produzem seus efeitos. Já as maquiagens contábeis estatais são muito mais
difíceis de detectar, muito mais vultosas e onerosas e no fim não dão em punição para os políticos e
burocratas. Punição mesmo só para os contribuintes que pagam a conta.
O fato é que a crise está posta e seus desdobramentos para o bem ou para o mal dependerão das
ações futuras do governo dos Estados Unidos. Seguir o caminho trilhado por Hoover e Roosevelt
nos anos 30 é receita segura para uma depressão de grandes proporções. Naquele tempo, o governo
americano fez tudo o que se poderia imaginar de pior para abortar a recuperação. Instituiu altíssimas
tarifas alfandegárias, arruinando o comércio internacional, duplicou os impostos, descarregou
subsídios sobre setores ineficientes, desvalorizou o dólar, contraiu déficits fiscais enormes,
inflacionou a moeda e interveio no mercado de trabalho. A recessão inicial então se eternizou como
uma brutal depressão. Infelizmente, as autoridades americanas não aprenderam a lição do passado,
pois estão seguindo trilha semelhante no presente. Greenspan "reflacionou", voltando a bombear
crédito em doses cavalares na economia americana com juros de quase zero. Não adiantou nada, é
claro. Bush e o Congresso estão unidos na política de subsídios e no protecionismo, o que vai
naturalmente gerar retaliações dos outros países e blocos comerciais. Uma guerra comercial agora
seria um desastre, como foi nos anos 30. Adotando as indefectíveis recomendações dos
keynesianos, que nessas horas sempre retiram o velho pangaré da "política fiscal" de suas
nauseabundas estrebarias, Bush elevou dramaticamente os gastos públicos americanos, o que gera
déficit, que tem que ser financiado via inflação ou endividamento, e a dívida pública americana não
é baixa. Estimulados pelo abundante crédito ao consumo e pela ideologia keynesiana da gastança
como meio de encorajar a "demanda agregada", os americanos se endividaram muito e estão
poupando pouquíssimo. Os investimentos estão muito dependentes de poupança externa, que está
melindrada pela crise de credibilidade do mercado americano e ameaça fugir para pousos mais
seguros. O déficit comercial está alto e aumentando. De resto, o belicismo do governo Bush pouco
contribui para a estabilidade mundial. O cenário é lastimável e alimenta o pessimismo.
Para piorar, os políticos estão fazendo a costumeira demagogia lançando empresários fraudadores
aos leões para encobrir sua própria culpa no cartório pela situação atual. Fala-se em
regulamentações mais severas e draconianas, o que só pode entravar ainda mais um mercado que,
ao contrário do que se pensa, já é excessivamente cerceado por copiosas leis e regulamentos. Tudo
isso é fumaça. Fraudar a contabilidade sempre foi crime e já existem rígidos mecanismos de
prevenção que falharam porque o Estado costuma falhar. É da natureza da burocracia ser
ineficiente. Nem se fosse possível designar um policial para seguir como uma sombra todos os
contadores do país daria jeito no problema, pois quem garante que os policiais não seriam por sua
vez incompetentes ou sujeitos à corrupção? Teria que haver um fiscal do policial do contador, e
depois um fiscal do fiscal do policial do contador e assim por diante.
Para não ficar somente na sinistrose, vale lembrar que aparentemente não há no horizonte próximo a
ameaça de ideologias insensatas como o nazismo e o comunismo, que nos anos 30 ainda tinham o
frescor da novidade e não tinham sido testados e reprovados pela experiência histórica. A realidade
ensinou duras lições aos políticos que se encantaram pelo marxismo e pelo keynesianismo, de modo
que prevalece ainda um certo consenso de que a economia de mercado deve prevalecer, mesmo que
pesadamente obstruída pelas "políticas públicas". O que se pode assegurar é que os ciclos
econômicos continuarão a se repetir enquanto existir a manipulação política da moeda, e não há
sinal de que isso possa mudar no futuro previsível. A arquitetura monetária do capitalismo moderno
é um castelo de cartas sujeito a desmoronar parcial ou totalmente a qualquer momento. Vamos
torcer para que nada de mais grave aconteça no mundo, porque no Brasil a crise tem raízes locais, é
inevitável e será grave, aconteça o que acontecer com a economia global. Mas essa é outra história.
Bibliografia: Quem quiser se aprofundar no assunto, não pode deixar de ler os clássicos de Mises,
The Theory of Money and Credit e Ação Humana, de Hayek, Prices and Production, e de Rothbard,
Man, Economy and State e America´s Great Depression. Graças à internet, hoje é possível ter
acesso fácil à estudos e informações relevantes sobre a atualidade. Não depender da pasmaceira
intelectual da imprensa e da academia brasileira não tem preço. O único problema é que saber
inglês é indispensável. Quase todos os livros acima estão disponíveis na página do Mises Institute.
Outras fontes excelentes são os artigos diários e os estudos publicados em periódicos especializados
disponíveis naquele mesmo website, sobretudo os de William Anderson, Frank Shostak, Gene
Callahan e Roger Garrison. Os artigos de Gerald Jackson publicados no site do The New Australian
também são excelentes. No Brasil há pouco material, destacando-se o livro Economia e Liberdade
do Professor Ubiratan Iorio, que também publica excelentes análises no seu site.
http://www.olavodecarvalho.org/convidados/0218.htm
Entenda como a crise econômica afeta o Brasil
Veja como o Brasil pode ser afetada pela crise no sistema bancário.
- A crise no sistema bancário nos Estados Unidos tem provocado quedas generalizadas nas bolsas
de todo mundo e muitas dúvidas sobre a economia global.
A Bolsa de Valores de São Paulo também vem sofrendo com grandes quedas, o valor do dólar
voltou a subir e o crédito internacional ficou mais difícil.
A seguir a BBC Brasil faz um resumo de alguns dos principais canais pelos quais a economia
brasileira está sendo, ou pode ser, afetada.
Menos crédito
Uma das principais vias de contágio da crise internacional se dá por meio da falta de crédito. Com a
crise atual, há menos dinheiro no mercado e bancos em todo o mundo estão mais cautelosos, têm
diminuído
seus
empréstimos
e
cobrado
mais
caro
por
eles.
Na opinião do economista Nathan Blanche, da consultoria Tendências, é nessa área que está o
maior perigo para a economia brasileira no médio e longo prazo. "As empresas devem conseguir
continuar rolando suas dívidas, mas o mercado está mais difícil e algumas devem inclusive optar
por não buscar dinheiro novo", afirma ele.
Atualmente a dívida externa brasileira é da ordem de US$ 200 bilhões, sendo que a maior parte está
na mão de empresas privadas. Mas o valor que vence até o final de 2008 é bem menor - em torno de
US$ 15 bilhões. Para especialistas, as empresas que quiserem renovar essas dívidas terão que arcar
com taxas mais altas de juros.
Os bancos brasileiros também já estão encontrando taxas muito altas para tomar empréstimos no
exterior. A expectativa é que essa situação afete o crescimento do crédito no Brasil, de forma geral,
e a capacidade de investimento das empresas, em particular. A falta de crédito internacional
também pode afetar empresas estrangeiras que planejam fazer investimos diretos no Brasil.
A dúvida entre os especialistas é a intensidade desse enxugamento do crédito. O governo brasileiro
tem se mostrado preocupado com o assunto e afirma que poderá criar alternativas de crédito com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outros bancos públicos.
Bolsa
A Bovespa tem sofrido sucessivas quedas e nos primeiros nove meses do ano já havia acumulado
perdas da ordem de 25% (com a volatilidade, esses valores têm mudado muito rapidamente).
O impacto dessas quedas na economia em geral é limitado pelo tamanho da bolsa brasileira. Apesar
do crescimento dos últimos anos, a Bovespa ainda tem um número relativamente pequeno de
empresas, com 397 companhias listadas. A Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo, tem
2.365.
Além disso, embora o montante de dinheiro negociado na bolsa brasileira seja alto, há uma grande
concentração em grandes empresas como a Petrobras e a Vale. Apenas essas duas empresas têm
representado em média 40% do valor negociado na Bovespa neste ano.
Apesar disso, a queda nas bolsas afeta a economia real por pelo menos duas vias: quem investiu na
bolsa tem menos dinheiro para gastar, e as empresas têm que procurar outras fontes de
financiamento.
A Bovespa conta com cerca de 500 mil investidores como pessoas físicas. Além disso, houve uma
grande queda de IPOs, os lançamentos iniciais de ações das empresas. Em 2007, foram lançadas na
Bovespa 64 novas empresas. Até setembro de 2008, tinham ocorrido apenas quatro IPOs.
Dólar
Após quedas recordes da moeda americana em julho, o dólar voltou a se valorizar de forma
crescente a partir de agosto de 2008. Mas qual o impacto dessa subida?
Por um lado, o dólar mais forte pode, caso a alta se sustente, ajudar os exportadores a se tornarem
mais competitivos, o que é celebrado por vários empresários e economistas.
Por outro, a alta pode atrapalhar no combate a inflação. Segundo cálculos da consultoria
Tendências, cada variação de dez pontos percentuais no dólar tende a gerar um ponto percentual de
elevação trimestral do índice de inflação IPCA. Desde o começo de 2008 até meados de setembro, a
alta
acumulada
do
dólar
estava
variando
entre
5%
e
6%.
Essa alta, avaliam especialistas, pode pesar na avaliação do Banco Central sobre a subida dos juros.
Comércio exterior
Nos últimos cinco anos, o Brasil tem tido grandes superávits na balança comercial (exportações
maiores do que as importações) e um aumento crescente dos valores vendidos no exterior. Segundo
dados do Banco Central, as exportações saltaram de US$ 73 bilhões, em 2003, para US$ 160
bilhões, no ano passado. Em 2006, o Brasil teve um superávit recorde de mais de US$ 46 bilhões.
Uma parte desse aumento se deve à subida dos preços dos produtos brasileiros no externo e não à
venda de mais produtos. Agora o preço das commodities agrícolas e minerais, grande responsáveis
pela melhora nos valores, estão caindo.
Além da queda dos valores, existe a expectativa de que o crescimento mundial diminua,
especialmente em 2009, o que deve significar menos comércio internacional e o risco de uma
redução das exportações brasileiras.
Por outro lado, a desvalorização do real pode tornar os produtos brasileiros mais competitivos e
derrubar as importações.
Apesar das mudanças no cenário internacional, o governo brasileiro tem mantido suas estimativas
para 2008, com um forte aumento das exportações, na casa dos US$ 190 bilhões, e um superávit
comercial de mais de US$ 20 bilhões.
A dúvida entre os economistas é como ficarão as contas em 2009. Para a maioria dos analistas, o
fiel da balança será o desempenho das economias emergentes, especialmente a da China e a da
Índia.
Exportações e a economia real
Se as exportações ou o valor das commodities caírem muito, as principais afetados serão as
empresas exportadores. O impacto sobre o restante da economia é limitado pelo fato de o país ser
relativamente fechado: o setor exportador responde por cerca de 14% do PIB. Além disso, o Brasil
vende para muitos países diferentes e tem uma pauta diversificada, com produtos manufaturados
representando mais de 50% das vendas.
Outro aspecto positivo para o Brasil é que o mercado interno brasileiro está aquecido e tende a
absorver pelo menos parte de uma eventual queda de produtos exportados.
Uma queda ou desaceleração nas exportações é visto como um risco maior porque pode afetar o
equilíbrio das contas externas. O risco maior seria para 2009. A expectativa oficial para 2008 é que
Brasil tenha que cobrir um buraco de US$ 24 bilhões nas contas externas - o que deverá ser feito
pela soma entre o superávit comercial e os investimentos externos no país. Para 2009, a previsão é
que o rombo passará dos US$ 30 bilhões.
Alguns economistas já fazem avaliações bastante pessimistas, apostando que o superávit brasileiro
poderia cair abaixo dos US$ 5 bilhões no ano que vem. Isso tornaria a economia mais dependente
de
investimentos
externos
para
fechar
suas
contas
e
mais
vulnerável.
Para o governo, a expectativa de que os investimentos estrangeiros serão mantidos e reservas
internacionais de mais de US$ 200 bilhões garantem que o Brasil não sofra grandes riscos no médio
prazo.
Crescimento
Um dos poucos consensos entre os economistas em meio à atual crise é que a economia brasileira
deve diminuir seu ritmo de crescimento. Para Antônio Madeira, da consultoria MCM, mesmo com
todas as mudanças, o PIB brasileiro deve subir por volta de 5,5% em 2008. Para 2009, ele acredita
que esse número deve ficar entre 3,8% e 3,5%.
Os números variam um pouco dependendo da fonte, mas a grande maioria dos analistas trabalha
com faixas parecidas.
O motivo da queda é que mesmo que o Brasil não seja muito atingido pela crise externa, as
diferentes fontes de contaminação devem contribuir para derrubar a atividade econômica. Além
disso, o próprio BC brasileiro está com uma política de aumentos de juros com o objetivo de reduzir
o crescimento no ano que vem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de
reprodução sem autorização por escrito da BBC.
http://www.estadao.com.br/economia/not_eco244262,0.htm
Folha de S. Paulo, 3 de outubro de 1982
À procura de uma saída para a crise
Professores divergem sobre a proposta de se nacionalizar
o País a partir de instituições democráticas e sem xenofobia
Dissociação dos países centrais e integração na América Latina, assegurar ao povo o bem estar material
indispensável e cuidar para que os recursos naturais não sejam expropriados: nacionalizar o País não de
uma forma xenófoba, mas a partir de instituições fortes e democráticas; alterar profundamente a sociedade.
Estas são algumas idéias a serem aprofundadas na busca de uma saída para a crise que o Brasil enfrenta
dentro de uma crise mais ampla: a do sistema econômico mundial, muito semelhante ao ―crack‖ de 1929.
Na tentativa de aprofundar a real natureza da crise que envolve o Ocidente, suas conseqüências para o
Brasil e, principalmente, as opções e condições para sair dela, a ―Folha‖ promoveu em Brasília uma mesaredonda entre especialistas da área econômica, de ciências sociais e políticas, egressos das universidades
de Harvard, Chicago, Stanford e Berlim. Participaram do debate, que foi coordenado pelo professor J. W.
Bautista Vidal, os especialistas Marco Antônio Campos Martins, Benício Viero Schmidt, Argemiro Procópio
Filho e Joaquim de Andrade, todos membros do Centro Latino de Altos Estudos (Clae), sediado em Brasília.
Marco Antônio Campos Martins é doutor em Economia pela Universidade de Chicago e presidente do Clae;
Benício Viero Schmidt é professor da Universidade de Brasília e doutor em Sociologia pela Universidade de
Stanford; Argemiro Procópio Filho é professor de Sociologia da Universidade de Brasília e doutor em
Ciências Sociais pela Universidade de Berlim; e Joaquim de Andrade, também professor da Universidade
de Brasília, é doutor em Economia pela Universidade de Harvard.
―A escassez atual de recursos é artificial‖
“Folha” — Como o sr. está vendo a crise atual em comparação com a crise de 29? Alguns pensadores
políticos vêem no nacionalismo uma estratégia essencial para que o Brasil possa sair vitorioso desta
encruzilhada histórica. Como o sr. vê a situação?
ANDRADE — A crise de 1929 foi uma crise de abundância e a atual é uma crise de escassez. Não
necessariamente uma escassez física, mas provavelmente uma escassez criada e manipulada
politicamente. Este é o ponto fundamental: há uma escassez artificial de recursos, que não é exclusiva dos
países ricos, e isto está obrigando a uma revisão completa da ordem internacional.
Acho que a crise brasileira tem de ser vista dentro desse âmbito de reordenação internacional. As
economias dos países ricos estão se fechando, o protecionismo está crescente e isto é que está tornando a
crise mais séria para nós, para a América Latina. O México não conseguiu pagar sua dívida, o Peru idem e
o Brasil, igualmente, não conseguirá pagar. Com isto, está se colocando em risco a possibilidade de um
crescimento
capitalista
a
nível
internacional.
A idéia revolucionária de que o sistema econômico constituía uma máquina que produzia para o bem
comum está sendo colocada em xeque. De repente, o mercado não funciona mais. O esvaziamento da
OPEP é um sinal de que os preços não funcionam mais. Então, o problema da distribuição dos recursos
escassos passa a ser político. A divisão do mundo está sendo feita implicitamente, através de mecanismos
protecionistas,
que
não
são
meramente
econômicos,
são
políticos.
“Folha” — O que resulta disso?
ANDRADE — O que se está colocando em questão é a possibilidade de se continuar com esse
crescimento econômico, com esse padrão de desenvolvimento, centrado nos países do Norte. Ainda muito
mais, está sendo colocada em xeque a possibilidade dos países do Terceiro Mundo atingirem essa ordem.
Vamos viver durante 10 anos em um mundo em fase de reordenação da economia em que nós teremos
pouco poder de barganha, a não ser que todos os países do Terceiro Mundo se unam e resolvam: ―Não
pagaremos mais a dívida.‖
Essa visão de ―arrumem-se como puderem‖ é muito clara, mas é um blefe. Nós não vamos arrumar e eles
vão ter que dar um jeito. Vocês percebem que mesmo a inflação nacional passa a ser um problema de
pacto? Assim como a inflação é um problema político, essa nova ordem internacional vai ser resolvida num
pacto entre os países grandes do mundo. Eu não acredito no nacionalismo como saída para a crise. Esta é
a visão que todos estão tendo, e ela não levará a nada.
“Folha”— Haveria, enfim, uma profunda transformação no capitalismo?
ANDRADE — Acho que colocando-se em xeque a possibilidade de um crescimento centralizador,
capitalista, a tecnologia está sendo questionada, o mesmo acontecendo com a organização do trabalho e o
próprio sistema de mercado, senão dentro dos países, pelo menos na inter-relação dos países. O dólar já
não é mais a moeda internacional e uma nova ordem está para nascer. Acho que, dentro de uns dez anos,
sejam quais forem as estratégias que o Brasil estabelecer, elas vão ter de adequar-se à estratégia maior
dos países desenvolvidos. Não será a anarquia de mercado que ditará essas estratégias. Essa crise,
durante esse período de dez anos, transformará profundamente o capitalismo. Acredito que ela trará uma
nova concepção do que seja desenvolvimento econômico, a falência das tecnologias existentes, a falência
da prosperidade aparente. De repente, começa-se a pensar em um novo tipo de sociedade. Não passa de
uma brincadeira você falar: vamos alterar a estrutura produtiva, vamos produzir mais bens voltados para os
trabalhadores, vamos depender menos do setor externo, vamos nacionalizar o capital. O que interessa, no
meu ponto de vista, não é tanto o capital ser nosso. O que interessa é que a lógica desse capital seja
diferente dessa lógica de acumulação desenfreada, tão espoliativa a nacional quanto a internacional.
“Folha” — Nesse espaço de tempo, o que o Brasil pode fazer?
ANDRADE — A malha está fechada. Há opções apenas de como administrar a dívida externa; diminuir as
importações; estimular mais as exportações; talvez criar um subsídio aqui, outro acolá; tentar estimular a
produção interna, a tecnologia. Acho, no entanto, que devemos partir para uma crítica ao padrão de
crescimento, dessa visão do que é prosperidade. E um nacionalismo só alteraria essa situação se
acompanhado de alteração profunda na sociedade. Esta crise é bem mais grave do que a da década de 30,
não só porque os homens são hoje em maior número sobre a Terra, mas porque o conflito entre as nações
poderosas é muito mais agudo. E o efeito de eventuais alianças entre nações poderosas contra as
subordinadas vai ser muito mais drástico e catastrófico do que foi em crises anteriores. Tenho a impressão,
portanto, de que a questão do nacionalismo deve ser rediscutida, pois a conclusão lógica é de que os
países que adotaram um projeto nacionalista para enfrentar crises só tiveram sucesso porque se tornaram
imperialistas.
―As semelhanças com 29 são somente políticas‖
“Folha” — Como situa a presente crise internacional comparada com a crise de 29 e seus efeitos no
Brasil? Como o sr. vê a evolução política do País nesses últimos 18 anos? Acha que o nacionalismo tem
importante papel na atual fase da evolução sócio-política brasileira?
SCHMIDT — Modelos autárquicos, pelo menos semelhantes às últimas tentativas historicamente
conhecidas, não são plausíveis nas atuais condições. As crises de 1929 e a de agora guardam
semelhanças, mas, sob o ponto de vista político, acredito que a atual é bem mais profunda e grave. A
população mundial é muito maior hoje. Há uma consciência clara da escassez, como nota fundamental nos
esquemas de desenvolvimento econômico. E, o conflito eventual entre países poderosos poderá trazer
conseqüências
imponderáveis
aos
países
subordinados,
como
o
Brasil.
Este novo quadro obriga a volta do nacionalismo como ponto de referência, sob o prisma político. Aqui
mesmo, neste debate, foi aventado que, diante de crises como esta, o nacionalismo seria sempre um
projeto viável. De um lado é correto, mas o fato exige melhor qualificação. Uma das coisas mais notáveis na
saída das últimas crises cíclicas (fim do século 19 e também em 1920-30) é de que os que adotaram
projetos nacionalistas tinham política e economicamente o imperialismo expansionista como instrumento a
garantir os êxitos imaginados. Caso dos Estados Unidos, dos europeus e principalmente do Japão, sob o
prisma econômico.
O que se propõe ao Brasil, dentro de um contexto de recuperação do nacionalismo como projeto, não é
uma visão expansionista e imperialista. Não é isto que pensam setores avançados dos intelectuais, militares
e quadros político-partidários, neste momento. A visão nacionalista – hoje suprapartidária – compreende
uma visão retrospectiva imediata do Brasil pós-1964.
“Folha”— O que revela esta retrospectiva?
SCHMIDT — A retrospectiva da experiência dos últimos 18 anos revela um País que sofreu imensas
mudanças sociais. A mobilização social, causada pelas mudanças trazidas pela modernização acelerada da
economia, gerou muitas realidades novas. Hoje temos aqui uma sociedade estratificada em termos
modernos: há uma notável dinamicidade nas relações sociais baseadas no crescimento econômico; há
pressões por participação social e política, através da realização de posições tipicamente ―modernas‖ (bens
de consumo, educação, informação, formas de sociabilidade), exatamente baseadas na matriz que foi
imposta ao País por meio da modernização autoritária. A sociedade brasileira é hoje profundamente
desequilibrada, há muitas iniquidades sociais e mesmo certas barreiras que não deverão ser afastadas pelo
funcionamento automático do mercado econômico. Todavia, é importante ressaltar que as mudanças
trazidas pelo autoritarismo modernizador geraram expectativas sociais que agora pressionam as metas do
sistema social como um todo.
“Folha” — A que isso pode levar?
SCHMIDT — A sociedade não é um laboratório, onde se pode fazer experiências absolutamente
controladas, por exemplo, deixando o produto e a renda familiar crescer num período, aumentar
constantemente a expectativa de ―uma vida melhor‖... e de uma hora para outra cortar a experiência. A
técnica de mobilização das expectativas e o alargamento das bases econômicas do sistema produtivo —
simultaneamente dados no Brasil nestes 18 anos — trazem algumas decorrências políticas e sociais
inarredáveis. É importante ver como poderá o sistema de governo sair destes dilemas, agora, numa
conjuntura de crise geral. Certos indicadores desta crise já estão disponíveis na sensibilidade da sociedade
urbana brasileira, justamente aquela que mais se aproveitou da onda modernizadora dos últimos anos.
Nesta situação de perda de níveis de bem-estar já experimentados (os sociólogos chamam o fenômeno de
atimia), é importante verificar se há condições, se há mecanismo sociais e políticos de sustentar uma saída
para a crise. Isto é crucial, e acredito que estamos absolutamente carentes destas condições; o que, sem
dúvida, é muito perigoso.
“Folha” — A saída seria negociações intersetoriais?
SCHMIDT — O recente período de mobilização não criou condições para o estabelecimento de précondições políticas para negociação de interesses entre diversos setores, visando a saída da crise. O
próprio destino da abertura política do governo Figueiredo não é plenamente conhecido... e ele terá de sêlo
numa próximo conjuntura que encontrará o País — provavelmente — numa situação bem mais grave e
opressiva, economicamente, do que agora. Estes processos de abertura, democratização do poder
autoritário, são sempre difíceis, como ilustram os casos da Espanha, Grécia e Portugal. De qualquer
maneira, é bom ressaltar que o processo recente descartou o nacionalismo como referência; e efetivamente
a nacionalidade está em crise. A dependência financeira, a queda de produção econômica em vários
setores, o aumento do desemprego, a pertinaz inflação e a crescente terciarização da população
economicamente ativa (como forma disfarçada de subemprego se generalizando) estão ai denunciando
uma situação grave. Tornar-se necessária uma reforma profunda; pois a repartição da solução encontrada
em 1964 não será possível. O mercado internacional de capitais não está disponível como em 1964:
portanto, esta via não levaria o sistema a novos patamares de crescimento e de incorporação da força de
trabalho no mercado. Isto tudo não quer dizer que o capitalismo acabou suas reservas de soluções para
crises... Seria infantil e desprezível afirmar tamanha ingenuidade. Todavia, no caso brasileiro, a situação
exige a construção de instituições que possibilitem o encaminhamento político e social do novo pacto que
nos
tirará
do
abismo
a
que
vamos
celeremente
chegando.
“Folha” — No que consistiria esse novo pacto?
SCHMIDT — O nacionalismo proposto agora por muitos setores nada tem a ver com visão estreita, racista e
expansionista do fascismo italiano ou da visão nazi-fascista de Hittler e asseclas. Trata-se de uma
plataforma de onde se partiria para o uso socialmente racional e politicamente aceitável dos recursos
nacionais. Uma conversão das nossas aspirações como povo às nossas possibilidades efetivas como
Nação. Trata-se de uma saída que não tem de ser autárquica, xenófoba, mas sim a partir do nacional. Não
é somente do ponto de vista social que temos de nos preocupar: a perda de status (renda, principalmente)
da classe média, por exemplo. Esta perda de status poderá causar muitos efeitos socialmente negativos,
destrutivos mesmo (uso de drogas, deserção escolar etc.). Outro lado da questão é a política . Precisamos
de um sistema político que permita a negociação, a definição dos horizontes de cada classe, de cada
partido; levantar nossos recursos etc. Isto, evidentemente, não é fácil nem simples. Mas é uma condição
necessária; qualquer projeto de governo ou de gerência da crise que aí está só será possível como
imposição. O nacionalismo em discussão é o substrato da reconstrução nacional a partir de instituições
fortes e democráticas. O Brasil já é muito mais complexo do que eventuais rusgas partidárias podem supor.
Não há retorno à sociedade brasileira de 1950/60; mas a crise que nos assola necessita de condições
políticas de equacionamento. A experiência da Argentina (de Ongania em 1976 à Guerra da Malvinas) é
assustadora: recessão, desemprego em massa, desindustrialização do país, desorganização política das
classes, congelamento dos partidos políticos e falta total de institucionalização do processo político. Até os
mínimos rituais de passagem de poder têm sido esquecidos pelos eventuais ocupantes da Casa Rosada.
Nenhuma sociedade complexa pode sobreviver a este equilíbrio pelo caos. A mesma situação internacional
que oprime a Argentina também nos atinge. Através de uma mobilização nacional institucionalizada
esperamos
poder
escapar
aos
rigores
do
inverno
portenho.
―Está havendo uma nova repartição do mundo‖
“Folha” — A interpretação mais em voga da atual crise mundial é a de que ela é basicamente uma crise do
capitalismo e que acarretará inexoravelmente maior dependência dos países periféricos em relação aos
países centrais. Como o sr. vê a crise?
MARTINS — O que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e na Europa Ocidental faz
parte de uma grande luta pelo controle de recursos escassos, a nível mundial. O que está havendo,
basicamente, é uma nova repartição do mundo. É muito importante compreender isto para pensar na
formulação de um projeto brasileiro. Vejamos, então, porque discordo dessa visão de que existe apenas
uma grande lógica para a solução dessa crise. Quando se fala na lógica do sistema capitalista, na divisão
entre capital e trabalho, entre direita e esquerda, se fala como se essa lógica fosse inexorável. É como
afirmar: não tem jeito. Só tem um caminho. Eu digo: tem jeito. A questão é política e não técnica.
“Folha”— E qual é o jeito?
MARTINS — Para falar na crise e sua solução, tenho que abordar antes a questão do nacionalismo.
Partimos para tanto do pressuposto natural de que precisamos assegurar para o nosso povo o bem-estar
material indispensável à realização de seus valores espirituais e morais. Enfim, dos seus ideais. Observe
que quando falamos que ―precisamos assegurar a base material‖, queremos dizer que não podemos ficar
de braços cruzados, que se não o fizermos perderemos totalmente o controle dos recursos de que
dispomos. Quando falamos em nacionalismo é no seguinte sentido: algumas poucas potências estão
querendo assegurar para si o domínio de todos os recursos econômicos mundiais. Estão querendo retalhar
o mundo. Nacionalista é exatamente ir contra isto e dizer: não, você vai voltar para o seu canto, isto aqui é
nosso. Esta é a minha visão. Queremos simplesmente que nossos recursos não sejam expropriados por
quaisquer tipos de mecanismos; nem pela pirataria nem pela guerra e nem pelo exercício do poder
econômico.
“Folha” — Sente-se que os economistas de todas as tendências estão tendo dificuldades de formular
claramente alternativas que não sejam baseadas em chavões e generalidades. A que o sr. atribui isso?
MARTINS — As atuais gerações de economistas e sociólogos foram preparadas para pensar de acordo
com modelos pré-fabricados, nos últimos 50 anos. Cheguei à conclusão de que a influência de Ricardo é
avassaladora. Ele determinou toda a teorização que veio depois, e ainda não conseguimos sair de certas
amarrações que ele fez, principalmente no que diz respeito à questão da acumulação de capital. O modelo
de crescimento mais sintético e perfeito ainda continua sendo o ricardiano. Todos os outros derivam dele,
inclusive o marxista. Todos eles apresentam um grave defeito, quando usados indiscriminadamente:
concentram demasiadamente a atenção no problema da acumulação de capital físico, como se esta fosse a
única maneira de se acumular riqueza. Entendo, entretanto, que temos de encontrar formas de organização
do trabalho, segundo as quais o indivíduo detenha ele próprio a maior capacidade de geração de renda.
O fundamental, hoje, é sair dessas amarrações teóricas, parar de pensar em termos de modelos
tradicionais extremamente ortodoxos. Um outro problema sério, no plano conceitual, é que muitos estão
usando modelos agregativos de curto prazo, inteiramente inadequados para analisar questões de longo
prazo.
“Folha” — O sr. tem enfatizado a necessidade de uma atitude realista, inclusive defendendo o
protecionismo, se as circunstâncias o exigirem. Poderia explicitar melhor sua análise?
MARTINS — A tendência atual ao protecionismo é absolutamente natural, muito mais do que se deseja
admitir. Depois da crise do petróleo, tinha que haver uma redução no comércio internacional, simplesmente
pelo aumento dos preços dos produtos dele dependentes. Embora se fale muito no sentido de suprimir o
protecionismo, a lógica age em sentido contrário. Fala-se como se os defensores do desenvolvimento do
mercado interno estivessem propondo o fechamento da economia. Pelo contrário, queremos maior
participação no mercado internacional, mas em condições de igualdade, de forma que nossos produtos e
matérias-primas sejam adequadamente valorizados. Nas condições atuais isto não está ocorrendo.
Estamos sendo expropriados por mecanismos que podem ser contornados, ou mesmo abolidos. Se isto
está ocorrendo, temos mesmo é que tratar de diminuir nossa participação, até que encontremos formas
mais adequadas de participar.
O sistema monetário está organizado com base na circulação de moeda fiduciária, de papel-moeda emitido,
do dólar. Os Estados Unidos repartem uma pequena parcela desse poder com a Inglaterra, a Alemanha
Federal e o Japão. Este fato crucial raramente é levado em conta. A maioria absoluta dos modelos
econômicos teóricos, até a nível de microeconomia, das discussões relacionadas com a fixação dos salários
e, principalmente, no nosso caso, a nível do comércio internacional, supõe que o paradigma monetário
esteja satisfeito. Isto é, admitem implicitamente que as instituições monetárias, sobre as quais esses
modelos se alicerçam, são perfeitas. Estes tipos de instituições são muito parecidas com aquelas pelas
quais Friedman e Hayek propugnam, quando lutam pelo estabelecimento de regras de emissão monetária.
Neste tipo de instituições seria impossível que uns participantes do comércio internacional expropriassem
os outros. E o que temos hoje? Temos os Estados Unidos pagando o seu déficit de transações corrente
simplesmente pela emissão de papel. E, apesar disso, temos um mundo de gente pedindo ―pelo amor de
Deus‖ que o Fundo Monetário Internacional emita mais vinte e cinco bilhões de dólares para ―ajudar‖ os
chamados países em desenvolvimento. É óbvio que estas ações só lhes resultarão em prejuízo. Os Estados
Unidos vão simplesmente emitir mais essa quantia em papéis e, sem nenhum esforço, passar para nós.
Ficaremos com uma dívida muito maior sem ter recebido nada em troca, em termos econômicos.
Ora, para que haja realmente um empréstimo, é preciso que haja um esforço da parte do emprestador. O
fato fundamental de um ato legítimo de empréstimo é a abstinência de consumo ou de investimento por
parte do emprestador, pelo menos por algum tempo. Se você está emprestando realmente, você terá de
diminuir a sua oferta de bens de serviços. Esta diminuição deve corresponder ao aumento da oferta de bens
e serviços do outro. E o que está acontecendo agora? O emprestador não faz absolutamente nenhum
esforço para emprestar. O que há na realidade é um artifício, um expediente financeiro, que leva a uma
mudança de direitos de propriedade. O paradigma ricardiano das vantagens comparativas foi rompido no
âmbito do atual sistema monetário mundial. Não posso, portanto, confiar mais no sistema internacional de
preços e nas taxas de câmbio para orientar o comércio mundial. Temos de procurar outros critérios mais
confiáveis que assegurem o adequado emprego dos nossos recursos, dos recursos nacionais abundantes.
Temos de procurar nos defender das expropriações impostas pelo sistema monetário internacional. Se
temos ofertas abundante de mão-de-obra, de terra, de energia renovável e ainda estoques invejáveis de
recursos minerais, temos de procurar a valorização e a utilização plena desses recursos. Mesmo em face
dessa oferta abundante, se ainda temos pobreza, miséria, é porque as nossas instituições são
inadequadas. O que é então o nacionalismo? É a decisão de se criar as condições para que haja um
adequado aproveitamento desses recursos em benefício do nosso povo, é a supressão da miséria, é o
usufruto
pleno
desses
recursos,
é
a
preservação
da
soberania.
“Folha”— No seu trabalho ―Impasse‖, o sr. atribui ao petróleo um papel central na crise atual. Pode
explicitar?
MARTINS — Eu analiso o aumento dos preços do petróleo no contexto dos problemas relacionados com o
controle de recursos econômicos escassos, a nível mundial. Nesse sentido, esse aumento de preços tem de
ser interpretado como uma forma de aguçamento da crise associada a essa questão do controle. Serviu
também para explicitar melhor as contradições a ela ligadas. Senão, vejamos: o sistema monetário
internacional estava mal fundamentado, o padrão ouro já tinha sido rompido muito antes de 1970. De Gaulle
denunciou isto em 1958, quando começou a acumular ouro e a tentar derrubar todo o sistema monetário
fundamentado no dólar. A rigor, os problemas monetários que hoje estão na ordem do dia, já vêm de muito
longe. Mas a crise do petróleo foi a grande responsável pelo aguçamento desses problemas. Os Estados
Unidos e os demais países centrais lançaram mão de todos os mecanismos econômicos de que dispunham
para fugir ao aumento dos preços do petróleo a partir de 1974, tentando repassar os custos decorrentes
desse aumento para o resto do mundo. Os países centrais utilizaram então vorazmente o sistema monetário
a seu favor. Dentro deste quadro, qual a nossa proposta? Se o petróleo está aguçando as contradições,
temos de sair rapidamente do petróleo, porque podemos sair. Temos de sair da armadilha do petróleo. Se o
sistema monetário está sendo utilizado para aguçar a crise, temos de sair rapidamente desse sistema
monetário. Façamos, então, uma proposta para reforma desse sistema. Que tipo de reforma? Uma reforma
em que o paradigma das vantagens comparativas funcione. Para isto é indispensável que entrem
imediatamente em operação mecanismos de controle de circulação monetária, a nível internacional. Se não
for possível a estruturação imediata desse controle, então que volte o padrão ouro. E se isso ainda não for
possível, então temos de adotar o protecionismo. O que não podemos permitir é que os países do Terceiro
Mundo continuem a ser expropriados. Não podemos tratar como parceiro comercial privilegiado alguém que
detém o poder descomunal de transferir dos demais participantes para si, sem qualquer contrapartida,
seiscentos
bilhões
de
dólares
de
recursos
reais.
―Importante é a revisão do modelo econômico‖
“Folha” — Como o sr. visualiza as políticas interna e externa brasileira no contexto da atual crise
internacional?
PROCÓPIO FILHO — No País estamos presenciando discursos fundamentalmente antagônicos. No plano
da política externa, os principais dirigentes já se utilizam de um tom que há uma ou duas décadas atrás
parecia ser monopólio de líderes do Terceiro Mundo. São denunciadas as desigualdades das chances, a
tirania da economia dos fortes, o protecionismo etc. O discurso, quando aborda a realidade econômica
internacional, tem sido de grande abertura e até mesmo progressista. Isto não acontece, entretanto, no que
diz respeito à política interna do País. As desigualdades e injustiças, resguardadas as proporções, aqui são
até piores que as externas. Exemplo: as grandes diferenças salariais, desigualdade de chances dentro do
setor educacional, do emprego etc. Enfim, as condições extremamente desvantajosas que as classes
sociais menos privilegiadas e majoritárias no País estão submetidas. O discurso do presidente Figueiredo
na
ONU
atesta
que
não
estamos
enganados...
Outra preocupação é a questão da abertura política em uma época de crise econômica. Não se trata aqui
de profetizar que a recessão vai continuar no mundo por três, cinco ou dez anos mais, ou que terminará já
em 1983. O importante é o redimensionamento de nossa economia. Profunda revisão do modelo econômico
que tem deixado o País tão exposto às crises que chegam de fora. Pagamos nós pelo luxo e consumismo
desenfreado dos países centrais. Da mesma forma as classes sociais excluídas dos benefícios do sistema
pagam pelo ―modus vivendi‖ opulento das nossas elites. Se os nordestinos, os favelados de São Paulo, do
Rio de Janeiro e os outros desprivilegiados do mundo consumissem como qualquer garota de Ipanema ou
cidadão médio da Suíça ou Alemanha Ocidental, o mundo logo estaria à beira da miséria. É com razão,
pois, que os movimentos ecológicos e os partidos novos conhecidos como Listas Verdes, tenham nascido
nos países centrais.
Voltando à questão dos discursos, saliente-se que para uma mesma realidade não pode haver um discurso
econômico fundamentalmente diferente do discurso político. Mas no Brasil é isto o que ocorre. São
denunciadas injustiças no plano externo, mas, das injustiças no plano interno – principalmente de suas
causas estruturais — nada se diz. Justiça é pedida para um plano, e esquecida noutro. O petróleo é um
bom exemplo dentro de tal contexto. Ele tem sido a equação para tudo no que diz respeito a crise. É o
verdadeiro bode expiatório no sentido bíblico da palavra. É como se o impasse de nossa economia se
devesse exclusivamente a ele e não ao modelo político-econômico dependente e concentrado como um
todo. Daí a necessidade do estudo de alternativas para que soluções apropriadas possam ser aplicadas.
Continuar com o modelo exportador, que não está dando certo desde o momento que Dom Pedro 1º
proclamou nossa Independência, é pouco salutar. A discussão que hoje já se trava em torno das
alternativas que um modelo disassociativo pode aportar deve ser levada a sério. Dissociação dos países
centrais e integração no âmbito latino-americano e do Terceiro Mundo, eis aí uma questão que deve ser
aprofundada.
http://www.aeconomiadobrasil.com.br/artigo.php?artigo=12
10/10/08 - 12h19 - Atualizado em 10/10/08 - 12h25
Lula: Natal dos brasileiros será bom, apesar da crise
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar hoje que a crise econômica que atinge os
mercados financeiros de todo o mundo não deverá afetar os investimentos no País nem o Natal dos
brasileiros. Em entrevista concedida a representantes de portais na WEB, entre eles o Limão, do
Grupo Estado, o presidente destacou: "Continuo otimista de que o Natal dos brasileiros será muito
bom. Porque a crise na economia global não deverá afetar o Brasil da forma como está afetando os
Estados Unidos e a Europa. A crise é a maior de todas, mas o Brasil está preparado. Se chegar aqui,
não terá os efeitos que já provocou nos Estados Unidos e na Europa."
Na entrevista, Lula criticou indiretamente a forma como a crise global vem sendo divulgada pela
mídia. "O povo está vendo a crise pela TV. E é preciso ver que a crise é alimentada todos os dias
pelo noticiário. É preciso ter cuidado com isso. Uma vez, morreu uma galinha em Marília (São
Paulo) e já disseram que era a gripe aviária. O Brasil passou a vender menos frango. O mesmo
ocorreu com a febre amarela. Disseram que tinha atingido o Brasil todo. Era só localizada. Além do
mais, penso que hoje é diferente de 1998 (ano de forte crise nas bolsas mundiais)." E exemplificou
com o fato de que hoje países como Rússia, Arábia Saudita, China, Índia e Brasil têm, juntos, mais
de US$ 3 trilhões em reservas. "Hoje, só os Estados Unidos e a União Européia já gastaram mais de
US$ 2 trilhões com a crise", emendou.
A respeito do otimismo que tem demonstrado neste momento de crise, Lula destacou que seu papel
é ser otimista e disse: "Feliz o brasileiro nesse momento, porque não depende das economias dos
Estados Unidos e da Europa, porque se preparou". "O País se preveniu, tem reservas em dólares,
uma economia sólida, política fiscal consistente e muita responsabilidade".
Crédito
O presidente também reiterou que as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
sobretudo as de infra-estrutura, não serão suspensas. "Não haverá cortes de investimentos." E
afirmou que seu governo ajudará as empresas brasileiras na obtenção de créditos para as
exportações. "Eu converso sobre a crise todos os dias. Esse é meu papel, é ver se temos de buscar
saída".
Lula disse que por enquanto não há no Brasil a informação de bancos com problemas, em razão da
crise, mas se tiver, "é como boletim de escola de menino, uma hora a nota ruim vai aparecer."
Ele citou a medida que autoriza os grandes (bancos) a comprar as carteiras dos pequenos: "Ficamos
sabendo que havia uma pressão dos grandes em cima dos pequenos. Então, o Banco Central vai
vigiar essas operações, para evitar a ganância financeira".
Questionado se os bancos que especulam deveriam ser punidos, ele ponderou: "A idéia é muito
mais de garantir as contas de quem tem o dinheiro no banco do que salvar bancos. Hoje há idéias
mais modernas do que quando fizemos nosso Proer (programa de ajuda aos bancos realizado pelo
governo de FHC no fim dos anos 1990). Os bancos recebem a ajuda mas o Estado fica com seus
ativos; quando a crise passar, revende-os."
FMI
Sobre a reunião do FMI neste fim de semana, o presidente citou que sua equipe está orientada a
dizer que não é mais possível continuar com o atual sistema de alavancagem dos empréstimos. E
destacou que no Brasil a pessoa se endivida até nove vezes o que pode pagar, já nos Estados Unidos
a proporção chega a até 35 vezes.
"Não dá. Tem de baixar, para sete, oito vezes apenas. O que há é uma grande especulação. Quando
o petróleo chegou a US$ 140, perguntei à Petrobras porque estava tão alto. Responderam: 'por causa
do consumo da China no futuro'. Especulam também com os preços dos alimentos e de todos os
produtos," criticou.
Outros temas
Ainda na entrevista aos portais de internet, o presidente defendeu a liberdade de expressão pela
Web, instrumento que considera revolucionário e citou que já conseguiu baixar três músicas pela
rede: "Viola enluarada", de Paulo Sérgio Valle, que deu de presente para si; "O Comedor de gilete",
de Ary Toledo, que deu ao governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), e uma outra, que fala da
preguiça dos baianos, da qual não se lembrou o nome, presenteada ao governador da Bahia, Jaques
Wagner (PT).
Sobre as eleições neste segundo turno, ele frisou: "Estou sem tempo. Acho que só devo ir mesmo a
São Paulo."
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL793637-9356,00LULA+NATAL+DOS+BRASILEIROS+SERA+BOM+APESAR+DA+CRISE.html
Lula: crise americana não atrapalhará crescimento do Brasil
Portal Terra
SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que a crise financeira nos
Estados Unidos não irá comprometer as metas de crescimento do Brasil para os próximos anos, uma vez
que, segundo ele, o País conta com pilares estáveis, como um alto volume de reservas, hoje na casa dos
US$ 200 bilhões.
Apesar das fortes quedas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nos últimos dias e da interrupção do
pregão nesta sexta após baixa de 10%, Lula observou que o Brasil será o país que menos vai sofrer com a
crise financeira mundial.
- O sistema bancário brasileiro está sólido, as finanças públicas brasileiras estão sólidas, a política fiscal do
governo está muito sóbria e muito serena, as reservas nossas nos dão tranqüilidade. Até agora não há sinal
de que a economia brasileira esteja envolvida no subprime. Portanto, ela pode chegar aqui muito menor e
não vai atrapalhar o desejo nosso de continuar crescendo- afirmou o presidente.
- Obviamente que se tiver uma crise profunda de recessão nos Estados Unidos e essa recessão atingir a
Europa, que atinge a China, obviamente que todos os países irão sofrer. Mas eu estou convencido de que o
Brasil sofrerá menos do que qualquer outro país com a crise econômica surgida nos Estados Unidoscompletou.
Adotando tom de cautela e orientado por seus assessores a defender uma "mensagem de serenidade" e de
"recusa ao alarmismo", o presidente observou que a crise não é dos países pobres, mas sim das nações
desenvolvidas.
- Agora não é uma crise dos pobres. Agora, o calo é no pé dos ricos- comentou.
- É como se nós tivéssemos tomado uma vacina contra uma doença. Então ela está demorando para
chegar no Brasil e talvez, se chegar, chegue em uma proporção muito menor do que está chegando nos
Estados Unidos, onde é o epicentro da crise, ou na Europa, onde todos estavam metidos na especulação
financeira com o subprime- declarou.
Enfatizando que, apesar da "serenidade", passava um recado com "verdade absoluta", Lula pediu cautela
ao se estimar o tamanho dos potenciais estragos da crise financeira e observou que, assim como acontece
com uma pessoa doente, ele não deve dizer a todo momento que as coisas vão piorar.
- Sou um tipo de ser humano que, quando vou visitar alguém no hospital, não fico contando quantas
pessoas morreram daquela doença- acrescentou.
- O povo está vendo na televisão. É preciso saber como essa crise é vendida todo santo dia. É preciso que
a gente dê às crises a dimensão que elas têm. Essa crise americana é profundamente forte, mas o Brasil
está profundamente preparado- afirmou o presidente.
[12:17] - 10/10/2008
http://jbonline.terra.com.br/extra/2008/10/10/e101022179.html
A Origem da Crise Mundial
Por que os grandes emprestadores de hoje são os fundos de pensão, hedge
fund, e as empresas de private equity, e não os bancos comerciais, com
seus mais de 500 anos de tradição nessa área? A origem da crise atual
remonta a 1933 e 1935, quando o governo americano instituiu uma série
de regulamentos visando a impedir que os bancos emprestassem além de
sua capacidade financeira. Esses regulamentos foram sendo modificados
ao longo dos anos, e sua última versão são os acordos de Basiléia I e II.
Neles encontramos a regra básica comum a todos: "Os bancos poderão emprestar no máximo doze
vezes seu capital e reservas, corroídos pela inflação do ano, ano após ano". Deve ser a regra mais
estapafúrdia e incoerente da história econômica do mundo, porque enfraquece a capacidade de
emprestar dos bancos ano após ano, justamente o contrário do que queriam fazer. Imagine o estrago
que acarretaram ao setor bancário vinte anos de inflação multiplicados pela alavancagem de doze
vezes o patrimônio líquido. Devido à inflação média somente deste ano, os bancos do mundo
deixarão de emprestar 2 trilhões de dólares em 2008, só para poder se enquadrar nos ditames de
Basiléia I e II. Um tiro no pé dos bancos e na economia do planeta.
Os bancos comerciais, para sobreviver, mergulharam de cabeça em outras atividades, como
serviços, derivativos, securitização de recebíveis. No ano passado, somente os bancos americanos
realizaram a loucura de 157 trilhões de dólares em derivativos, contra 500 bilhões em 1988. Hoje,
os empréstimos não passam dos 6 trilhões; o negócio dos bancos comerciais agora é outro.
No Brasil, sentimos o efeito dessa regra bancária insana em 1982 e 1983, quando a inflação
americana atingiu 20%, obrigando os bancos a recolher 20% de seus empréstimos, por simples
regulamentação governamental, criando a famosa crise da dívida externa, que nos causou uma
década e tanto perdida. Acusaram-nos na época de ser um país superendividado, de ter tomado
empréstimos demais, quando na realidade eram eles que estavam sendo forçados a dar empréstimos
de menos. Os bancos também foram acusados injustamente de ter emprestado sem rigor, o que
resultou nesses acordos ainda mais rígidos de Basiléia I e II, que mantiveram o absurdo original de
usar como cálculo um capital corroído anualmente pela inflação. Um enorme retrocesso.
Compare isso com a regra utilizada pelo Banco Central brasileiro até 1995: "Os bancos poderão
emprestar até doze vezes seu capital, corrigido anualmente pela inflação".
Se em vez de pedirem moratória, implorarem por mais prazo, nossos negociadores tivessem exigido
a troca do "corroído pela inflação" por um "corrigido pela inflação", os bancos americanos teriam
tido o necessário espaço para respirar e teríamos resolvido a não-crise numa boa. Tínhamos até a
obrigação de alertar o mundo, pois só os economistas brasileiros enxergam essas frases em itálico,
calejados que fomos pela inflação. Mas, em 1995, nosso Banco Central introduziu,
inexplicavelmente, a regra "corroído pela inflação", enfraquecendo nosso sistema bancário,
forçando-o a ganhar dinheiro com serviços, e não com empréstimos, comprometendo o crescimento
do Brasil – mais um erro do governo FHC.
Há males que vêm para o bem. Por termos enfraquecido o setor bancário mundial, hoje existem
novos personagens dando crédito, crédito mais bem distribuído, menos conservador, mais
agressivo. Agora, em vez de o risco ser concentrado nos 100 maiores bancos do mundo, como em
1983, o risco está pulverizado entre 45.000 fundos e no mínimo 200 milhões de investidores de
classe média para cima.
Muitos desses fundos estão de fato com problemas. Investidores que escolheram erradamente
fundos muito alavancados e concentrados amargarão prejuízos, mas não teremos o risco de quebra
em massa nem o contágio de bancos em liquidação, como antigamente.
Stephen Kanitz é formado pela Harvard Business School (www.kanitz.com.br)
(Veja, Editora Abril, edição 2024, ano 40, nº 35, 5 de setembro de 2007, página 20)
http://www.kanitz.com/veja/crise_mundial.aspa
Download