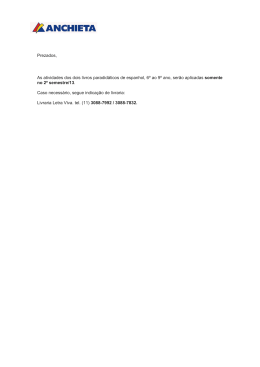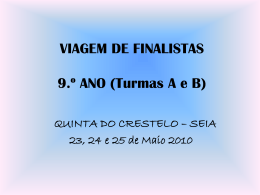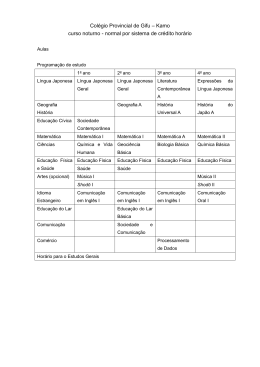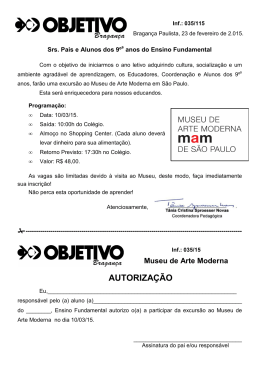1 MARÇO * TEMA: Literatura e leitura A livraria, esta desconhecida Por Jayme Canashiro Augusto De acordo com dados da Associação Nacional de Livrarias (ANL), o Brasil tem hoje 1.600 livrarias e 2.500 pontos de venda (espaços em faculdades, bancas de jornal, lojas de livros específicos e outros), locais responsáveis pela venda de 255.830.000 livros em 2003. Leitores, estes são inúmeros e de vários tipos. O público das grandes livrarias quase segue um padrão: certa homogeneidade de gostos, refletindo a lista dos ‘‘mais vendidos’’ da revista Veja. As diferenças estão relacionadas principalmente com a localização, refletindo influências do meio em que se inserem: a Saraiva da Rua Augusta tem, além de literatura geral, grande procura por livros infanto-juvenis (grande número de famílias com crianças), de culinária (comprados por chefs de cozinha de vários restaurantes da região) e jurídicos (grande número de escritórios no bairro), algo diferente da loja da Rua Maria Antonia, com grande demanda de livros universitários. A Nobel do Shopping Frei Caneca tem a companhia do Unibanco Arteplex e funciona como um termômetro dos filmes nas noites de sábado: uma multidão lota o local nos 30 minutos que antecedem a sessão de um filme concorrido, e o abandona quase que por completo na hora da sessão. As unidades da Siciliano não fogem à regra dos mais vendidos, mas há peculiaridades, como declara o encarregado de compras Marcos S., da unidade do Shopping Higienópolis: ‘‘Aqui, como no Shopping Iguatemi e na loja 24 horas da Avenida Cidade Jardim, que são locais de classe social A e B, quem compra mais livros são as mulheres, e quem gasta mais são os homens; as mulheres compram muitos títulos de auto-ajuda, literatura de vida útil curta, o que não ocorre com os homens, que compram títulos que resistem ao tempo, e são mais caros. É diferente da loja do Shopping Santa Cruz, onde homens e mulheres procuram pelos mesmos títulos das listas dos mais vendidos’’. * Como parte das oficinas, os selecionados Rumos Jornalismo Cultural desenvolveram, periodicamente, reportagens ligadas por um eixo temático comum a todos os participantes. 2 Na Livraria Cultura o público é formado prioritariamente por universitários e profissionais, que compram por necessidade profissional e lazer. A proximidade com o principal eixo financeiro da cidade (a Avenida Paulista) impulsiona a venda de livros técnicos. Já a Martins Fontes, na mesma Avenida Paulista, tem um público cativo leitor de ciências humanas, que prioriza o estudo (do ensino fundamental à pós-graduação). As pequenas livrarias nem são tão pequenas, se considerarmos seus catálogos ou o volume de vendas (algumas chegam a vender 10 mil livros por mês), mas têm características quase artesanais: ambientes menores, mais silenciosos e acolhedores, quase lembrando a casa dos nossos avós. A Gaudí fica na Rua Augusta, é especializada em livros de arte e arquitetura, apesar de vender literatura geral. O dono, Fernando Sagarra, fala da transformação do público: ‘‘A loja vende livros impulsionados pela mídia e ‘livros-ferramentas’, ou seja, livros técnicos que visam ensinar um conhecimento específico para uso profissional. A intenção é mais aprimoramento profissional que prazer cultural, principalmente com leitores jovens’’. Do mesmo modo, o gerente Antonio S., da Livraria Unesp, na Alameda Santos, mostra preocupação: ‘‘O aluno só vai comprar o livro se o professor mandar’’. Prazer de ler? ‘‘Nem se constitui um público --- só há poucos clientes que compram livros porque gostam de ler’’, lamenta. O movimento da Livraria Vozes, na Rua Haddock Lobo, é mantido pela lista da revista Veja, somada a vendas de gêneros específicos (pedagogia e psicologia, principalmente), além de livros de vendagem regular durante o ano: auto-ajuda e saúde alternativa. Menos de 20% dos títulos vendidos são religiosos, apesar da ligação com a Editora Vozes (que atualmente tem 30% de títulos católicos, sendo o restante de ciências humanas). Curiosamente, as revistas influenciam o mercado: matérias sobre Cristo no final do ano aumentam as vendas de livros com assuntos correlatos (Santo Sudário, Graal), ‘‘algo repetitivo e tedioso’’, segundo o gerente, Dorival C. Vendem-se também títulos de outras religiões --- levando-se em conta que se trata de literatura religiosa, não doutrinária. A Livraria Belas Artes, na Avenida Paulista, tem um público fiel, que ‘‘compra por necessidade escolar, mas vem atrás de novas traduções (como novas edições de Dostoiévski direto do original russo); compra O Código da Vinci, mas leva Borges também’’, relata a gerente, Vanessa M. A Livraria da Vila, um espaço acolhedor (com áreas de leitura em todas as seções, árvores, vendedores atenciosos), tem um público exigente, segundo o dono, Samuel Seibel: ‘‘Público A/B, leitor, que valoriza o espaço de uma livraria e gosta de vendedores leitores’’. Localizada em um outrora tranqüilo quarteirão na Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, sua fama crescente se reflete no movimento da rua: há cinco anos, 3 podia-se estacionar nos arredores sem demora; hoje os congestionamentos são ininterruptos no quarteirão da livraria. O atendimento diferenciado justifica a boa fama das pequenas livrarias: o cliente chega e lê à vontade, por horas a fio, ninguém fica atrás esperando que ele pague o livro e vá embora. Que o diga o advogado Mauricio Moraes, 37 anos, cliente assíduo da Belas Artes. Quase religiosamente nos fins de tarde ele sai de seu escritório, vai à livraria, pega algum livro e se senta em um dos banquinhos espalhados no corredor. Os últimos dias têm sido ocupados pela leitura de O Julgamento de Sócrates, do jornalista I. F. Stone. Faltando cerca de 50 páginas, ele comprou o livro. Recebido com um sorriso pela gerente, Vanessa, que disse: ‘‘Pensei que o senhor tivesse terminado’’, respondeu: ‘‘Deixei pra ler o final em casa’’. E arrematou: ‘‘Não se preocupe, já estou namorando mais uns dois livros. Amanhã eu volto!’’. Apêndice: apesar dos insistentes telefonemas, e-mails e pedidos pessoais, a Livraria Fnac (na pessoa da assessora de imprensa, Soraya Luccato) e a livraria do Espaço Unibanco de Cinema (na pessoa do dono, senhor Ronaldo) não quiseram se manifestar. ABRIL TEMA: Sincretismo Espaço multicolorido Por Jayme Canashiro Augusto Manhã de sexta-feira. Estudantes de várias regiões de São Paulo chegam em grupos com seus professores, recepcionados pelos monitores do Museu Afro Brasil. Crianças e adolescentes, de todas as ascendências possíveis, todos com um olhar curioso. Uma das garotas é Talita (nome fictício), 13 anos, na 7ª série do ensino fundamental. Cabelos compridos encaracolados, pele cor de café-com-leite (segundo ela mesma), olha desconfiada para os cocares da entrada, dizendo: ‘‘Não é um museu do negro? Por que tem índio aqui?’’. ‘‘É um museu da cultura negra e das culturas que ajudaram a formar a sociedade atual’’, responde o monitor. 4 O Museu Afro Brasil foi inaugurado em outubro de 2004 e conta com um acervo de 1.100 obras cedidas em comodato pelo diretor, o artista plástico Emanoel Araújo,ex-diretor da Pinacoteca e exsecretário de Cultura de São Paulo. A proposta do museu é revisitar a história do Brasil e a formação da nossa sociedade e cultura a partir do olhar e da experiência do negro. Talita não tem uma idéia clara da importância da cultura negra: ‘‘Eu sei que eles vieram como escravos e trouxeram religiões, como o candomblé, e músicas e comidas’’. O tom de voz monocórdio dá a impressão de que a aula foi mal decorada. A diáspora africana e a escravidão trouxeram elementos culturais que permaneceram e se integraram às culturas indígena e européia, produzindo novos significados. O museu tem como objetivo fazer reconhecer traços dessas culturas negras (africanas ou afro-brasileiras) no processo de formação da identidade nacional, afastando uma visão preconcebida que rotula esses traços como folclore, e evidenciar toda a carga de preconceito, discriminação e desigualdade social que permanece como herança da escravidão. A monitora Liliane Braga, jornalista e mestranda em psicologia social pela PUC/SP, fala sobre essas questões: ‘‘Muita gente chega ao museu, e eu tenho o cuidado de perguntar quem é descendente de negros. Pouca gente se manifesta, e muitos com traços visíveis. Aí começo a perguntar: e essa pele escura, de onde veio, e esse cabelo enrolado, aí alguns começam a lembrar que têm um avô ou parente distante negro’’. Talita diz que seu avô paterno era negro, mas ela não o conheceu. Pergunto se ela é negra, ouço uma resposta quase envergonhada: ‘‘Ah, eu sou, né?’’ Segundo o IBGE, 33% da população da região metropolitana da Grande São Paulo tem ascendência negra (considerados aqueles que se declaram pretos ao classificar sua cor, e aqueles que o censo qualifica como pardos). Talita olha para uma escultura, intrigada: uma carroça com muitos adornos e uma figura humana em destaque --- um caboclo. ‘‘Por que tem um caipira nesta obra? O que isso está fazendo aqui?’’. O monitor fala da cultura iorubá, que busca a assimilação de elementos de outras culturas do país que a adotou; isso explica a figura do caboclo representando a fusão das características do negro com as do índio, habitante original do Brasil. Os olhos de Talita se iluminam, como que vendo sentido naquela peça e no contexto todo. Quase uma hora depois, Talita parece mais interessada nas obras do que quando da sua chegada ao museu. Pergunto o que ela aprendeu: ‘‘Um monte de coisas! Na África tinha muitas tribos, as pessoas 5 se misturaram, e trouxeram religiões e costumes, e na Bahia o candomblé associa santos da igreja com seus deuses (divindades, corrige o monitor), e é muito legal!’’. Torno a perguntar se ela é negra: ‘‘É claro!’’, com um belo sorriso. ‘‘E isso é só o começo’’, diz a monitora Liliane. ‘‘Além das visitas monitoradas, teremos novas atividades: um coral de música negra, um espaço de difusão audiovisual com biblioteca, filmes, documentos sobre a cultura negra, e outras coisas em estudo. Será um belo espaço!’’ JUNHO TEMA: Identidade Hai, watashi tati wa banana arimasu* * Yes, nós temos bananas Por Jayme Canashiro Augusto Claudinei Souza Nascimento tem 22 anos, é eletricista, nasceu na Bahia e veio para São Paulo com 2 anos. Estudou língua japonesa e acaba de se tornar monitor voluntário do Museu Histórico da Imigração Japonesa. Seus amigos perguntam: ‘‘O que esse baiano faz no meio da japonesada?’’. Claudinei é um gaijin (não japonês) que gosta de anime (seriados) e carros Mitsubishi e Honda desde a infância. Freqüentava encontros de fãs de anime, lia mangás (histórias em quadrinhos) com anúncios de música japonesa, comprou o primeiro CD e passou a freqüentar o bairro da Liberdade. Começou a perceber que tudo o que gostava vinha do Japão. A imigração teve início em 1908, com 781 japoneses que chegaram para trabalhar nas lavouras de café. Hoje são 1,5 milhão de descendentes espalhados pelo país (70% em São Paulo), muitos reunidos em associações que promovem cursos e preservam hábitos e tradições. Estão catalogadas em São Paulo 420 escolas de idioma, culinária, artes (karaokê, ikebana, origami, cerimônia do chá, entre outras), além de 307 grupos de artes marciais e outros esportes praticados pelos japoneses (tênis de mesa e beisebol). O curso de história da imigração foi freqüentado por 21 nikkeijins (pessoas de ascendência japonesa), além de Claudinei e mais quatro ocidentais. O que essas pessoas faziam lá? 6 Valderson Cuiabano Silvério de Souza tem 54 anos, é arquiteto, tem ascendência espanhola e portuguesa. Mestrando em cultura japonesa pela USP e professor de ikebana, ele tem uma opinião: ‘‘O ocidental procura a cultura japonesa por amor (uma namorada nikkeyjin que freqüenta cursos e mostra o que está estudando) ou por trabalho (brasileiros que trabalham em empresas japonesas e precisam receber um executivo, levam para comer sushi e cantar nos karaokês, e acabam gostando). O jovem tem outros estímulos como o mangá e o anime’’. O próprio Valderson fala de sua influência: ‘‘Eu tive amizade com japoneses desde a infância, fazia aula de judô, comia pastel na feira, assistia a National Kid (anime que os trintões vão lembrar), fui ‘bombardeado’ desde muito cedo’’. Aluno do curso de cerimônia do chá da Casa de Cultura Japonesa da USP, estima em 10% a freqüência de gaijins no curso. O advogado João Carlos Jucio tem 42 anos e ascendência italiana de pai e mãe. É sócio da Fundação Japão e da Associação de Beneficência Nipo-Brasileira. Estuda a escrita japonesa há vários anos, é casado com uma nikkeyjin e acha que tem jeito japonês desde a infância: ‘‘Eu assistia a National Kid, era organizado, diferente dos outros meninos; eu tenho até uma foto de infância com olho puxado!’’. Come qualquer comida com hashi (os ‘‘pauzinhos’’), da lasanha à feijoada, e se considera um ‘‘ítalobrasileiro de alma japonesa’’. Razões profissionais levaram a jornalista Sônia Martinez, 40 anos, a mergulhar na história da ligação Brasil-Japão. De ascendência negra e espanhola, Sônia casou-se com um nikkeyjin e viajou para trabalhar durante seis anos como dekassegui (o termo define o migrante que faz o ‘‘caminho de volta’’ ao Oriente, mas está também associado aos gaijins casados com nikkeyjins). Hoje divide a vida em ‘‘antes’’ e ‘‘depois’’ do Japão: ‘‘Eu não tinha amigos japoneses, não tinha muito interesse no Japão; lá eu incorporei outros valores e pontos de vista, o contato com os nikkeyjins e outros estrangeiros foi enriquecedor, comecei a me interessar pelo país depois disso’’. Sônia trabalha em um jornal voltado para a comunidade brasileira no Japão e fez o curso do museu para aprender como começou a ligação entre os dois países: ‘‘Vivi um pouco dessa história nos anos 90 e queria saber o que houve antes’’. Tem três filhos, que estão aprendendo as primeiras palavras em japonês, palavras esclarecedoras: ‘‘Às vezes quero dizer algo, não acho um termo adequado e uso alguma palavra japonesa, o sentido fica mais evidente’’. Misturando palavras, idéias, conceitos, hábitos, o sol nascente dos olhos puxados fica cada vez mais próximo dos olhos redondos. 7 JULHO/AGOSTO/SETEMBRO Cobertura do Festival Cultura da Nova Música Popular Brasileira Festival Cultura: a segunda semifinal e as escolhas que não agradaram Por Jayme Canashiro Augusto Perplexidade. Estampada no rosto dos espectadores parados nos corredores do teatro do Sesc Pinheiros ao final da segunda semifinal do Festival Cultura --- A Nova Música do Brasil. Um grito ecoava no auditório quase vazio, tomado apenas pelos funcionários que guardavam os equipamentos: ‘‘É por isso que esta emissora só dá traço! Marmelada!’’. O auditório estava lotado para conhecer as seis músicas que se juntariam às classificadas na semifinal da última semana. Grupos torciam com faixas e cores que os identificavam: camisetas cor de laranja torcendo por ‘‘Classe Média’’, amarelas a favor de ‘‘Amanhã de Depois de Amanhã’’. O grupo a favor de ‘‘Mãe Canô’’ usava chapéus multicoloridos e cantava o refrão da música a cada pausa dos apresentadores. O empenho da produção era notado nos intervalos entre as músicas: funcionários desmontavam o cenário da apresentação anterior e montavam o cenário seguinte em poucos minutos, o apresentador Rodrigo Rodrigues se concentrava com a equipe, esperando a próxima intervenção. Os intérpretes marcaram a noite: intimistas como Ana Luíza, contagiantes como Ito Moreno e Roberta Sá, ou espalhafatosos como Edu Franco. Alguns momentos marcantes: a apresentação de ‘‘Cassorotiba’’, vaiada quando anunciada, teve muitos aplausos no final abafando algumas vaias resistentes; ‘‘Seresteiro a Perigo’’, ajudada por efeitos de luzes e pela interpretação afetada, rendeu aplausos e risadas; ‘‘Classe Média’’ foi aplaudida de pé. 8 Jurados e comentaristas ficaram no camarote no andar de cima e só eram notados quando a apresentadora, Cuca Lazzaroto, se referia a eles. Não passaram despercebidos, como mostrou a reação da platéia no final. Antes da revelação dos classificados, o Cordel do Fogo Encantado apresentou um show de ritmo intenso, e algumas pessoas levantaram para dançar nas laterais do auditório. A própria Cuca anunciou as músicas classificadas e se declarou surpresa: ‘‘Amanhã de Depois de Amanhã’’, ‘‘Girando na Renda’’, ‘‘Haicai Baião’’, ‘‘Maracatu, Samba e Baião’’, ‘‘Seresteiro a Perigo’’ e ‘‘Cassorotiba’’. Reação imediata da platéia: vaias e gritos de ‘‘marmelada!’’. Alheio à revolta, e feliz com a classificação de ‘‘Maracatu, Samba e Baião’’, Ito Moreno falou: ‘‘A expectativa era grande, eu tinha o objetivo de chegar à final pela oportunidade de mostrar o trabalho, já que estou fora da grande mídia’’. Apesar da discórdia, várias vozes defendem a importância do festival. Segundo o músico Zé Rodrix: ‘‘Isto tem de ampliar, ter cada vez mais festivais! Os ritmos que mais vendem no Brasil --- sertanejo e rap --- não estão representados. Tem muita coisa boa que só aparece aqui, precisa ser mostrada!’’. Rodrigo Rodrigues disse: ‘‘O mérito é o festival existir. Pode haver muitas críticas --- a sonoridade antiga, as pessoas que já participaram de outros festivais ---, mas o formato pode melhorar, o critério de seleção pode mudar, e é importante que o festival se mantenha’’. Na saída, pessoas reclamavam: ‘‘Vou vender meu ingresso da final, nem vale a pena vir’’. Ânimos serenados, vale a pena, sim, vir e escolher uma das 12 finalistas e torcer. OUTUBRO TEMA: Novos meios Pixels, câmera, ação! Por Jayme Canashiro Augusto No início era uma sala escura, e fez-se a luz de uma lâmpada que projetava as imagens dos fotogramas na tela. Aí, o computador entrou na história: o sistema de projeção digital abre mão da película e usa 9 um arquivo com o filme, que é armazenado em discos rígidos ou enviado por internet ou satélite e projetado por um sistema semelhante ao dos home theaters. A utilização de um meio digital para a projeção das imagens traz vantagens: o fim dos arranhões, manchas e poeira depositada sobre a película, resultantes do desgaste natural do filme durante a projeção; a viabilidade da exibição simultânea de um mesmo filme, tanto nas metrópoles como nas pequenas cidades do interior; a eliminação dos custos de produção e transporte das cópias às salas de cinema. Economia, a maior vantagem: uma cópia em película custa R$ 3 mil; um lançamento com 100 cópias precisa de R$ 300 mil, sem contar o transporte. O custo de um filme projetado digitalmente é de R$ 6 mil (sem limite de salas, basta ter o projetor). ‘‘Um custo altíssimo, só grandes distribuidoras podem bancar’’, afirma Fábio Lima, diretor da Rain Network, empresa que implanta o sistema de projeção digital nas salas brasileiras. Segundo Lima, a redução dos custos de construção das salas digitais (40% menos que as convencionais) e da logística de distribuição (um longa-metragem em arquivo digital ocupa cinco discos, contra seis latas de película, e o projetor digital é do tamanho de um computador pessoal) acabará com as distâncias e dificuldades de gerenciamento: ‘‘Poderemos abrir muitas salas menores, em cidades distantes, e controlar tudo de um só lugar’’. A projeção digital é uma esperança para o barateamento das produções cinematográficas brasileiras e para sua melhor distribuição nos cinemas. Algo que agrada a produtores e distribuidores. Mas, e o público, como fica? O espectador comum não notará muitas diferenças em um filme com formato digital, mas elas existem: legendas menores e mais nítidas, imagem e som livres de sujeira e ruídos. Apesar da nitidez, a imagem digital perde qualidade fotográfica, como explica Ibsen Batista da Silva, o cinéfilo gerente do Top Cine, de São Paulo: ‘‘No digital o fundo da imagem fica menos nítido, o preto é diferente também. Tem praticidade, mas não se compara à película’’. Um dos primeiros cinemas em São Paulo a adotar a projeção digital, o Top Cine viu o sistema aprovado por 20% de seus espectadores. E quem trabalha com a mão na massa? A Rain Network assegura que o projecionista é necessário para ajustar a imagem e corrigir qualquer problema na hora da exibição. Genivaldo dos Santos, projecionista do Top Cine, está pessimista: ‘‘A profissão vai virar coisa de museu. Só alguns cinemas 10 antigos vão continuar com operadores’’. Apesar disso, ele aprova o sistema: ‘‘Vejo se o filme está carregado no computador e aperto o play. É mais fácil’’. Da captação à distribuição das imagens, a tecnologia digital é irreversível: o suporte cinematográfico deixa de ser constituído de química e calor para ser frio e binário. Que as pipocas não se tornem virtuais.
Download