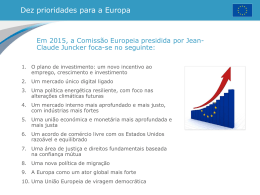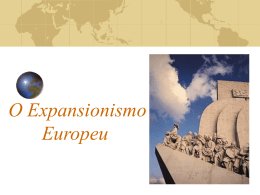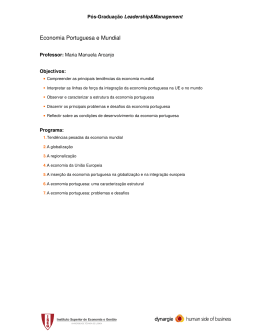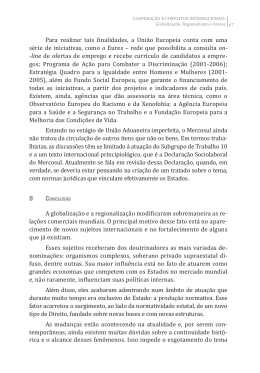António Monteiro Portugal | Embaixador de Portugal em Ancara Política de Defesa Europeia I NO DECURSO dos últimos anos a questão da autonomia europeia em termos de defesa ou, dito de uma forma mais simples mas mais ambiciosa, da Defesa Europeia, foi sempre considerada como uma matéria que era simultaneamente uma condição essencial para a construção política da Europa mas também um obstáculo a essa construção. Era uma condição essencial para uma Europa que se queria politicamente forte e com ambições de vir a desenvolver acções no seu exterior, uma vez que a sua credibilidade requeria a existência de capacidades militares que dessem conteúdo a essas acções. Mas era também um obstáculo por se reconhecer existirem divergências profundas entre os Estados-membros com alguns a oporem-se ao envolvimento da União em matérias de defesa e, consequentemente, à criação em sede europeia de capacidades militares. Com a Cimeira franco-britânica de Saint Malo, em Dezembro de 1998, deu-se o desenvolvimento mais espectacular dos últimos anos em matéria de construção de defesa europeia com o alinhamento do Reino Unido pelas teses que defendiam a inclusão de competências militares no domínio de acção da União Europeia. Vimos então os britânicos passarem de rígidos opositores a activos promotores da criação de uma Política Comum Europeia de Segurança e de Defesa (PESC-D). Desde essa data a PESC-D conheceu um enorme desenvolvimento, fruto não só do desbloqueamento ocorrido em Saint Malo, mas também das consequências da última grande crise de segurança no continente europeu – o conflito do Kosovo de 1999. Ficou patente nessa altura que os europeus não tinham os instrumentos para uma política de defesa comum autónoma – entenda-se mais os instrumentos institucionais que os meios militares – pois forças militares existiam e foram empenhadas no quadro da Aliança Atlântica, embora numa função algo supletiva em relação aos meios militares empregues pelos norte-americanos. Face a essa lacuna os europeus seguiram naturalmente a liderança dos Estados Unidos na condução desta crise. Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 Política de Defesa Europeia 77 Ao dizer que o que faltava eram principalmente os instrumentos institucionais e menos os armamentos (ou seja, mais o software do que o hardware) não podemos esquecer a enorme diferença de potencial militar entre os países europeus e o poderio norte-americano em termos de força militar. Curiosamente, na crise do Kosovo, os parceiros europeus alcançaram uma análise comum da situação e desenvolveram uma vontade comum de actuação, embora não tivessem os instrumentos para lhe dar corpo, ao passo que na crise da Bósnia, que teve lugar na região balcânica alguns anos antes, em que também não existiam esses instrumentos, não chegou sequer a haver uma política comum. Assistimos mesmo à actuação divergente dos vários parceiros europeus com simpatia por diferentes intervenientes no conflito. Decerto que a experiência da Bósnia foi útil para a consciencialização dos governos europeus dos riscos de divergirem na sua apreciação de um conflito que afinal a todos afectava, como a experiência do Kosovo terá sido decisiva para que esses mesmos governos não julgassem aceitável vir a encontrar-se mais alguma vez desprovidos dos meios necessários para evitar ter de seguir uma linha de acção definida além-Atlântico. Nos últimos dois anos assistimos assim à emergência de novas perspectivas para a segurança e defesa europeia. Todos os “Quinze” países da UE, pequenos ou grandes, situados no norte ou no sul do continente, membros da NATO ou de tradição neutral, habituados a intervenções no exterior (no âmbito das Nações Unidas ou para prosseguir objectivos nacionais), ou consignados a um certo isolamento em matéria de defesa, subscreveram os objectivos da construção de uma política de defesa europeia e, o que é mais significativo, concordaram em alcançar numa data concreta, resultados quantificáveis de capacidades operacionais consubstanciadas no Headline Goal. Deram os passos necessários para se passar da retórica político-diplomática para a palpável realidade prática. Para aqueles que estão empenhados na construção europeia e no seu aprofundamento estes passos têm um grande significado. Pode mesmo afirmar-se que a natureza da União e a sua capacidade de exercer influência no Mundo serão qualitativa e quantitativamente diferentes quando se concretizarem os arranjos institucionais e operacionais e se materializar a disponibilidade de forças militares agora programadas. Naturalmente que grandes desafios estão ainda por concretizar e entre todos avulta o de se saber se os governos dos Estados-membros – habituados a uma práti- Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 ca política pouco ambiciosa e a seguirem, em vez de liderarem, a opinião pública – conseguirão o apoio dos seus eleitores para suportarem politicamente e, o que é mais importante, financeiramente, a necessária reestruturação militar que dê corpo aos objectivos fixados na política comum de segurança e de defesa. II Mas o que significa a Política Comum Europeia de Segurança e Defesa (PESC-D), ou para que serve a Defesa Europeia, na formulação mais simples e mais compreensível para a opinião pública? De um ponto de vista institucional, é uma nova dimensão para a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e, atendendo a que a Defesa é a componente última da Segurança, visa exactamente o desenvolvimento pela União de capacidades militares e civis para fazer face aos riscos e à instabilidade que afectem a sua segurança. Interessaria aqui retermos a utilização dos termos “riscos e instabilidade” e referir a não utilização do termo “ameaças” que está habitualmente associado ao domínio da defesa colectiva. Esta última tem a ver com o emprego de forças militares na defesa da integridade territorial e da independência política de um Estado face a uma ameaça militar ou, na acepção colectiva, quando vários Estados se comprometem a prestar uns aos outros assistência militar para fazer face a uma ameaça dirigida do exterior a um deles. A União dispõe de facto de um conjunto de instrumentos de natureza política, económica e social que lhe confere capacidades de acção no exterior, mas a experiência dos últimos anos mostrou que a sua actuação estará sempre limitada enquanto não tiver uma capacidade militar capaz de sustentar os seus esforços em matéria de paz e estabilidade. Sempre se reconheceu aliás que a Política Externa e de Segurança da UE não estaria completa sem a sua dimensão militar, a única que confere eficácia e credibilidade na actuação internacional de uma potência seja qual for a sua dimensão e a área geográfica onde procure exercer a sua acção. Trata-se naturalmente de um conceito que se aplica quer a um país actuando isoladamente quer a uma organização ou aliança conjuntural ou permanente de Estados. Embora conceptualmente uma política de defesa tenha de compreender a totalidade das missões que integram a panóplia de tarefas que incumbem às forças militares, convencionou-se que a função fundamental da defesa colectiva deveria con- Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 79 Política de Defesa Europeia Política de Defesa Europeia 78 tinuar a ser da responsabilidade da Aliança Atlântica, para aqueles Estados-membros que dela são parte, como sucede aliás com sucesso há mais de cinquenta anos. Isto não quer dizer que os europeus não tenham um dia de pensar na construção de um instrumento militar que sirva também para a defesa colectiva. A perenidade dos actuais laços transatlânticos não é garantida, pois não se pode excluir um possível desinteresse norte-americano com a defesa da Europa em consequência do desaparecimento da ameaça (que hoje é já um facto...), ou do fim da parceria estratégica entre os dois lados do Atlântico por força do agudizar da competição económica e política, ou mesmo do agravar de interesses antagónicos entre a Europa e os Estados Unidos. O que está agora em causa na construção da defesa europeia é tão somente a satisfação das missões ditas de Petersberg, e que vão do empenhamento de meios militares numa simples operação de natureza humanitária ou de resgate de reféns, com ou sem oposição, até às tarefas de manutenção da paz ou do seu restabelecimento que exigem meios de natureza bem mais complexa e um grau de sofisticação e de poder de fogo completamente diferente. Trata-se afinal de desenvolver as capacidades militares – e os mecanismos de decisão, planeamento e condução de operações – dos países europeus para lhes permitir conduzir autonomamente operações militares de gestão de crises. Estas missões de Petersberg tiveram a sua origem na UEO, como se sabe, mas foram já integradas no Tratado de Amesterdão e até ao seu desaparecimento a UE valia-se da UEO para as desempenhar, uma vez que aquela garantia o acesso a uma capacidade operacional que a própria União ainda não tinha. Não só a complexidade institucional da UEO, com diferentes estatutos de participação por um alargado número de países, como o sistema configurado no Tratado da União Europeia para a ela recorrer, complicava e prejudicava a utilização com eficiência da sua capacidade operacional. Era assim imperativo evoluir e clarificar os aspectos institucionais e tornou-se evidente a existência de uma convergência em torno da necessidade de a UE assumir por ela própria a condução de operações de gestão de crises. Por outro lado, uma das mais valias da Política Comum Europeia de Segurança e Defesa reside na intenção de aliar o desenvolvimento credível das capacidades militares ao reforço das capacidades de natureza civil, muitas das quais existem já nos países da União e que agora interessa rentabilizar. Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 A União Europeia tem assim uma visão global para a sua acção no exterior, ambiciosa na sua génese e completa nos seus instrumentos, e que vai exigir o esforço de todos os Estados-membros em diversos sectores. III Na Presidência portuguesa da União Europeia do primeiro semestre de 2000 foram criados alguns dos órgãos da nova PESC-D, embora ainda numa configuração interina: o Comité Político e de Segurança (COPS), o Órgão Militar e o Grupo de Peritos Militares, estes dois os embriões de um Comité Militar e de um Estado-Maior Militar, que constituem o núcleo duro do desenvolvimento da PESC-D. Com o Conselho Europeu de Nice esses órgãos foram formalmente criados, o que representou um salto importante na aquisição dos necessários instrumentos de comando e gestão para a operacionalidade da União Europeia nesta sua nova dimensão. Por outro lado, foi desenvolvido um conjunto de objectivos de forças militares a serem aprontadas até 2003 (headline goal) e capazes de empenhamento em todas as tarefas de Petersberg, incluindo as mais exigentes (ou dito de outro modo aquelas que correspondem ao espectro alto da crise...). Com a realização em 20 de Novembro último de uma primeira Conferência de Compromisso de Forças (Capabilities Commitment Conference) os países membros aceitaram responsabilizar-se por alcançar os objectivos de forças anteriormente definidos. É ainda objectivo da União Europeia adoptar um “Processo de Revisão” das capacidades e meios militares europeus que permita, nomeadamente, colmatar no futuro as lacunas existentes nas capacidades de defesa agora disponíveis. O desenvolvimento das capacidades militares no quadro europeu exige naturalmente um relacionamento forte entre a União e a NATO. Esta relação é importante não só porque permitirá à UE recorrer a meios e capacidades da Aliança, mas também porque ambas as organizações prosseguem evidentemente nesta matéria objectivos comuns. Só com a existência de mecanismos que permitam o diálogo, a cooperação e a consulta recíprocas entre a UE e a NATO se evita a duplicação de esforços e, no respeito pelo princípio da manutenção da autonomia de decisão de ambas as organizações, é possível uma actuação eficaz e coerente. Como em qualquer novo processo existem dificuldades que importa não escamotear, mas devemos adoptar uma atitude construtiva e pragmática. Parte do sucesso deste novo projecto europeu depende do sucesso do relacionamento entre Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 81 Política de Defesa Europeia Política de Defesa Europeia 80 a União, a NATO e os aliados europeus não-membros da União, que deverá assentar numa relação forte e coesa com princípios estruturantes e mecanismos eficazes que sejam susceptíveis de potenciar o diálogo e a cooperação. O mesmo espírito construtivo e pragmático deve presidir ao relacionamento com os aliados europeus não-membros da União e países candidatos. Os mecanismos aprovados nos Conselhos Europeus da Feira e de Nice deverão por isso ser aproveitados em toda a sua plenitude, sendo ainda importante procurar o consenso em relação à forma como se desenhará a participação destes Estados em operações da União. IV Na construção da Política Comum de Segurança e Defesa (PESC-D) teremos de observar alguns princípios básicos que são elementos essenciais para a aceitação pelos Estados-membros dessa construção. E se é certo que de momento não parece que estejam a ser postos em causa, nunca é de mais recordá-los pois a sua inobservância pode fazer sossobrar esta política. Adiantaria assim dois conceitos que têm de estar presentes quaisquer que venham a ser os arranjos concretos no domínio da defesa e segurança na Europa: a manutenção do processo de decisão intergovernamental e a preservação da regra do consenso como base da tomada de decisões. Quanto à intergovernamentalidade, as razões para a sua manutenção são conhecidas. Prendem-se com a necessidade de reter nos governos dos Estados nacionais a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões sobre matérias que tocam no cerne da soberania das nações e que se prendem afinal com questões como a organização militar e a capacidade de defesa dos países, e em limite, com a paz e a guerra. Não parece legítimo que os governos transfiram para uma estrutura supranacional – ou para uma burocracia dotada de um largo poder de iniciativa – essa responsabilidade indeclinável e que terá de ser sempre justificada perante as suas opiniões públicas, por se tratar de decisões sobre o empenhamento de tropas em situações de crise que podem, em certos cenários, conduzir a hostilidades. Em relação ao segundo princípio, a tomada de decisões por consenso, por maioria de razão, as mesmas considerações se podem adiantar. Vivemos uma fase da construção europeia em que se acelera a tendência para a tomada de decisões por maioria, quaisquer que venham a ser as regras a definir no quadro institucional. Não se poderia entender que decisões que no fundo implicam pôr em risco a vida de Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 militares se possam alcançar por voto maioritário. O que aconteceria aos países que votassem vencido? Enviariam, mesmo assim, os seus soldados para participar numa determinada acção com a qual não poderiam concordar? Ou seriam dispensados de nela participar, com a consequência evidente que a acção deixaria de ser da União mas seria tão-só do grupo de Estados nela envolvidos? Existe ainda a questão da definição dos interesses comuns de defesa. Estamos no domínio das missões de Petersberg, ou seja, no campo da "projecção de poder" no exterior. Em contraste com a defesa colectiva em que é mais evidente a percepção do que está em causa, nem sempre será fácil identificar interesses comuns que possam ser considerados como afectando de forma colectiva todos os membros da UE. Mas é necessário que para cada situação que leve ao envolvimento da União se faça esta definição com a adesão de todos os seus membros e que tal seja aceite por todos como afectando um interesse comum. Estes princípios levam-nos a dizer que o que está em causa não é a transferência de soberania dos Estados para um órgão supranacional em matéria de defesa. Pode-se contudo conceber que tal venha a suceder de forma limitada, se vierem a ser criados escalões de comando conjunto com forças subordinadas em permanência, ou capacidades colectivas de transporte estratégico, ou de intelligence, para referir dois dos domínios onde se poderá encarar a constituição de pools de meios de defesa. Para os parceiros que são membros da NATO e da sua estrutura militar integrada isto não representa nada de novo mas teremos de atender às dificuldades dos Estados de tradição neutral e menos habituados às transferências de soberania. De facto, a Aliança Atlântica, organização de defesa colectiva e um caso bem sucedido de integração em matéria de defesa, funciona na base da exacta definição de interesses comuns de defesa e os aliados tomam as decisões por consenso e, depois, transferem para estruturas integradas a condução das acções decididas.NE Negócios Estrangeiros . N.º 1 Março de 2001 83 Política de Defesa Europeia Política de Defesa Europeia 82
Download