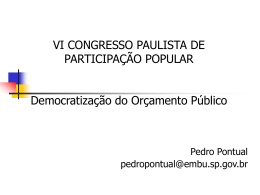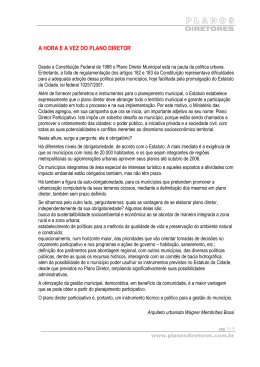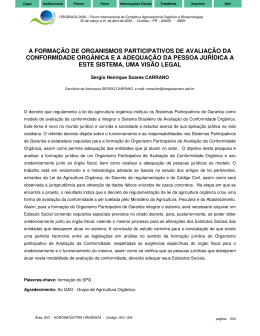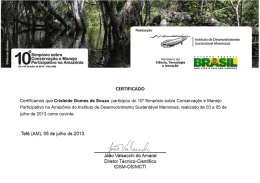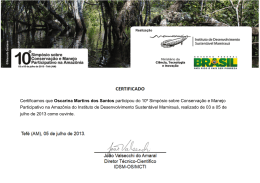1 XXI IPSA World Congress of Political Science Santiago - July 12 to 16, 2009 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E A GOVERNANÇA SOLIDÁRIA LOCAL: análise das mudanças nas políticas participativas de Porto Alegre. Alfredo Alejandro Gugliano1 INTRODUÇÃO Este trabalho se relaciona com a temática mais ampla das democracias participativas e os diferentes processos de inclusão dos cidadãos na gestão pública. A proposta analisa o governo local da cidade de Porto Alegre, depois da derrota da Partida dos Trabalhadores (PT) nas eleições municipais de 2004. A idéia de investigar o novo governo da cidade, com a eleição do Prefeito José Fogaça, em 2004, e sua recente reeleição em 2008, foi devido a que a derrota eleitoral da Partida dos Trabalhadores, depois de 16 anos na direção das políticas locais, gerou grandes expectativas negativas sobre o futuro da participação popular, conjecturas que não foram cumpridas considerando que o novo governo eleito não só manteve o tradicional ciclo de assembléias participativas para discutir o orçamento municipal, como também elaborou uma nova proposta visando complementar o orçamento participativo: a governança solidária local. Respeito a este tema é interessante sublinhar que, depois que Porto Alegre, outras cidades e organizações começaram a discutir a governança solidária local 1 Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFRGS, Professor Adjunto da Universidade Federal de Pelotas e Pesquisador do CNPq. 2 executada na capital gaúcha, potencializando esta proposta como um modelo de gestão pública alternativa ao consagrado em Porto Alegre nos sucessivos governos do Partido dos Trabalhadores. Portanto, analisar o que vem ocorrendo com o desenvolvimento das políticas participativas na capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, representa uma contribuição para o debate sobre as mudanças na esfera estatal dos países latinoamericanos e a potencialidade das experiências de ampliação da inserção dos cidadãos na gestão da administração pública. A maioria dos pesquisadores e pesquisadoras, que hoje em dia dedicam seu tempo a analisar estratégias que ampliam a participação dos cidadãos na gestão política do Estado, enfrentam obstáculos semelhantes. Entre estes, cabe mencionar a existência de dificuldades para analisar as experiências participativas a partir da mesma base conceitual usada para estudar modelos democráticos tradicionais. Inclusive, existe um vazio na teoria democrática participativa, se podemos chamá-la deste modo, em termos de seu grau de autonomia em relação a outras formas de representação. Até os anos setenta este era um problema resolvido por meio de uma relação de antagonismo (democracia participativas versus democracia representativa), mas, no momento há dúvidas se esta é a melhor solução. Além disso, atualmente as práticas participativas mudam muito rapidamente e, se em termos do modelo representativo poderíamos falar em uma dezena de tipos democráticos diferentes, no campo participativo este número poderia ser quadruplicado sem muitas dificuldades. Em outras palavras, as práticas participativas se desenvolvem com uma velocidade superior à nossa capacidade de interpretação. Há pouco tempo atrás a ocupação popular de Villa El Salvador era um dos escassos casos de inovação da gestão pública participativa que conseguia romper com os diferentes tipos de barreiras de informação, vindo à tona para ser conhecida em nível internacional. Depois veio o orçamento participativo de Porto Alegre e, quase na mesma época, a descentralização participativa de Montevidéu, ambas as propostas inauguradas ainda no início da década de 1990. Um conjunto de experiências que poderíamos contar com os dedos de uma única mão. Hoje, dificilmente arriscaríamos enumerar as experiências participativas que existem em nível internacional, pois, seu crescimento foi vertiginoso. E é difícil encontrar país da região latino-americana no qual não exista alguma proposta que tenha como pressuposto a participação cidadã na gestão pública. 3 Todavia, academicamente utilizamos um instrumental teórico tradicional que, em alguns casos, além de dificultar a percepção da radicalidade das mudanças sociais, ainda acaba redundando num meio de combate ideológico, uma forma de classificar projetos com os quais não existe identificação. Um exemplo disto é o atual abuso no emprego do conceito de populismo como uma maneira de discriminar qualquer gestão política que, mesmo eleita democraticamente, destoe do modelo liberal tradicional. Assemelhando-se a forma como o macarthismo norte-americano utilizou a acusação de comunista para desqualificar opositores, nos dias atuais discrimina-se como populista a todo projeto político que passe à margem do modelo convencional de distribuição de poder na região. No seu nascedouro, o populismo foi utilizado como uma forma de analisar, no caso latino-americano, o processo de incorporação da região aos pressupostos de um modelo capitalista industrial. Seja pela ótica de um populismo conservador, como foi o caso de Velazco Ybarra (Equador) ou mais progressista, como Haya de la Torre (Peru), do que estava se tratando era dos conflitos gerados entre um modelo tradicional agrário e um industrialismo emergente que iniciava a prender raízes em diversos países. Nos dias atuais não se trata de processos sociais, mas, classificar governos. Sendo assim, o conceito de populismo passa a identificar apenas aos governos vinculados a partidos políticos reconhecidos como de esquerda, com projetos políticos com forte ênfase em programas sociais e que vem desenvolvendo, em maior ou menor grau, experiências participativas de gestão pública principalmente em nível local2. Algo semelhante ocorre com o conceito de democracia quando utilizado para analisar experiências políticas que extrapolam o âmbito eleitoral e dizem respeito a mais coisas do que a eleição de governantes. A experiência democrática é recentíssima para a maior parte dos países, sendo que no século XIX a democracia praticamente não passou de um projeto e no século XX, antes da década de oitenta, a maior parte das sociedades do planeta havia conhecido apenas breves interstícios democráticos. Este caráter restrito da experiência democrática interferiu diretamente na própria conceituação deste fenômeno na medida em que a democracia acabou se tornando um apêndice da sociedade capitalista avançada, mediando sempre que possível os interesses 2 Apesar de não ser o foco deste texto uma análise detalhada sobre o conceito de populismo, deve-se sublinhar que uma visão alternativa às apresentadas neste texto pode ser encontrada em Ernesto Laclau. 4 da esfera da economia, da sociedade civil e da política. Max Weber descreve o impacto desta mediação em termos do desenvolvimento de uma autonomia relativa da esfera política e a substituição dos políticos com vocação pelos profissionais da política, os políticos que o autor chamou de “sem alma, nem coração”. Empobrecendo uma noção primitiva de democracia, aquela utilizada pelos cidadãos gregos que a consideravam um modo de vida, a teoria política contemporânea acabou por identificar como democráticas apenas as formas de governo, permanecendo todo o restante das instituições sociais como num mundo paralelo. Isto fica explícito na longa fila de diferentes caracterizações das regras que devem identificar um governo como democrático, mas que silenciam sobre a democratização, por exemplo, das instituições econômicas no interior da sociedade. Por boa parte do século XX, mais precisamente enquanto durou a guerra fria, os antagonismos entre um Estado democrático e a persistência de instituições sociais autoritárias não gerou maiores danos ao edifício teórico construído pelos especialistas na questão. Contudo, dois fenômenos vieram a aprofundar fraturas nesta construção. O primeiro foi o crescimento da insatisfação dos eleitores com o funcionamento do sistema político tradicional, fenômeno captado nas diferentes pesquisas de opinião sobre o tema e no crescimento de diversas formas do que venho chamando de deserção eleitoral (abstenção, não comparecimento, etc.). O segundo foi o surgimento das experiências participativas de gestão pública cujo principal paradigma ainda é o orçamento participativo de Porto Alegre. Porto Alegre talvez não tenha sido o primeiro caso de orçamento participativo no Brasil e nem ao menos foi a primeira experiência de gestão participativa da América do Sul, mas representou a primeira vez que este tipo de proposta recebeu reconhecimento internacional. VARIEDADES DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS Recentemente a literatura especializada vem se interessando pelo desenvolvimento de orçamentos participativos em diferentes países da América Latina, o que dá uma noção da sua rápida expansão. Como é conhecido, em praticamente toda essa região são executadas propostas que, sendo chamadas ou não de presupuestos participativos, se apresentam como formas de democratizar o debate orçamentário, principalmente, em nível local. Além de casos como os do Peru e da República 5 Dominicana, onde foram aprovadas leis nacionais que regulamentam os orçamentos participativos em diferentes níveis. Contudo, nem sempre que uma proposta é chamada de participativa isso significa que nela realmente exista participação. O que se vê, em alguns casos nacionais de orçamento participativo, é que a inclusão cidadã não avança além de uma consulta esporádica, na há compromisso com a execução das reivindicações populares. Além disso, mesmo quando a participação é efetiva também existem importantes diferenças nacionais. Sobre o tema é importante sublinhar que, até o momento, praticamente não houve uma transposição do modelo porto-alegrense de orçamento participativo para outras cidades, mas uma adaptação da proposta às diferentes realidades sociopolíticas tanto no Brasil, quanto em outros países. Como uma maneira de acentuar o formato deliberativo das democracias participativas é possível adotar a caracterização de três tipos de orçamentos participativos: (a) propostas participativas que possuem uma matriz assembleísta, (b) outras que adotam uma forma delegativa e, finalmente aquelas que (c) misturam estes elementos sendo, portanto, modelos mistos. O modelo assembleísta de orçamento participativo tem como base a idéia de democracia direta. Privilegia a existência de assembléias populares abertas nas quais o voto de cada cidadão tenha o mesmo valor, sendo ali tomadas as principais decisões sobre prioridades de investimentos públicas. Neste modelo podem existir outros espaços organizativos de caráter representativo, no entanto, estes não se constituem em campos de deliberação de prioridades, mas de processamento das deliberações das assembléias. Esta é a perspectiva dominante em várias cidades brasileiras, onde o orçamento participativo tem como principal característica a convocação de assembléias populares, nas quais qualquer cidadão pode discutir e deliberar sobre partes do orçamento anual aplicado na cidade. Por exemplo, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, as reuniões ocorrem numa primeira e segunda rodada de assembléias regionais. Em Recife, capital de Pernambuco, ocorre em uma única rodada de assembléias regionais, no entanto, a população que não comparece às assembléias também pode votar as prioridades em investimentos públicos por meio de urnas eletrônicas. Um dos principais modelos desta prática participativa é a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde o orçamento municipal é deliberado em 17 assembléias regionais e 6 temáticas. Até 2003, o processo participativo nesta cidade era organizado em duas rodadas de assembléias populares, entre as quais eram realizadas 6 reuniões intermédias para aprofundar o debate sobre as propostas em discussão. Desde esse ano foi suprimida a segunda rodada de assembléias com o objetivo de simplificar a participação dos cidadãos. Em outros países latino-americanos o orçamento participativo se desenvolve de maneira diferente, já que a participação da população nos debates públicos ocorre via a intermediação de organizações da sociedade civil e, portanto, possui um caráter de delegação política. No Peru, um elemento central é que o orçamento participativo tem um caráter fundamentalmente representativo, sendo os cidadãos em si não possuem poder de voto nas reuniões. Porém, mesmo este sendo um formato predominante, há exceções como é o caso do orçamento participativo de Villa El Salvador, onde podem votar nas reuniões todos os cidadãos maiores de 16 anos. Existe um terceiro tipo de orçamento participativo, no qual coexistem formas de participação direta e de delegação no processo de definição das prioridades dos investimentos públicas. Entre estas experiências um dos casos mais interessantes é o de Montevidéu, uma das propostas pioneiras de gestão pública participativa na América Latina. O orçamento participativo montevideano está inserido num projeto mais amplo de participação que se chama “descentralização participativa”. Nele há dois níveis de deliberação sobre os recursos públicos. Parte do destino dos recursos municipais, numa porcentagem determinada anualmente pelo Intendente, é decidido a partir da deliberação de projetos elaborados nas comunidades num sistema de votação direta. A outra parte dos recursos, aqueles destinados às questões de infra-estrutura e política social nos bairros, é administrada pelos Conselhos de Vizinhos, formada por representantes eleitos nas 18 zonas a partir das quais se estruturam os Centros Comunais Zonais da capital uruguaia. As diferentes formas de organização do orçamento participativo são conseqüência de algumas condições estruturais, desde as quais esta proposta foi desenvolvida. Em situações onde existem altos níveis de organização política e partidária, com instituições fortes e legitimadas pelos cidadãos, a tendência é a estruturação de formas mistas de orçamento participativo, articulando participação e delegação. Por outro lado, em condições nas quais as instituições são menos consolidadas, o sistema partidário é volátil, mas, em contrapartida a sociedade civil é atuante e existe uma tradição de organização popular forte, há uma tendência à 7 formação de orçamentos participativos assembleístas. Por último, em contextos nos quais nem o Estado nem a sociedade civil possuem níveis organizativos fortes, existe uma predisposição a que se gerem orçamentos participativos sem formas diretas de participação cidadã. A TRANSIÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PORTO ALEGRE: do PT ao Governo Fogaça Em Porto Alegre, o orçamento participativo passou por várias mudanças de desenho organizativo. No seu formato original, o de 1989, as reuniões eram realizadas em primeira e segunda rodada de acordo com uma divisão regional. Esta divisão não seguiu qualquer padrão anterior, distribuindo as regiões do orçamento participativo de acordo com a abrangência, principalmente, das diversas associações de moradores. Cabe lembrar que Porto Alegre teve, pelo menos desde os anos 60, uma forte rede de associações comunitárias nos diferentes bairros da cidade, um legado que acabou influenciando no sentido da formação de um tecido associativo em importantes regiões da periferia da cidade, como seria o caso da Zona Norte. A partir de 2002, além das assembléias regionais, foi criada uma dinâmica de assembléias temáticas do orçamento participativo, fórum que procurava ampliar os debates sobre a questão orçamentária tendo como base matérias consideradas centrais. Semelhantemente ao processo de criação das regiões do orçamento participativo, baseadas na abrangência das associações de moradores, esta nova subdivisão procurava estimular a inclusão de outros segmentos organizados da população3. As reuniões do orçamento participativo, mais do que propor prioridades para os gastos públicos, elegem seus representantes para o Conselho do Orçamento Participativo, órgão de co-gestão do processo, responsável por encaminhar conjuntamente com o Poder Executivo as deliberações das assembléias populares. Além disto, este organismo possui autonomia para fiscalizar e deliberar sobre as mudanças relacionadas com o orçamento municipal. 3 Entre outras mudanças significativas na estrutura organizativa pode-se sublinhar que em 2001 foi criado o OP Eletrônico utilizando as ferramentas oferecidas pela internet como instrumentos para a participação popular e, em 2003, foi extinta a segunda rodada de assembléias populares sob o argumento de agilizar o processo de deliberação orçamentária. 8 O êxito da experiência porto-alegrense de orçamento participativo tem muitos motivos. Entre várias causas posso enfatizar o grande reconhecimento obtido em nível internacional, principalmente, depois da premiação na Conferência Habitat II da ONU, realizado, em Istambul, em 1996. Após esta premiação inclusive agências financeiras internacionais, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional, reconheceram sua importância e recomendaram que fosse implantada em outras cidades como uma forma de boa governança. A repercussão internacional desta proposta também pode ser medida pelo rápido crescimento da aplicação do orçamento participativo por diversos países. De acordo com Sintomer (2007), em 2006, foram contabilizadas 56 experiências do orçamento participativo na Europa. Benjamin Goldfrank apresenta cifras bem mais generosas sobre o tema: De acuerdo a qué tan rigurosa sea la definición de PP, éste se ha expandido de algunas docenas de ciudades, sobre todo en Brasil, a entre 250 y 2.500 lugares tan sólo en Latinoamérica. La cifra inicial incluye aquellas ciudades donde el PP comenzó como una iniciativa de gobiernos locales, en países desde México y la República Dominicana hasta Argentina y Chile. Las segundas cifras incluyen a los gobiernos municipales que, por leyes nacionales, han tenido que implementar consultas ciudadanas en cuanto a la organización del presupuesto, tales como Bolivia, 327 municipios; Nicaragua, 125 municipios; y Perú con 1.821 distritos, 194 provincias y 25 regiones. (Goldfrank, 2006, p.3) Este sucesso internacional não deve obscurecer o rotundo êxito desta proposta no Brasil, onde foi executado, entre 1997-2000, em pelo menos 140 cidades governadas por diferentes partidos políticos (Ribeiro; Grazia, 2003). No tocante a Porto Alegre, um dado expressivo é o número de participantes nas assembléias do orçamento participativo: foram 1300 participantes em 1989; 14.267 em 1995; 21.805 em 2001. Precisamente a partir deste último ano os números começaram a declinar: ainda na gestão petista, no ano de 2004, 13.200 cidadãos participaram das assembléias do OP. Já na gestão do Partido Popular Socialista houve uma leve recuperação no primeiro ano de governo, com 14.376 participantes, em 2005, porém, nova redução em 2006 com 11.097 cidadãos presentes nas reuniões. Vários aspectos podem ser destacados para entender a repercussão positiva do orçamento participativo porto-alegrense. O fato de terem sido criados espaços públicos para discutir e deliberar sobre os investimentos na cidade, por exemplo, repercutiu positivamente sobre o processo de planejamento da administração pública, sendo o 9 próprio cidadão responsável por apontar os aspectos que deveriam ser considerados prioridades para o governo. Isto poderia, inclusive, ser identificado enquanto uma forma de legitimação das ações governamentais, entendendo o conceito de legitimidade desde a perspectiva da busca de identificação entre os cidadãos e as ações governamentais. Vendo os indicadores sociais no período de funcionamento do orçamento participativo alguns dados chamam a atenção como o fato de Porto Alegre ter se transformado na cidade brasileira, entre as que possuem mais de 1 milhão de habitantes, com maior Índice de Desenvolvimento Humano. Isto foi conseqüência do fato da cidade ter, entre 1989-2003, pelo menos duplicado os investimentos nas áreas de educação e saúde. Além disto, pode ser relacionada com o orçamento participativo a evolução dos investimentos na área de saneamento básico: em 2001, 99,5% da população da cidade tinha acesso à rede de tratamento de água e 100% dos bairros estavam atendidos pelo sistema de coleta de lixo. Diante destes bons resultados, não deixa de ser chamativo o fato do Partido dos Trabalhadores ter sido derrotado nas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, em 2004, abrindo um leque substantivo de questões sobre a relação entre o orçamento participativo e as opções eleitorais dos cidadãos4. De modo geral, uma boa trajetória na administração pública é considerada como um dos fatores que favoreceriam o desempenho das campanhas eleitorais e poderiam influenciar a decisão do voto (Crespo, 2002). Em termos de políticas participativas, Porto Alegre foi vista como um exemplo desta hipótese, considerando que a partir de 1988 o Partido dos Trabalhadores foi vitorioso nas eleições para Prefeito da cidade e apresentou um rotundo crescimento de votos, chegando a atingir 491.775 votos em 2000. Esta tendência foi revertida em 2004 quando a sua votação, no primeiro turno, chegou a 378.099 votos. As primeiras avaliações da derrota do PT, em Porto Alegre, centraram argumentos na idéia de que as eleições haviam sido marcadas por um conjunto de problemas em nível nacional e a derrota deste partido representou um castigo dos eleitores para com o Governo Lula. Contudo, apesar da derrota do PT em Porto Alegre – como também em São Paulo -, este partido teve uma expansão em termos de novas bases eleitorais. Se compararmos as eleições de 2004 com as de 2000, veremos que o PT ampliou o número 4 Dias, 2006; Gugliano et al., 2006, Marenco, 2004. 10 de Prefeituras conquistadas, assim como cresceu em mais de quatro milhões de votos. Desta forma, não é fácil corroborar a hipótese do “castigo aos petistas” identificados com Governo Lula como fator explicativo predominante para os resultados das últimas eleições para as Prefeituras. Outra hipótese é a da “vingança das classes médias”. André Marenco (2004), por exemplo, sublinha que as maiores votações do PT se deram nas regiões mais pobres de Porto Alegre, enquanto a sua grande derrota deveu-se aos setores médios e as elites. Sérgio Baierle (2005), indo na mesma direção, afirma que o PT recebeu uma maior votação entre os setores com menores recursos econômicos, algo que comprovaria certa coerência ideológica dos votantes petistas. Contudo, também esta caracterização apresenta dificuldades para a sua comprovação. Primeiro pela enorme polêmica que envolve a correlação entre voto e classe social; segundo porque esta hipótese exigiria uma determinada estratificação social na cidade de Porto Alegre na qual, considerando a derrota petista, a maioria dos eleitores seria formada pelos setores médios e elites, algo pouco provável. Além disto, mesmo utilizando os dados quantitativos apresentados por Sérgio Baierle (op. cit.), é perceptível que a diferença da votação do PT e do PPS entre os setores que o autor considera como economicamente carentes – seu critério é de uma renda inferior a 300 dólares – não é muito expressiva: 48 7% do total dos eleitores do PT e 47,3% dos do PPS. Por certo, José Fogaça, que se elegeu Prefeito rompendo com 16 anos de governo petista, foi de todos os principais candidatos que se contrapuseram ao PT, desde 1992, o único que assumiu publicamente o compromisso de manutenção do orçamento participativo caso viesse a ser eleito, promessa até o momento mantida. Contudo, além da conservação da referida proposta participativa, desde seus primeiros dias, a nova gestão propôs um programa de estímulo à inclusão dos cidadãos na gestão pública, chamado de governança local e solidária. Este programa visa formar redes de parcerias de forma a envolver um conjunto de setores organizados da sociedade civil com a gestão da cidade. Baseado em 17 zonas – as 16 regiões do OP mais as Ilhas -, o programa de governança local pretenderia: a) Criar um ambiente social favorável à mobilização do Capital Social Local e a promoção de Parcerias Estratégicas; b) Promover a pactuação de compromissos de corresponsabilidade para o atingimento do desenvolvimento local sustentável e, como parte desta ação, minimizar a ocorrência de problemas locais, atuando de forma preventiva e 11 educativa em relação aos Serviços de Manutenção da Prefeitura, criando uma cultura de contrapartidas e estimulando o protagonismo do cidadão gestor; c) Adequar programas e ações às peculiaridades locais, atendendo ao Plano Estratégico do Governo; d) Promover e fortalecer as conexões internacionais – locais e globais – para, através da troca de experiências e implantação de projetos comuns entre as cidades, dinamizar o desenvolvimento local e inserir Porto Alegre na rede de temas com impacto global. (Bussato, 2005, p. 4) Com a finalidade de programar esta proposta, foram criados dezessete Centros Administrativos Regionais (CARs), nos quais estão assentados os Conselhos Gestores Locais, formados pelo coordenador do CAR, o coordenador regional do orçamento participativo e por agentes governamentais convidados a participar do fórum. Estes conselhos têm como função fortalecer os laços entre o Poder Executivo e os cidadãos, assim como aplicar e fiscalizar as ações de governança5. Em termos estruturais, poderia dizer que a proposta de criar uma governança solidária é bastante interessante, principalmente se isto representa a constituição de um processo de descentralização das políticas pública na cidade. Este foi um aspecto pouquíssimo trabalhado nos anos de administração petista e sua inserção viria a potencializar a participação popular em nível local. Segundo o Governo Municipal (Bussato, 2005), a governança solidária seria uma forma de ampliar as parcerias e criar redes de co-gestão estatal envolvendo outras instituições, como as universidades; movimentos sociais dos mais diferentes tipos, inclusive empresários e outros membros das elites econômicas que, por diversos motivos, estiveram ausentes do processo decisório do orçamento participativo. Sendo assim, o fato de ser posta na mesa uma proposta que congrega diferentes segmentos sociais com o objetivo de discutir e deliberar sobre a gestão da cidade representa um passo positivo em termos da melhoria da gestão pública. Contudo, um aspecto que vem a tona neste entramado organizativo diz respeito ao grau de autonomia dos participantes na governança solidária, ou seja, a capacidade desta proposta realmente representar um canal de expressão independente da sociedade civil sobre as políticas públicas municipais. 5 Atualmente funcionam 09 CARs: CAR ILHAS; CAR NOROESTE/HUMAITÁ/NAVEGANTES; CAR LESTE / NORDESTE; CAR NORTE / EIXO BALTAZAR; CAR PARTENON / LOMBA DO PINHEIRO; CAR RESTINGA / EXTREMO-SUL; CAR GLÓRIA / CRUZEIRO / CRISTAL; CAR SUL / CENTRO-SUL; CAR CENTRO. 12 Como é observável na estrutura do referido programa, a coordenação do processo está retida nas mãos de um conselho gestor hegemonizado, em diferentes graus, por representantes da Prefeitura. Isto poderia levar a que, mesmo com as melhores intenções, a governança solidária acabe se transformando apenas num canal de referendo das políticas elaboradas pelo governo municipal. Além disto, é preocupante a redução do número de participantes do orçamento participativo nesta nova fase administrativa. Mesmo considerando discursos oficias que pregam a importância do orçamento participativo, não se pode descartar a hipótese de que esteja ocorrendo um esvaziamento das assembléias de discussão das propostas orçamentárias. Outro dado importante, no momento de analisar esta nova política, é a diferença da matriz conceitual que envolve o desenvolvimento do programa de governança do atual governo e o projeto do orçamento participativo do anterior. O tema da governança, apesar de bastante popularizado, é razoavelmente novo entre as ciências que estudam a política, tendo origem no universo empresarial: a governança corporativa seria o desenvolvimento de um programa de ações com a finalidade de ampliar a eficiência competitiva no mundo dos negócios. No âmbito dos estudos políticos, este conceito obteve maior relevância a partir do seu emprego pelo Banco Mundial, no final dos anos oitenta (Borges, 2003, Diniz, 1996; Hyden; Court, 2002). De acordo com José Germán Burgos, a governança política deve ser entendida enquanto uma tentativa de redirecionar a matriz das ações estatais: “Entrados los noventas y luego de un periodo caracterizado por la promoción de un Estado mínimo en materia económica, el Banco Mundial introduce la necesidad de considerar la capacidad del Estado y los diseños institucionales en cuanto condiciones para el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. Estas preocupaciones se agruparon bajo el término "governance" y en este ámbito es donde surge la preocupación por el Estado de Derecho, la reforma judicial y progresivamente se han ido incorporando temas como la lucha contra la corrupción y una reflexión sobre el papel del Banco en términos de los derechos humanos.” (2007, p. 5) Já o orçamento participativo tem sua origem na tradição conselhista, muito especialmente, na estratégia de fomentar conselhos populares enquanto instrumentos de co-gestão do Estado por parte da sociedade civil (Gugliano, 2005). Apesar de sublinhar a diversidade histórica da origem dos conselhos, Maria da Glória Gohn afirma que esta proposta ficou reconhecida pelo seu caráter radical: 13 (...) os conselhos que se tornaram famosos na história foram: a Comuna de Paris, os conselhos dos sovietes russos, os conselhos operários de Turim – estudados por Gramsci, alguns conselhos na Alemanha nos anos 20 deste século, conselhos na antiga Iugoslávia - nos anos 50, conselhos atuais na democracia americana. Observa-se que, na modernidade, os conselhos irrompem em épocas de crises políticas e institucionais, conflitando com as organizações de caráter mais tradicional. Os conselhos operários e os populares, em geral, rejeitavam a lógica do capitalismo, buscavam outras formas de poder descentralizadas, com autonomia e autodeterminação. (Gohn, 2004, p. 176) Conseqüentemente, se partimos do pressuposto da existência de diferenças profundas nos fundamentos das propostas em questão, é bastante interessante poder refletir sobre o que ocorre quando, na prática, a governança solidária local e o orçamento participativo passam a ser desenvolvidos de forma concomitante. Já entrada a segunda gestão do Governo Fogaça, reeleito em 2008, começam a surgir vários elementos que propiciam um balanço, mesmo que de forma preliminar, das políticas participativas apresentadas, sendo que um primeiro elemento que chama a atenção, no balanço da governança solidária, é que o projeto apresentado parecia ser muito mais ambicioso do que a prática que vem sendo desenvolvida. De um modo geral, analisando as ações consideradas como de governança local, não há muita dificuldade de perceber que, em sua maioria, trata-se de atividades que visam potencializar as ações de assistência social do poder público municipal. Tomando como exemplo as atividades divulgadas como “boas notícias da governança solidária”, agregando eventos realizados entre maio de 2006 e janeiro de 2007, é possível perceber que, em sua grande maioria, são atividade de suplementação de serviços sociais como, por exemplo, a inauguração de um Centro de Reciclagem e Recondicionamento de Computadores, implantação de cozinhas comunitárias, ações comunitárias de limpeza de ruas, entre outras. Sendo assim, a proposta está longe de ser um espaço de empoderamento da cidadania ou de inclusão da população no processo de deliberação das políticas públicas, restringindo-se a ser uma forma de reorganizar a oferta de serviços públicos que passariam a ser oferecidos a partir da colaboração da população. Diante desta realidade dificilmente poderia comparar-se as ações de governança solidária com a experiência do orçamento participativo, na medida em que enquanto a primeira proposta organiza a população para realizar serviços, que originalmente seriam 14 uma obrigação do Estado, a segunda propõe que os cidadãos decidam as prioridades a partir das quais as estruturas estatais devem agir. Além disso, dois outros elementos são preocupantes. O primeiro deles é que, apesar do orçamento ter sido mantido no Governo Fogaça, os dados apontam que o mesmo vem sofrendo uma substantiva diminuição da parcela dos investimentos executados. INVESTIMENTOS EXECUTADOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PORTO ALEGRE Fonte: Banco Mundial, 2008 Para exemplificar a situação se analisamos a relação deliberação/execução na Assembléia Temática: Circulação e Transporte, é de destacar que, entre 2006-2008, das 07 demandas estabelecidas pelo Orçamento Participativo, nenhuma havia sido executada. Relacionando-se com este dado, outra informação importante que não pode ser menosprezada diz respeito à redução dos participantes nas assembléias do Orçamento Participativo. 15 Contemplando estas duas informações ganha peso a hipótese de que, no Governo do Prefeito José Fogaça, o orçamento participativo vem perdendo fôlego enquanto um espaço no qual a população tinha condições de levar adiante as suas demandas e participar da gestão municipal, o que poderia explicar a redução do número de participantes. Contudo, e especialmente frente ao grande número de estudos que se dedicaram a analisar o orçamento participativo nos sucessivos governos do Partido dos Trabalhadores, ainda são escassos os estudos dedicados a analisar estas questões. Dedicada a esta nova temática, Carolina da Silva Ferreira chama a atenção para uma possível contradição entre o discurso do governo municipal centrado na idéia de que o orçamento participativo e a governança solidária local caminham juntos no Governo Fogaça, e a prática administrativa do mesmo. De acordo com a autora, é perceptível que a ênfase à governança se sobrepõe ao orçamento participativo, sendo que ela resgata o depoimento de vários Conselheiros do OP de que a visibilidade do programa ficou bastante reduzida. Além disso, também não só existe uma contraposição de demandas entre o orçamento participativo e a governança, como também esta última possibilita que muitas reivindicações populares passem por fora das assembléias do orçamento participativo, enfraquecendo a sua representação (FERREIRA, 2007, pp. 7277). Daniel Chavez (2008) também busca contribuir a esta discussão por meio de uma crítica aguda ao significado das políticas de governança e a ênfase nas parcerias entre o Estado e a sociedade civil, mais precisamente deste com a iniciativa privada. 16 Para o autor, é nítido o caráter neoliberal da estratégia do Governo Fogaça, política que considerada semelhante àquelas que contribuíram para desmontar o welfare state europeu a partir dos anos 80 do século passado. De forma análoga à autora anteriormente citada, resgata depoimentos de vários ativistas do orçamento participativo para enfatizar a perda de poder desta proposta participativa nos últimos anos. Outro documento importante a respeito é um Informe do Banco Mundial (2008), apresentado no início de 2008, no qual vários problemas são apontados nesta nova fase de execução do orçamento participativo. Em termos dos participantes, o relatório aponta que tanto os muito pobres, quanto os grupos de renda média e alta, praticamente não se envolvem com orçamento participativo, existindo ainda uma sub-representação dos jovens nestas instâncias. De acordo com o estudo, quase 50% dos delegados e conselheiros do orçamento participativo têm mais de 50 anos. No tocante ao desenvolvimento do orçamento participativo, o Banco Mundial destaca que as maiores partes dos participantes criticam a falta de informações sobre investimentos e prestação de serviços, dificultando o controle da sua efetividade. Além disso, o estudo enfatiza que na atual gestão há um desencontro entre a formulação da proposta orçamentária municipal e as reuniões participativas: “ (...) os ciclos do OP e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) se sobrepõem, revelando um desencontro entre os cronogramas para a priorização do orçamento do OP e a preparação das diretrizes do orçamento municipal anual. A priorização das obras públicas no OP começa no princípio de maio e vai até julho. Nesse meio tempo, a LDO é elaborada pelo braço Executivo do governo municipal entre julho e agosto, e então submetida à Câmara de Vereadores em 15 de agosto. O resultado é que o timing dos dois processos não é completamente sincronizado, e etapas importantes no processo do OP são concluídas sem informações precisas sobre a previsão do orçamento. Conseqüentemente, diminui a capacidade do governo municipal de executar os investimentos planejados dentro do cronograma traçado. Estas inconsistências criam graves riscos à credibilidade do OP, gerando desconfiança entre os participantes quanto à capacidade real do OP de influenciar os investimentos municipais.” (BANCO MUNDIAL, 2008, p. 6) COMENTÁRIOS FINAIS Para brevemente finalizar é necessário colocar que ainda é prematuro um julgamento definitivo em relação à governança solidária local implementada pelo Governo Fogaça. Porém, não deixa de ser preocupante que, desde o seu surgimento, 17 vem ocorrendo um gradual enfraquecimento do orçamento participativo, fato comprovado inclusive pelo estudo do Banco Mundial. Outro dado chamativo é que, apesar de já estarmos iniciando a segunda gestão do Governo Fogaça, reeleito em 2008, até o momento a administração municipal não apresentou nenhum dado expressivo sobre a contribuição desta nova proposta para a gestão da cidade, mantendo a defesa deste programa ao nível da divulgação de idéias, destacando, na maioria das vezes, apenas os fundamentos da proposta, mas não as suas realizações. De um modo geral, até o momento, pouco foi apresentado no sentido de afirmar a governança solidaria local como uma nova forma de inclusão dos cidadãos na gestão pública, fato que levanta preocupação em termos da continuidade das políticas participativas iniciadas em Porto Alegre em 1989. Bibliografia AVRITZER, Leonardo. Reflexões teóricas sobre o orçamento participativo. In: _____; NAVARRO, Zander. Org. A inovação democrática no Brasil. São Paulo, Cortez, 2002. BUSSATO, César; ZALEWSKY, Plinio. Governança Solidária Local: fundamentos da mudança em Porto Alegre. Porto Alegre, PMPA, 2005. _______. Org. Olhares sobre a governça solidária local. Porto Alegre, PUCRS, 2008. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. La Reforma del Estado de los años 90. Lógica y mecanismos de control. Desarrollo Económico. Buenos Aires, v. 38, n. 150, p. 517550, jul.-set. 1998. CHÁVEZ, Daniel. Hacia la participación pausterizada: transición del presupuesto participativo hacia la gobernanza solidaria local en Porto Alegre. In: RECIO, Joaquín; FALCK, Andres. Comp. Presupuestos Participativos: nuevos territórios. Sevilla, Atrapasueños, 2008. 18 DIAS, Márcia. Sob o signo da vontade popular. O orçamento participativo e o dilema da Câmara Municipal de Porto Alegre. Belo Horizonte, UFMG, 2002. FEDOZZI, Luciano. O poder da aldeia. Gênese e História do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Rio de Janeiro, Tomo, 2002. FERREIRA, Carolina da Silva. Orçamento Participativo e Governança Solidária Local na Prefeitura de Porto Alegre. Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007 (dissertação de mestrado). FUKUYAMA, Francis. The End of History? The National Interest, Washington, n. 16, p. 13-18, summer 1989. GUGLIANO, Alfredo Alejandro. O impacto das democracias participativas na produção acadêmica no Brasil. BIB. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, p. 43-60, 2005. HELD, David. Crise da Sociedade Capitalista. In: BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro, Zahar, 2001. LACLAU, E. 2005. La razón populista. México, FCE, 2005. LINZ, Juan. La quiebra de las democracias. Madri, Alianza, 1987. MARQUETTI, Adalmir. Participação e redistribuição: o orçamento participativo em Porto Alegre. AVRITZER, Leonardo; NAVARRO, Zander. Org. A inovação democrática no Brasil. São Paulo, Cortez, 2002. MARTÍNEZ, Maria Antonia. La representación política y la calidad de la democracia. Revista Mexicana de Sociología, México, año 66, n. 4, oct-dic. 2004. MORLINO, Leonardo. Consolidación Democrática. Definición, modelos, hipótesis. Reis. Madri, n. 36, p. 7-61, jul. sept. 1986. 19 MUNCK, Gerardo; WOLFSON, Leandro. Una revisión de los estudios sobre la democracia. Desarrollo Económico, Buenos Aires, v. 41, n. 164, p. 579-609, jan.-mar. 2002. O’DONNELL, Guillermo. Illusions about consolidation. Journal of Democracy, v.7, n.2, p. 34-51, apr. 1996. PARAMIO, Ludolfo. Frustración de los electores y crisis de la democracia. Documento de Trabajo (2). Madri, CSIC, 2003 SCHNEIDER, Carsten; SCHMITTER, Philippe. Liberalization, transition and consolidation: measuring the components of democratization. Democratization, v.11, n.5, p. 59-90, dic. 2004
Download