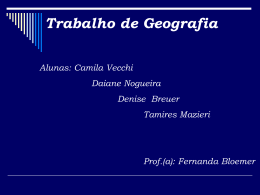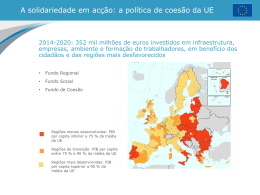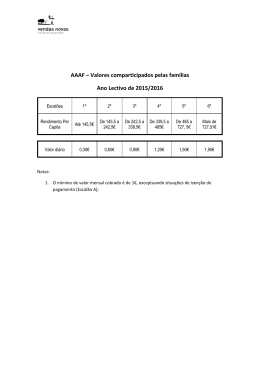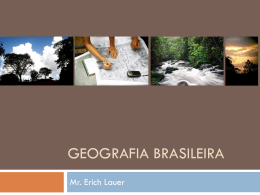No início deste novo milênio, a globalização e a revolução tecnológica oferecem à humanidade possibilidades de bem-estar inteiramente desconhecidas até a década de 1970. Nunca o ser humano teve tantos bens à sua disposição. Nunca a expectativa de vida foi tão alta. No entanto, a distribuição da riqueza entre os diversos países e entre os vários grupos sociais de um mesmo país está cada vez mais longe de ser igualitária. Assim, em 1820 a diferença de rendimento entre o país mais rico e o mais pobre era de 3 para 1. Em 1950, passou a ser de 35 para 1. E, em 1992, aumentou ainda mais: 72 para 1. Enquanto um seleto grupo de países exibe uma renda per capita superior a 20 000 dólares, cerca de 3 bilhões de pessoas — metade da população mundial — sobrevivem com até 2 dólares por dia. Essas pessoas fazem parte do chamado Terceiro Mundo, designação sob a qual se reúnem os países mais pobres do planeta, assim como os países em desenvolvimento. 1. O perfil da pobreza Embora estejam em diferentes graus de desenvolvimento, os países pobres, de modo geral, apresentam as seguintes características: baixos níveis de renda per capita; baixa expectativa de vida; altos índices de mortalidade infantil; grande número de analfabetos; saneamento básico e serviços de assistência médica insuficientes; baixos salários; desigualdade na distribuição de renda; propriedade da terra concentrada nas mãos de um pequeno grupo; instabilidade política; altos índices de criminalidade e violência urbana; dependência econômica; dependência científica e tecnológica; endividamento externo. 2. Crise na América Latina Uma das características dos países pobres é o alto grau de dependência em relação ao capital estrangeiro. Por razões diversas, esses países não encontraram seu próprio caminho para o desenvolvimento econômico e social auto-sustentado. Dessa forma, dependem de recursos externos — empréstimos e investimentos diretos ou capitais especulativos investidos no mercado financeiro. Essas formas de captação de recursos tendem a criar dois tipos de problema para o país receptor: a desnacionalização da economia e o endividamento externo. O caso da América Latina é um exemplo de como a dívida externa pode levar ao estrangulamento da economia. Formada principalmente por empréstimos tomados em épocas em que os juros eram baixos, a dívida externa latino-americana disparou nos anos 1980 devido ao aumento das taxas de juros internacionais. Em 1989, a América Latina devia aos bancos e aos governos dos países ricos mais de 400 bilhões de dólares. Além da "crise da dívida", a América Latina enfrentou, no começo da década de 1980, acentuada queda em seu comércio externo, o que gerou recessão, desemprego e inflação. Foi nesse contexto que o ciclo dos regimes militares latino-americanos chegou ao fim. As dificuldades econômicas fortaleceram os movimentos de oposição, que exigiam o retorno ao Estado de direito (ou Estado democrático). As pressões internas contaram com o apoio dos EUA a partir de 1977, quando o presidente Jimmy Carter, do Partido Democrata, passou a patrocinar no continente uma política em favor dos direitos humanos e pela volta da democracia. Essa nova atitude norteamericana foi fundamental para que regimes autoritários chegassem ao fim na Bolívia (1982), na Argentina (1983), no Uruguai (1984) e no Brasil (1985). Em 1988, começava no Chile a transição para a democracia. Mas na maioria dos casos os militares entregaram aos civis economias debilitadas pelo endividamento externo. Outro problema que esses países enfrentaram foi o agravamento da pobreza, acentuado pela política econômica das ditaduras, que estimularam a concentração de renda em prejuízo da maioria da população. Dessa forma, quando os civis assumiram o poder, viram-se diante de enormes despesas cujo pagamento não podiam adiar. Sem recursos para cumprir os compromissos, os novos governantes foram obrigados a obter dinheiro por meios que faziam a inflação aumentar, como vender títulos do governo, oferecendo altas taxas de juros como forma de atrair os investidores. Essa política reduziu o ritmo de crescimento da economia, pois desviou recursos do setor produtivo para a especulação com papéis do governo, que apresentavam possibilidades de lucro rápido. Também aumentou a dívida interna dos países e elevou os juros bancários. Venezuela: um triunfo transitório Em agosto de 2004, realizou-se na Venezuela uma consulta popular para decidir se o presidente Hugo Chávez deveria ou não permanecer no poder. Pouco mais de 58% do eleitorado decidiu que o presidente deveria continuar governando até o fim de seu mandato. O resultado do plebiscito foi uma clara vitória de Chávez, que em julho de 2000 havia sido eleito presidente pelo voto popular. Mas revela também a profunda cisão que divide hoje a Venezuela quase pela metade. Chávez tem a seu lado os grupos sociais mais pobres. Seu governo tem tomado medidas para atender sobretudo às necessidades desses grupos. Contra ele se levantam as elites venezuelanas e amplos setores das classes médias altas. O plebiscito reafirmou a popularidade do presidente, mas as classes economicamente dominantes certamente buscarão desestabilizar seu governo, como já fizeram antes, com a fracassada tentativa de golpe de Estado de abril de 2002. Washington dá as cartas A crise levou os governos latino-americanos a adotar medidas de estabilização econômica como o corte nos gastos públicos —, combinadas com um programa de privatização das empresas estatais. Essas providências seguiram as orientações de agências internacionais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tais diretrizes, por sua vez, obedeceram à política econômica definida no chamado "Consenso de Washington". O "Consenso de Washington" foi o resultado de um encontro realizado no início dos anos 1990 na capital dos Estados Unidos, que reuniu representantes do pensamento neoliberal, entre eles técnicos do FMI e do governo norte-americano. De acordo com os princípios estabelecidos na reunião, os países em crise só poderiam vencer suas dificuldades adotando uma política de austeridade econômica, com medidas drásticas de estabilização da moeda. Para isso, era preciso que os governos reduzissem as despesas e aumentassem as receitas, o chamado "ajuste fiscal". Também deveriam abrir o mercado nacional às importações, estimulando a concorrência e melhorando a produtividade das empresas. Ao mesmo tempo, precisavam promover a privatização das empresas estatais e reduzir sensivelmente o papel do Estado na economia. Globalização e desigualdade O risco de exclusão vem obrigando os países da América Latina a inserir-se no mundo global para que possam desfrutar da riqueza mundial. O problema é que essa riqueza é distribuída de forma desigual, reservando à população dos países do Terceiro Mundo pobreza e desemprego, entre outros problemas. As crises vividas pelo México e pela Argentina, destacadas a seguir, revelam até que ponto países em desenvolvimento podem sofrer com a globalização e a imposição das medidas ditadas pelo FMI. O México à sombra dos EUA Após mais de sete décadas controlando o governo federal mexicano, o Partido Revolucionário Institucional (PRI) foi derrotado pela oposição em 2000. Venceu as eleições o candidato Vicente Fox, do Partido da Ação Nacional (PAN). Uma das promessas de Fox era resolver a questão de Chiapas, um dos estados mais pobres do país e dominado por movimentos revolucionários promovidos pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). Os revoltosos pretendem a autodeterminação dos povos indígenas mexicanos, que representam cerca de 20% da população do país. Em março de 2001, os zapatistas marcharam sobre a capital mexicana defendendo projeto de lei que contemplasse suas reivindicações. Em abril o projeto foi aprovado pelo Senado mexicano. Fox também prometeu criar 1,4 milhão de empregos. Mas o desemprego continua crescendo no país, devido à desaceleração da economia norte-americana, da qual o México é diretamente dependente. A Argentina à beira do abismo De todos os países latino-americanos, a Argentina foi aquele que mais fielmente seguiu a receita do FMI e do "Consenso de Washington" para sair da crise dos anos 1980. A partir de 1991, sob o governo do peronista Carlos Menem, privatizou um grande número de empresas estatais, cortou fortemente os gastos públicos e estabeleceu a paridade cambial (um peso igual a um dólar). Essas medidas extinguiram a inflação e fizeram o país crescer a partir de 1992. Em 1999, contudo, a economia parou de crescer e a paridade entre o peso e o dólar começou a prejudicar as exportações. Nesse ano, Carlos Menem foi substituído na Presidência por Fernando de la Rúa, da União Cívica Radical, de oposição. No governo, porém, De la Rúa manteve a política econômica de Menem. Sobreveio então um período de recessão econômica e empobrecimento da população. Em 2001, a taxa de desemprego subiu para 18%. Em dezembro desse ano, grandes manifestações populares de protesto contra a crise levaram o presidente De la Rúa a renunciar. Em janeiro de 2002, tomou posse um novo presidente, o peronista Eduardo Duhalde, que adotou uma política contrária à orientação do FMI. Entre outras medidas, Duhalde extinguiu a paridade cambial, desvalorizando o peso, e decretou o não pagamento dos serviços da dívida externa (moratória). Com isso, conseguiu deter a queda da economia. A desvalorização do peso em relação ao dólar estimulou as exportações e o Produto Interno Bruto, que havia caído mais de 10% em 2002, voltou a crescer em 2003. Dessa forma, nas eleições de abril de 2003, para a Presidência da República, venceu o peronista Néstor Kirchner, apoiado por Duhalde. Uma vez no poder, Kirchner adotou uma política de fortalecimento do Mercosul, aproximando-se do Brasil, e prometeu rever as privatizações. 3. A África na encruzilhada A colonização do território africano por nações europeias no século XIX foi justificada com o argumento de que correspondia a uma "missão civilizadora", supostamente destinada a converter "povos selvagens e atrasados" ao cristianismo e às normas civilizadas de convivência. Contudo, durante o tempo em que estiveram no continente africano, os europeus pouco fizeram para proporcionar aos seus habitantes as condições mínimas para uma vida digna. Preocupadas apenas em pilhar e extrair as riquezas naturais da África, as nações colonizadoras impuseram fronteiras arbitrárias, estimularam as divisões e os conflitos étnicos, sufocaram os anseios de independência, exploraram formas de trabalho semi-escravo e condenaram milhões de pessoas à ignorância e ao analfabetismo. Assim, ao conquistar sua independência, entre as décadas de 1950 e 1960, as colônias africanas herdaram dos europeus uma economia desprovida de infraestrutura e de trabalhadores qualificados que pudessem servir de suporte a uma política de desenvolvimento auto-sustentado. Apesar disso, entre os que lutaram contra o colonialismo havia certo otimismo em relação ao futuro das jovens nações africanas. Esse otimismo se apoiava na abundância de matérias-primas e de fontes de energia, assim como no esforço pela união demonstrado pelos países africanos com esse objetivo foi criada, em 1963, a Organização da Unidade Africana (OUA). Porém, a expectativa de crescimento não se confirmou. Além da ausência de infraestrutura econômica, a colonização europeia havia deixado uma série de outros problemas aos novos países africanos. Um dos mais graves foi a instabilidade política, causada principalmente pelas divisões étnicas. Tais diferenças provocaram conflitos e impediram a formação de nações unificadas por interesses comuns. Essa realidade, que já era suficiente para colocar os novos Estados uns contra os outros, foi agravada pela disputa entre os EUA e a URSS durante a guerra fria. As duas superpotências fizeram da África um campo de luta, apoiando países antagônicos ou facções opostas dentro de um mesmo país, o que contribuiu para desestabilizar e militarizar os Estados africanos. A região mais pobre do planeta As frequentes e prolongadas guerras empobreceram ainda mais os países africanos. Mas os conflitos não foram o único problema. O grande crescimento demográfico, a desordem administrativa, a corrupção institucionalizada e a queda nos preços de alguns produtos primários (como cacau, café e cobre) constituíram outros fatores que agravaram a situação social do continente. A África registrava, em 2003, a mais alta taxa de mortalidade infantil do planeta. No mesmo ano, dados do Relatório sobre o desenvolvimento humano, da ONU, indicavam que 28 dos trinta países mais pobres do mundo eram africanos. Com todas essas dificuldades, o continente africano deixou de ser atrativo para os investimentos estrangeiros. Em 1995, os países da África subsaariana (região ao sul do deserto do Saara) atraíram apenas 3% dos investimentos diretos estrangeiros que tomaram o rumo dos países em desenvolvimento. No mesmo ano, a América Latina e o Caribe receberam cerca de 20%. Sem capital externo, a renda per capita da África subsaariana registrou queda durante todo o período de 1980 a 1995. Em busca de solução Cientes de que grande parte dos problemas da África foram provocados pela intervenção das grandes potências mundiais, os governos africanos têm se organizado para exigir da comunidade internacional alternativas para o combate da pobreza no continente. Assim, nos últimos anos, os países africanos recorreram inúmeras vezes à Organização das Nações Unidas (ONU) e ao G-8 (grupo formado pelas sete maiores economias mais a Rússia) para buscar apoio a um plano destinado a promover o desenvolvimento econômico do continente. O movimento, chamado Nova Iniciativa Africana, pretende criar um fluxo crescente de capital estrangeiro para a África, por meio de investimentos diretos, transferência de tecnologia, programas de combate à pobreza e a doenças e redução da dívida externa dos países mais pobres. Em contrapartida, os povos africanos se comprometem a buscar estabilidade política e econômica. Alguns resultados concretos já foram obtidos. Na reunião do G-8 em Gênova, Itália (2001), os países ricos concordaram em perdoar 53 bilhões de dólares da dívida externa dos 23 países mais pobres do mundo, e aprovar a criação, em parceria com a ONU, de um fundo para combater epidemias de doenças como a Aids, a malária e a tuberculose. Aids, o novo flagelo da África Os primeiros casos identificados de Aids na África apareceram no começo da década de 1980. Desde então, a doença se disseminou rapidamente pelo continente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 14 milhões de pessoas já morreram de Aids na África e há mais 30 milhões infectadas com o vírus HIV no continente. Isso se explica por uma série de fatores relacionados com a extrema pobreza da população baixo nível educacional, ausência de saneamento básico, acelerado ritmo de urbanização, desemprego, assistência médica insuficiente etc. Com o surgimento da Aids, a expectativa de vida dos africanos caiu verticalmente. Era de 59 anos em 1990. Estima-se que em 2005 será de apenas 45 anos. 4. As duas Ásias Com cerca de 3,6 bilhões de habitantes, a Ásia é cenário de gigantescas disparidades sociais e regionais. Entre os países que formam esse continente está um dos mais ricos do mundo o Japão, com renda per capita de 32 mil dólares e um dos mais pobres — a Índia, com renda per capita de 450 dólares. O Japão, contudo, é uma exceção, pois a maior parte dos asiáticos vive em condições de pobreza absoluta. Tratase de uma população majoritariamente camponesa, que convive há décadas com a fome, guerras, aumento populacional, rivalidades religiosas e étnicas etc. Alguns dos países da Ásia optaram por regimes comunistas entre eles, a China, o Vietnã e a Coréia do Norte. Outros, como a Coréia do Sul e o Japão, preferiram o regime capitalista. Porém, a maioria das nações asiáticas, mesmo as capitalistas, implementou, em momentos diversos, importantes programas de reforma agrária. Índia: 1 bilhão de pessoas Após tornar-se independente da Inglaterra, em 1947, a Índia foi governada por Jawaharlal Nehru, que exerceu o cargo de primeiro-ministro até 1964. No plano interno, Nehru adotou uma política nacionalista de inspiração socialista, marcada pela estatização de bancos e pelo incentivo ao desenvolvimento industrial. Nehru morreu em 1964, mas o Partido do Congresso, que ele liderava, continuou a ser o mais forte do país. A partir de 1993, a Índia aderiu à onda neoliberal que se espalhou pelo mundo, promovendo uma política de abertura ao capital estrangeiro e de privatização das empresas estatais. A estrutura social da Índia apresenta profundas desigualdades. Seu PIB é o 15º maior do mundo, mas sua renda per capita está entre as mais baixas, pois a população indiana já superou a marca de 1 bilhão de habitantes. Cerca de um terço dessa população (600 milhões de pessoas) vive em condições de miséria. Além desses problemas, a Índia se debate com conflitos étnicos e religiosos entre hinduístas e muçulmanos e entre indianos e sikhs. Os confrontos já provocaram no país diversos massacres e o assassinato da primeiraministra Indira Gandhi, filha de Nehru, em 1984, por separatistas sikhs. Destino idêntico teve seu filho, Rajiv Gandhi, morto em 1991 por separatistas do Sri Lanka pertencentes ao grupo étnico tâmil. A política externa indiana é marcada por disputas territoriais com o Paquistão em torno da Caxemira (de maioria muçulmana), um território encravado na fronteira dos dois países. Essas disputas já provocaram diversas guerras, a primeira das quais em 1947-1948. O conflito entre Índia e Paquistão é particularmente grave porque os dois países possuem armas nucleares. O notável crescimento da China A morte de Mao Tse-tung em 1976 marcou simbolicamente o fim da Revolução Cultural, iniciada dez anos antes. A partir de então, o poder passou a ser disputado entre um grupo radical chefiado pela mulher de Mao, Jiang Qing, e um setor mais moderado, sob a liderança de Deng Xiaoping. Deng acabou vencendo a disputa e deu início, em fins da década de 1970, a importantes reformas econômicas, com o objetivo de introduzir a economia de mercado na China. Nessa época, foram criadas as Zonas Econômicas Especiais (ZEE), com as quais o governo pretendia oferecer mão-de-obra barata e disciplinada, além de isenção de impostos, a investidores estrangeiros. Desde então, a produção industrial na China não parou de crescer. Segundo dados do Relatório anual do FMI (1999), entre 1965 e 1997, a taxa média de expansão do PIB chinês foi de 8,5% ao ano, a maior entre todos os países no mesmo período. Entre 1979 e 1997, as exportações chinesas cresceram a uma taxa de 52% ao ano, em média. As empresas estrangeiras investiram 220 bilhões de dólares e o PIB do país passou de 43 bilhões de dólares em 1979 para 1,6 trilhão em 2001. Deng Xiaoping morreu em fevereiro de 1997, aos 92 anos, mas a política reformista de liberalização econômica foi mantida por seu sucessor Jiang Zemin e confirmada no 15º Congresso do Partido Comunista chinês, realizado em setembro de 1997. Nesse encontro, os líderes chineses decidiram abrir mão do monopólio estatal da propriedade dos meios de produção e anunciaram um vasto programa de privatizações. O país tinha, então, mais de 300 mil empresas estatais, quase todas deficitárias. Apesar do gigantismo do número, essas empresas geravam apenas 30% da riqueza industrial. Essa política flexível e liberalizante no âmbito da economia estimulou grupos de oposição a se mobilizar em defesa de reformas democráticas que levassem ao fim do monopólio do poder pelo Partido Comunista. Porém, ao contrário do que ocorreu no Leste europeu, na China a liberalização econômica não foi acompanhada de medidas de liberalização política. Dessa forma, o governo chinês tem reprimido sistematicamente as manifestações de oposição. O momento mais dramático desse processo ocorreu em 1989, quando milhares de estudantes ocuparam a praça da Paz Celestial, em Pequim, protestando contra a corrupção no alto escalão do regime e pedindo mais democracia. Em resposta, o Exército abriu fogo contra os manifestantes, assassinando em massa de 2 mil a 3 mil pessoas. A hora do "tigre" Enquanto a China adotava o socialismo burocrático de Estado como modelo de desenvolvimento, três países preferiam seguir o exemplo japonês, de modernização capitalista, transformando-se em pequenas potências econômicas no decorrer da década de 1970. Eram os Tigres Asiáticos: Coréia do Sul, Taiwan (ou Formosa) e Cingapura. Ao lado desses países, também se destacava Hong Kong, território sob domínio inglês situado num dos flancos da China comunista (em 1997, Hong Kong voltou a pertencer à China). Êxito da China impede desastre Os anos 1990 significaram retrocesso sem precedentes no desenvolvimento humano do planeta, revela o relatório anual da ONU sobre o assunto, divulgado em julho de 2003. Embora aponte melhoras importantes em algumas regiões, o relatório do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) deixa claro que os retrocessos nos países em desenvolvimento foram mais significativos. Nessa década, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, calculado pela ONU a partir de indicadores de educação, saúde e renda) caiu em 21 dos 175 países analisados — nos anos 1980, isso ocorreu apenas em quatro. A renda per capita ficou menor em 54 e a expectativa de vida, em 34. Não fossem os avanços da China, as estatísticas de desenvolvimento humano nos anos 1990 seriam ainda mais negativas. De fato, nesse período a China tirou da pobreza 150 milhões de pessoas, número equivalente à população brasileira em 1990. O feito inclusive mudou a direção do avanço mundial contra a pobreza. De 1990 a 1999, o número de pessoas no globo vivendo com menos de 1 dólar por dia diminuiu em 123 milhões (atingindo um total de 1,17 bilhão). Excluída a China, o movimento é o oposto: o resto do planeta viu aumentar tal parcela da população em 28 milhões de indivíduos. A China alcançou o mais alto crescimento econômico sustentado da história humana, conseguindo aumento per capita real de 8% na década passada", afirma o relatório do Pnud. O rápido crescimento econômico dos "tigres" foi um fenômeno surpreendente, pois eram países com poucos recursos naturais e energéticos e sem tradição industrial. Apesar disso, suas economias obtiveram, por três décadas, taxas médias de crescimento do PIB de 8% ao ano. Os Tigres Asiáticos seguiram a receita que dera certo no Japão: forte intervenção estatal na economia, com a criação de linhas de crédito e incentivos às empresas nacionais; redução das importações e estímulo às exportações; qualificação da mão-de-obra por meio da expansão do ensino básico; manutenção de baixos salários e controle dos trabalhadores, com repressão às greves e aos sindicatos. Além disso, alguns desses países, como Taiwan e Coréia do Sul, promoveram reformas agrárias que democratiza- ram a propriedade da terra, facilitando seu acesso aos pequenos camponeses. O resultado foi o barateamento dos produtos agrícolas e a elevação do nível de vida dos trabalhadores do campo, que se integraram, assim, ao mercado de consumo. No entanto, o principal objetivo das empresas era ampliar sua participação no mercado externo. Para isso, tiveram de obter ganhos de produtividade, elevando seu nível tecnológico e aprimorando seus métodos de trabalho. Desse modo, podiam produzir a preços menores e continuar disputando com sucesso o mercado internacional. Com o tempo, os salários, inicialmente baixos, se elevaram. Os "tigres" chegaram a ostentar as mais altas taxas de renda per capita do Terceiro Mundo. A título de exemplo, a renda per capita da Coréia do Sul alcançou, no auge do sucesso econômico, 8 500 dólares (1998), enquanto a da Coréia do Norte, país de socialismo estatal burocrático, chegava, na mesma época, a 760 dólares. Outros países da Ásia seguiram o mesmo caminho e se tornaram os novos tigres asiáticos —Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. Mas a prosperidade dos "tigres" sofreu forte golpe em 1997, quando uma crise financeira arrasadora abalou os fundamentos desse modelo de desenvolvimento. Os Tigres em crise Depois de vários anos seguidos de crescimento econômico, os Tigres Asiáticos se tornaram mercados altamente lucrativos para investidores financeiros internacionais. Esses investidores procuram lucros fáceis e rápidos e retiram seus investimentos quando uma economia dá sinais de problemas. Em julho de 1997, algumas falências de empresas na Tailândia foram suficientes para que os especuladores entrassem em pânico e retirassem milhões de dólares de aplicações do mercado financeiro do país. Essa reação provocou novas falências e a queda vertiginosa do baht, a moeda tailandesa, que em apenas um dia perdeu 20% de seu valor em relação ao dólar. Da Tailândia, a crise se propagou instantaneamente para os outros países da região, provocando fuga de capitais e desvalorização das moedas. Em outubro, a Bolsa de Valores de Hong Kong despencou, enquanto a moeda da Indonésia sofria brutal desvalorização. O mesmo ocorreu na Coréia do Sul em novembro. Todos esses países tiveram de recorrer à ajuda do FMI, que injetou bilhões de dólares na região para impedir que a crise atingisse o resto do mundo. O abalo financeiro provocou a retração do PIB dos Tigres Asiáticos, cujas economias só voltaram a crescer a partir de 1999. A Indonésia, entretanto, continuou em crise, devido à turbulência política desencadeada com a queda do presidente Suharto, em meio a grandes manifestações populares de protesto em maio de 1999. 5. Oriente Médio: uma região conflagrada O Oriente Médio se configurou, ao longo do século XX, como uma das áreas mais conflituosas do mundo. Parte das razões para isso tem fundamento histórico. O lugar é berço de três das mais importantes religiões da atualidade, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As diferenças existentes entre essas religiões servem de pano de fundo para disputas políticas entre os povos da região. Outra característica é a cobiça que o Oriente Médio desperta, há séculos, nas potências mundiais, devido às suas riquezas e à posição geográfica estratégica. No século XIX, a Inglaterra e a França praticamente dominaram sozinhas a região. Essa disputa se agravou no século XX, quando o petróleo se transformou na principal fonte de energia do mundo industrializado. Atualmente, os EUA surgem como senhores absolutos, mantendo governos aliados em vários países da região, muitas vezes contrariando os interesses locais. Esse cenário de disputa religiosa, poderio econômico e intervenção internacional provocou nas últimas décadas vários conflitos no Oriente Médio. Revolução no Irã Em 1978, no Irã, seguidores do aiatolá (líder religioso) Khomeini derrubaram o governo do xá Reza Pahlevi, aliado incondicional dos EUA. O novo regime, comandado pelos aiatolás, estava fundamentado em princípios islâmicos e significou mudança radical no equilíbrio de forças da região. Devido ao apoio dado pelos EUA ao antigo regime, os norte-americanos passaram a ser vistos pelos iranianos como inimigos. Em 1979, revoltosos iranianos invadiram a embaixada dos EUA em Teerã, mantendo seus funcionários como reféns durante mais de um ano. Em 1980, o fraque, governado pelo ditador Saddam Hussein e insuflado pelos EUA, invadiu o Irã, dando início a uma guerra que durou oito anos e fez cerca de I milhão de vítimas nos dois países. Além da disputa por áreas produtoras de petróleo, o conflito opôs duas tendências islâmicas distintas: a xiita, do aiatolá Khomeini, e a sunita, de Saddam Hussein. Sem vitórias, os dois países assinaram um cessar-fogo em 1988, com a mediação da ONU. A Guerra do Golfo Dois anos após o término da guerra contra o Irã, o Iraque ocupou o Kuwait, dando origem à Guerra do Golfo, que envolveu, além dos dois países, tropas internacionais lideradas pelos Estados Unidos com o aval da ONU. A Guerra do Golfo foi o primeiro grande conflito internacional após a desintegração do bloco soviético e serviu para testar a nova ordem mundial, sob a égide norte-americana. Sem condições de resistir, Hussein ordenou a desocupação do Kuwait. Com isso, manteve-se no poder. Mas, de antigo aliado norte-americano, passou a ser um dos mais encarniçados inimigos dos EUA. Em 2002, aumentaram as pressões norte-americanas contra supostas armas químicas e biológicas em solo iraquiano. Nada foi provado em relação à existência dessas armas, mas a acusação serviu de pretexto para uma nova agressão ao Iraque, agora sem a aprovação da ONU. O conflito ocorreu entre março e abril de 2003 e terminou com a queda de Saddam Hussein e a ocupação do país por forças anglo-americanas. Israel contra o mundo árabe Apesar da rivalidade entre os países árabes, o principal foco de tensão no Oriente Médio continua sendo o conflito entre árabes e judeus, sobretudo devido à questão palestina. A década de 1990 foi inaugurada com grandes esperanças. Em 1993, autoridades israelenses e palestinas firmaram uma declaração de princípios, na qual se previa a autonomia gradativa dos palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. No ano seguinte, tropas israelenses começaram a se retirar dos territórios ocupados. Em 1996, Yasser Arafat é eleito presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), uma espécie de governo de transição para o futuro Estado palestino. Apesar desses avanços, as relações entre árabes e israelenses continuaram tensas. Em setembro de 2000, teve início uma revolta generalizada dos palestinos das regiões ocupadas: a segunda Intifada, caracterizada dessa vez por ataques terroristas suicidas de jovens palestinos contra alvos israelenses. Em resposta, Israel passou a invadir cidades das quais já havia se retirado e a destruir supostos esconderijos de organizações terroristas, provocando terror e mortes entre a população civil. Um "roteiro para a paz" Em abril de 2003, o chamado "Quarteto de Madri" (União Europeia, ONU, Estados Unidos e Rússia) entregou aos governos israelense e palestino o texto de um plano de paz. Conhecido como "mapa da estrada", ou "roteiro para a paz", o plano prevê a criação de um Estado palestino em 2005. Para que isso se torne possível, porém, os extremistas palestinos devem pôr fim aos atentados contra Israel. Em contrapartida, os israelenses devem desmantelar os assentamentos (colônias agrícolas) criados nos territórios ocupados. Como parte da iniciativa norte-americana para implementar o plano de paz, em junho de 2003 o presidente Bush viajou para o Oriente Médio, onde se reuniu com o premiê israelense, Ariel Sharon, e o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas (ou Abu Mazen). No encontro, os dois governantes se comprometeram a apoiar o plano de paz. A guerra perpétua Em agosto, porém, o governo de Israel deu início à construção de uma cerca para separar israelenses de palestinos na Cisjordânia. Caso fosse erguida em território judeu, a cerca talvez pudesse ser considerada medida defensiva legítima, mas boa parte de seu traçado avança em território palestino. A medida foi condenada pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), sob o argumento de que viola as leis internacionais. Pouco depois, a ONU e a União Europeia rejeitaram a iniciativa de Israel. Opondo-se a essas condenações, o governo israelense continuou contando com o decisivo apoio dos Estados Unidos. Em março de 2004, o primeiro-ministro Ariel Sharon anunciou a intenção de retirar colonos israelenses da Faixa de Gaza — o chamado "plano de desengate". Ao mesmo tempo, reafirmou o direito de Israel manter colônias na Cisjordânia ocupada. Em Gaza, 7 500 israelenses estão rodeados por 1,3 milhão de palestinos. Na Cisjordânia, são 240 mil israelenses para 2,3 milhões de palestinos. Sharon admitiu que Israel não seguirá adiante com o "roteiro para a paz" plano, como vimos, proposto pelos EUA, pela ONU, pela União Europeia e pela Rússia. E confirmou a intenção de Israel em permanecer nos territórios restantes após a execução do plano de retirada dos assentamentos de Gaza. Essa atitude intransigente provocou a resposta imediata dos grupos palestinos radicais, que em setembro de 2004 intensificaram os ataques contra Israel. A violência dos palestinos, Israel responde com mais violência ainda. No início de outubro, o exército israelense realizou novas incursões na Faixa de Gaza, que resultaram na morte de dezenas de palestinos. A tensão no Oriente Médio tornou-se ainda maior com a morte de Yasser Arafat, presidente da ANP em 11 de novembro de 2004. Arafat era em vida um ponto de equilíbrio entre as facções moderada e radical dos palestinos. Sua morte deixa um vazio político que pode desencadear disputas pelo poder entre as duas tendências.
Download