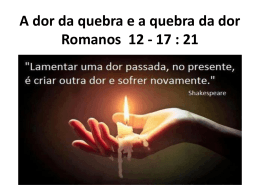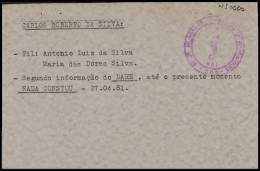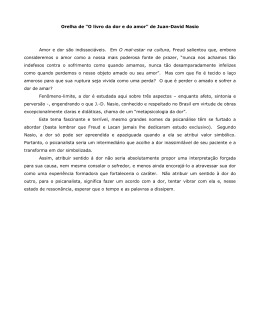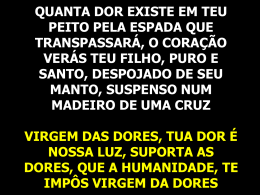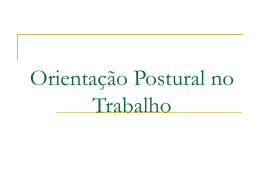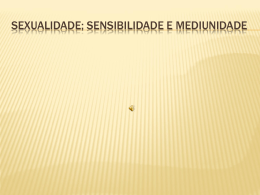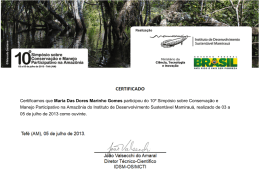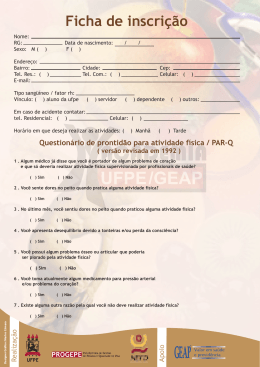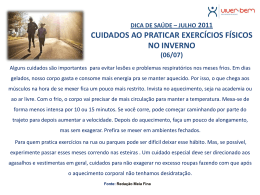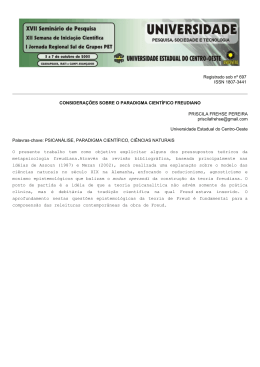A MASSAGISTA E A TRAVESSIA DE SUA DOR MAL DITA ____________________________________________________________ Márcia Amaral Bonna Psicóloga. Bacharel em Comunicação Social Publicidade/Propaganda [email protected] Tv. Conselheiro Furtado, 2391/1009 Belém (PA) 66040-100 Ercília Maria Soares Souza Psicanalista. Mestranda em Psicologia Clínica e Social na Universidade Federal do Pará. Professora/Supervisora do Curso de Psicologia da Universidade da Amazônia [email protected] Tv. Pariquis, 2999/507 Belém (PA) 66040-320 Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar através de fragmentos clínicos, os sentidos produzidos por uma mulher frente à sua dor. Trazida à psicoterapia inicialmente, pela perda da mãe e pelos temores de sua própria morte, afirmara que só faltaria às sessões, caso estivesse com enxaqueca, a qual nomeava como a “maldita dor”. As faltas faziam parte de seu atendimento: falta às sessões, falta de palavras, falta de um “amor”, que foram escutadas atentamente para depois serem articuladas com conceitos como histeria, dor, Édipo, feminilidade, entre outros. No decorrer do atendimento, a paciente tropeça nos seus ditos ou nas suas falhas, e isso nos permitiu acesso a seu mundo e à obscuridade de suas mal ditas dores. O propósito deste texto é transitar pelas palavras ditas, traduzidas e silenciadas de uma mulher que como massagista tentava aplacar dores corporais de outros, ao mesmo tempo em que buscava saber das suas próprias dores, dando-lhes significados. Palavras Chaves: Histeria, Dor, Édipo, Feminilidade. A MASSAGISTA E A TRAVESSIA DE SUA DOR MAL DITA 1. Maria e sua história Maria filha mais velha de uma prole de oito irmãos, casada, mãe de dois filhos, profissão massagista. Contou ser infeliz no casamento de muitos anos, afirmando não sentir mais “nada” pelo marido. Porém, permanecia casada “porque ele, apesar de bruto é um bom pai” e provinha a família. A sua insatisfação com a vida, com o trabalho e com o amor era constantemente expressa na demanda: “Quero ser amada, quero ser tocada, quero ser cuidada”. No início dos atendimentos psicológicos, justificou futuras faltas avisando que não compareceria ao tratamento apenas quando estivesse com enxaqueca, sua “maldita dor”. Aqui se produziu uma das principais metáforas desse atendimento: uma maldita dor que gradativamente se revelou em uma dor mal dita, quando as letras ainda não formavam palavras, ou quando ainda inexistiam sentidos, ela faltaria às sessões. Chegou aos atendimentos carregando sua angústia num (an)dor florido, onde a cada palavra dita, silenciada ou encenada deixou cair suas perdas. Relatou que desde cedo passou muita miséria: “de fome à humilhação”. A morte da mãe lhe trouxe ao atendimento. Contou que após esta perda começou a sentir “agonia, medo de morrer, dor no peito e um grande vazio”. Afirmou que a enxaqueca se tornou freqüente e quando lhe foi perguntado desde quando padecia dessa dor, respondeu que desde criança, e completou dizendo, que não podia adoecer, porque cuidava dos irmãos, e só era cuidada quando tinha a “maldita dor”. Contou que seu pai saiu de casa quando tinha apenas um ano, sentindo este acontecimento como seu primeiro abandono. Aos quinze anos, procurou e achou este pai e mais uma vez sentiu-se abandonada por ele, pois o mesmo a “rejeitou”, dizendo ter outra família e afirmando que nada tinha a lhe dizer. Pouco tempo depois, o pai morreu. Houve outras perdas significativas: perdeu o primeiro filho quando este tinha um ano de idade, afirmando que após esta perda “nunca mais foi a mesma”. Seguiu pela vida. Engravidou mais duas vezes e após a terceira gravidez relatou que começou a “sangrar muito”, os médicos lhe disseram que não havia outro “jeito” e tiveram que extirpar-lhe o útero. Disse ter sentido um misto de alegria e tristeza: “alegria por não mais sangrar” e tristeza por ter perdido o lugar que guardou seus filhos. No decorrer do processo terapêutico, a paciente sofreu mais uma perda: alguém com quem disse ter vivido uma “louca paixão”. Soube dias depois, e chorava esta perda dizendo que “nem ao menos teve tempo de se despedir”. Toda vez que Maria contava sobre suas perdas, percebemos que as associava à perda de sua casa, onde havia morado dezesseis anos, mas tinha vendido recentemente. O que estaria afinal perdendo? De que casa falava? Que segredos guardava? Que fantasias lhe percorriam quando dizia: “cada canto tinha uma história”? 2. Compreensão Teórico-Clínica Freud (1895) dizia que o indivíduo histérico foi considerado maldito por povos antigos, sendo exorcizado e lançado em fogueiras. Após seus estudos, a compreensão da doença tornou-se mais adequada e os sintomas antes aprisionados ao somático e as encenações passaram a ser considerados como desejos recalcados. A neurose histérica é descrita como tendo modificações fisiológicas do sistema nervoso podendo ocorrer ataques compulsivos, paralisias, distúrbios da atividade sensorial e contraturas. Freud (1895, p. 26), afirmava: Eu sem dúvida, consideraria histérica, uma pessoa na qual uma ocasião para uma excitação sexual despertar-se sensações que fossem preponderante ou exclusivamente desagradáveis; e o faria fosse ou não a pessoa capaz de produzir sintomas somáticos. E Maria falava de suas dores, recontando suas histórias dizia que cuidava de todos os irmãos para sua mãe trabalhar e só era “olhada” quando adoecia “das dores de cabeça”. Então, ter dores ganhou um significado: era pela dor que obtinha um lugar privilegiado de atenção, quiçá de afeto. Ao perceber o funcionamento da paciente, não discutíamos suas resistências, mas escutávamos e interpretávamos suas palavras, mesmo quando chegava atrasada às sessões dizendo que estava em algum lugar sempre interessante, como se quisesse provocar um incômodo, como se não estivesse priorizando o tratamento. Sem questioná-la, detínhamo-nos a escutála, deixando-a tropeçar nos seus ditos ou nas suas falhas e assim apontá-las, para transitarmos em seu mundo e na obscuridade de suas mal ditas dores. Nasio (1997) afirma que “são quatro as circunstâncias que, se forem súbitas, desencadearão a dor psíquica ou a dor de amar” (p. 37): o luto, o abandono, a humilhação e a mutilação. Maria chegou ao atendimento logo após a perda da mãe, carimbando seu corpo e sua alma de dores e medos. Percorrendo sua estrada no sentido inverso, conseguiu encontrar a criança que diz ter sido abandonada, a menina humilhada na sua própria imagem, a adolescente rejeitada por um pai que lhe manda “tomar outro rumo” por não ter nada a lhe dizer e, a mulher mutilada quando lhe tiram o útero para parar de sangrar. Que sangue seria esse? Quantas feridas estavam difíceis de cicatrizar? O sangue derramado jamais volta à ferida! Berlinck (1999) entendendo a metapsicologia da dor faz algumas reflexões e afirma: “que o humano habita na dor” (p. 9). Foi através da palavra que Maria pôde simbolizar suas dores, às vezes tão difíceis de serem expressas que mostrava nas atuações o indizível de suas perdas. Porém, ao fazer-nos de semblante a paciente, ela reconhece: “aqui (referindo-se ao setting) não é lugar de fazer coisas e sim de dizer coisas”. Freud (1921) afirma que “a identificação é conhecida da Psicanálise como a mais precoce manifestação de uma ligação de sentimentos com uma outra pessoa” (p. 146), e ao pensarmos naquilo que Maria dizia, percebemos sua identificação com a mãe, como objeto causador de amor, ódio e angústia. No início do tratamento ressaltou que a mãe era uma “heroína”; mais tarde, quando começou a travessia de suas dores pela palavra, reconheceu que a mãe não foi “tão maravilhosa” quanto pensava. Disse que se sentia sobrecarregada de responsabilidades e desejava ter sido mais cuidada. E destacou que levava “surras de palavras”. Compreendemos Maria na sua dor angustiada que a deprimia, oscilando entre a euforia e a depressão, queria ser correspondida em seus anseios e desejos e continuou a repetir: “quero ser amada, cuidada, olhada”. Jerusalinsky (2002) teoriza que a mãe é aquela que engendra, acolhe, aconchega, nutri, interpreta o choro do bebê, coloca-se como espelho, como modelo, abre caminho para a entrada do pai, e vai, aos poucos, dividindo seu filho com os outros, aprendendo o difícil exercício de distanciar-se por amor, para que aquele ser, aos poucos cresça por si mesmo e prescinda cada vez mais dela. De acordo com os ditos de Maria, percebemos que foi investida precariamente, seu clamor foi entendido como um pedido infantil de ser amparada e ser aceita sem restrições; não se sentiu censurada, reprovada, algo que pudesse lhe dar limite, contorno. Queria dividir sua dor e solidão, estava constantemente dando mais do que recebia e querendo sempre mais. Escolhia para suas relações amorosas quem não a amava, garantindo seu estado permanente de insatisfação, apegando-se a sua dor para sobreviver aos períodos fantasísticos que a espreitavam. Tamponou a falta do pai com os vínculos amorosos clandestinos, vividos e repetidos desde sua meninice; pedia incessantemente para ser tocada, acarinhada. Não por acaso, tocava e acarinhava através de sua profissão: massagista; contornando o corpo do outro num ir e vir de oferecimentos. Aplacava suas dores convertendo-as para enxaquecas ou euforia exacerbada, talvez para defender-se dos inconfessáveis desejos inconscientes. Valorizava a estética, em sua palavra “bem”. Quem era esse bem? Do que tratava esta mulher? Na sua última investida amorosa, a paciente ainda que titubeante, foi ao encontro de outro alguém para amar. Com esse achou que seria aquele, “♪o terceiro que a Tereza deu a mão... ♫”, mas em poucos encontros, disse que não “valeu a pena” e ressaltou que “nunca mais” iria encontrá-lo. Sentiu “asco” por tê-lo beijado. E dizia que não sabia como o desejou. A histérica julga que a insatisfação assegura uma falta, e esta falta é a sua garantia de continuar desejando. Não satisfazendo seu desejo, ela se protege de um gozo ameaçador. Este gozo é imaginado enquanto algo terrível, que põe em risco o ser, pois este seria devorado ou engolfado pelo Outro. Nasio (1991) diz: (...) o problema consiste em evitar a qualquer preço qualquer experiência que evoque de perto ou de longe um estado de plena e absoluta satisfação. Esse estado, de resto impossível, é pressentido pelo histérico, no entanto, como o perigo supremo de um dia ser arrebatado pelo êxtase e gozar até a derradeira morte (p. 16). Podemos afirmar que a histérica encarna bem a fórmula do desejo do Outro, pois como meio de evitar ser puro objeto para o desejo do Outro, ela também pode desejar por procuração, identificando-se com um homem que deseja outra mulher. Pensamos que tal identificação possa ter uma articulação no último envolvimento relatado pela paciente, uma vez que no jogo de sedução que teve, o parceiro amoroso falava da própria mulher, colocando-a num “pedestal”. Dizia ele a Maria: “ela é bonita, folgada, tem carro, empregados e tudo o mais”. Logo, Maria fantasiou e ressaltou que era “tudo o que queria...”. Seria a homossexualidade tão propalada na histeria? Observada nos ditos da paciente? Afinal esta outra mulher sempre suscitaria o desejo da histérica e identificando-se com o homem, este poderia servir de mediador para o seu desejo, como se assim fosse mais seguro desejar e conseqüentemente mais fácil garantir a sua insatisfação. Pois, como saberia Maria de todos os encantos que a tal mulher teria se não fosse ao encontro deste homem? Freud (1905) nos fala que: “o enigma contraditório suscitado pela histeria... [É] o par de opostos constituído por uma necessidade sexual excessiva e uma rejeição exagerada da sexualidade” (p. 157). Às voltas com a sexualidade, Maria procurou erotizar as relações que estabelecia, buscando aventuras amorosas, na reviviscência de antigas paixões ou na busca de novos amores. No vínculo transferencial se contorce em trejeitos (sedutores?), estica-se, toca-se, massageia-se, tentando fisgar sua terapeuta de maneira arcaica, para sucumbir a seu jogo de sedução. Quando cortada em suas encenações, portanto, interditada nas suas atuações, zangava-se. Aqui reeditava a menina, que em sua forma imatura não sabia dizer o quanto queria afeto, e, portanto, adoecia, no caso, irritava-se, colocava em atos furiosos suas mágoas. Reiterava no início do processo terapêutico, seu amor à mãe, aos poucos percebeu que também a odiava. Maria reconheceu, por exemplo, que sua mãe “não era tão boa assim” e que sentiu “raiva” da sua mãe por “ter deixado os filhos assistirem tantas coisas”, como suas brigas com os companheiros e os maus tratos pelos quais passou. No processo transferencial, num jogo de desvelamento e ocultamento, de atualizações de sentimentos ambivalentes disse-nos que fomos “tudo de bom”, e certamente também fomos tudo de mau. Nasio (1993) nos ajuda a esclarecer esse jogo quando diz que: Por isso, a expressão lacaniana sujeito-suposto-saber significa que o analista assume inicialmente, o lugar de destinatário do sintoma, e depois, mais a diante, o de causa dele. (...) Quando o analista diagnostica a neurose do seu paciente, ele sabe que faz parte do sintoma que está diagnosticando. Em suma, o fenômeno da suposição acompanha todos os acontecimentos dentro de uma análise. Assim, não existe acontecimento doloroso que não seja ‘interpretado’ pelo paciente cujas palavras sofrimentos e crenças foram envolvendo, pouco a pouco, a pessoa do analista (p. 16). Abandonada pelo pai, portanto barrada em seu intento de completude, Maria seguiu seu caminho na busca de satisfações em suas relações afetivas. Aqui pensamos na trajetória da histérica marcada pela tormenta da insatisfação do seu desejo: identificada com o sofrimento de não saber quem era, Maria, reviveu seu Édipo, aprisionando-se em triângulos amorosos. Para ela restou o lugar de excluída, daquela que é sempre rejeitada, fracassada, daquela que não tem certeza de sua identidade sexual. A paciente em sua queixa de abandono do pai, falou de sua posição como mulher: no momento em que a menina procurou no pai um significante do feminino, que permitisse, através do ideal do Eu, chegar a um desenlace edípico, o pai se eclipsou, pois só poderia responder apontando para um significante fálico, já que não há significante do feminino. O pai de Maria esteve ausente para lhe revelar o segredo do feminino. Queria ter um pai, uma vez que jamais possuiu um, eis uma das sínteses de Maria. Isso nos fez pensar que em seus envolvimentos amorosos, esteve à procura de alguém que operasse a função paterna. Nesse lugar de vítima, Maria resistiu em reconhecer alguma satisfação. Ela não poderia ser feliz enquanto tivesse uma fantasia a persegui-la: ter um pai. Tentou buscar uma saída, colocando-se na dialética: ficar pequena, menina, passiva, dominada, sobretudo na busca de significantes que lhe faltaram nos seus registros iniciais, clamando pelo olhar das figuras parentais, ou, se colocar como mulher desejante, impulsionada a um papel ativo na relação com o outro. Após mais uma busca de completude amorosa se decepcionou, e gritou: “Só quero ter paz, paz, entendestes?” Escutamos um pedido de pais e, ao ser comunicada do que foi escutado, ela confirma que foi o pai que lhe faltou na vida. Este foi perdido na infância, achado, rejeitando-a na adolescência. Na “adultice” teve a ilusão de ter encontrado este pai na figura do marido, o qual, afirmava ser um “frouxo”. E na incansável busca de quem lhe interditasse, colocou no lugar da falta e na crença impossível do reencontro primordial, amores que perdeu ou foram perdidos na sua insatisfação. Maria frustrou-se e prometeu vingar-se. Kehl (2004) quando teoriza sobre ressentimento, pontua que ao ficarmos ressentidos, vitimizados, desejamos causar no outro a mesma dor que estamos sentindo, e, que o sentimento que subjaz é a vingança. O ressentido não se reconhece como vingativo, atribui ao outro a responsabilidade pelo que lhe faz sofrer, estabelecendo uma dependência infantil em seus vínculos, esperando sempre proteção, prêmios e reconhecimentos da sua submissão. Dentro da perspectiva desta autora, Maria teria duas possibilidades: “preferir ser protegida ainda que subjugada – a ser livre, mas desamparada” (p. 21), porém responsável por seus atos e pelos efeitos decorrentes dos mesmos. Quem sabe Maria pôde se interrogar por quem era desejada? E a quem ela desejaria? E nessa formulação, ou poderia investir em saber o quanto continuava vivendo a triangulação edípica, identificando-se tanto com o pai quanto com a mãe, ou poderia criar uma alternativa e tentar desvendar quem era e o que queria... A enxaqueca não mais compareceu como desculpa de suas faltas, comprometeu-se com o processo terapêutico e incluiu-se nos seus atos, não apenas culpabilizando o outro, mas também enxergando e chorando os desacertos de suas responsabilidades. A paciente se mostrou então, enlaçada no vínculo transferencial, e começou a percorrer suas dores autorizando-se saber sobre seus conflitos e através de sua fala, acessar o processo de luto pela mãe, pelos amores, bem como pela falta do pai. Na travessia do sintoma, percebemos o funcionamento de Maria, ora como Maria das dores ora como Maria das graças. Fazendo a trajetória de uma para outra, todas as vezes que suas palavras transbordaram causando-lhe sofrimento, defendeu-se assentada no humor, o qual se revelou como uma saída para as “dores da alma”. As palavras de Maria fizeram-nos pensar nos versos de Milton Nascimento, quando musicou sua poesia “Travessia”: ♫ Quando você foi embora fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha nem é meu este lugar Estou só e não resisto, muito tenho pra falar... ♫ No processo terapêutico compreendemos o quão difícil foi a elaboração de seus lutos e sua resistência para falar das perdas. Mesmo sendo aquela que cuidava de todos os irmãos, portanto “forte e corajosa”, teve que chorar, reconhecendo que não foi e ainda não era a dona de sua própria casa. Seu pranto acordou seus abandonos: riu, chorou, gritou, percebeu que estar só era uma certeza, e aí começou a falar... Foi um tempo de muda! Se para os pássaros é o tempo que trocam de plumagem, portanto, um tempo difícil, para Maria, foi um tempo de enfrentamento, revisitação e superação. No tempo dito de muda, Maria clamou paz. Escutamos pais, mas nesse tempo, ao chamá-los constatou que é a falta e a incompletude o que de mais real existe em cada um dos humanos. Com a falta, teria que viver e se fortalecer; sabendo que a primeira palavra, o primeiro olhar, o contorno e a forma que os braços a fizeram humana, não mais teria. Porém, outras palavras poderia escutar, falar ou silenciar, outros olhares poderia endereçar, como corpos e almas poderia tocar, contornar. Desde que no investimento dos seus cuidados com o outro fosse capaz de se tornar sujeito e intérprete do inconsciente, escutando a priori, suas dores, amores e dissabores; conhecendo o pior e o melhor de si. Buscando compreender sobre o que versavam seus ditos através da linguagem falhada, sonhada e recalcada. Maria chegou ao atendimento queixando-se da “maldita dor”, hoje não mais seria lançada em fogueiras. Sabemos que através do tratamento analítico pôde exorcizar seus fantasmas pela palavra, porém bem ditas as palavras dos povos antigos quando compreendiam os histéricos como “malditos”. Maria foi “seguindo pela vida (...) querendo amar de novo”, quem sabe ressignificando a surra de palavras que levou na infância e que chorava até então. Elaborando, decodificando os ditos, que faltaram ou excederam e que a ela se apresentaram apenas como matéria-prima para fabricar sua maldita dor, talvez podendo transmutá-la em bem ditas palavras. Referências BERLINCK, M. T. (org). Dor. São Paulo: Escuta, 1999. FREUD, S. Estudos sobre a histeria. In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Freud (ESB). Rio de Janeiro: Imago, 1996, v.VII. (Original publicado em 1895). _________. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996 v. VII. (Original publicado em 1905). __________. Psicologia das massas e análise do eu. In: ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1996 v. XVIII. (Original publicado em 1921). JERUSALINSK, J. Enquanto o futuro não vem - a psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês. Salvador: Ágalma, 2002. KAUFMANN, P. Dicionário Enciclopédico de Psicanálise - O Legado de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. KEHL, M. R. Ressentimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. Nasio, J.D. A Histeria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. ________ 5 Lições sobre a Teoria de Jaques Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. ________ O livro da dor e do amor. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
Download