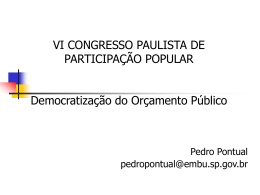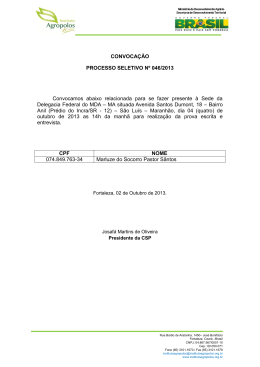0 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ MÁRCIA REGINA MARIANO DE SOUSA ARÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM FORTALEZA: PRÁTICAS E PERCEPÇÕES FORTALEZA – CEARÁ 2012 1 MÁRCIA REGINA MARIANO DE SOUSA ARÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM FORTALEZA: PRÁTICAS E PERCEPÇÕES Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Políticas Públicas e Sociedade. Área de concentração: Políticas Públicas Orientador: Barbalho Prof. FORTALEZA – CEARÁ 2012 Dr. Alexandre Almeida 2 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Universidade Estadual do Ceará Biblioteca Central Prof. Antônio Martins Filho A658o Arao, Márcia Regina Mariano de Sousa Orçamento participativo em Fortaleza: práticas e percepções / Márcia Regina Mariano de Sousa Arao. – 2012. 128f. : il. color, enc. ; 30 cm. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, Curso de Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade, Fortaleza, 2012. . Área de Concentração: Políticas Públicas. Orientação: Prof. Dr. Alexandre Almeida Barbalho. 1. Orçamento participativo. participativa. I. Título. 2. Participação. 3. Gestão CDD: 361.981 3 4 5 AGRADECIMENTOS A Deus, por ter me dado forças e coragem para chegar até aqui. A Ele toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo o que eu possa vir a ser, tudo o que eu possa conquistar. Tudo vem dele e volta pra Ele! A Daniel, meu grande amor e eterno companheiro, por estar ao meu lado sempre, encorajando-me, compreendendo-me, amando-me. Como eu sou feliz por sua dedicação e carinho constantes. À minha querida mamãe, Helena que sempre contribuiu com a minha formação, dela herdei o prazer pela leitura, pelos estudos. Obrigada por se fazer presente em todos os momentos da vida, vibrando sempre pelo meu sucesso, amo você! Ao meu orientador, Alexandre Barbalho pela paciência, compreensão, conforto, encorajamento e estímulo em meio ao contexto turbulento no qual construímos esse trabalho. Sua tranquilidade foi fundamental nesse processo! A querida Leila Passos, co-orientadora desse trabalho, pela parceria, apoio, pelas discussões instigantes, pelas palavras de incentivo e por continuar acreditando em mim. Você é muito especial! Aos colegas do mestrado que durante esses dois anos compartilharam comigo aspirações, alegrias, tristezas e angústias. Obrigada pelas discussões calorosas, ocorridas tanto em sala de aula como fora dela, que foram de grande contribuição para a realização desse trabalho. À amiga, Monique, presente precioso que o Mestrado me deu. Obrigada, pela amizade, parceria, pelo carinho, aprendizado. Você também faz parte da concretização dessa vitória. Aos moradores da Comunidade do Marrocos, sujeitos dessa pesquisa, pela presteza e disponibilidade, sem eles, realmente este trabalho não seria possível. 6 RESUMO A segunda metade da década de 1980 é um marco para as mudanças ocorridas na conjuntura brasileira no que diz respeito à relação Estado e Sociedade Civil. Mudanças estas que abriram caminhos para as novas experiências de gestão pública e de introdução de novas modalidades de administração e organização das políticas sociais por meio da garantia da participação da sociedade civil na sua formulação e fiscalização. Nesse contexto, têm-se a criação dos Conselhos de Política Social e a possibilidade da realização de experiências como os Orçamentos Participativos, temática de nossa análise, neste trabalho. Assim, tomamos como objeto de nossa investigação a experiência do Orçamento Participativo (OP) em Fortaleza-Ce, em curso neste município desde 2005. Na presente pesquisa propomo-nos a compreender e interpretar os significados de participação inscritos nos discursos e práticas dos moradores da Comunidade Marrocos, localizada no Grande Bom Jardim. E ainda, suscitar uma reflexão crítica sobre o OP a partir das percepções que estes sujeitos sociais constroem acerca deste espaço. Para realização deste trabalho desenvolvemos um estudo de cunho eminentemente qualitativo. Delimitamos como campo empírico de nossa investigação os distintos espaços nos quais aconteceram as atividades do OP durante os anos de 2010 e 2011, bem como a própria Comunidade do Marrocos. Elegemos como nossos interlocutores, 10 (dez) moradores daquela localidade. Para a coleta de dados, utilizamos a técnica de observação direta com uso sistemático do diário de campo, que nos possiblitou obter e registrar informações da realidade dos sujeitos sociais em seus próprios contextos; e ainda, fizemos uso das entrevistas semiestruturadas, que nos permitiu apreender melhor as percepções de nossos interlocutores. Todo o processo investigativo foi acompanhado pelas pesquisas bibliográfica e documental. O exame das declarações de nossos interlocutores acerca do OP evidencia o reconhecimento e a importância que eles conferem a esse mecanismo de democracia participativa. Deste modo, o OP é visto como um espaço de interlocução entre cidadão e poder público que proporciona à população o direito de propor diretamente aquilo que querem que aconteça em suas comunidades; o OP também é considerado como espaço de socialização no qual quem dele participa tem a possibilidade de ampliar a sua percepção acerca dos problemas da cidade. Nesta perspectiva, o OP também é considerado um processo educativo, por meio do qual as habilidades e qualidades de seus participantes são desenvolvidas. Assim, à medida que participam, os indivíduos têm a oportunidade de desenvolverem o conhecimento acerca do funcionamento institucional da gestão municipal. Constatamos, ainda nos discursos de nossos entrevistados uma diversidade de significações sobre a participação. Contudo, apesar dessa multiplicidade, foi possível encontrar entre elas um ponto em comum, qual seja: a indicação do caráter instrumental da participação em detrimento de seu caráter político.Percebemos então, que o OP, em Fortaleza, no lugar de ultrapassar os limites da democracia gerencial, acaba reforçando-os. Avançar para além desses marcos faz-se extremamente necessário e este, a nosso ver, é um dos principais desafios para aqueles que ocupam esse espaço. PALAVRAS–CHAVE: Orçamento Participativo, Participação, gestão democrática. 7 RESUMEN La segunda mitad de la década de 1980 es un hito para los cambios en la situación de Brasil con respecto a la relación entre Estado y Sociedad Civil. Los cambios que se han abierto nuevas vías para las experiencias de gestión pública y la introducción de nuevas formas de administración y organización de las políticas sociales, garantizando la participación de la sociedad civil en su formulación y el seguimiento. En este contexto, ha sido la creación de los Consejos de Política Social y la posibilidad de llevar a cabo experimentos como el Presupuesto Participativo, objeto de nuestro análisis en este trabajo. Por lo tanto, tomamos como objeto de nuestra investigación de la experiencia del Presupuesto Participativo (PP) en Fortaleza-CE, llevando a cabo en esta ciudad desde 2005. En este estudio se propone para comprender e interpretar los significados de la participación ha entrado en los discursos y las prácticas de los residentes de la Comunidad de Marruecos, situada en el Grande Buen Jardín. Y, sin embargo, plantear una reflexión crítica sobre el PP, de la percepción que los individuos sociales construyen en este espacio. Para este estudio, hemos desarrollado un estudio eminentemente cualitativo. Hemos definido como nuestra investigación empírica de campo de los distintos espacios en los que las actividades de la PP sucedido durante los años 2010 y 2011, así como la propia de la Comunidad en Marruecos. Nosotros elegimos como nuestros socios, diez (10) residentes de esa localidad. Para recopilar los datos, se utilizó la técnica de observación directa con el uso sistemático del diario, que permitió obtener y registrar la información de la realidad social de los sujetos en sus propios contextos, y también hizo uso de entrevistas semiestructuradas, que proporcionar una mejor comprensión de las percepciones de nuestros grupos de interés. El proceso de investigación estuvo acompañado por bibliográfico y documental. El examen de las declaraciones de nuestros interlocutores acerca de la PP muestra el reconocimiento y la importancia que conceden a este mecanismo de democracia participativa. Por lo tanto, el PP es visto como un espacio de diálogo entre los ciudadanos y del gobierno que da a la gente el derecho de proponer directamente lo que quieren que suceda en sus comunidades, el PP también se considera como un espacio de socialización en el cual participa que tienen la posibilidad de ampliar su percepción de los problemas de la ciudad. En consecuencia, el PP también se considera un proceso educativo, a través del cual las habilidades y cualidades de sus participantes se han desarrollado. Por lo tanto, a medida que participan, los individuos tienen la oportunidad de desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento institucional de la administración municipal. También tomamos nota de los discursos de los encuestados una variedad de significados de la participación. Sin embargo, a pesar de esta multiplicidad se puede encontrar entre ellos un punto común, a saber, una indicación del carácter instrumental de la participación a expensas de su carácter político. Vimos continuación, el PP, en Fortaleza, en lugar de superar los límites de democracia de gestión, termina por reforzar ellos. A continuación más allá de estos puntos de referencia es sumamente necesario y esto, en nuestra opinión, es un gran desafío para los que ocupan ese espacio. Palabras-Clave: Presupuesto Participativo; Participación; Administración Democratica 8 LISTA DE TABELAS TABELA 01 Renda Média Mensal dos chefes de família por Região Adminstrativa (em salários mínimos) - 2000 20 TABELA 02 Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) – SER V 21 TABELA 03 Número de demandas aprovadas no OP por eixo 2005 – 2008 65 TABELA 04 Proporção do número de conselheiros territoriais do OP 71 TABELA 05 Proporção do número de conselheiros de segmento social 71 TABELA 06 Modelo de relatório apresentado na negociação do COP – Ciclo 2008 78 9 LISTA DE FIGURAS FIGURA 1 Ciclo do Orçamento Participativo Fortaleza – 2010 – 2011 86 10 LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO 1 Recursos previstos para a realização das demandas do Orçamento 76 Participativo – 2006 e 2007 11 LISTA DE MAPAS MAPA 01 Áreas de participação do Orçamento Participativo Fortaleza – 2005 64 MAPA 02 Áreas de participação do Orçamento Participativo Fortaleza – 2010 82 12 LISTA DE FOTOGRAFIAS FOTOS Nº1 E 2 Ônibus fretado pela Prefeitura para levar participantes da Comunidade do Marrocos à assembleia eletiva do OP 2011 83 FOTOS Nº 3 E 4 Credenciamento participantes assembleia eletiva SER V- 2011 84 FOTO Nº 5 Cadastro das propostas – Assembleia eletiva SER V - 2011 88 FOTO Nº 6 Apresentação das propostas – Assembleia Eletiva SER V – 2011 88 FOTOS Nº 7 E 8 Assembleia Decisiva SER V – 2011 90 FOTO Nº 9 Casas entregues pela Prefeitura 100 FOTO Nº 10 Ruas sem infra-estrutura 100 FOTO Nº 11 Uma das poucas ruas que foram pavimentadas 100 FOTO Nº 12 Ausência de esgotamento sanitário 100 13 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS APs – Áreas de Participação CEB – Comunidades Eclesiais de Base COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COP – Conselho do Orçamento Participativo CUT – Central Única dos Trabalhadores ETUFOR – Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/a FMI – Fundo Monetário Internacional HABITAFOR – Fundação Municipal de Desenvolvimento Habitacional IDH – Índice de Desenvolvimento Humano IMPARH – Instituto Municipal de Pesquisa Administração e Recursos Humanos LGBTTTs – Lésbicas, Gays, Bissesuxais, Transgêneros, Transexuais e Travestis LOA – Lei Orçamentária Anual ONG – Onganização Não Governamental OP – Orçamento Participativo PDT – Partido Democrático Trabalhista PPA – Plano Plurianual PT – Partido dos Trabalhadores PTB – Partido dos Trabalhadores Brasileiros SEPLA – Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento SER – Secretaria Executiva Regional SISOP – Sistema de Informações do Orçamento Participativo UAMPA – União de Associação dos Moradores de Porto Alegre 14 SUMÁRIO 1.INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 15 2. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO BRASIL E O ALCANCE DA DEMOCRACIA NA CONTEMPORANEIDADE ......................................................... 35 2.1.Debate contemporâneo sobre a Democracia: disputa por sentidos .............................. 35 2.2.Redemocratização brasileira: emergência e trajetória da gestão participativa.......................................................................................................................... 39 2.3. O Orçamento Participativo: caminhos da democratização da relação Estado e sociedade civil no Brasil ..................................................................................................... 45 2.4. Cenário de implementação do Orçamento Participativo em Fortaleza........................ 53 3. “CONSTRUIR UMA CIDADE BELA, JUSTA E DEMOCRATICA: A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPÁTIVO EM FORTALEZA................. 62 3.1. Estrutura, funcionamento e metodologia do Orçamento Participativo até o ano de 2009...................................................................................................................................... 62 3.2. Os ciclos do Orçamento Participativo 2010 e 2011: mudanças e inovações no institucional ......................................................................................................................... 80 3.2.1. As Assembleias Eletivas ........................................................................................... 83 3.2.2. As Assembleias Decisivas ......................................................................................... 89 4.ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM FORTALEZA: ATORES, PRÁTICAS E DISCURSOS SOBRE A PARTICIPAÇAO .................................................................. 95 4.1. Relação da Comunidade Marrocos com o Orçamento Participativo............................ 96 4.2. Os motivos da não participação.................................................................................... 103 4.3. Discursos sobre a participação: as versões dos moradores do Marrocos ..................... 107x 4.4. Um balanço da experiência do Orçamento Participativo: Olhares dos moradores do Marrocos.............................................................................................................................. 114x CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 118 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 121 APÊNDICE ........................................................................................................................ 129 15 ANEXOS ............................................................................................................................ 133 15 1. INTRODUÇÃO Tomamos como campo temático de nossa proposta de investigação a experiência do Orçamento Participativo na cidade de Fortaleza-CE. E propomo-nos a compreender e interpretar os significados de participação e as percepções sobre o Orçamento Participativo inscritos nos discursos e práticas dos moradores da Comunidade do Marrocos, localizada no Grande Bom Jardim. A inscrição do Orçamento Participativo (OP) no debate contemporâneo da teoria democrática tem desafiado o desenvolvimento de estudos e reflexões acerca das experiências que emergem em diversos municípios brasileiros e também fora do País1. De modo geral, o OP caracteriza-se pela participação direta da população em diferentes fases de preparação e de deliberação orçamentária, apresentando os seguintes princípios para a sua realização: participação de todos os cidadãos; combinação de regras de democracia direta e democracia representativa realizada por intermédio das instituições que estabelecem mediação e interação permanente entre as organizações comunitárias e as unidades administrativas do Executivo; descentralização dos processos decisórios; utilização de método objetivo de definição das prioridades e alocação dos recursos (AVRITZER, 2002; SANTOS, 2009). A execução do OP em Fortaleza iniciou-se em 2005 como fruto do Programa de Governo, da então prefeita Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT), que trazia como diretriz central de seu governo a participação popular e a democratização dos processos de gestão da cidade. O OP então se desenvolveu ao lado de outros instrumentos que visavam à efetivação e o aprimoramento dos processos participativos em Fortaleza, como por exemplo: o Plano Plurianual Participativo, Plano Diretor Participativo, as Conferências Municipais, os 1 Dados do Observatório Internacional do Orçamento Participativo (2008) mostram que já é possível encontrar a realização desta experiência, resguardadas suas especificidades, em cada um dos continentes. Desde a América do Norte até a Ásia foram mapeados 24 (vinte e quatro) países que de alguma forma praticam o OP, dentre eles destacamos: Canadá, El Salvador, Argentina, Portugal, Cabo Verde e Índia. No Brasil, segundo levantamento realizado pelo Projeto Democracia Participativa em 2004, o OP estava sendo desenvolvido em 194 (cento e noventa e quatro) municípios. Em 2007, foi criada a Rede Brasileira de Orçamento Participativo que se propôs a reunir, articular, fortalecer e consolidar as experiências de OP das cidades brasileiras. Filiados à Rede, atualmente, encontram-se 62 municípios, sendo que 18 estão em processo de adesão. No ceará, um breve levantamento realizado por nós, por meio dos sítios eletrônicos das prefeituras municipais cearenses, demonstrou haver, atualmente, em funcionamento no Estado seis experiências do OP, a saber: Barbalha, Cascavel, Crateus, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Mauriti. 16 Conselhos Municipais e a Coordenadoria da Participação Popular criada recentemente (PPA 2010-2013). Assim, o OP emerge na Cidade, propondo-se, em consonância com o Programa de Governo da Prefeita eleita, a criar uma “cultura de controle social e fiscalização das verbas públicas e de definições estratégicas para o Município, através da participação dos cidadãos sobre os destinos de sua cidade” (PROGRAMA DE GOVERNO “POR AMOR A FORTALEZA”, 2004). Diante dessas expectativas, indagamos: como vem se construindo a participação dos moradores do Marrocos por meio do OP nos destinos da Cidade? Como estes cidadãos têm pensado e significado a sua participação neste espaço? Questões estas que deverão ser cuidadosamente analisadas durante a realização do estudo proposto. Segundo publicações específicas sobre o OP2 em Fortaleza, seus principais objetivos são: efetivar a participação, a formação cidadã e o controle social da população na escolha, elaboração e execução das políticas públicas, de modo a viabilizar a gestão compartilhada no planejamento do orçamento municipal, fazendo surgir, assim, uma nova cultura política na cidade. Diante disto, perguntamo-nos: em que medida vem se configurando esta “nova cultura política”, de natureza participativa, propalada nos discursos oficiais da gestão municipal? Quais as percepções dos cidadãos acerca desse espaço? Cremos que a apreciação destas questões torna-se essencial na busca de apreender a materialidade do OP em nosso Município. Nosso interesse de investigação do Orçamento Partipativo surgiu ainda na Graduação e adveio do desejo de estudar as formas de organização e participação social da sociedade civil no Brasil. Naquele momento, queríamos tratar da organização e participação da sociedade civil nos processos políticos e da sua relação com o Estado. Inicialmente, pensamos em estabelecer uma relação com a atuação do profissional de Serviço Social e 2 Guia do Orçamento Participativo, publicado em 2006; o Caderno de Formação do OP, publicado em 2007, Regimento Interno, dentre outros. 17 estudar o caráter pedagógico de sua prática como mediação para mobilizar e fomentar os processos organizativos da sociedade civil. Então, conhecemos o livro Serviço Social e Organização da Cultura, de Marina Maciel de Abreu. Por meio da sua leitura, redirecionamos nosso olhar e ampliamos nosso horizonte investigativo para além do exercício de nossa prática profissional. Voltamos-nos, então, a olhar, com mais cuidado, para o que a autora sugere como novas modalidades de participação democrática; de socialização da política; e de reconstrução das relações Estado/sociedade. Dentre essas iniciativas, a autora destaca o Orçamento Participativo (ABREU, 2002). Segundo Abreu (idem), essa novas modalidades de participação, consideradas em suas contradições, apresentavam possibilidades para a construção de processos numa perspectiva emancipatória. Nesse sentido, as experiências do Orçamento Participativo implementadas por alguns governos municipais assumidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT)3 - das quais é exemplar a experiência da Prefeitura de Porto Alegre, iniciada em 1989 constituem-se como referências importantes na edificação de um processo inovador de democratização da relação Estado e sociedade civil em que se combinam formas tradicionais de representação política com a participação direta da população organizada. O orçamento participativo, então, circunscreve-se em um processo que se coloca, ao mesmo tempo, como elemento viabilizador da criação de estruturas de formação e de reprodução de uma opinião pública independente a partir da crítica e desenvolvimento de uma consciência coletiva sobre as ações do Estado no enfrentamento dos problemas da cidade, e também como elemento que concorre para modificar o próprio Estado em suas estruturas e relações de poder (idem, p.215). Tais assertivas nos inquietaram e nos levaram a atentar para a experiência do Orçamento Participativo (OP) em Fortaleza -CE, no sentido de analisar a sua contribuição para a modificação das relações de poder cristalizadas por nossa cultura política. Assim, elaboramos nosso trabalho de conclusão de curso de graduação em Serviço Social, no qual 3 A relação existente entre o PT e a origem do OP se dá pelo fato de as primeiras experiências brasileiras terem sido organizadas em municípios governados pelo PT, como, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Todavia, essa relação direta entre o PT e o OP na concepção e origem da proposta é questionada por Avritzer (2002). Segundo o autor, apesar do PT defender a ideia de participação direta na gestão de Porto Alegre, não existia originalmente uma proposta de orçamento participativo, sua proposta era dar origem a um governo participativo, mas não apresentavam especificações de como se daria essa participação. O autor defende que a criação do OP não é obra exclusiva do PT, antes está relacionada a múltiplos processos e a atores sociais, uma vez que sua origem envolve tanto elementos institucionais, no caso a ênfase dada pelo PT à participação da população na gestão da cidade, como elementos extrainstitucionais, na medida em que o movimento comunitário preocupou-se com o controle e definição do orçamento. 18 centramos nosso olhar para os representantes da sociedade civil, eleitos como delegados e conselheiros nas assembleias do OP. Nossa vivência no campo empírico e teórico dessa experiência de pesquisa nos fez atentar para a necessidade de compreendermos também como é que aqueles que não fazem parte das instâncias de representação do OP vivenciam e significam este processo; e que expressões de participação são construídas por eles por meio desse espaço. Diferente da monografia, em que trabalhamos com os representantes do OP da Cidade inteira, neste estudo, decidimos delimitar nosso campo empírico investigativo e escolher uma microexperiência territorial do OP na cidade. Optamos, então, pela comunidade do Marrocos. E elegemos, como nossos interlocutores, os moradores dessa comunidade, tanto aqueles que já participaram (em algum momento do OP durante esses sete anos de implementação) e/ou participam atualmente das discussões do OP quanto aqueles que não participam. Deste modo, buscamos analisar, no âmbito da microexperiência territorial do OP na comunidade do Marrocos, os significados que estes sujeitos constroem acerca da participação e também apreender as suas percepções sobre esse espaço e, ainda, saber como eles se percebem nesse processo. Tratar a questão por este ângulo é algo recente, uma vez que as reflexões existentes sobre a temática têm centrado esforços na avaliação da capacidade que as experiências participativas oferecem para “rebalancear a articulação entre a democracia representativa e a democracia participativa. Uma consulta cuidadosa dos diversos textos analíticos sobre o OP (AVRITZER, 2003; AVRITZER&NAVARRO, 2003; GENRO&SOUZA, 1997; LÜCHMANN, 2007; SANCHEZ, 2002; SANTOS, 2009), mostrou-nos que estes estudos versam sobre os mecanismos institucionais de modo a privilegiar a sua formulação e avaliação. 19 Neste trabalho, nosso intuito é, além de refletir sobre as dimensões institucionais do OP, alcançar as percepções dos cidadãos comuns da Cidade, nesse caso, os moradores da comunidade do Marrocos, de modo a construir uma análise interpretativa do OP e da participação. A relevância da análise da experiência do OP em Fortaleza-CE, por meio dessas percepções, se dá, primeiramente, pela contemporaneidade do tema. A implementação do OP em Fortaleza é acontecimento recente, assim, nestas circunstâncias, é particularmente oportuno sua investigação a fim de sabermos como esta vem se construindo para que possamos evidenciar as contradições presentes nesse processo. Depois, pelo traço distintivo que este estudo apresenta em relação às demais produções analíticas do OP, estudada por nós até o presente momento, qual seja a compreensão das múltiplas representações e as diferentes dimensões expressivas construídas. O campo empírico de nossa investigação Dois espaços distintos constituíram nosso campo empírico. O primeiro refere-se aos locais nos quais aconteceram as atividades do OP - reuniões comunitárias, assembleias, reuniões do Conselho, fóruns de delegados4 - durante os anos de 2010 e 2011. E o segundo refere-se à própria Comunidade do Marrocos. Nessa seção, queremos apresentar a Comunidade e manifestar os motivos que nos levaram a optar por ela. O Marrocos é uma das comunidades que compõem o bairro Bom Jardim. Bairro localizado na periferia de Fortaleza, jurisdicionado pela Secretária Executiva Regional V, a segunda maior Secretaria em extensão territorial, com uma área de 6.346 hectares, que representa 18,94% do total, e a mais populosa, com 530.175 mil habitantes e com uma densidade demográfica de 83,54 hab/ha, que supera a média municipal (FORTALEZA, SEPLA, 2009). A SER V abrange ainda mais 17 bairros, a saber: Aracapé, Canindezinho, Conjunto Ceará, Conjunto Esperança, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Airton Senna, Prefeito José Walter, Siqueira e Vila Manoel Sátiro. 4 Esses espaços serão descritos em detalhes no capitulo 2 deste trabalho. 20 No tocante aos indicadores socioeconômicos, a SER V apresenta um dos piores indicadores da Cidade. Para termos uma ideia, em 2005, no ranking dos onze bairros de Fortaleza em que a população reside em condições mais inadequadas, cinco pertenciam a SER V: Mondubim (2º), Canindezinho (4º), Parque Santa Rosa (5º), Genibaú (8º) e Bom Jardim (10º) (FORTALEZA, PPA 2005). Um estudo desenvolvido em 2008 pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) sobre as áreas de risco de Fortaleza indicou que a SER V possuía o maior número de famílias em áreas de risco, eram 7.673 morando em 21 áreas de risco situadas, a maioria, às margens dos rios Siqueira e Maranguapinho (FORTALEZA, 2008). O cenário em relação à habitação é bastante delicado. A carência de moradias, as inundações no período de chuva daquelas comunidades situadas nas bacias dos rios, a ausência de saneamento adequado são alguns dos graves problemas a serem enfrentados pela administração pública. A respeito dos indicadores do mercado de trabalho, verificou-se a maior taxa de desemprego total do Município: 20,12%; e as taxas mais baixas de ocupação, acompanhadas, ainda, de baixos níveis salariais da população ocupada. De acordo, ainda, com o PPA (2005), a renda média mensal dos chefes de família da SER V era de 2,78 salários mínimos, conforme nos mostra a tabela abaixo, bem inferior que a média municipal e a menor entre as SERs. Tabela 01 – Renda Média Mensal dos Chefes de Família por Região Administrativa (Em salários Mínimos) – 2000 REGIÃO SALÁRIOS I 3,49 II 14,32 III 4,10 IV 6,08 V 2,78 VI 4,11 MÉDIA FORTALEZA 5,61 Fonte: SEPLA, 2005. 21 A tabela, a seguir, mostra as variáveis do Índice de Desenvolvimento Humano 5 (IDH) da SER V. E revela que nenhum dos seus bairros possui IDH alto, e ainda confirma a baixa renda dos chefes de família em toda a região. Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – SER V Média de anos de Taxa de Renda média dos estudo dos chefes alfabetização chefes de família ___ 18 ___ ___ Médio 5 ___ ___ 7 Baixo 13 ___ 18 11 Índices Alto IDH-médio Fonte: SEPLA, 2005. Apesar das dificuldades, uma peculiaridade presente em alguns bairros dessa Secretaria é a marca da organização e da luta dos moradores por condições dignas de vida. E em relação ao OP, não é à toa que a SER V possui o maior número de representantes no Conselho do OP (COP), são 18 representantes da sociedade civil eleitos nas assembleias decisivas do OP. A expressividade das assembleias do OP nessa jurisdição sempre nos chamou atenção por apresentarem um número de participantes superior ao das outras assembleias da Cidade. E essa foi uma das razões que nos direcionou para escolhermos um de seus bairros ou comunidades para ser o lócus de nossa investigação. Mas ainda não tínhamos definido em qual deles faríamos a pesquisa. O que nos levou à eleição do Marrocos foi o nosso contato anterior com a Comunidade, por conta de nossa experiência de estágio em 2006 na Fundação de Desenvolvimento Habitacional do Município de Fortaleza (HABITAFOR). Essa experiência colocou-nos em contato pela primeira vez com o OP, pois, nesse ano, os moradores do 5 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado originalmente para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização e escolarização), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). O é considerado baixo quando há variação de 0 a 0,499; médio no intervalo de 0,500 a 0,799; e alto entre 0,800 a 1 (PNUD, 2003). 22 Marrocos foram contemplados com o projeto de urbanização das ruas e a construção de 157 unidades habitacionais, resposta à demanda que propuseram no ciclo 2005 do OP. A equipe da qual fazíamos parte ficou responsável pelo levantamento e cadastro das famílias a serem beneficiadas e ainda pelo acompanhamento da elaboração e execução do projeto habitacional. Essa experiência foi também um dos incentivos do nosso interesse em pesquisar sobre o OP em Fortaleza, ainda na graduação. Por conta disso, pensamos que voltar ao Marrocos na pósgraduação, para dar continuidade a nossa investigação acerca desse espaço, seria emblemático. Pois o conhecimento e aproximação com a Comunidade que esse contato anterior nos proporcionou nos ajudaram bastante na realização de nossa pesquisa de campo. Conforme já dissemos, o Marrocos faz parte do bairro Bom Jardim, é uma das ocupações existentes no bairro. Além dela, compõem o bairro mais sete ocupações - Conjunto Urucutuba, Santo Amaro ou Pantanal, Nova Esperança, Igualdade, Lago Verde e Nova Canudos. Segundo Paiva (2008), as ocupações de terra e a formação de comunidades são características que marcam a história do bairro. Esse fenômeno inicia-se na década de 1970, com importante participação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), e se intensifica na década de 1980, especialmente na gestão da prefeita Maria Luiza Fontenele, quando os mutirões passam a compor a paisagem urbana da Cidade. Nesse momento, a luta pela moradia tornou-se a principal bandeira dos segmentos mais pobres - trabalhadores da própria Cidade, trabalhadores vindos do campo em busca de melhores condições de vida - intensificando, assim, a ocupação dos vazios urbanos existentes. A melhoria da qualidade de vida procurada por esses segmentos virou frustração, pois crescia o descaso do poder público à medida que as ocupações se proliferavam. Até hoje, Fortaleza amarga os resultados dessa postura. E o que vimos foi um crescimento desordenado da Cidade, uma grande diferenciação entre os bairros centrais e os periféricos, pois enquanto aqueles apresentavam uma infraestrutura urbana básica, esses outros não a possuíam. Ou seja, a expansão da Cidade a partir da ocupação dos vazios não gerou a ampliação dessa infraestrutura urbana, pois não havia pavimentação das ruas, energia elétrica, água encanada, rede de esgotos, transportes coletivos, dentre outros, algo já recorrente nessas localidades. Muitas dessas áreas não possuem nenhuma condição para serem ocupadas. Contudo, a 23 periferia de Fortaleza cria-se e recria-se à revelia do Poder Público, e assim os segmentos pauperizados de nossa Cidade seguem na busca do seu “lugar ao sol”. Um exemplo disso é a Comunidade aqui apresentada. O Marrocos é uma ocupação recente, aconteceu já nos anos 2000, mais precisamente em 2001. No dia 2 de novembro, moradores do próprio Bom Jardim mobilizaram-se e ocuparam o terreno Mata Lobo (PAIVA, 2008), localizado na Avenida Urucutuba, que há muito tempo se encontrava vazio. Antes da ocupação, essa área possuía um açude denominado “Açude da Viúva”, que percorria a propriedade por meio de um canal. Esse canal ainda existe hoje e é chamado, por conta do nome do açude, de canal da Viúva. De lá se tiravam areia para fazer aterros, o que deixou o terreno cheio de buracos. Porém, com a ocupação, a área foi sendo aterrada para que as moradias fossem construídas. No início da ocupação, as casas eram feitas de lonas, plásticos e serviam para demarcar o terreno que cada família ocupava. Posteriormente, essas construções foram substituídas por taipa e alvenaria. Nesse momento, os ocupantes juntamente com algumas lideranças de Comunidades próximas, como, por exemplo, a Associação do Parque Santo Amaro, definiram os tamanhos dos lotes para cada um, e também demarcaram as ruas existentes até hoje na Comunidade. Quanto ao nome da ocupação, os moradores nos declararam que a Comunidade foi assim batizada por causa da novela O Clone, apresentada na Rede Globo de Televisão bem na época em que estava acontecendo a invasão. A novela mostrava o país Marrocos (África) e veiculava imagens de um local com muitas tendas; os moradores identificaram certa semelhança com as tendas de plásticos armadas na área e assim denominaram de Marrocos essa nova comunidade que surgia no Bom Jardim. Em relação à infraestrutura urbana da Comunidade, os serviços de energia e água, no início da ocupação, eram clandestinos; e quanto ao saneamento básico, a maioria das unidades domiciliares não possuía sequer banheiro. A energia só chega à Comunidade dois anos depois, 24 em 2003, e a água apenas em 2006. As ruas continuam sem pavimentação e o saneamento básico ainda não é realidade na Comunidade; o esgoto corre a céu aberto e ainda existem casas que não possuem sanitário. Além disso, os moradores têm dificuldade de acessar os serviços de saúde pública, uma vez que os postos de saúde existentes na proximidade não os reconhecem como pertencentes a sua área de cobertura, e alegam a dificuldade de incluí-la por ser uma área complicada de trabalhar devido aos altos índices de criminalidade e violência existentes no bairro, o que revela a precariedade vivenciada pelas pessoas que ali vivem. No que diz respeito à violência urbana, o Marrocos é considerado um dos territórios mais violentos do Bom Jardim, tanto os moradores do bairro e os próprios moradores da Comunidade, quanto à imprensa, afirmam essa característica não muito agradável. O Marrocos é conhecido pelos frequentes assaltos realizados por usuários de drogas. São vítimas desses assaltos, na maioria das vezes, os “visitantes” que adentram a Comunidade para a realização de algum serviço ou atividade. O Marrocos também é palco de vários assassinatos, como o que aconteceu ao taxista Francisco Guedes Júnior que, no dia 24 de março de 2010, trafegava em seu táxi na companhia de sua esposa, na Avenida Urucutuba, quando uma pessoa armada, com o rosto coberto com a camisa, efetuou um único tiro que o atingiu no tórax. Sem qualquer motivação aparente, uma vez que nada lhe foi roubado, o taxista perdeu sua vida. Porém, a maioria dos assassinatos que acontecem na Comunidade tem como vítimas jovens e adolescentes envolvidos com o consumo e tráfico de drogas. Concordamos com Paiva (2008) que a presença de drogas, sobretudo o crack, tem se tornado motor de muitas delinquências, deixando mais delicada a situação de violência na região. Segundo o autor, o crack é um combustível significativo na produção de crimes no interior das comunidades mais pobres do Bom Jardim [...] Como é fato conhecido, o consumo e o tráfico de drogas são componentes de extrema relevância na ocorrência de outros tipos de crimes, como por exemplo, assaltos e furtos cometidos por adolescentes viciados e dispostos a ações extremas para aquisição de dinheiro destinada à compra de droga ou pagamento de dívidas com traficantes (idem, p.257). Diante de todos esses problemas, conforme já dissemos, a Comunidade cria-se e recria-se, e os seus moradores vão construindo ao longo do percurso tentativas de ultrapassagem dessa realidade tão adversa. Dentre essas tentativas, podemos citar a sua mobilização na busca dos serviços, que só chegaram à comunidade porque foram 25 reivindicados; outra, a própria participação no OP, com vistas a conseguir melhorias, e ainda a atuação nas atividades religiosas. Destacamos aqui a intervenção da Igreja Católica, por esta envolver muitos moradores em suas atividades, como nas celebrações de missas, batismos, dentre outras. Além disso, existe o Movimento de Saúde Mental, sob a direção do Padre Rino, que realiza atividades terapêuticas dentro da Comunidade. O padre ainda mantém o futebol aos sábados, ação mais apreciada pelas crianças e adolescentes, por lhes permitir uma alternativa de lazer. Tais experiências podem até ser julgadas como pontuais e insignificantes perante a seriedade dos problemas da Comunidade, mas não podem ser desprezadas, pois movimentam o seu cotidiano de modo a produzir novos rumos e novas perspectivas. Percurso metodológico Tendo em vista os objetivos propostos nessa investigação, desenvolvemos um estudo de cunho qualitativo. No dizer de Minayo (1994, p. 22), esse estudo se preocupa, nas ciência sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste tipo de pesquisa, há uma preocupação hermenêutica, uma preocupação com o significado que os sujeitos dão à suas vidas. Na verdade, esse modo de pesquisar tem por objetivo trazer à tona o que os participantes pensam a respeito do que está sendo pesquisado, não é só a visão do pesquisador em relação ao problema, mas é também o que o sujeito tem a lhe dizer a respeito (MARTINELLI, 1999a). Ao considerar os diferentes pontos de vista dos indivíduos, os estudos qualitativos possibilitam iluminar o dinamismo interno das situações que lhes são postas cotidianamente, seus hábitos, tradições, maneira de viver ou resistir às transformações em suas lutas diárias. Nesse sentido, o contato com os sujeitos da pesquisa é imprescindível para captar a percepção que eles detêm sobre sua vida e os aspectos sociais que a engendram, buscando entender os fatos a partir da interpretação que os mesmos fazem 26 de suas vida cotidiana. Assim, o pesquisador deve experienciar o espaço, tempo e as situações onde os sujeitos da pesquisa transitam e constroem suas vidas (MARTINELLI, 1999b). Concordamos com Geertz (1989) quando ele afirma que a preocupação das Ciências Sociais não deveria ser com a construção de leis gerais do funcionamento da sociedade, mas com a construção de interpretações, sempre transitórias, sobre a realidade social em uma perspectiva compreensiva. Deste modo, procuramos construir uma análise interpretativa das experiências dos sujeitos sociais de nossa pesquisa. E ao invés de tomar as categorias analíticas participação e Orçamento Participativo como conceitos prontos, buscamos refletir como nossos interlocutores as constroem e as significam no processo do OP em Fortaleza- CE Nossa pesquisa realizou-se através de um intenso trabalho de campo, nos períodos: de agosto a dezembro de 2010; de maio a setembro de 2011; e de março a maio de 2012. Foi executado em três etapas, conforme descrevemos a seguir. A primeira etapa, a fase exploratória da pesquisa, foi iniciada em agosto de 2010. Dedicamo-nos às interrogações preliminares sobre o objeto, a refletir sobre os pressupostos, e as teorias que fundamentariam nossa investigação, a pensar na metodologia apropriada e nas questões operacionais para a entrada em campo e a fazer levantamentos preliminares sobre nosso objeto de estudo. Nesse momento, fizemos visitas à Coordenadoria de Participação Popular (CPP), ente responsável pela estruturação e funcionamento do OP em Fortaleza; e estivemos presentes nas assembleias decisivas do OP das SERs III, IV, V e VI que aconteceram nos meses de novembro e dezembro; conhecemos também a equipe do OP da SER V; e frequentamos ainda duas reuniões do Fórum de Delegados dessa Regional. 27 Nossas visitas à CPP e à equipe do OP na SER V aconteceram no intuito de levantar documentos e dados estatísticos sobre a experiência do OP. Foram disponibilizados os seguintes documentos - cartilhas e panfletos, regimento interno, revista e jornais do OP, atas do Conselho do OP. Em relação aos dados estatísticos, solicitamos à equipe de Gestão da Informação as seguintes informações: a lista geral de participantes nas assembleias do OP e a lista de participantes da SER V do período de 2005 a 2010; um balanço das demandas, dentre outros. Todas essas informações deram substância à pesquisa documental que acompanhou todo o processo investigativo. Outro momento da fase exploratória de nossa pesquisa consistiu em nossa participação nas assembleias decisivas do ciclo 2010 e nas reuniões do Fórum de Delegados da SER V, conforme indicamos acima. Utilizamos como técnica de coleta de dados a observação direta, através desta técnica tivemos a possibilidade de captar uma variedade de situações presentes na realidade, como a forma como os sujeitos se colocavam, as articulações, os diálogos proferidos entre eles antes e durante essas reuniões, percepções que não são obtidos por meio de entrevistas apenas.. Esse foi, então, o primeiro momento, em que iniciamos a exercitar nosso “olhar”. Lembramos, também, das recomendações de Oliveira (1998, p 21) ao afirmar que “o olhar, por si só, não seria suficiente para dar-se conta da natureza das relações sociais mantidas entre as pessoas”, e vimos o quanto realmente é difícil captar as significações presentes no que observamos. Depois de cada reunião, a sensação que tínhamos era a de que nunca chegaríamos a uma delimitação, diante da riqueza da realidade ali apresentada para nós. Assim, a cada dia surgiam novas inquietações. Éramos envoltas em um turbilhão de pensamentos que, por muitas vezes, levou consigo nosso sono. Por isso julgamos esse momento imprescindível para o aperfeiçoamento de nossos primeiros questionamentos na perspectiva de delimitar melhor o nosso foco. A partir desse instante, o uso do diário de campo tornou-se indispensável para o registro das observações de campo, dos pensamentos e questionamentos que nasceram em nosso contato empírico. Nele registramos como se deu a nossa chegada ao campo, as inquietações, as dificuldades por nós enfrentadas, bem como as reflexões sobre o nosso tema. Essas anotações foram extremamente necessárias para os resultados dessa pesquisa, pois nos 28 ajudaram a orientar e reorientar o trabalho de campo, A transcrição de alguns trechos do nosso diário exemplifica melhor o que queremos dizer: Hoje minha curiosidade atiçou-me e me trouxe a uma assembleia do OP a fim de nos aproximarmos do nosso objeto. Fomos à assembleia decisiva da Secretária Executiva Regional IV, no Conjunto Ceará. É surpreendente o campo de pesquisa, basta chegar nele para as inquietações começarem. Hoje vimos pela primeira vez uma assembleia no novo formato de deliberação do OP em Fortaleza, que a Prefeitura tem chamado de participação direta, onde o povo vota as demandas a serem contempladas no orçamento do ano que vem sem a intermediação dos conselheiros. Bem cheguei ao local da reunião e me surpreendi com o número de pessoas, o auditório apresentava um número considerável de pessoas. E as primeiras questões que surgiram foram, como essas pessoas foram mobilizadas, o que as motivou a estar nesse lugar numa noite de sexta-feira? A presença de lideranças comunitárias é notável! E antes mesmo da assembleia começar eles aproveitam para arregimentar seus eleitores, pois nessa assembleia também são eleitos os delegados do OP,vi algumas articulações e em alguns diálogos escutei coisas do tipo: “ vocês vieram com quem? Podem votar em mim para delegado? Ei, arranja votos para mim!”. E aí começo a me questionar, por que essas pessoas querem ser eleitas? Apesar de esse não ser o foco da minha pesquisa, pergunto-me qual o peso dessa representação? Como se constrói essa representação? (Diário de Campo,18 de novembro 2010); De volta ao campo, hoje na assembleia decisiva da Secretaria Regional VI, uma das mais esvaziadas que participei. A maior parte das pessoas presentes estava participando pela primeira vez do OP. Como eles decidiriam quais as propostas que comporiam o orçamento municipal se eles nem seque acompanharam o processo anterior em que estas propostas foram gestadas? Logo percebi que para a Prefeitura essa descontinuidade não afetava em nada o processo, pois na realidade os participantes não escolhem nada, eles apenas escutam quais as propostas que serão viáveis. Que participação direta é essa? Onde estão as discussões para se chegar a um consenso? Nesse processo as pessoas tornaram-se apenas ouvintes. Sem falar que o número de demandas consideradas viáveis é bem pequeno. Na assembleia eletiva dessa área as pessoas que estiveram presentes propuseram 15 demandas, destas a Prefeitura classificou como inviáveis 11; viáveis apenas 01 e apresentou uma contraproposta para 02. E foi apenas em relação a essas duas que as pessoas presentes na assembleia podiam votar, aceitando ou não a contraproposta da Prefeitura. (Diário de campo, 09 de dezembro de 2010). Na segunda etapa de nossa pesquisa de campo, ingressamos na Comunidade do Marrocos. Nossa entrada aconteceu em parceria com a Professora Leila Passos, nossa orientadora do trabalho de conclusão de curso da graduação, que também estava pesquisando a Comunidade do Marrocos em sua tese de doutorado em Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela se articulou com a equipe do Movimento de Saúde Mental que fez a ponte entre ela e a Comunidade. Então, uma das moradoras disponibilizou-se para ajudar no que fosse necessário, bem como ofereceu sua casa para ser o ponto de apoio da pesquisa. Logo em seguida, nós também fomos devidamente apresentadas, e começamos, a partir da casa dessa moradora, a realizar nossa pesquisa. Inicialmente, pensamos em contar com ajuda das lideranças comunitárias, que havíamos conhecido em nosso estágio, para facilitar nossa 29 entrada em campo, mas Leila, que entrou lá primeiro que nós, alertou-nos sobre o desgaste das relações entre essas lideranças e a Comunidade6 e do quanto nosso trabalho poderia ser prejudicado se prosseguíssemos com essa ideia. Foi aí que desistimos e também passamos a contar com o apoio dessa moradora. Queremos, aqui, salientar que esse apoio foi essencial para efetivação do trabalho de campo, pois precisávamos ser referenciadas por alguém da Comunidade, alguém que não tivesse ligação com a liderança, de modo a não gerar nenhuma resistência por parte dos moradores para participar da pesquisa. Nos meses de maio a setembro de 2011, estivemos na Comunidade do Marrocos. Realizávamos visitas semanais à Comunidade e, nesse período, observamos o envolvimento da Comunidade nas atividades do OP e também acompanhamos de perto a participação deles nas assembleias eletivas e decisivas que aconteceram nesse ano. Esse contato nos possibilitou fazer o levantamento de quem seria nossos interlocutores. Primeiramente, estabelecemos contato com algumas pessoas que sabíamos que já tinham participado do OP para que elas nos indicassem os demais moradores. Basicamente, trabalhamos com narrativas e falas dos moradores, por meio de conversas informais, e procuramos compreender o que pensavam sobre o OP. Aqui também fizemos uso do diário de campo e da observação direta, o que nos possilitou não só conhecer as relações existentes neste espaço como os significados que os sujeitos sociais envolvidos na pesquisa atribuíam aos atos que praticavam (PERETZ, 2000), e sempre buscando interpretar, nesse microcontexto, o que estes vivenciavam e designavam por participação. No sentido de apurarmos melhor estas percepções, realizamos entrevistas com nossos interlocutores. Essa foi a terceira etapa de nosso trabalho de campo, e aconteceu entre os meses de março a maio de 2012. Utilizamos o roteiro semiestruturado de entrevistas que nos deu a possibilidade de adaptarmos ou formularmos novas questões mediante as respostas obtidas, além de 6 Tema ao qual daremos maior atenção no capítulo 3. 30 acrescentar outros elementos que os/as entrevistados/as considerassem interessante e que não estavam presentes em nossa indagação, ou que foram despertadas na fase da observação Trabalhamos com dois roteiros específicos, um destinado aos moradores que de alguma forma participam ou participaram do OP, e outro para aqueles que não participam. Formado por três partes, os roteiros apresentavam duas seções em comum, a primeira descrevia o perfil dos(as) entrevistados(as) e a segunda perfazia a história da comunidade. A última seção, mais específica, tratava do OP e das relações dos(as) moradores(as) com ele. Nessa parte específica, detalhamos o que queríamos apreender em cada grupo: entre aqueles que participam ou participaram, procuramos saber como conheceram o OP, o que os motivou a fazer parte e a continuar participando, qual o impacto dessa participação em suas vidas, quais as suas percepções sobre este espaço e quais os significados construídos por eles a partir dessa experiência. Já com as pessoas que não participam do OP, nosso interesse era saber se eles conheciam esse espaço e o que sabiam sobre ele. Desta forma, apresentaremos o modo como nossos interlocutores julgam e materializam a experiência do OP em sua comunidade. Atores e intermediações A escolha dos atores de nossa pesquisa deu-se por meio do contato com eles em nossa inserção de campo. Estivemos na comunidade, no período de sete meses, acompanhando o seu cotidiano, as atividades referentes ao OP e a interação dos moradores com elas. Nesse ínterim, pudemos identificar algumas características que nos fizeram perceber como se estabelece a relação entre a comunidade e o OP. E conseguimos distinguir, pelo menos, quatro grupos que representam essa relação. E foi a partir dessa percepção que fizemos a escolha de quem seria nossos interlocutores. Notamos que muitos dos moradores não querem participar ou se envolver nesse processo, esse seria o primeiro grupo identificado, pessoas que não participam do OP; encontramos também aqueles moradores que já participaram do OP e que não participam mais, esses estariam no segundo grupo; Existem ainda aqueles que participam, mas que o 31 fazem de forma inconstante, vão em uma atividade ou outra do OP; e além desses encontramos os moradores que participam desde o começo, esses estão sempre dispostos a participar, inclusive, muitos deles, compõem ou já fizeram parte das instâncias de representação do OP como delegado ou conselheiro. No início do trabalho de campo, tínhamos como objetivo entrevistar apenas os moradores participantes do OP, mas sentimos a necessidade de ouvir também aqueles que não participavam, a fim de compreender o porquê da não participação e também perceber a visão que eles têm acerca deste espaço. Assim, construímos um recorte de quem seriam nossos entrevistados com base nessa caracterização e entrevistamos dez pessoas. Conseguindo alcançar, pelo menos, dois representantes de cada grupo. Na intenção de preservar a identidade de nossos interlocutores, atribuímos-lhes codinomes. Escolhemos os nomes dos personagens da novela O Clone, em consonância com o modo como foi escolhido o nome da Comunidade. Desta forma, os sujeitos entrevistados receberam a seguinte designação: - Grupo 1: Khadija e Mustafá; - Grupo 2: Nazira e Said; - Grupo 3: Ali e Ranya; - Grupo 4: Albieri, Jade, Mohamed e Zoraide. Para registro dos dados obtidos em nosso trabalho empírico, fizemos uso, ainda, de recursos fotográficos e da gravação de áudio tanto das assembleias e reuniões do OP em que estivemos presentes como das entrevistas que realizamos. Por fim, a análise dos conteúdos obtidos em todo processo de investigação foi realizada mediante sua ordenação e categorização, bem como pela confrontação dos mesmos com as teorias nas quais apoiamos nossas reflexões acerca do objeto estudado, no sentido de estabelecer, assim, um diálogo entre teoria e empiria. De posse das precisas indicações que delinearam nosso percurso metodológico, conheçamos, agora, especificamente, cada um de nossos interlocutores. 32 Perfil individualizado dos interlocutores da pesquisa A seguir, apresentamos cada um dos sujeitos de nossa pesquisa. Nos perfis descritos abaixo, encontram-se informações sobre as condições socioeconômicas e sobre a atuação política dos nossos entrevistados. • Khadija - 48 anos, solteira, mora com o filho e dois netos, não cursou o ensino formal, mas sabe ler. Realiza trabalhos eventuais de onde tira o seu sustento. Afirmou que sua renda não chega a um salário mínimo. Recebe o benefício do Bolsa Família. Participou dos movimentos de invasão da Comunidade do Urubu e do Marrocos. Está na Comunidade desde o começo. • Mustafá – 67 anos, casado, mora com a esposa e uma filha, analfabeto, aposentado. A renda familiar chega a dois salários mínimos. Não participa ou participou de movimentos sociais. Está há nove anos na Comunidade, chegou dois anos depois da ocupação. • Nazira – 40 anos, união estável, mora com a companheira. Estudou até a 5ª série do fundamental. Trabalhadora autônoma, possui um trailler no qual vende lanches. Segundo nos informou, sua renda chega a dois salários mínimos. Não participa ou participou de movimentos sociais. Chegou à comunidade um ano depois da ocupação. • Said – 42 anos, solteiro, mora sozinho. Possui o ensino médio completo. É técnico em informática e é dono de uma lan house. Sua renda é de três salários mínimos. Participou como vice-coordenador de uma ONG, que atuava no combate às doenças sexualmente transmissíveis, durante quatro anos. Tentou fundar uma Associação no Marrocos que fizesse oposição à Associação existente, mas não obteve êxito. Está na comunidade há 10 anos. • Ali – 41 anos, casado, mora com a esposa e seis filhos. Cursou até a 6ª série do ensino fundamental. Possui várias profissões: serralheiro, soldador, bombeiro, 33 pintor, servente. Tem uma pequena metalúrgica em sua casa de onde tira o sustento da família. Segundo ele, sua renda varia entre dois a três salários mínimos e é complementado com o benefício do Bolsa Família. Chegou à Comunidade um ano após a ocupação. • Ranya – 40 anos, casada, mora com o esposo. Terminou o ensino fundamental. Trabalha como diarista e tem bar em sua casa. Sua renda é de dois salários mínimos. Já fez parte da Associação de Moradores do Marrocos. E faz parte do Movimento Católico no Bairro, e do Movimento de Saúde Mental desenvolvido pelo Padre Rino. Está no Marrocos desde o começo da ocupação. • Albieri – 56 anos, casado, mora com esposa e dois filhos. Estudou só até a 4ª série do ensino fundamental. Comerciante, sua renda é de três salários mínimos. Faz parte do Conselho Local de Saúde, do Conselho de Segurança Pública, é conselheiro do OP e filiado ao PT. • Jade – 38 anos, casada, mora com o esposo e seis filhos. Possui o ensino fundamental completo. Comerciante, a renda familiar chega a dois salários e meio. É beneficiária do Bolsa Família. Fez parte do movimento estudantil na época em que estudava e já foi filiada ao PDT, inclusive em 2006 se candidatou a vereadora por essa sigla. Diz-se vice-presidente da Associação do Marrocos e intitula-se representante da comunidade que invadiu o Conjunto Urucutuba, apartamentos que estavam sendo construídos pela Prefeitura. Está no Marrocos desde o começo e participou da ocupação. • Mohamed – 42 anos, casado, mora com a esposa e uma filha. Estudou até a 7ª série do ensino fundamental. Porteiro, renda familiar de dois salários mínimos. Faz parte da diretoria da Associação do Marrocos. Filiado ao PT. Está no Marrocos desde o começo. • Zoraide - 64 anos, solteira, mora com duas filhas e netos. Estudou até a 6ª série do ensino fundamental. É costureira e revende, na área da sua casa, as peças que produz. Seu rendimento é um salário mínimo. Recebe ainda o benefício do 34 Programa Bolsa Família, com o qual complementa sua renda. É presidente do Conselho Comunitário do bairro Santo Amaro e presidente da Associação do Marrocos e é delegada do OP. Devidamente apresentados nossos interlocutores, passemos agora à exposição da estrutura da dissertação. Esse trabalho foi desenvolvido em três capítulos, os quais descrevemos a seguir. No primeiro capítulo, apresentamos o debate contemporâneo e os diversos sentidos de disputas em torno da democracia; fizemos uma breve caracterização da redemocratização brasileira, com vistas a evidenciar a emergência e trajetória da gestão participativa em nosso país, com destaque para as primeiras experiências de OP, sobretudo a experiência de Porto Alegre, que surgiu a partir do final dos anos 1980 na tentativa de aprofundar a democratização da relação entre Estado e sociedade civil no Brasil. Percorremos esse caminho para chegar ao surgimento do OP em Fortaleza na perspectiva de delinear o contexto de sua emergência em nossa cidade. No segundo capítulo, tratamos da configuração e funcionamento do OP em nosso Município. Descrevemos e analisamos todo o processo de realização do OP, explicitando as principais modificações em sua estrutura e os desafios enfrentados nesse espaço de modo a consolidar uma gestão pública verdadeiramente participativa. Finalmente, no terceiro capítulo, buscamos elaborar uma análise interpretativa da participação e do OP por meio das percepções dos interlocutores de nossa pesquisa. Deste modo, apresentamos como se estabelecem as relações da Comunidade com OP e como isso tem influenciado a posição dos seus moradores em relação a este espaço. Por fim, apresentamos um balanço dessa experiência a partir da visão dos moradores do Marrocos. 35 2. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO BRASIL E O ALCANCE DA DEMOCRACIA NA CONTEMPORANEIDADE 2.1.Debate contemporâneo sobre Democracia: disputas por sentidos Temos observado no debate contemporâneo o uso de diferentes adjetivos para caracterizar a democracia. Representativa, minimalista, pluralista, liberal, deliberativa, participativa, são alguns elucidativos dessa qualificação que parece infinita. Este processo de adjetivação da democracia, conforme declara Ferraz (2009), constitui-se em debate político e teórico no qual se forma a disputa por sentidos para a democracia, que tem sua centralidade no confronto entre os modelos de democracia representativa e democracia participativa. Neste sentido, os adjetivos agregados à democracia são derivados desse confronto e demonstram o esforço de se distanciarem das concepções que restringem a democracia a um conjunto de regras para a tomada de decisões políticas, e de pensá-la para além de um conjunto de procedimentos, como um processo que cria valores e institui-se como modo de vida que orienta as mais diversas relações humanas. É importante aprofundarmos a discussão sobre estes dois modelos, apresentando o contexto em que a disputa entre eles se engendra e se acirra, assim como as diferenças mais radicais entre um e outro. De acordo com as elaborações de Santos e Avritzer (2009), é a partir do período pós-guerra que se intensifica o debate sobre a questão democrática, no qual assistimos à formação e consolidação de diversas concepções sobre a democracia. As formulações sobre democracia elaboradas por Schumpeter, em 1942, ainda durante o período entre guerras e no imediato pós-guerra, deram materialidade ao modelo elitista de democracia. Tendo como pano de fundo a discussão teórica e os dilemas práticos que envolviam a relação entre forma e conteúdo da democracia, o questionamento da 36 possibilidade de formação da soberania popular nas sociedades modernas/complexas é proposto por Schumpeter como um modelo de democracia que restringe as formas de participação e soberania em favor de um consenso em torno de um procedimento eleitoral para a formação de governos. Para ele, o conceito de democracia seria útil somente se a ideia da busca de bem comum fosse separada de suas finalidades e a democracia fosse transformada em um processo de escolha dos corpos governantes (AVRITZER, 2009). Segundo Pateman (1992), a teoria de Schumpeter influenciou as obras mais atuais sobre a teoria democrática, consolidando-se como concepção hegemônica da democracia no período denominado de segunda onda de democratização, que vai de 1943-1962. Partindo da análise de quatro teóricos contemporâneos da democracia – Berelson, Dahl, Sartori e Ecktein – Pateman apresenta, em linhas gerais, os principais postulados desta teoria da democracia. O elemento democrático característico deste método é a competição entre os líderes pelos votos do povo, em eleições periódicas e livres. As eleições são cruciais para o método democrático, pois é principalmente através delas que a maioria pode exercer controle sobre os líderes (...) as decisões dos líderes também podem sofrer influências de grupos ativos, que pressionam nos períodos entre eleições (PATEMAN, 1992, p. 25). Neste modelo, a participação é limitada somente à escolha daqueles que tomam as decisões, uma vez que a população, capaz apenas de compreender e de se interessar por assuntos dos quais tem experiência pessoal, não tem competência para debater e decidir sobre questões públicas. O que revela a existência de uma contradição ineliminável entre a governabilidade democrática e a participação política (PATEMAN, 1992; FERRAZ, 2009; DURIGUETTO, 2007). Para estes teóricos e para aqueles que compartilham de suas concepções, a ampliação da participação traria perigos para a estabilidade do regime. Nesse sentido, a apatia política não se configuraria como um problema, pois, de certa forma, ela se fazia necessária, uma vez que ao cidadão não caberia tomar parte nos processos decisórios (SILVA, 2003). 37 Assim, a democracia firma-se como um método político ou como uma série de arranjos institucionais para tomada de decisões políticas e administrativas. À medida que restringe a democracia a um regime político “eficaz”, baseado na apatia política e nas soluções meramente técnicas para as problemáticas sociais, a concepção elitista fornece terreno bastante fértil para expansão e consolidação da ordem econômica e social capitalista e das medidas neoliberais7 que despontavam nesse contexto. Todavia, Santos e Avritzer (2009) chamam-nos atenção para o surgimento também, no pós-guerra, de um conjunto de concepções alternativas de democracia, por eles denominadas de contra-hegemônicas, que irão entendê-la para além de uma prática restrita de legitimação de governos. As transformações vivenciadas no decorrer da segunda metade do século XX, a saber: a crescente ampliação da adoção da democracia como regime político liberal no mundo e a diminuição da sua profundidade e qualidade; a perda da capacidade popular de influenciar as decisões de governo (apesar das formalidades democráticas); a transnacionalização da economia, a redução da capacidade das instituições democráticas de regular as atividades econômicas; a hegemonia do pensamento socioeconômico neoliberal; as modificações profundas nos processos de produção (informatização, robotização, flexibilização), nas relações de trabalho; o aprofundamento das desigualdades econômicas e sociais; a “terceira onda de democratização” (HUNTINGTON apud FEDOZZI, 2008. p.10), que se consolida “a partir da independência dos países africanos, da redemocratização da América Latina, de países europeus (Portugal e Espanha em particular) e do fim das experiências socialistas na Europa Oriental” (FERRAZ 2009. p. 119); a emergência dos movimentos sociais, associações civis, organizações não- 7 O neoliberalismo, segundo Anderson (1995), surgiu na década de 1940 como reações teórica e política ao Estado de Bem-Estar Social (Welfare State); teve como texto de origem O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, o qual atacava o modelo de desenvolvimento centrado na intervenção estatal. Contudo, somente a partir dos anos 1970, devido à profunda recessão e estagnação da economia capitalista, que as ideias neoliberais são retomadas para assumir proporções prática e universal em defesa da soberania do mercado. As medidas adotadas, a partir deste período, pelos governos europeu e norte-americano, dos quais a Inglaterra de Thatcher e os Estados Unidos de Reagan são expoentes, vão expressar evidente consonância com o ideário neoliberal: redução do Estado, no que diz respeito aos gastos sociais e às intervenções econômicas; abertura da economia para os investimentos externos; estabilidade monetária, através das reformas fiscais, de modo a produzir reduções dos impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas e incentivar os agentes econômicos. 38 governamentais em torno dessas variadas questões e o crescimento da importância de seu papel na articulação dos indivíduos e grupos, na tematização de seus problemas e na organização de suas reivindicações, influenciaram o processo de ressignificação da democracia. Conforme nos assevera Ferraz, a manifestação desses novos atores sociais coletivos, com uma configuração bastante diferente da configuração de partidos políticos, colocou em xeque o processamento de conflitos, a discussão de temas públicos e a tomada de decisões nas instâncias representativas, denunciando sua incapacidade para representar eficazmente a pluralidade e diversidade de identidade e demandas emergentes, exigindo uma interlocução direta com o Estado, a construção de novas mediações e canais de diálogo (idem). Assim, a concepção participativa da democracia ou a democracia participativa opõe-se à perspectiva elitista ao reconhecer a pluralidade dos membros que compõem a sociedade e ao sustentar a necessidade de uma participação mais efetiva destes sujeitos sociais nas diferentes instâncias políticas de discussão dos assuntos públicos, imprimindo modificações das regras e procedimentos institucionais que podem gerar uma nova dinâmica democrática no sistema político. Esta dinâmica democrática estaria centrada na influência que os sujeitos coletivos presentes na sociedade civil pudessem exercer, em termos de demandas e controle, sobre o aparato estatal (DURIGUETTO, 2007). Neste modelo, a participação refere-se ao envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões, e a igualdade política diz respeito à igualdade de poder na determinação das consequências das decisões, definição bastante diferente daquela fornecida pela teoria elitista (PATEMAN, 1997). A prática da participação é visualizada como um elemento fundamental para o desenvolvimento dos sujeitos à medida que é capaz de lhes despertar interesse e compromisso com as questões coletivas e públicas. Para tanto, faz-se necessária a construção de canais para que a participação possa efetivar-se por vias diferentes dos mecanismos políticos tradicionais (partidos e parlamentos). Deste modo, a ampliação dos participantes no debate e nas decisões que dizem respeito à vida coletiva e a criação de formas para a inclusão da pluralidade desses atores no debate democrático têm se constituído o permanente desafio daqueles que defendem a 39 democracia participativa. As experiências examinadas nos últimos anos, no Brasil e no mundo, registram a articulação e complementaridade entre democracia representativa e democracia participativa, nas quais há manutenção das instâncias representativas tradicionais e a criação de arranjos participativos envolvendo Estado e Sociedade civil (SANTOS, 2009). No Brasil, destacam-se como espaços desse tipo: os conselhos de direito de gestão de políticas sociais; as conferências; fundos públicos de financiamento para as políticas sociais específicas, nos três níveis de governo; e o Orçamento Participativo(OP), nosso objeto de análise neste estudo. Porém, antes de percorrermos as trilhas da experiência inaugural do OP, no Brasil, apresentamos a seguir, o contexto sócio-histórico e político-cultural de redemocratização brasileira no qual emergem estas experiências de gestão participativa. 2.2.Redemocratização brasileira: emergência e trajetória da gestão participativa A observação de nossa história social e política nos mostra que a criação de espaços para a participação da sociedade na gestão das políticas públicas é algo recente. Resultado da efervescência política iniciada ainda nos anos 1970, na luta contra o Estado ditatorial, estendendo-se até os anos 1980 com a atuação da sociedade civil na luta pela redemocratização. Neste período, destacamos a emergência dos chamados novos movimentos sociais que colocaram em pauta suas reivindicações específicas provocando a redefinição dos direitos. Tais reivindicações trouxeram para a conjuntura brasileira a discussão e o nascimento de novas demandas sociais, fazendo emergir mudanças significativas nos processos decisórios das políticas sociais, com a abertura de novos canais de interlocução e de atuação da sociedade civil. O ápice deste processo foi a publicação da Constituição Federal de 1988, que incorporou vários elementos colocados em pauta por estes segmentos organizados, de modo a efetivar a construção do que se convencionou chamar de gestão participativa, a saber: Um conjunto de processos de tomada de decisão que viabilizam ou permitem a participação direta de representantes da sociedade civil, envolvendo a organização e o manejo de recursos organizativos, financeiros, humanos e técnicos, sendo materializada em um conjunto de mecanismos ou canais institucionalizados de participação: conselhos de gestão de políticas, comissões e comitês, conferências, peorçamentos participativos, entre outros (SILVA, 2001, p.17). 40 O surgimento de práticas participativas de gestão local possibilitava romper, em nível legal, com a centralização das decisões e recursos no nível federal, definindo a atuação articulada entre os níveis federais, estaduais e municipais, conferindo-lhes mais autonomia. Nesse aspecto, o poder local adquiriu relevância enquanto espaço político, “no qual se expressam a representação, a aliança e a disputa de interesses na formulação e execução de políticas públicas” (idem). É importante ressaltar, porém, que, em nosso país, a construção de uma gestão pública, participativa, efetivamente democrática tem se deparado com obstáculos de dupla procedência: uma decorrente da estrutura autoritária de nossa sociedade (CHAUÍ, 2004); e outra proveniente dos processos de reforma do Estado, que buscam uma nova racionalidade na administração pública, onde a desregulamentação e o equilíbrio fiscal passam a ser condição para a eficiência e eficácia das políticas. Essas ideias são materializadas em programas de governo implementados nos níveis municipal, estadual e federal, no final dos anos 1980, e mais precisamente nos anos 1990, iniciando no governo Collor e aprofundandose no governo de Fernando Henrique Cardoso (TATAGIBA, 2003). A primeira evidencia-se na reprodução de velhas práticas e tendências de nossa cultura política8 nas novas relações entre Estado e sociedade civil inauguradas na construção do regime democrático brasileiro (NEVES, 2008). Nesse sentido, conforme nos alerta Raichelis e Wanderley (2004, p. 19): A gestão pública estratégica é afetada por processos históricos e estruturais, tais como: a modernização conservadora, a recorrência de surtos autoritários, o clientelismo, a corrupção institucionalizada, um Estado precocemente atrofiado e multifacetado cujas ligações com os interesses societais foram permeadas basicamente por duas orientações: uma racional – legal e outra patrimonialista. 8 Para definição do termo cultura política, tomamos como base as elaborações de Alvarez, Dagnino e Escobar (2000, p.17) que a apreendem como “concepção de mundo, como conjunto de significados que integram práticas sociais, [que] não pode ser entendida adequadamente sem a consideração das relações de poder embutidas nessas práticas”. E ainda, as afirmações de Gohn (2008, p.34) que a concebem como “um conjunto de valores, crenças, atitudes, comportamento sobre a política, entendida como algo além daquela que se desenrola nos parlamentos, no governo, ou no ato de votar. Política, relativa à arte de argumentação e do debate dos temas e problemas públicos. A cultura política envolve também símbolos, signos, mitos e ícones que expressam, catalisam os sentimentos, as crenças compartilhadas, sobre a ação dos indivíduos, agindo em grupos, em função da política”. 41 Embora os ideais de democracia direta, participação popular e autonomia local constituíssem a pauta principal da agenda política brasileira, a reprodução “das marcas do passado (MARTINS,1994) aprofundavam a tutela e a manipulação por parte do poder executivo sobre os mecanismos de participação. Conforme sugere Avritzer (2002), as inovações políticas trazidas pela redemocratização misturavam-se aos resquícios do autoritarismo, clientelismo e patrimonialismo presentes na vida social brasileira. Assim, mesmo com a mudança do regime político, nossa tradição política, encontrava espaço para sua perpetuação. No trecho abaixo, Martins (1994,p.20) nos explica melhor esta reincidência: A dominação política patrimonial, no Brasil, desde a proclamação da República, pelo menos, depende de um revestimento moderno que lhe dá uma fachada burocrático-racional-legal. Isto é, a dominação patrimonial não se constitui, na tradição política brasileira, em forma antagônica de poder político em relação à dominação racional-legal. Ao contrário, nutre-se dela e a contamina. Deste modo, podemos afirmar que nossa “histórica trajetória de autoritarismos” (FEDOZI, 2008) tem se constituído como um grande óbice à consolidação de uma esfera pública9 democrática. O segundo fator importante a considerar, para compreendermos os desafios a serem enfrentados no movimento de estruturação e consolidação da gestão participativa no Brasil, consiste em perceber que o processo de democratização no Brasil instaura-se em um contexto internacional de retrocessos, de ajuste estrutural. A submissão de nosso país a esse ideário de ajustes também estimulou os traços autoritários, clientelistas/personalistas e patrimonialistas que perpassam nossa formação sócio-histórica. Traços político-culturais que se expressam mediante a sujeição da atividade política à gestão dos interesses particulares, da privatização dos direitos, em que o cidadão deixa de compartilhar direitos iguais e universais, e passa a acessá-los por meio do mérito e da disponibilidade financeira via consumo (SANCHEZ, 2002). Freire (2001), fazendo coro com 9 Esfera pública aqui entendida como espaço de representação, interlocução e negociação dos diferentes interesses sociais, um lugar central de justificação das decisões políticas previamente acertadas,conforme nos afirma Costa (2002, p.12), “a esfera pública diz respeito mais propriamente a um contexto de relações difuso no qual se concretizam e se condensam intercâmbios comunicativos em diferentes campos da vida social”. 42 Sanchez, afirma que o ideário neoliberal encontra na cultura política brasileira pressupostos favoráveis para sua reprodução. Nas palavras da autora: É importante destacar que o Brasil é uma sociedade marcada por formas políticas de apropriação da esfera pública em função dos interesses particularistas de grupos poderosos. [...] as classes dominantes do país se acostumaram a fazer do Estado brasileiro seu instrumento econômico, privado por excelência. Desse modo, o discurso neoliberal tem assombrosa recepção ao atribuir o título de modernidade ao que existe de mais conservador e atrasado na sociedade brasileira: fazer do interesse privado a medida de todas as coisas, obstruindo a esfera pública, anulando a dimensão ética da vida social pela recusa das responsabilidades e obrigações do Estado (FREIRE, idem, p.169). Conforme afirma Dagnino (2004a), o projeto do ajuste também se apropria e desloca os significados dos elementos centrais do projeto democratizante – sociedade civil, participação e cidadania – de modo a torná-los funcionais a implementação de seus objetivos, produzindo o que autora denominou de “confluência perversa”. Perversa, no entender da autora, porque homogeneíza estes vocabulários e dissolve as diferenças de sentidos em disputa, uma vez que, aparentemente, os dois projetos falam da mesma coisa ao requererem uma sociedade civil propositiva e atuante. A redefinição da noção de sociedade civil talvez seja a que mais tenha se destacado no âmbito da hegemonia desse projeto, conforme assegura Dagnino (idem, p. 100), o crescimento acelerado e o novo papel desempenhado pelas Organizações NãoGovernamentais; a emergência do chamado Terceiro Setor e das Fundações Empresariais, com forte ênfase numa filantropia redefinida; e a marginalização dos movimentos sociais, evidenciam esse movimento de redefinição. Observamos, assim, que a noção da sociedade civil é reduzida a simples atuação das organizações sociais, a exemplo, das associações filantrópicas, organizações comunitárias e Organizações Não Governamentais (ONGs), ações voluntárias, filantropia empresarial, que produzem bens e serviços, constituindo assim um setor não governamental, chamado de “terceiro setor”, que juntamente com o Estado e o mercado inauguram novas formas de regulação social (SILVA, 2003; CARVALHO, 2005). Essa redução é funcional ao enfraquecimento e diminuição das responsabilidades sociais do Estado, uma vez que 43 prescreve a transferência e atribuição de bens e serviços de natureza pública para as organizações da sociedade civil (DURIGUETTO, 2005; SIMIONATTO, 2001). No discurso do ajuste, a concepção de participação vincula-se a esta reconfiguração da sociedade civil e traduz-se “na relação de corresponsabilidade e de divisão de tarefas com o Estado para a resolução das crises econômica e social” (SILVA, 2003, p.110). Nesse contexto, a participação assume papel estratégico, deste modo, a participação e o compromisso dos atores locais colocam-se como fundamental, não só tendo em vista a cooperação, no sentido da mobilização de recursos (humanos, econômicos) e o direcionamento das ações dos agentes públicos e privados, como também para evitar conflitos, ou seja, legitimar o plano e as ações daí decorrentes perante o conjunto da sociedade (TATAGIBA, 2003, p. 21). Em outro trabalho, a autora nos mostra como a participação reduz-se a um instrumento indispensável à reorganização dos processos de gestão, visando ao aumento da eficiência e da eficácia das políticas implementadas, principalmente na área social, em suas palavras, como ‘ferramenta de gestão’ a participação sintoniza a administração pública com o tempo novo, incerto e dinâmico de uma sociedade globalizada e profundamente complexa que exige a superação das formas convencionais, burocráticas e hierárquicas de gestão (...) Nesse diapasão, o tom fortemente contestador que compunha a retórica participacionista se dissolve no discurso técnico e supostamente neutro da moderna gerência, num evidente deslocamento do tema do conflito em favor da temática da eficiência e eficácia das políticas (TATAGIBA, 2009, p.149,150). Tal compreensão difere-se totalmente da participação proposta pelo movimento da redemocratização, que se articulava em torno de projetos coletivos, de interesses universais, e que apontava na direção da viabilização da dimensão pública das políticas sociais, do controle social na sua gestão, na afirmação e reconhecimento de direitos, de implementação da cidadania ativa para a construção de novos tipos de relações sociais (SIMIONATTO, 2001; DAGNINO, 2004a). Na ressignificação da cidadania, observamos a reconstituição da cidadania civil, originária da época moderna do Estado de Direito Liberal, legitimada pela priorização dos interesses privados em detrimento da cidadania social, em que os sujeitos coletivos em busca 44 de direitos exigem a construção de espaços públicos nos quais suas lutas político-culturais, reivindicações, interesses e necessidades possam ser reconhecidos. Em consequência disto, defrontamo-nos com os riscos de esvaziamento, redução e anulação da política, expressa na fragilização dos espaços públicos democráticos, na exacerbação dos interesses individuais e particularistas, e na desmobilização da sociedade em torno das lutas coletivas (BEZERRA, 2007). Delineia-se, portanto, nesse percurso, o embate entre dois projetos políticos antagônicos que dão tons diferenciados à gestão democrática no Brasil. De um lado, como vimos, temos o “projeto participativo democratizante” (DAGNINO, 2004a, p.05), fruto das lutas populares pela democratização nos anos oitenta, que pressupõe a participação como o direito de tomar parte na definição da própria sociedade, de modo a modificar a correlação de poder e, em última instância, apontar para a invenção de uma nova sociedade. De outro, o projeto neoliberal, que recorre ao princípio da participação apenas como recurso da democracia, em moldes gerenciais10, de modo a cumprir formalidades para acesso e otimização de recursos. Foi neste contexto repleto de dificuldades e tensões que se introduziram, no cenário político brasileiro, os arranjos participativos. Segundo nos previne Dagnino (2004a), faz-se necessária, ao analisarmos esses espaços, a percepção da disputa política entre projetos políticos11, concepções de democracia e participação que condicionam o contexto de sua criação e de seu funcionamento. Um balanço da literatura que analisa as experiências participativas nas políticas públicas, especialmente as experiências de Orçamento Participativo e Conselhos gestores de 10 O projeto gerencial de democracia que “está voltada a um vínculo mais estreito com os interesses particulares, com a resolução de problemas e com o atendimento a demandas específicas, oferece grandes obstáculos à efetividade e auto-sustentação dos instrumentos de democracia participativa (...) evidencia uma participação descolada de uma dimensão política, interativa e negocial (CARLOS, 2009, p. 225). 11 Enunciado por Dagnino (2004a, p.98), a partir da compreensão gramsciana de visão de mundo, como um conjunto de valores, crenças, interesses acerca do que é e do que deve ser a sociedade e do que orienta a ação política dos diferentes sujeitos sociais. Ou seja, os projetos políticos não se reduzem a estratégias de atuação política no sentido estrito, mas expressam, veiculam e produzem significados que integram matrizes culturais mais amplas. 45 políticas públicas (ALBUQUERQUE, 2004;; AVRITZER, 2002; CARLOS 2009; GENRO & SOUZA, 1997; SÁNCHEZ, 2002; SANTOS, 2009; SILVA, 2001; SILVA, 2003; TATAGIBA, 2009), indica-nos que, ao mesmo tempo em que podem proporcionar um espaço de maior interlocução, transparência e controle social no qual o cidadão passa a ser protagonista ativo no processo da gestão pública, esses espaços podem também fazer parte de uma estratégia de despolitização do debate público e de fortalecimento da apatia política. Ou seja, a criação desses arranjos participativos podem tanto potencializar uma participação de novo tipo, plural, aberta, fundamentada no debate, quanto bloquear essa possibilidade (FERRAZ, 2009). Levando em consideração a trama dessa tessitura contraditória, apresentaremos a emergência do Orçamento Participativo no Brasil, tomando como referência a experiência de Porto Alegre, criada em 1989, uma vez que se tornou inspiração para a implantação deste espaço e de outras várias formas de participação nos âmbitos nacional e internacional12. Bem como, a sua implantação no município de Fortaleza 16 anos depois da construção dessa experiência em nosso País. 2.3.O Orçamento Participativo: caminhos da democratização da relação Estado e sociedade civil no Brasil? Conforme já explicitamos, os OP’s surgiram, no Brasil, no período de redemocratização do País. Momento em que atores das classes subalternas, diante de um contexto de modernização excludente, entram em cena na tentativa de modificar a relação Estado e sociedade civil no Brasil. E ainda, momento em que os partidos considerados de esquerda têm a oportunidade de galgarem níveis de poder, fato inédito em nossa história política (FEDOZI, 2008). Foi exatamente nas cidades em que estes partidos, sobretudo o Partido dos Trabalhadores (PT), passaram a governar que a implantação e ampliação dessas inovações foram viabilizadas. 12 Segundo Avritzer (2003), o OP está presente em 103 municípios brasileiros e também em três países (Uruguai, Espanha e França). Conforme afirmação do autor, essas experiências de participação reivindicam a sua similaridade com a chamada experiência de Porto Alegre. 46 As experiências pioneiras foram criadas nas cidades de Porto Alegre e Vitória, em 1989, e Belo Horizonte, em 1993. Todas elas executadas por gestões do PT. Todavia, o OP de Porto Alegre destacou-se nacional e internacionalmente como prática emblemática de democracia participativa em contextos complexos. Esta experiência tem sido alvo de uma vasta produção teórica e devidamente reconhecida como uma experiência bem-sucedida e inspiradora para a implantação deste espaço em outros municípios do País (AVRITZER,2003; FEDOZI, 2008), como foi o caso de Fortaleza-Ce. Por isso, tomamos como referência para evidenciar a inauguração, no País, da participação dos cidadãos nas discussões de elaboração do orçamento público. Dois fatores, conforme observa Avritzer (idem), nos auxiliam a compreender o contexto propício ao surgimento do Orçamento Participativo em Porto Alegre. O primeiro fator relaciona-se à prévia disputa eleitoral entre partidos ligados à esquerda no Município. A presença de governos destes partidos em Porto Alegre é um fato incontestável. No período que vai de 1947 a 1963, o PTB (Partido dos Trabalhadores Brasileiros) foi o partido mais votado na Câmara Municipal de Porto Alegre. Na redemocratização, observa-se no Município a formação de uma forte oposição de centro-esquerda protagonizada, principalmente pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido dos Trabalhadores (PT). Ambos tinham em suas propostas o incentivo a políticas participativas. Na primeira eleição municipal, o PDT sai vitorioso e dá os primeiros passos rumo à participação da população na gestão do Município e institui os “conselhos populares” que seriam responsáveis pela fiscalização do governo. Segundo a análise de Santos (2009), tal experiência não foi exitosa devido à ligação direta dos conselhos criados com o próprio PDT 13 . Todavia, é inegável a influência destes pequenos passos na criação de um terreno propício às práticas participativas na cidade. 13 Conforme nos adverte Santos (2009), o novo prefeito eleito pelo PDT decretou o estabelecimento de conselhos populares na cidade, mas, em termos reais, continuou a exercer o poder municipal à velha maneira paternalista e clientelista, frustrando as expectativas democráticas e descumprindo a maior parte das propostas eleitorais. 47 Em 1988, PDT e PT disputam novamente a prefeitura. Ambos defendiam a “participação” como proposta para o governo municipal, caracterizando a disputa pelo debate em torno de políticas participativas. Avritzer (2003) nos chama atenção para este fato, verificável apenas em Porto Alegre. Em outras cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo e Belo Horizonte, a disputa política-eleitoral ocorreu em torno de propostas a favor e contra a participação. Um segundo fator seria a presença de elementos associativos mais fortes no Município do que no resto do País. Na década de 1960, Porto Alegre já apresentava uma tradição de associativismo mais reivindicativo, com objetivos humanistas e antipaternalistas expostos na Liga Interbairros Reinvidicatória e Assessorada (AVRITZER,2003). Ainda segundo afirma Avritzer (idem), esses objetivos, na década de 1980, evoluem e dão origem à reivindicação da União de Associações dos Moradores de Porto Alegre (UAMPA), de intervenção direta da população no orçamento municipal, em resposta à proposta de conselhos populares do governo Alceu Colares (PDT), o primeiro prefeito eleito democraticamente depois do período autoritário. A UAMPA elaborou um documento que expressava a forma de participação almejada pelo movimento comunitário. Apresentou, assim, o embrião do Orçamento Participativo considerado, primeiramente, como produto da prática política dos movimentos sociais. De acordo com documentos da UAMPA: O mais importante na Prefeitura é a arrecadação e a definição de para onde vai o dinheiro público. É a partir daí que vamos ter ou não verbas para o atendimento das reivindicações das vilas e bairros populares. Por isso, queremos intervir diretamente na definição do orçamento municipal e queremos controlar a sua aplicação (UAMPA apud Avritzer, 2002, p. 574). Santos (2009) e Lüchmann (2002) também enfatizam o padrão associativo de Porto Alegre e exaltam a atuação da sociedade civil, adjetivando-a de forte e organizada, que resistiu ferozmente à ditadura militar. Essa sociedade centrou suas atividades no fortalecimento dos sindicatos e de movimentos comunitários que possuíam tanto uma luta de natureza mais geral como se ocupavam de reivindicações específicas, a exemplo da luta pela habitação, pela pavimentação de ruas, dentre outras. De tal modo que, no início dos anos 48 1980, existia na cidade “um movimento popular poderoso e diversificado que se envolveu profundamente na administração local” (SANTOS, idem, p. 464). Assim, destacamos a tradição associativa desta cidade indispensável à intervenção da população nas decisões acerca do Orçamento Participativo. Em 1988, como desfecho da disputa político-eleitoral, o Partido dos Trabalhadores (PT) vence as eleições com Olívio Dutra. Em seu programa de governo, o PT propunha democratizar as decisões a partir de Conselhos Operários14. Na análise de Genro e Souza (1997, p. 23): “A ideia era transferir gradativamente o poder à classe trabalhadora organizada, de maneira que a representação política tradicional proveniente das urnas fosse substituída pela democracia direta”. Nesse sentido, observamos que o Partido dos Trabalhadores não tinha originalmente uma proposta de Orçamento Participativo, e sim uma proposta genérica de participação da população na gestão da cidade. Foi, portanto, por meio do diálogo estabelecido com a população e fundamentado na preocupação das associações comunitárias com o controle do orçamento público e sua definição local que o OP surge. E foi somente em seu segundo ano de mandato que o governo de Olívio Dutra institucionaliza o Orçamento Participativo em Porto Alegre (AVRITZER, 2002). Em Porto Alegre, o OP caracteriza-se pela participação direta da população em diferentes fases de preparação e de deliberação orçamentária, de forma a apresentar os seguintes princípios para a sua realização: participação de todos os cidadãos; combinação de regras de democracia direta e democracia representativa, realizada por meio das instituições que estabelecem uma mediação e interação permanente entre as organizações comunitárias e as unidades administrativas do Executivo; descentralização dos processos decisórios; utilização de método objetivo de definição das prioridades e alocação dos recursos públicos (SANTOS, 2009). 14 “No seu programa, o PT defendia a ideia de conselhos operários, inspirados na concepção marxista, que gerariam conselhos da cidade, que, por sua vez, constituiriam uma forma paralela de administração” (AVRITZER, 2002, p. 574). 49 O ciclo do OP articula-se em torno de dois eixos: as discussões regionais15 e as plenárias temáticas16. O processo participativo nas discussões sobre a distribuição dos recursos públicos, tanto em nível regional como em relação à temática, realiza-se, por sua vez, em duas etapas: na primeira etapa, a participação dos interessados é direta, por meio de reuniões preparatórias das assembleias plenárias regionais, das assembleias plenárias temáticas; e na segunda etapa, a participação ocorre por meio da constituição do Fórum Regional do Orçamento, do Fórum Temático do Orçamento e do Conselho do Orçamento Participativo (COP). Nas assembleias são apresentados, respectivamente, o relatório de execução do plano de investimento aprovado para o orçamento em vigor e as propostas priorizadas pela população para compor o orçamento do próximo ano. Os Fóruns Regional e Temático - compostos pelos representantes da população eleitos nas assembleias regionais e nas plenárias temáticas - têm por função o controle social, o monitoramento da implementação das deliberações e a promoção de um maior envolvimento da comunidade nas atividades do OP. O Conselho do Orçamento Participativo, principal instituição participativa do OP, discute e estabelece, junto ao poder público, os critérios gerais para distribuição dos recursos, representando e defendendo as prioridades das regiões e dos temas escolhidos pelos cidadãos (SANTOS, idem). Apesar da consolidação exitosa do OP em Porto Alegre, não se pode fechar os olhos para as várias dificuldades e tensões que permeiam esse processo. Conforme nos assevera Navarro (2003), a apreensão desses limites é algo recente, pois o primeiro ciclo de ascensão do OP gerou um conjunto de estudos e pesquisas idealizantes, relativamente otimistas, porém quase sempre incapazes de revelar as contradições e impasses presentes no seu desenvolvimento. Somente nos últimos anos, afirma o autor, as análises sobre este espaço começaram a indicar alguns dos impasses do OP e revelar limites obscurecidos nos estudos anteriores. 15 Nas discussões regionais, os moradores dos bairros de cada uma dessas regiões reúnem-se para definir e escalonar as exigências e prioridades regionais, eleger os delegados e os conselheiros e avaliar o desempenho do executivo (AVRITER, idem; SANTOS, 2009). 16 As plenárias Temáticas: “dizem respeito a cinco áreas - saúde e assistência social, transporte e circulação, organização e desenvolvimento da cidade, cultura e lazer e desenvolvimento econômico. O critério de participação é o interesse pelo tema” (AVRITZER, idem, p. 578). 50 A análise da literatura que examina as experiências de Porto Alegre (AVRITZER, 2002; ALBUQUERQUE, 2004; FEDOZI, 2008; GENRO E SOUZA, 1997; SÁNCHEZ, 2002; SANTOS, 1999; SILVA, 2004) nos mostra o tom celebrativo de grande parte desses estudos, que percebem no OP a formação e consolidação da cidadania. Nessa ótica, este espaço de participação possibilitaria um maior protagonismo do cidadão na gestão dos recursos de investimento da cidade, bem como uma maior transparência e controle social do orçamento público, até então intocável, devido à dificuldade da população para entendê-lo e também pela má vontade política dos governantes em torná-lo compreensível para os cidadãos. Genro e Souza (idem,.p. 46) elucidam veementemente essa compreensão ao afirmarem: A principal riqueza do Orçamento Participativo é a democratização da relação Estado com a sociedade. Esta experiência rompe com a visão tradicional da política, em que o cidadão encerra a sua participação política no ato de votar, e os governantes eleitos podem fazer o que bem entenderem, por meio de políticas populistas ou clientelistas. O cidadão deixa de ser um simples coadjuvante da política para ser protagonista ativo da gestão pública. Avritzer (2002) conclui que, em Porto Alegre, o conhecimento da população acerca do processo administrativo da cidade foi ampliado ao longo do tempo de participação. Assim, o OP possibilitou a geração de grupos de participantes ativos que adquiriram um conhecimento sobre as questões técnicas, de maneira a superar algumas desvantagens dos modelos administrativos elitistas, nos quais os órgãos técnicos tinham as prerrogativas absolutas nesse processo. Em consonância com esta assertiva, Albuquerque (2004) afirma que as práticas do Orçamento Participativo têm um grande potencial modernizador e democratizador da gestão pública de forma a contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão mais geral dos problemas da cidade por parte da população que, ao participar das plenárias do OP, se depara com demandas das diversas regiões do município. Segundo a autora, ao propiciar o conhecimento e a disputa entre estas demandas, o Orçamento Participativo também contribui para a criação de espaços de lutas coletivas em que são construídos parâmetros públicos, procedimentos de transparência que tensionam e podem superar critérios particulares, comunitários ou partidários na gestão dos recursos públicos, e ainda promover a articulação 51 das políticas setoriais do município. Para Santos (1999), o Orçamento Participativo tornou-se fundamental para o estabelecimento de um espaço político autônomo de decisões públicas, um espaço público de debate e decisão, bem como de confrontação de interesses e demandas. Não obstante ao reconhecimento das potencialidades do OP, Navarro (2003) certifica que o mecanismo instituído em Porto Alegre materializou apenas parcialmente as perspectivas e promessas formuladas em seu início, sobretudo aquelas relacionadas aos processos sociopolíticos e às mudanças “eficazes” de práticas sociais presentes nos discursos políticos. A fim de evidenciar, sumariamente, alguns dos impasses e dilemas observados na estruturação e desenvolvimento desse processo, tomamos como referência os estudos de Lüchmann (2002), Navarro (2003) e Santos (2009). Um primeiro limite evidencia-se nas relações de desigualdades existentes no âmbito do OP entre os participantes e seus representantes e entre estes e o governo. Os dados levantados por Lüchmann (idem) mostram que, apesar de propor a ampliação e pluralização da participação social, os setores que se encontram em situação de extrema pobreza têm muitas dificuldades de se mobilizarem para demandar prioridades junto ao OP. Este fosso amplia-se na relação com os representantes que são eleitos nas assembleias e fica mais evidente quando os dados referentes às condições de renda e escolaridade desses conselheiros e delegados são comparados com os dos participantes do OP de modo geral. A pesquisa da autora mostra que a faixa de renda que concentra o maior número de eleitos é a faixa de dois a quatro salários. Em relação ao nível de escolaridade, há uma sub-representação daqueles que possuem níveis mais baixos de escolaridade e uma sobre-representação dos que possuem ensino médio completo As relações de desigualdades entre os participantes e o governo, conforme nos propõe a autora, ocorrem no que se refere ao conhecimento e informação. Santos (idem) também destaca esse impasse ao afirmar que os atores governamentais controlam o conhecimento técnico e têm acesso privilegiado às informações. O peso da equipe governamental na determinação dos critérios técnicos para a escolha e priorização das 52 demandas tem sido central. O que atesta a forte influência do governo no processo decisório e coloca em xeque a autonomia deste espaço. A problemática da autonomia frente ao poder público municipal é um dos principais gargalos evidenciados na prática do OP. Para Lüchmann (idem), o grau de institucionalização e absorção da participação social junto ao OP, aliados a forte presença do Estado na condução do processo, representa um risco constante à participação autônoma dos sujeitos participantes. Segundo a autora, no OP de Porto Alegre, os atores político-estatais assessoram e mobilizam as comunidades, exercendo um papel que antes era exclusivo de lideranças comunitárias, organizações comunitárias e agentes externos dos movimentos sociais. Assim, ao configurar-se como ator central de articulação e organização da sociedade no OP, o governo passa a enfraquecer e fragmentar as organizações e articulações sociais amortecendo a sua combatividade. Navarro (2003) é mais contundente ao afirmar que o OP foi feito refém de uma agenda política partidária. Para ele, essa situação bloqueia a potencialidade do processo. E para romper com este óbice, faz-se necessário tornar o processo efetivamente autônomo, liberto das amarras partidárias e do controle governamental que subordinam sua estrutura. O cenário ora apresentado nos deixa atentos às dificuldades e limites dessa experiência na medida em que se encontra fortemente ancorada em realidades pautadas por relações de exclusão e desigualdades sociais. E, ainda, na medida em que se mantém fortemente atrelada à vontade política do governo municipal. Contudo, não podemos deixar de reconhecer o sucesso do OP em Porto Alegre, sobretudo no que diz respeito ao seu caráter redistributivo, devidamente demonstrado nos estudos de Marquetti (2003). E por afirmar que o bom êxito de sua consolidação está atrelado à articulação de um conjunto de condições favoráveis, dentre as quais destacamos: a tradição associativa local; a vontade e o comprometimento político do governo de encorajar a 53 participação popular; e as próprias condições sócio-históricas e político-culturais pelas quais passavam o País no período de sua emergência (LÜCHMANN, 2002; AVRITZER, 2009). Este contexto, porém, difere-se totalmente daquele em que emerge o OP em Fortaleza, tema que trataremos na próxima seção de modo a evidenciar alguns elementos significativos que marcam o cenário de sua implementação em nosso município. 2.4.Cenário de implementação do Orçamento Participativo em Fortaleza Em Fortaleza, a implantação do Orçamento Participativo iniciou-se em 2005 como fruto do Programa de Governo da então prefeita Luizianne Lins, também do Partido dos trabalhadores (PT). Sua gestão trazia como um dos lemas principais a participação e a democratização dos processos de gestão da cidade, conforme expõe a citação abaixo: A gestão democrática e popular tem na participação dos homens e mulheres da cidade seu pilar central. O diferencial da nossa gestão será a alteração da cultura política da cidade e da máquina pública municipal. Não queremos fomentar ideias salvacionistas ou ilusões burocráticas. O poder público deve estar a serviço da satisfação da maioria da população e sob controle direto dessa (PROGRAMA DE GOVERNO “POR AMOR A FORTALEZA, 2004, p. 12). É a partir desta concepção que a proposta do Orçamento Participativo emerge em Fortaleza. Porém, as discussões sobre sua implantação aconteceram ainda no período eleitoral quando a então candidata adotou como princípio a participação popular para montar seu programa de governo. Sua coligação percorria a cidade a fim de levantar as ansiedades e propostas da população (GADELHA, 2010). O artigo publicado na Revista do OP confirma essa posição: Em 2004, durante as eleições municipais, a coligação Fortaleza Amada propôs a superação dos padrões tradicionais de se fazer política na capital cearense e estabeleceu como um de seus princípios de governo a participação popular. Essa já era uma demanda reivindicada pela sociedade civil organizada, que cobrava da gestão municipal a abertura ao projeto popular proposto; e foi uma bandeira recorrente nas vinte e duas plenárias populares que formaram o projeto de governo que levaria Luizianne Lins ao comando da cidade (FORTALEZA, 2009, p.22). 54 O excerto acima nos apresenta um dado muito importante sobre a emergência do OP em Fortaleza, qual seja, o envolvimento da sociedade civil na sua proposição. Desta forma, o surgimento do OP vincula-se à luta de alguns grupos da sociedade civil fortalezense que ao conhecer, em 2000, no Fórum Social Mundial, a experiência do OP em Porto Alegre, resolveram reivindicá-lo em Fortaleza. Tal afirmativa está presente na fala de um dos conselheiros do OP em entrevista cedida a Arão (2009, p. 106): O Orçamento Participativo a gente vem brigando desde 2000, quando nós fomos para o Rio Grande do Sul e participamos do Fórum Social Mundial [...] o primeiro foi no Rio Grande do Sul e nós já começa aquela luta, porque no Rio Grande do Sul havia um movimento muito forte sobre o OP e a execução do OP e de lá pra cá a gente vem sempre brigando, nessas gestões do Juraci Magalhães e chegou a oportunidade da gente fazer a campanha da Luizianne e conseguimos vencer as eleições, em cima de pau e pedra a gente conseguiu vencer as eleições e através dessas lutas da gente, a gente conseguiu uma melhor compreensão por parte da prefeita que o OP era de necessidade a gente participar e ela com o compromisso que ela teve, ela botou em prática, porque não é só ter o compromisso tem que botar em prática e daí nós começamos a desenvolver o OP [...] Eu sou um dos fundadores, desde 2000 que eu venho com essa luta, junto com outros companheiros da Central Única do Trabalhadores (CUT), da Federação de Bairro e Favelas, da União das Comunidades. Outra alocução que nos remete à participação da sociedade civil na luta pela implantação do OP em Fortaleza é da presidente da Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza em entrevista a Gadelha (2010, p.104): O orçamento participativo a gente precisa em primeiro lugar falar de que ele não apareceu por aparecer. Ele é uma luta de todos os movimentos populares, de décadas aí que vem lutando para que a gente possa participar do orçamento participativo. Por fim, transcrevemos a entrevista da ex-coordenadora do OP à Revista do OP, que também afirma o envolvimento da sociedade civil na formação local do OP: Além de ser a tradição no modo petista de governar, de criar esses canais para a participação popular, a gente tinha na Cidade uma sociedade civil fortemente organizada que também reivindicava essa participação. (FORTALEZA, 2009, p. 14). 55 Assim, confirmamos que, embora o projeto governamental e a decisão política da gestão de Luizianne Lins tenham sido decisivos, não foram os únicos expoentes para a inauguração do OP em Fortaleza. Antes de apresentarmos a experiência do OP, propriamente dito, no Município, chamamos a atenção para alguns pontos que caracterizam o contexto sócio-histórico e político-cultural de sua emergência. A capital cearense se reproduziu de forma desigual. A produção de seu espaço urbano, fruto de um crescimento desordenado proveniente do afluxo de migração do campo para a cidade, decorrente, sobretudo, das secas, evidencia as dificuldades e as contradições que permeiam a sua formação (GADELHA, 2010). Fortaleza caracteriza-se como uma cidade de nascimento espontâneo que agrega áreas extremamente heterogêneas e segmentadas nas quais se alça um extraordinário contraste social. Assim, pobreza e riqueza defrontam-se na disputa pelos espaços da Cidade. Em seus estudos sobre o perfil urbano de Fortaleza, Jucá (2000) oferece-nos uma ilustração da formação desse espaço dicotomizado. Nas palavras do autor: A Aldeota consolidava-se como reduto da burguesia, que exercia a sua hegemonia nos diferentes setores da vida urbana [...] A nova Aldeota ‘era um dos mais belos bairros residenciais do Brasil. Magníficos palacetes, luxuosos bangalôs, despontam a todo momento. Os aristocratas da cidade ali se plantaram. Cadilacs, meninos ricos, cercados de cuidadosas babás, brincam nas calçadas [...] A preocupação com isolar a pobreza parecia o melhor remédio para salvaguardar a cidade: ‘ muitas células vivas da pobreza abandonada... casebres de palha e lata velha, tugúrios de táboas de caixão, guaritas afundadas na lama, arranjos híbridos ou heterogêneos de madeira, lona, alvenaria, pendentes no alto das dunas... contrastavam evidentemente com a convicta formosura dos bangalôs modernos e dos clubes à beira-mar’. Havia diversos bairros onde a carência das mínimas condições de bem-estar era marcante” (JUCÁ, idem, .p.40 e 47). Deste modo, a desigualdade social reflete-se no plano espacial, na segmentação da Cidade entre áreas dotadas de infraestrutura e serviços urbanos, predominantemente habitadas pela população de padrões médio e alto de renda; e aquelas habitadas pelas camadas de baixa 56 renda em que predomina a carência generalizada destes serviços. E é exatamente em relação ao acesso desigual a estes bens individuais e coletivos que se explicita, em nossa cidade, a questão social; em outros termos, as carências urbanas explicitam os antagonismos vigentes na cidade e produz questionamentos sobre a realidade vivida, conforme nos certifica Barreira (1992.p.49): As carências de serviços urbanos, ao lado da incidência de privilégios, passam, na elaboração da crítica, a remeter a conteúdos de direitos ou justiça social. As reivindicações urbanas trazem novas representações culturais, através das quais as formas de gerir e pensar a política são questionadas. É importante atentarmos para isso, pois os processos organizativos em Fortaleza tomam força em função da luta pelo suprimento de necessidades imediatas, como infraestrutura básica, moradia e emprego. Em estudos sobre a trajetória dos movimentos sociais urbanos em Fortaleza, Fernandes, Diógenes e Lima (1991, p.51 e 58) afirmam que ...nessas áreas as marcas da desigualdade social delineia-se sem meios termos: condições subumanas de moradia, precário e insuficiente atendimento escolar, de saúde, e alimentar. Não é sem razão também que é nessas áreas são constituídas os principais atores no processo de formação político social da realidade cearense (...) não é sem razão que a constituição dos movimentos sociais urbanos em Fortaleza, origina-se e se expande com mais intensidade na pressão popular sobre a terra, reflexo da incapacidade da renda dessa população na aquisição desse bem essencial que é a moradia. Segundo ainda as autoras, é possível falar do surgimento destes movimentos na Cidade desde a década de 1950. O grande expoente nesse momento foi o Movimento do Pirambu contra o despejo que promoveu uma passeata que reuniu cerca de dez mil pessoas até o Palácio da Luz. Contudo, conforme Barreira (1992), somente a partir dos anos 1970 é que esses movimentos obtiveram visibilidade pública e passaram a ter dimensões, se não prioritárias, relevantes na percepção de vários segmentos da sociedade. Se por um lado o contato com as desigualdades pode produzir a politização da vida urbana (BARREIRA, 1992), por outro pode estimular a prática e permanência de comportamentos autoritários e/ou clientelistas no atendimento das demandas da população por parte do Estado. 57 A história política de Fortaleza (em termos de Estado) caracterizou-se, por muito tempo, pela alternância do poder político nas mãos de uma elite social e econômica local (BARREIRA, 2002). Assim vimos, nas gestões municipais das últimas décadas17, a consolidação dessas características conservadoras e elitistas pela utilização de mecanismos de repressão ou de cooptação dos movimentos sociais urbanos, das organizações comunitárias, e especialmente das associações de bairros (PEREIRA, 2007). Frente a esta realidade, em 2004, a então professora universitária e deputada estadual Luizianne Lins (PT) propõe sua candidatura à Prefeitura Municipal de Fortaleza como alternativa ao modelo vigente de administração pública. Com um programa de governo que trazia como diretriz central o clássico discurso do PT: a necessidade de construir uma gestão pública participativa e popular, tendo como eixos centrais: a democratização e participação popular; distribuição da riqueza; meio ambiente urbano; direitos humanos para todos e todas (PROGRAMA DE GOVERNO “POR AMOR A FORTALEZA”, 2004). Luizianne Lins “caiu no gosto popular” e mesmo sem o apoio do PT18 ganhou as eleições em Fortaleza. Assim, com a vitória do PT, o grande desafio estava posto, como então operacionalizar uma gestão participativa? Logo no primeiro ano, a gestão de Luizianne Lins enfrentou o desafio de realizar o Plano Plurianual Participativo (PPA)19. Para definir como seria esse processo, segundo a ex-coordenadora do OP, formou-se um grupo de trabalho com representantes de todas as secretarias, de modo a envolver os demais órgãos da Prefeitura na elaboração do desenho e na execução do PPA. 17 Um fato histórico importante, acontecido no interregno das sucessões políticas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que não podemos deixar de destacar é a eleição da Prefeita Maria Luiza Fontenele, em 1986. Sua vitória significou uma ruptura eleitoral no âmbito das forças políticas tradicionais de Fortaleza. Sua gestão (1986-1989) foi marcada por divergências políticas com o governo do Estado, chefiado à época por Tasso Jereissati. Apesar das dificuldades, procurou construir uma administração popular em que os temas cidadania e participação evidenciaram-se como símbolo do seu agir político (GADELHA, 2010). 18 Em 2004, Luizianne Lins enfrenta uma candidatura bastante turbulenta. Boicotada pelo próprio partido que apoiava a candidatura do deputado federal Inácio Arruda (PCdoB), Luizianne Lins não recebeu, do PT, recursos para sua campanha (FRANÇA JÚNIOR, 2005). Ainda assim, a candidata insistiu e, em resposta ao boicote, formou uma rede de apoio de grande parte das forças políticas da esquerda fortalezense, que legitimaram a sua candidatura. 19 O Plano Plurianual Participativo (PPA) é instrumento de planejamento que define diretrizes, objetivos, metas e programas a serem implantados no quadriênio (FORTALEZA, 2005). 58 O PPA realizou-se em dois ciclos – preparatório e deliberativo – por meio de assembleias públicas territoriais em todas as seis Secretarias Executivas Regionais e com sete segmentos sociais: crianças e adolescentes; idosos; jovens; LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e transgêneros); mulheres, pessoas com deficiência; e população negra. Assim, o processo do PPA participativo reuniu cerca de 1.753 pessoas no ciclo preparatório e contou com a participação de mais de 5.000 participantes. Envolvendo ao todo um total de 6.860 pessoas. Foram apresentadas mais de 650 propostas de programas e ações sobre praticamente todas as áreas de investimento do governo municipal (FORTALEZA, 2005). Para a gestão de Luizianne Lins, a efetivação do PPA participativo consolidava o início de um novo momento na Cidade em que o resgate da cidadania das pessoas comuns promoveria uma gestão participativa, popular e transformadora (idem). Essa pretensão deve ser questionada, uma vez que a abertura de canais institucionalizados de participação por si sós não garantem a democratização da gestão; falaremos mais sobre isso no desenrolar desse trabalho. Concluído o processo do PPA, iniciou-se, ainda em 2005, a elaboração do OP. Apesar de tomar como referência as experiências nacionais20, havia uma preocupação dos organizadores locais em dar a ele uma feição peculiar. A fala da ex-coordenadora do OP, em entrevista concedida para esta pesquisa, demonstra essa preocupação: O OP é hoje uma das mais experimentadas inovações democráticas em todo o mundo e está presente em todos os continentes. Como consequência, essa designação tem sido utilizada para processos muito diferentes. Em Fortaleza sabíamos que o processo deveria ser deliberativo e não consultivo, que as regras deveriam ser feitas pela população e que todas as secretarias deveriam estar envolvidas, ou seja, a participação não poderia ser mais um departamento na Prefeitura, mas sim uma nova forma de governar. Tomando como referência a experiência de Porto Alegre, identificamos no OP de Fortaleza algumas características que os distinguem. A primeira relaciona-se à sua organização. Em Porto Alegre, este se organiza em áreas regionais, em que são priorizadas as propostas específicas para as diferentes regiões da cidade; e em áreas temáticas, em que as propostas priorizadas atendem necessidades mais gerais do município. Dentre os temas discutidos, destacamos a saúde, a assistência social, cultura, lazer e transporte. Em Fortaleza, em vez de se reservar um momento para as discussões sobre as áreas temáticas, o OP prioriza o debate em torno das especificidades dos segmentos sociais, grupos considerados 20 Não apenas a experiência de Porto Alegre foi tomada como referência pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas também a de São Paulo, Recife e Belo Horizonte. 59 historicamente excluídos dos espaços de participação e de decisões das políticas públicas. Desta forma, no ciclo do OP de Fortaleza-CE somam-se às discussões regionais, aqui denominadas de territoriais, as questões em torno das necessidades dos segmentos de mulheres, idosos(as), LGBTTs (Lésbicas, gays, bissesuxais, transgêneros, transexuais e travestis), pessoas com deficiência, população negra, crianças e adolescentes. Outra novidade no OP de Fortaleza diz respeito às discussões e deliberações dos serviços públicos. Com isso, além de elencar as prioridades de obras da Prefeitura, a população pode solicitar a melhoria da qualidade e do atendimento dos serviços, bem como a revitalização dos equipamentos públicos. Outro aspecto que caracteriza a experiência do OP Fortaleza é a sua articulação com outros mecanismos de participação existentes na cidade, como, por exemplo, o Plano Plurianual Participativo21 e os Conselhos municipais de políticas públicas, na tentativa de interligar as políticas setoriais do município. O regimento interno prevê assento no Conselho do Orçamento Participativo (COP) para representantes dos Conselhos Municipais existentes na cidade (Criança e adolescente, Assistência Social, Habitação, Saúde e Trabalho).. E por fim, outro atributo que diferencia o OP em Fortaleza das demais experiências realizadas no Brasil diz respeito ao modelo de deliberação implantado desde 2010, por meio do qual as propostas devem ser negociadas pelos participantes da assembleia decisiva e não mais pelo COP. No OP em Porto Alegre, essa negociação continua acontecendo por meio do COP. Porém, ressaltamos que ainda é muito cedo para afirmarmos que tal mudança constitui um avanço para o OP em nossa Cidade. Julgamos necessária uma observação pormenorizada de como vem se compondo este exercício de participação direta, objeto de nossos estudos neste trabalho. Feitos estes esclarecimentos, voltemos então à descrição de sua emergência em Fortaleza. 21 Instrumento de planejamento das ações do poder público que define principais metas e diretrizes para quatro anos (2006-2009), que também foi construído também com a participação da população, logo que a Prefeita Luizianne Lins assume a gestão (FORTALEZA, 2007). 60 Na opinião da ex-coordenadora do OP, a realização do PPA e do OP no primeiro ano de gestão, quando ainda não se tinha estrutura adequada, foi uma grande ousadia. Gadelha (2010), em estudo recente sobre o OP de Fortaleza, afirma que nesse momento inicial a Prefeitura contava apenas com uma pequena equipe para dar conta de toda sua elaboração e execução. Existiam ainda, por parte dessa equipe, muitas dúvidas quanto à questão metodológica. Então, no intuito de sanar essa deficiência, foi contratada uma consultoria da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, sob a coordenação de Félix Sanchez, ex-coordenador do OP de São Paulo (2000-2004), que durante dois anos orientou a realização do processo. Observamos, assim, que primeiramente foram criados os aparatos organizacional e institucional22 e só depois a população foi chamada a fazer parte. Apesar de termos visto a reivindicação da sociedade civil por esse espaço, não pudemos constatar a sua participação no que diz respeito à construção e à elaboração de sua metodologia. Nesse sentido, a participação no OP foi tecida de cima para baixo e não o contrário, por meio de mobilizações “espasmódicas e esporádicas”, nos termos de Demo(1988), que movimentam plateias alheias e, inicialmente, sem identidade com a proposta participativa. A atitude da gestão de Luizianne Lins em orientar este processo foi justificada pela ausência de uma cultura participativa na Cidade. O trecho abaixo, extraído do seu Programa de Governo (2004) elucida bem esta ideia e indica o esforço a ser empreendido pela Prefeitura para a criação e consolidação deste espaço: Fortaleza nunca experimentou uma iniciativa desse porte, o que determina que a Prefeitura faça maciços investimentos na educação da população sobre orçamento público e importância da participação cidadã na formatação das peças orçamentárias (PROGRAMA DE GOVERNO “POR AMOR A FORTALEZA”, 2004, p 13). Assim, as primeiras atividades do OP - assembleias preparatórias, assembleias deliberativas, Fóruns de delegados(as) e Conselho do OP (COP)23 - foram constituídas pela 22 Em seu programa de governo, a prefeita Luizianne Lins já previa a criação de uma coordenadoria que trataria exclusivamente da organização do processo do Orçamento Participativo. 23 Atividades realizadas no período de um ano e que consolidam o ciclo do OP. Nas assembleias preparatórias, os participantes recebem todas as informações necessárias sobre o processo do OP; As assembleias são 61 Prefeitura Municipal de Fortaleza mediante um regimento interno que previa a possibilidade de mudanças futuras no processo do OP por meio de sua revisão anual por parte dos conselheiros eleitos. Apesar da existência deste instrumento, verificamos que nos primeiros anos a estrutura proposta pela Prefeitura sofreu poucas modificações por parte do COP. Apenas em 2010, os conselheiros propuseram uma alteração em seu formato que modificou significativamente a atuação da população nas decisões sobre as demandas a serem incluídas no orçamento municipal24. Com isto, queremos chamar atenção para o risco que correm as experiências de gestão participativa provenientes da concessão dos poderes públicos instituídos. Demo (1988) afirma que as propostas participativas, particularmente as advindas do governo, tendem a camuflar novas e sutis formas de dominação. Dominação esta que se expressa na manipulação dos mecanismos participativos por meio da delimitação do “espaço permitido” para a participação e enfraquecimento de outros espaços não institucionalizados; na reprodução de práticas de corporativismo e de interesses setoriais e territoriais voltados tão somente à legitimação, credibilidade e referendamento das propostas do governo (SILVA, 2001; CARLOS, 2009). Tensões que perpassam esses arranjos participativos, e que, conforme já nos referimos, podem fortalecer ou debilitar a ação política de quem deles participa. O quadro apresentado até agora buscou delinear o contexto sócio-histórico e político-cultural em que o OP é inaugurado em nosso Município. Sua estrutura, metodologia, funcionamento e mudanças serão temas que trataremos, particularmente, no próximo capítulo. descentralizadas e realizadas em cada uma das Secretarias Executivas Regionais (SERs) do município, nelas a população elege e decide quais as principais demandas que deverão ser negociadas para entrar no orçamento municipal do ano subsequente e ainda escolhem os seus representantes que comporão as instâncias representativas de controle social do OP: o Fórum de delegados(as) que, também de forma descentralizada, é constituído em cada SER. Os(as) delegados(as) acompanham e fiscalizam as ações do OP e informam a comunidade sobre o andamento das demandas aprovadas, e ainda elegem os(as) conselheiros(as) do OP, os quais, até 2009, eram responsáveis pela negociação das propostas que entrariam no orçamento municipal junto ao poder público municipal. E ainda, seguindo o princípio de autorregulamentação que baliza o OP de Fortaleza, são estes(estas) conselheiros(as) que elaboram as regras que orientam o processo do OP, mediante revisão do Regimento Interno. 24 Exploraremos melhor essas mudanças no próximo capítulo. 62 3. “CONSTRUIR UMA CIDADE BELA, JUSTA E DEMOCRÁTICA”: A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM FORTALEZA “Construir uma cidade bela, justa e democrática”, este era um dos lemas do programa de governo de Luizianne Lins. Umas das principais estratégias para sua materialização foi a instituição do OP em Fortaleza. Conforme já enunciamos, o OP inicia-se em 2005 tomando como referências experiências nacionais existentes. O ciclo do OP realiza-se no período de um ano, e, de uma forma geral, o modelo do OP em nosso município mantinha, até 2009, a mesma estrutura consolidada em Porto Alegre: partia de uma estrutura ampliada de participação direta da população nas assembleias iniciais para a constituição de fóruns e do conselho de participação dos representantes da sociedade civil eleitos nas assembleias. A conformação do OP em nosso município pode ser classificada em dois períodos distintos: o primeiro vai de sua fundação até o ano de 2009; e o segundo de 2010 até o presente momento. As seções seguintes expõem as características de cada um desses períodos de modo a explicitar seus avanços e recuos. Neste capítulo, descrevemos e analisamos esse processo de realização do Orçamento Participativo no município de Fortaleza. 3.1. Estrutura, funcionamento e metodologia do OP até o ano de 2009 As primeiras atividades do OP foram constituídas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza que, em 2005, mediante um regimento interno, elaborou e apresentou aos fortalezenses um formato provisório para o OP. Esse regimento previa a possibilidade de mudanças futuras no processo do OP por meio de sua revisão anual. Desta forma, abria-se a 63 possibilidade de reconstruir e repensá-lo a partir das contribuições da sociedade civil representada pelos conselheiros eleitos Assim, o OP consolidava-se em dois momentos, um em que a população participava de forma direta, por meio das assembleias preparatórias e deliberativas; e outro em que a participação acontecia por intermédio dos representantes da população designados por votação que compunham os Fóruns de delegados(as); e Conselho do Orçamento Participativo (COP). O ciclo do OP iniciava-se com a fase de preparação. Embora nesse momento ocorressem também as reuniões comunitárias, a atividade principal era a realização das assembleias preparatórias (regionais e de segmentos sociais)25. As reuniões eram encontros menores solicitados pela própria população, nas quais eram apresentados o passo a passo das assembleias, as datas das atividades e todos os detalhes pertinentes ao processo do OP. Qualquer lugar podia ser sede dessas reuniões (escolas, praças, associações, ONGs, etc). As assembleias preparatórias eram a porta de entrada para a elaboração da proposta do Orçamento Participativo. Abertas à participação individual de qualquer cidadão fortalezense26, tinham como objetivo principal, conforme o Regimento Interno do OP (2008), apresentar à população: os resultados do OP no ano anterior; os eixos e diretrizes que norteariam a discussão do Orçamento Participativo; a situação financeira da Prefeitura de Fortaleza; e também a proposta de organização da etapa de decisões, sua metodologia, datas e locais das assembleias deliberativas etc, de forma a contribuir com a qualificação dos 25 Tanto as assembleias preparatórias como as deliberativas aconteciam nesses dois formatos. As regionais eram realizadas, nas Areas de Participação das Secretarias Regionais e recebiam as propostas em obras e serviços para a região. As assembleias dos segmentos sociais eram realizadas com cada um dos seis segmentos sociais com o objetivo de discutir e votar propostas em obras e serviços para o segmento (FORTALEZA, 2006) 26 Conforme o Regimento Interno (2011), todos os moradores de Fortaleza com idade de 16 (dezesseis) anos completos ou mais, independentes de sua atuação em organizações comunitárias, partidos, igrejas, são considerados aptos a participar do OP. Nas assembleias em que estivemos presentes foi possível perceber a multiplicidade de sujeitos a participar do OP, além daqueles que pertencem às associações de bairro, porque, realmente, eles estão lá, cidadãos comuns que não tem filiação nenhuma com qualquer entidade também estão presentes. Todavia, nos espaços de representação, Fórum de Delegados(as) e COP, a presença das lideranças comunitárias é bastante expressiva. Deste modo, embora o OP proporcione a ampliação dos sujeitos sociais nas discussões e deliberações sobre a cidade, a figura do líder comunitário, como o solucionador de problemas da comunidade ainda é muito presente. 64 participantes. Aconteciam geralmente nos meses de fevereiro e março, em um equipamento público localizado na área de abrangência de cada uma das Secretarias Executivas Regionais (SERs) da cidade. A fim de garantir a interlocução com a comunidade, a Cidade foi divida em Áreas de Participação (APs). As APs são formadas por blocos de bairros e dividem as seis SERs. A ideia era aproximar o OP do cotidiano local dos participantes. No primeiro ano do OP, existiam apenas 14 áreas de participação, conforme nos apresenta o mapa abaixo, Mapa 01 – Áreas de Participação do Orçamento Participativo Fortaleza – 2005 Fonte: SEPLA (2005) Nos anos seguintes, houve um crescimento dessas áreas: em 2006 já eram 40; e de 2007 a 2009 a cidade foi divida em 51 áreas de participação27. Depois da etapa preparatória, iniciava-se a fase decisória, geralmente realizada entre os meses de março a maio. Faziam parte desse momento as assembleias deliberativas, 27 Os mapas com as áreas de participação constituídas até 2009 poderão ser apreciados nos anexos deste trabalho. 65 nelas eram definidas as prioridades de obras e serviços a serem negociadas com o poder público municipal a fim de compor o projeto de Lei Orçamentária do ano seguinte; e também eram eleitos os delegados do OP, representantes de cada área ou segmento social. A metodologia para eleger as demandas prioritárias era a seguinte: os participantes cadastrados na assembleia deliberativa formulavam e apresentavam propostas que correspondessem aos 13 eixos prioritários determinados no Plano Plurianual Participativo (PPA) (FORTALEZA, 2007; 2008), a saber: Assistência Social, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Trabalho e Renda; Transportes; e Turismo. Cada participante poderia votar em três propostas de diferentes eixos. A primeira receberia três pontos; a segunda, dois pontos; e a terceira um ponto. Até o ano de 2007 não havia delimitação do número de propostas a serem eleitas nas assembleias deliberativas, assim, aquelas que eram mais votadas eram priorizadas, o que acabou gerando grande acúmulo de demandas não atendidas e com isso o descrédito das pessoas em relação ao OP. Em 2008, o COP revisou o Regimento Interno e uma das mudanças significativas nessa inspeção foi a elaboração de critérios que pudessem delimitar o número de propostas a serem priorizadas em cada assembleia. Assim, a definição deste número ficou atrelada ao número de participantes, seguindo a seguinte proporção: a cada 15 participantes, uma proposta seria eleita. A tabela abaixo ajuda-nos a visualizar bem o movimento do número de propostas aprovadas antes e depois da revisão do regimento. Observamos uma ascendência nos primeiros três anos e uma diminuição considerável no ano de 2008. Tabela 03 – Número de demandas aprovadas no OP por eixo 2005 - 2008 EIXOS 2005 2006 2007 2008 TOTAL Assistência 19 35 65 17 136 Cultura 16 22 24 9 71 Direitos humanos 8 26 14 3 51 Educação 34 65 143 48 290 66 Esporte e lazer Habitação Infraestrutura Meio ambiente Saúde Segurança Trabalho e renda Transporte Turismo TOTAL 3 21 61 17 58 16 40 10 0 303 13 26 57 9 68 29 75 10 1 436 17 8 20 14 73 48 13 3 80 35 28 12 97 21 7 8 3 1 584 227 41 81 239 42 241 85 233 35 5 1550 Fonte: SISOP (2010) – Elaboração própria. A tabela acima também nos mostra o ranking das reivindicações. Entre as demandas que mais se destacaram, temos em primeiro lugar aquelas referentes à educação; em segundo, as relativas à infraestrutura e saúde; e em terceiro e quarto lugares, estão as demandas por trabalho e renda e assistência social. Estes dados demonstram ainda que as demandas aprovadas no OP expressam necessidades enfrentadas no cotidiano de uma população que padece pela ausência, muitas vezes, da prestação de serviços sociais básicos indispensáveis à sobrevivência no contexto fortalezense. A eleição dessas demandas aparece, então, para a população como a possibilidade de suprimento das suas necessidades e, consequentemente, a previsão de uma melhor qualidade de vida. Muitas dessas solicitações exigem respostas rápidas. Todavia, a morosidade no processo de execução das despesas orçamentárias, sobretudo a lentidão nos processos licitatórios, tem causado um acúmulo de demandas que desde 2005 nem sequer saíram do papel. Quanto à escolha de delegados, desde o primeiro ano do OP, o número de delegados a serem eleitos seguem a proporcionalidade de um delegado para cada 20 participantes. Qualquer pessoa cadastrada na assembleia e não impedida pelo regimento28 28 O Regimento Interno do Orçamento Participativo restringe a eleição como delegado e conselheiro do Orçamento Participativo para aqueles “que detêm mandatos eletivos no poder público municipal, estadual ou federal e respectivos assessores; que tiver cargo em comissão na administração municipal; assessor político ou agente de projetos e programas do governo municipal, estadual ou federal; que exercer funções de chefia indicado pelos Poderes Executivos, Legislativo, e Judiciário, nas esferas municipal, estadual ou federal; que foi 67 pode candidatar-se para representar a região ou um dos seis segmentos sociais com o qual se identifique. Assim, cada candidato cadastrado apresenta-se, defende sua candidatura e divulga seu número para o pleito. Segue-se, então, com a votação e apuração, sendo ao final apresentado o nome dos delegados eleitos para compor os Fóruns de Delegados. A escolha desses representantes marcava o término da participação direta da população no OP. Após as assembleias deliberativas, o contato da população com a Prefeitura era feito a partir destes representantes eleitos. Moreira (2008), em estudo sobre o Orçamento Participativo em Fortaleza, chama atenção para o grande peso que a representatividade acabava adquirindo no OP, uma vez que as decisões mais importantes de seu processo eram tomadas pelo número reduzido de representantes e não por toda a população. Nas palavras do autor: “são menos de cem conselheiros que decidem anualmente junto com os secretários que propostas permanecem e que modificações devem sofrer” (idem, p.40). Concordamos com ele que a valorização da representatividade poderia proporcionar a permanência de velhos princípios da nossa cultura política dentro do OP. Em consonância com esta preocupação, Santos (2009) também não ver com tranquilidade a relação entre a participação direta e a representação no OP, pois, corre-se [...] o risco das posições assumidas pelos delegados ou conselheiros poderem refletir as suas preferências pessoais acima de todo o resto. Receia-se que esta ‘autonomia’ dos representantes face aos seus eleitores possa trazer de volta, sob um novo disfarce, o velho sistema clientelista e populista de distribuição dos recursos e de comércio dos votos (Idem, p. 522). Podemos assim dizer, conforme nos explicita Santos (idem), que existe o risco de os “novos” modelos de representação serem emoldurados em velhas práticas. E, nesse sentido, apenas deslocar as lógicas da tutela, da confusão entre o público e o privado, constantemente presente na atuação dos representantes da política eleitos pelo voto popular para a ação dos conselheiros do OP. Ainda segundo Santos (idem), existem alguns problemas que permeiam a qualidade da representação no OP que precisam ser confrontados, dentre eles destacamos: a fragilização da autonomia dos representantes da população por parte do governo. O autor afirma existir uma tentativa dos governos, por meio do OP, “de cooptar o afastado pelo COP, por atingir os limites de falta, ou por outros motivos justificados, no mandato anterior ”( FORTALEZA 2007). 68 movimento popular, distorcendo suas prioridades e submetendo-o à [sua] agenda política” (idem, p 521). A alteração na configuração do OP de Fortaleza em 2010, que trataremos de explanar mais adiante, em tese, propõe uma nova relação entre poder público municipal e sociedade no OP, diminuindo a centralidade dos conselheiros na definição das obras e serviço a serem contemplados no Orçamento Municipal. Mas vejamos agora como se configura os Fóruns de delegados(as)29. Instâncias de efetivação da representação no OP são compostos pelos delegados eleitos nas assembleias deliberativas regionais e de segmentos sociais. Estes são responsáveis por acompanhar o Plano de Ações do OP30 desde sua elaboração até sua execução; compor as comissões constituídas com o objetivo de fiscalizar a execução do Plano de Ações; e informar e divulgar para a população a qual representam os assuntos tratados no OP. As atividades dos Fóruns são descentralizadas e acontecem em cada uma das SERs. De acordo com informações fornecidas pelos próprios delegados, os fóruns são organizados da seguinte forma: formação de uma coordenação, composta por um grupo de delegados (escolhido diretamente pelos demais componentes), responsável pela elaboração da pauta de discussão de suas reuniões ordinárias que acontecem uma vez por mês; e formação de comissões de acompanhamento de obras e serviços das quais todos os membros participam. São nos Fóruns também que acontece a escolha dos delegados que atuarão como conselheiros no COP. E cabe a estes Fóruns o acompanhamento dos respectivos conselheiros na tarefa da execução orçamentária em sua área territorial ou do segmento representado (FORTALEZA, 2007; 2010). 29 Este espaço do OP é o único que não sofre alterações depois da mudança no processo do OP em 2010. Deste modo, as características aqui descritas aplicam-se tanto nesse primeiro período do OP como no posterior a 2010. 30 É o documento que reúne as obras e serviços aprovados no OP do ano anterior que deverão ser executadas no ano vigente, de extrema importância para o acompanhamento e fiscalização (FORTALEZA, 2006). A partir de 2008, a Prefeitura criou uma ferramenta de acompanhamento das obras e serviços chamada de Sistema do OP (SISOP) que possibilita a qualquer cidadão(ã) de Fortaleza acessar informações sobre o andamento da obra ou serviço de seu interesse. O acesso ao SISOP pode ser feito através do link: http://200.223.251.201/sisop/publico/obras. 69 Toda a logística (local para reuniões, uso de telefone, internet) para o desempenho das ações dos Fóruns, inclusive o deslocamento dos delegados para as reuniões e visitas às obras e serviços em execução, são de responsabilidade da Prefeitura, que providencia valetransporte ou carros institucionais. Essa provisão de recursos por parte da Prefeitura para sustentabilidade do processo chamou-nos atenção e nos levou a refletir sobre a possibilidade de se ter as atividades de controle social dos delegados comprometidas, uma vez que não é e nunca será prioridade do Estado promover o controle do seu próprio poder. Conforme nos assevera Demo (1988), a autossustentação é um importante critério para avaliar a qualidade política de processos participativos. O autor afirma veementemente que “participação sem autossustentação é farsa (...) porque não se realiza o fenômeno essencial da autopromoção” de modo a legitimar “atitudes subservientes de expectativa da ajuda, cortando aos poucos a capacidade de iniciativa própria, sobretudo a nível comunitário” (idem, p. 68 e 125). Com isso, o autor não nega a responsabilidade do Estado e nem prega a recusa de recebimento de recursos dele, antes aponta para a necessidade de distinguir as condições para que estes sejam aceitos e a importância de se pleitear por processos participativos autossustentáveis. Segundo este autor: Uma coisa é pleitear apoios dentro de um projeto [...] de emancipação do grupo, no qual o Estado entra como instrumento de viabilização, outra coisa é tomar o apoio estatal como estratégia de cristalização e dependência diante da tutela, o que esmaga a autopromoção [...] A comunidade, ao receber apoio externos, sobretudo do Estado, não pode vender sua alma por um prato de lentilhas. Esta é precisamente a lógica do assistencialismo, que é sempre uma forma de recriar a miséria. Saber usar o Estado é um direito popular. Submeter-se a ele como massa de manobra é outra coisa, o contrário da participação. Uma das vias centrais para se opor a tal submissão é realizar processos participativos capazes de andar com as pernas próprias (Idem). Ainda fundamentados em Demo (idem), insistimos que participação “não pode ser entendida como dádiva”, antes deve ser produto de conquista, de construção da coletividade organizada. As propostas participativas, provenientes da concessão, tendencialmente, podem estimular a “formação de uma sociedade desmobilizada ou organizada para a submissão que internaliza historicamente a tutela” (idem, p. 123). Mostras deste risco latente são evidenciadas no OP em Fortaleza, principalmente em relação à autonomia dos membros destes Fóruns. Percebemos que, em algumas visitas que 70 fizemos às reuniões, embora haja esforço da equipe da Prefeitura em afirmar que os(as) delegados(as) têm liberdade para conduzir as reuniões, a presença do poder municipal é muito forte, principalmente nas decisões sobre os assuntos a serem elencados na pauta de discussão dos Fóruns e no arrefecimento às críticas elaboradas à gestão pública. Assim, as relações estabelecidas como entre desiguais enfraquecem a cidadania e neutralizam os conflitos como forma legítima de construção de direitos. O que pode levar, no lugar da construção de uma nova cultura política com base na justiça e democracia, à desmobilização e aprofundamento da tutela e dependência do poder público municipal a ponto de se fazer aceitar todas as suas recomendações, de modo a tornar os representantes da sociedade civil em agentes da Prefeitura. Tais verificações materializam as advertências de Santos (2009) sobre a fragilidade das instâncias representativas no OP e as astúcias dos governos para a perpetuação de sua hegemonia nesses espaços. Ainda é importante relatar como atuava o Conselho do OP (COP). Segundo o Regimento Interno (2006), o COP era a principal instância de deliberação do OP, pois a ele competia a prerrogativa de negociar com os representantes das secretarias municipais as demandas a serem inscritas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município31. Ele era composto da seguinte maneira: conselheiros titulares e conselheiros suplentes, eleitos em cada um dos Fóruns Regionais de Delegados do Orçamento Participativo na seguinte proporção: 31 Depois dessa negociação, as demandas eram inclusas no Projeto de Lei, que é enviado para Câmara Municipal de Vereadores, e por meio da eleição e aprovação transformam-se na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), lei que orienta a elaboração e execução do orçamento anual do município. 71 Tabela 04 – Proporção do número de conselheiros territoriais do OP Até 30 delegados territoriais De 31 a 45 delegados territoriais De 46 a 60 delegados territoriais De 61 a 75 delegados territoriais De 76 a 90 delegados territoriais De 91 a 105 delegados territoriais De 106 a 120 delegados territoriais De 121 a 135 delegados territoriais De 136 a 150 delegados territoriais A partir de 151 delegados territoriais 6 conselheiros 7 conselheiros 8 conselheiros 9 conselheiros 10 conselheiros 11 conselheiros 12 conselheiros 13 conselheiros 14 conselheiros 15 conselheiros Fonte: Regimento Interno do OP (2006). Conselheiros titulares e conselheiros suplentes para representar os seis segmentos sociais (mulheres, população negra, pessoas com deficiência, juventude, idosos, e LGBTT), eleitos conforme a proporção indicada na tabela a seguir: Tabela 05 – Proporção do número de conselheiros de segmento social Até 15 delegados De 16 a 30 delegados De 31 a 45 delegados De 46 a 60 delegados Segue esta mesma proporção 2 conselheiros 3 conselheiros 4 conselheiros 5 conselheiros Fonte: Regimento Interno do OP (2006). Compõem ainda o COP doze conselheiros titulares e doze conselheiros suplentes para representar o segmento crianças e adolescentes, eleitos pelos delegados do OP Criança e Adolescente; um conselheiro titular e um conselheiro suplente indicados pelos seguintes Conselhos Municipais existentes na cidade de Fortaleza: criança e adolescente, assistência social, habitação, saúde e trabalho; quatro conselheiros titulares e quatro conselheiros suplentes indicados pelo poder Executivo Municipal, representando a coordenadoria do Orçamento Participativo, com direito a voz, sem direito a voto; um conselheiro titular e um conselheiro suplente indicados pelos demais órgãos da Administração Municipal a serem definidos de acordo com a sua vinculação ao processo do OP, com direito a voz, sem direito a voto. 72 Além de ajustar com o governo municipal as demandas do OP a serem contempladas no orçamento anual, cabe ao COP, dentre outras atividades, discutir e resolver, em comum acordo com o poder executivo, a metodologia adequada para o ciclo do OP; acompanhar a execução orçamentária anual e fiscalizar o cumprimento do Plano de Ações do OP; e, ainda, deliberar sobre a realização de seminários, cursos e atividades de capacitação dos delegados e conselheiros, bem como acompanhar esse processo de capacitação. Deter-nos-emos em caracterizar, ainda que sinteticamente, a negociação das demandas realizada entre o COP e o Poder Executivo Municipal. A nosso ver essa era a função mais importante do COP nesse momento, pois o tornava, conforme já dissemos, o espaço de deliberação máxima do OP. As especificações ora esboçadas são uma recomposição de uma pesquisa anterior sobre o OP, realizada por nós, em que acompanhamos o processo de negociação no ciclo do OP 2008 (que aconteceu no período de 4 a 21 de agosto de 2008). Foram mais de quinze dias de discussões intensas e exaustivas entre conselheiros e poder público. E dessa etapa do processo, destacamos alguns pontos que achamos relevantes reiterar aqui (ARÃO, 2009). As negociações normalmente aconteciam nos meses de agosto e setembro, no auditório do Instituto Municipal de Pesquisa e Recursos Humanos (IMPARH). Num período de duas semanas, eram realizadas reuniões diárias de segunda a sábado, em que o COP e os representantes dos órgãos e secretarias municipais se encontravam para chegarem a um consenso sobre quais demandas poderiam ser atendidas no orçamento municipal do ano seguinte. Antes disso, porém, as demandas eram sistematizadas e separadas de acordo com os eixos de discussão do OP e repassadas para os órgãos da administração pública municipal para análise e estudo da viabilidade técnica. E também era entregue antecipadamente aos conselheiros um caderno de propostas com todas as demandas. Constatamos, em uma das reuniões do COP à época, que o calendário das atividades de negociação era planejado pela Prefeitura Municipal e não acontecia de forma 73 conjunta com o COP, como afirma o regimento, e nem leva em consideração as necessidades e disponibilidade dos conselheiros. A afirmação transcrita abaixo expressa a posição de um grupo de conselheiros(as) que, após ter vivenciado a primeira semana de negociação, questionou o calendário e a forma de condução desse processo: Olha gente, a gente se reuniu aqui, as cinco regionais porque estava faltando uma negociação. E a gente viu ser necessário fazer uma série de avaliações que a gente precisa discutir. A gente está atropelado! Aqui é o conselho de negociação que a gente tem construído, tem conquistado, mas as Secretarias fizeram um calendário e não negociaram com a gente, se a gente tinha tempo ou não de assumir isso. Então, eu estou aqui questionando, eu estou atropelado, todos os dias tem reunião, eu sou militante, como todos os companheiros aqui e tem os compromissos da gente, também. Agora eu não vejo essa negociação com a gente desse calendário nós estamos engolindo de baixo para cima e cadê a negociação, eu tenho uma proposta que a gente avalie esse calendário (ARÃO, 2009, p.112). A proposta de avaliação do calendário, porém, não foi bem recebida pelo representante do governo, que presidia a reunião nesse dia e que argumentou o seguinte: Nós temos um calendário que não é um calendário nosso. É um calendário de acordo com o prazo para elaboração da Lei Orçamentária. Por isso, que desde os Fóruns, a gente diz, quem for se candidatar tem que ter essa disponibilidade porque não tem outra saída. Pra gente também é cansativo, pra vocês mais ainda, mas nós temos essas noites seguidas de negociação, pra encaminhar isso aí, nós precisamos de um dia que não tivesse nenhum secretário pra vir aqui negociar, pra que a gente possa debater o calendário (idem). Assim, percebemos que realmente a prioridade para elaboração do calendário não era dada e nem discutida com os conselheiros, antes o seu parâmetro estava no prazo para a construção da Lei Orçamentária e a disponibilidade dos secretários. Aos(às) conselheiros(as) imputava-se a “culpa” por “não terem tempo” para acompanhar a negociação, sob a alegação de que foram avisados que a negociação seria cansativa e exigiria deles disponibilidade, deixando intocável a unilateralidade e imposição que esta agenda representava.Tínhamos assim, neste espaço, a submissão dos sujeitos sociais às condições definidas previamente que os impediam realmente de interagir, uma vez que, como vimos, suas manifestações não eram levadas em conta. 74 Questionamos, então, como um espaço que se diz “participativo” e que quer ser espaço de uma cultura democrática não dá abertura para que seus participantes sejam ouvidos sobre a sua estruturação? Decisões que deveriam ser, no mínimo, tomadas conjuntamente, ouvindo-se todas as opiniões proferidas tanto pelo governo como pelos representantes da população, na verdade eram tomadas apenas por um lado específico. A postura adotada pelo governo local, em nossa opinião, delimitava o espaço de participação dos conselheiros à medida que não os reconhecia como sujeitos sociais dotados de autonomia e quando impunha para eles o direcionamento de suas intervenções no processo de negociação. Com isso, chamamos a atenção para o modo como o poder público intervém e conduz os processos de participação da população. Temos chamado a atenção para essa postura desde a apresentação dos Fóruns de Delegados(as), quando discorremos sobre a forte influência que os “representantes do governo” têm sobre as decisões dos representantes da população. O que, para nós, revela também a perpetuação de formas autoritárias na condução dos processos democráticos. No que diz respeito à negociação propriamente dita das demandas com as Secretarias Municipais, observamos algumas dificuldades. Antes, porém, deixe-nos apresentar melhor como se dava esse processo. Em cada uma das “noites de negociação”, comparecia ao auditório do IMPARH, de acordo com o calendário, um representante de uma ou duas Secretarias ou órgão municipal. Este representante apresentava aos conselheiros a Secretaria a qual estava vinculado, os programas e ações por ela desenvolvidos, expunha o parecer técnico e financeiro sobre as demandas do ciclo, e dialogava com os conselheiros sobre suas decisões. Normalmente, as primeiras Secretarias a serem ouvidas eram a de Planejamento e a de Finanças, pois elas traziam, ou pelo menos deveriam trazer, as projeções financeiras sobre as quais os conselheiros iriam “priorizar” suas demandas. A clareza e transparência dessas informações, dos critérios e objetivos para a distribuição dos recursos públicos, segundo Cunha (2007), são imprescindíveis à legitimidade das deliberações; a sua ausência 75 fragiliza as decisões. É como se estas estivessem sendo “tomadas no escuro”, sem nenhuma garantia de efetivação. Uma das debilidades enfrentadas no OP Fortaleza é exatamente a imprecisão sobre o valor orçamentário disponível para execução das demandas priorizadas pela população. Em nenhum momento da realização do OP, nem nas assembleias, nem neste momento final de fechamento das prioridades, conseguimos identificar precisamente os valores e os critérios a serem utilizados para a negociação das demandas. As informações apresentadas sobre o orçamento, de um modo geral, assinalavam os componentes do orçamento público, de onde vinham e para onde iam os recursos, mas não especificavam a real condição financeira do Município e não demonstravam concretamente os valores previstos para elaboração do orçamento anual e nem quanto do orçamento seria discutido com a população. A ideia repassada à população, por meio desta incerteza, é que, no OP, se discutia todos os recursos públicos da cidade. O que, na verdade, não acontece. Ao analisar a situação orçamentária de Fortaleza e os recursos previstos para as obras e serviços do OP, constatamos que o percentual de deliberação da população sobre o orçamento, nos dois anos (2006 e 2007)32, não chegou a 10% (dez por cento), conforme nos mostra o gráfico, abaixo: 32 Trabalhamos com os dados de 2006 e 2007, pois foram os únicos anos em que a Prefeitura divulgou a previsão orçamentária destinada ao OP, o que reafirma nossa constatação acerca da falta de transparência no repasse das informações sobre valores do orçamento público destinado às demandas do OP. 76 Gráfico 01- Recursos Previstos para Realização das Demandas do Orçamento Participativo – 2006 e 2007 R$ 3.000.000.000,00 R$ 2.500.000.000,00 R$ 2.000.000.000,00 R$ 1.500.000.000,00 R$ 1.000.000.000,00 R$ 500.000.000,00 R$ Orçamento 2006 Orçamento Participativo Orçamento 2007 Orçamento Participativo 100% 100% 7,48% 1 9,07% R$ 1.988.294.150,00 R$ 148.626.906,00 R$ 2.698.320.000,00 R$ 244.884.867,00 Fonte: SEPLA, 2006 e 2007 – Elaboração própria da autora. Em verdade, as propostas demandadas pela população representam muito pouco do orçamento total da Prefeitura. Vale ressaltar que essa porcentagem representa o valor previsto e não o executado, que aparenta ainda ser menor33. Este baixo percentual do orçamento e a falta de clareza na definição e na publicização do volume de recursos disponíveis para os investimentos parecem dificultar, substancialmente, a concretização das obras e serviços e, por consequência, podem diminuir a credibilidade/legitimidade em relação a este espaço. Além das limitações financeiras, as limitações técnicas eram obstáculos interpostos à deliberação dos conselheiros. Conforme apreendemos, as demandas trazidas pela população para o OP e defendidas pelos conselheiros na negociação expressavam as dificuldades que os cidadão de Fortaleza enfrentam e, também, a esperança de solução antevista neste espaço. Com isto, queremos dizer que tais demandas têm um significado imensurável para seus autores. Em contraposição, temos a elaboração de um orçamento para o qual são reservados recursos ínfimos de investimentos, que nem sequer conseguimos precisar quanto, 33 Não podemos precisar esses dados, pois eles não foram disponibilizados pela Prefeitura. 77 exigindo o escalonamento das demandas a fim de que sejam “executadas”. Como se isto não bastasse, ainda existem os “critérios técnicos”, totalmente desconhecidos por parte da população, que definiam as condições necessárias para que as demandas fossem implementadas. Tínhamos, então, o conflito entre duas linguagens distintas: a da realidade e a da técnica, em que a predominância da segunda sobre a primeira quase sempre foi a regra. Nesse sentido, pudemos identificar, nesse processo de negociação, três formas de interlocução entre essas linguagens: O primeiro nível pode ser caracterizado pelo teor de secundarização das demandas da população, no qual estas são simplesmente taxadas de inadequadas por estarem fora daquilo a que as Secretarias se propõem. Aqui o papel da Secretaria é “predominante” no julgamento das propostas e fecha-se totalmente a possibilidade de diálogo com os conselheiros para compreender as reais necessidades ali expressas e até mesmo encaminhá-las para uma outra pasta que pudesse dar conta. O segundo nível assinalava a incontestabilidade dos pareceres técnicos. A maior parte das Secretarias encontrava-se nesse nível. Estas, normalmente, entregavam aos(às) conselheiros(as) um relatório com a análise de viabilidade das demandas. De acordo com esta análise, apresentavam-lhes as propostas deferidas e indeferidas; ou seja, os motivos pelos quais a demanda não podia ser atendida. A tabela abaixo traz o modelo de relatório que era apresentado no COP. Nela encontram-se exemplos de demandas indeferidas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A (ETUFOR), sobre o transporte público, no ciclo 2008. Tabela 06 – Modelo de relatório apresentado na negociação do COP – Ciclo 2008 NID 2008.5.36.12 SER V DEMANDA Criar uma linha de ônibus que saia do Planalto Airton Sena, passando pelo Hospital do José Walter, e vá até o terminal de Messejana, voltando para o Planalto STATUS OBSERVAÇÃO Não A ligação da comunidade do Planalto Airton Sena com o terminal Messejana já é contemplada via integração temporal. 78 2008.5.33.26 2008.6.40.21 V VI Fonte: SEPLA, 2008. Ampliação das linhas de ônibus do Planalto Vitória. Que seja criada uma linha de ônibus para o terminal de Messejana ou que seja ampliada a linha Dias Macedo até o terminal de Messejana, passando pelo Não O Sistema Viário atual da comunidade do Planalto Vitória não permite ampliações. Não A ligação destas comunidades com o Terminal de Messejana já é contemplada via integração temporal Pudemos acompanhar esta negociação em uma das reuniões do COP em que estivemos presentes, no citado ano. Vimos a contestação dos conselheiros acerca das propostas acima explicitadas, sobretudo as que apontam a integração temporal como solução. Um dos conselheiros contra-argumentou dizendo que o projeto de integração temporal, por ser novo, não era conhecido por todos e só funcionava se as pessoas tivessem o cartão de passagem; porém, como nem todos os munícipes possuíam este cartão, a solução dada pela ETUFOR às demandas tornar-se-ia impraticável. Em resposta, o diretor da ETUFOR reconheceu que a integração temporal era novidade, mas disse que logo esta seria uma realidade no Município e todos seriam contemplados por ela, por isso não inviabilizava as respostas dadas às demandas (ARÃO, 2009). Assim, percebemos que as inviabilidades técnicas apareciam como verdadeiras sentenças. Embora os conselheiros questionassem os pareceres técnicos, elas não eram modificadas. Um terceiro nível de interlocução entre poder público e conselheiros caracterizava-se pela possibilidade de efetivação de um consenso, em que se percebia a possibilidade de uma verdadeira negociação. Os critérios técnicos estavam presentes, contudo não eram empecilhos para a discussão e priorização por parte dos conselheiros das demandas que comporiam o projeto de Lei Orçamentárias Anual do Município. Os relatórios de algumas Secretarias (é bem verdade que em número bem reduzido), além de apresentarem o parecer técnico, traziam os valores previstos para ano em negociação e ainda uma projeção do valor previsto para execução de cada uma das demandas que poderiam vir a ser deferidas, conforme a priorização feita no COP. De posse desse relatório, os(as) conselheiros(as), além da clareza sobre o que iam deliberar, das opções reais de escolha para deliberação, negociavam com a Secretaria, por meio do debate, a revisão de algumas demandas apresentadas como 79 indeferidas. Nesse sentido, pudemos perceber, diante do conflito entre as propostas viáveis tecnicamente e as demandas necessárias à população, um forte movimento de negociação em vez da simples validação das decisões do Poder Executivo, como vimos em outros momentos da rodada de negociação. Diante disto, ponderamos que ainda havia muito que se avançar, principalmente em direção à quebra do predomínio das relações hierárquicas, pois, conforme nos alerta Demo (1988, p. 77), um espaço efetivamente público trata as divergências “sobre o pressuposto das oportunidades equalizadas, ou seja, de igual para igual”. Assim, seria necessário romper com a tradição hierárquica, que continuava a se afirmar nesse processo, e instaurar relações igualitárias/democráticas que garantissem a participação real de seus diferentes participantes nas decisões sobre os destinos da Cidade. Pareceu-nos que, nos anos seguintes, o OP começava a caminhar no sentido de responder aos nossos questionamentos. Pelo menos foi assim que pensamos quando nos deparamos com as mudanças propostas no Regimento Interno do OP que regeria os ciclos de 2010 e 2011. Tema que examinaremos nas próximas linhas. 3.2. Os ciclos do OP 2010 e 2011: mudanças e inovações no desenho institucional. Como a aprovação do orçamento acontece de um ano para o outro, a revisão do Regimento aconteceu ainda em 2009. Nesse ano, o excesso de demandas aprovadas e não realizadas levou o Poder Executivo e o COP a repensar a metodologia do OP. Sempre fora reivindicação dos conselheiros a interrupção de aprovação de novas propostas para o OP sem que as demandas já autorizadas fossem concluídas. Mas como havia formalidades a cumprir, o poder público pouca atenção dava para tal exigência, e os ciclos do OP continuavam normalmente aprovando cada vez mais demandas. Mas os conselheiros tinham razão, pois o acúmulo demasiado de demandas dificultava a agilidade do processo do 80 OP colocando em cheque a sua legitimidade. Foi assim que, em 2009, o OP parou para ser reformulado. O COP, como órgão que delibera também sobre a metodologia do processo, discutiu e conseguiu entrar em consenso com o Poder Executivo e aprovar uma nova configuração para o ciclo do OP naquele ano, que ficou conhecido como o Ciclo de Prestação de Contas. Diferentemente dos anos anteriores, o Ciclo do OP em 2009 funcionou como uma prestação de contas, junto à população, acerca das demandas aprovadas em assembleias realizadas entre 2005 e 2008. O objetivo do Ciclo 2009 do OP foi o repasse de informações completas sobre as obras e serviços solicitados pela população até então. Assim, foram informadas quais as obras e serviços possíveis de serem executados e quais as que não foram possíveis, deixando claro os aspectos técnicos, inclusive aqueles que impossibilitaram a realização de alguns desses serviços. Nas assembleias realizadas durante este período, ainda foram eleitos novos delegados tendo em vista o trabalho de fiscalização e controle das demandas exercidos por eles (FORTALEZA, 2009). Visando melhorar o acompanhamento das demandas do OP, criou-se a ferramenta, Sistema de Informações do OP (SisOP), que, por meio da internet, possibilitava o acesso de qualquer pessoa às informações sobre a execução das obras e serviços. Nesse período, o OP também muda de coordenação, sai da estrutura da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA) e passa a vincular-se politicamente à Comissão de Participação Popular, do Gabinete da Prefeita (FORTALEZA, 2009). A partir daí outras mudanças continuaram a acontecer. E ainda em 2009, o Regimento Interno do OP passou por mais uma revisão e mudou significativamente a sua execução. Por isso que classificamos o OP antes e depois de 2009, pois as mudanças efetivadas nesse ano modificam totalmente a concepção do OP em Fortaleza. 81 Por meio dessas alterações, foi instaurada no OP Fortaleza a participação direta da população na definição das demandas a serem priorizadas, função que competia ao COP, conforme descrevemos anteriormente. De acordo com o discurso oficial da gestão municipal, com esse novo formato, a população teria seu poder de decisão fortalecido e o conhecimento necessário para realizar as demandas priorizadas (FORTALEZA, 2010). As mudanças que ocorreram em relação aos ciclos passados foram as seguintes: As assembleias preparatórias foram substituídas pelas reuniões comunitárias; e as assembleias deliberativas passaram a ser realizadas em duas etapas: a eletiva e a decisiva. Na primeira, conforme discurso oficial, os participantes priorizariam as proposta de obras e serviços para as áreas regionais ou para os segmentos sociais, como acontecia antes. A novidade estava na realização da segunda etapa, a decisiva. Segundo a Comissão de Participação Popular (FORTALEZA, 2010), após a etapa eletiva, a administração municipal orçaria as propostas definidas no primeiro momento. E, então, com base no orçamento do Município e no custo de cada obra ou serviço priorizado, os participantes da assembleia efiniriam as propostas a serem incluídas no orçamento municipal. Esta alteração, inclusive, diferenciaria o OP em Fortaleza das demais experiências realizadas no Brasil, que continuam realizando a negociação das demandas por meio da representação do COP. No novo formato apresentado, as áreas de participação foram redimensionadas e reduzidas de 51 para 27 APs, conforme nos mostra o mapa 2 a seguir. Mapa 02 – Áreas de Participação do Orçamento Participativo Fortaleza – 2010 82 Fonte: Comissão de Participação Popular (2010). As assembleias eletivas aconteceram em 2010 no período de abril a julho, e em 2011 entre os meses de abril e junho. As decisivas realizaram-se nos períodos de novembro a dezembro e setembro a novembro respectivamente. Em 2010, participamos apenas da fase decisiva e estivemos presentes em quatro assembleias, das SERs III (AP 11), IV (AP 13), V(AP 20) e VI (AP 23) (ver mapa acima). Já em 2011, participamos tanto das assembleias eletivas como das decisivas. Inicialmente fomos às eletivas das SER I (AP 04) e III (AP 11), mas depois decidimos acompanhar apenas as assembleias da área de participação a qual a comunidade de Marrocos pertencia, na SER V (AP18). Assim, acompanhamos nestes dois ciclos um total de oito reuniões. 3.2.1 As assembleias Eletivas Normalmente, a equipe do OP escolhe uma área central entre os bairros que compõem a área de participação para a realização da assembleia. Porém, algumas vezes, foi necessário garantir o transporte das pessoas que moram na circunvizinhança por causa da distância. Um exemplo foi a assembleia que a comunidade do Marrocos participou34, que foi 34 Em 2011 acompanhamos a participação dos moradores do Marrocos no ciclo do OP. 83 realizada em uma escola no bairro Granja Lisboa. Apesar de serem bairros próximos à escola, não ficava perto para os moradores do Marrocos, que teriam que andar muito, então, nesse caso, a Prefeitura enviou um ônibus para levá-los. As fotos a seguir foram tiradas nesse dia. FOTO Nº 01 – Ônibus fretado pela Prefeitura para levar participantes da comunidade Marrocos à assembleia eletiva do OP 2011 (Foto da autora). FOTO Nº 02 – Ônibus fretado pela Prefeitura para levar participantes da comunidade Marrocos à assembleia eletiva do OP 2011 (Foto da autora). Ao chegarmos ao local destinado à realização da assembleia, deparamos-nos com um ambiente devidamente preparado para divulgar e impulsionar a imagem da gestão municipal. Enquanto aguardávamos o início da reunião, em um telão projetava-se, repetidas vezes, uma peça publicitária sobre os feitos da Prefeitura. Esse foi um dos primeiros pontos que nos chamou atenção. Logo na entrada existe um espaço preparado, conforme mostram as fotos a seguir, para o credenciamento dos participantes. Ali são registrados os dados (nome, idade e bairro) destes participantes para que, posteriormente, conforme nos informou um membro da equipe, 84 haja a possibilidade da Coordenação do OP traçar um perfil deles35, bem como de contabilizálos, pois é a partir deste número que se define a quantidade de propostas que podem ser eleitas na assembleia. FOTO Nº 03 – Credenciamento participantes FOTO Nº 04 – Credenciamento participantes assembleia eletiva SER V 2011 (Foto da assembleia eletiva SER V 2011 (Foto da autora). autora). Ao nos cadastrarmos, recebemos a cédula de votação das propostas. Cada participante pode votar em até três propostas dentre as que forem apresentadas na assembleia, devendo cada uma delas pertencer a eixos diferentes (lembremos que os eixos de discussão do OP são: assistência social, cultura, direitos humanos, educação, esporte e lazer, habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, trabalho e renda, transporte e turismo). No caso de votação em duas propostas do mesmo eixo, o segundo voto é anulado. As propostas recebem pontuação conforme a prioridade de escolha: a colocada em primeiro lugar recebe três pontos; no segundo, dois pontos; e no terceiro, um ponto (FORTALEZA, 2006). À medida que nos credenciamos, mais pessoas vão chegando, umas vêm sozinhas, outras chegam em caravanas, como a comunidade do Marrocos, enfim, são moradores dos bairros da área de participação que se reúnem para tomar parte nos debates. Ao acompanhar estas assembleias, sempre nos fazíamos estas perguntas: como os participantes são mobilizados para estar nesse lugar? Será que elas estão conscientes do que foram fazer ali? 35 Tal informação nos interessou bastante, inclusive solicitamos a Prefeitura a disponibilização desse perfil por diversas vezes, porém, não fomos atendidos. 85 Nossa pesquisa de campo nos mostrou que há muita imprecisão e confusão por parte dos participantes a respeito do OP e acerca do seu papel enquanto participante desse espaço. Nossa ida à assembleia no ônibus com a comunidade do Marrocos foi reveladora em relação a este assunto. As pessoas adentravam naquele ônibus, a maioria indo pela primeira vez a uma assembleia do OP e, por isso, com muitas dúvidas sobre para onde iam e porque iam. Alguns associavam a palavra assembleia à Assembleia Legislativa e outras pessoas perguntavam: “o que vamos fazer lá? E lá funciona à noite?” O que demonstra a fragilidade das decisões tomadas nesse espaço. Tratamos dessa questão também em nossas entrevistas a fim de compreendermos melhor como as pessoas são convencidas a comparecerem às assembleias, e descobrimos que realmente elas não são esclarecidas sobre o que é o OP. O convite é feito pela equipe da Prefeitura ou pelos líderes comunitários de forma genérica. Os moradores são convidados para irem a uma reunião onde irão tratar de assuntos que podem trazer melhorias para a comunidade. Tanto aqueles que estão participando no OP por mais tempo quanto àqueles que estão participando a pouco tempo no OP confirmaram esse asserto: Eu vou de casa em casa e digo: tem reunião, vamo (sic) para reunião, pra trazer calçamento pra cá (Jade). É assim, eu saio convidando, conversando, fico procurando as palavras certas pra levar eles, se não, não dá certo. Não dá, porque o pessoal, como sempre não sabe o que é OP, se eu disser vamos pra reunião do OP, eles dizem o que é isso? Eu digo: a gente vai procurar recursos pra cá pra dentro, pra ajuda da comunidade! Aí quando você fala ajuda da comunidade muita gente corre atrás. Mas muita gente, às vezes diz assim: ah não! Eu num vou não, pois muitas reunião que nós fumo, muitas reunião! Só dá em reunião mesmo. Eles dizem, eu não! eu não entendi nada que aquele povo falou (Ranya) Eu fui porque disseram que lá a gente votava né? Porque a gente pedia as coisas que a gente queria pro bairro da gente (Mohamed). O fato de o OP em Fortaleza ter sido implantado como parte de um programa de governo no qual a sociedade foi chamada a fazer parte depois de tudo está pronto, e a falta de discussões permanentes na comunidade acerca deste instrumento e, diríamos mais, a pouca expressividade das realizações do OP na Cidade podem justificar a utilização desses subterfúgios para mobilizar, ao menos, um número mínimo de pessoas que se disponham a participar. Até porque o número de propostas a ser eleitas nestas assembleias, conforme dito antes, está sujeita ao número de seus participantes. 86 Após o credenciamento, inicia-se inicia a reunião. Um componente da equipe municipal do OP nos adapta ao novo ambiente e nos informa os objetivos da assembleia, quais sejam: a exposição de como see efetiva o ciclo do OP (ver figura abaixo); a explicação de cada uma das etapas que o compõe; a apresentação dos resultados do OP tanto em nível regional como municipal; e a proposição por parte da população das demandas de obras e serviços para compor o orçamento municipal. Figura 01 – Ciclo do Orçamento Participativo Fortaleza – 2010 - 2011 Fonte: CPP (2010)- Elaboração própria. No antigo formato, nas assembleias preparatórias, as informações referentes aos resultados do OP e do orçamento municipal eram eram apresentadas pelos secretários das SERs, pelo o secretário de planejamento e orçamento orçamento e por um técnico da Secretaria de Finanças. F Nessa nova formatação, apenas quem vai às assembleias eletivas, e não vai a todas, são os secretários das SERs. Esses fazem fazem uma breve aparição e apenas abrem as reuniões, dando boas vindas aos participantes. E toda a comunicação é executada pela equipe do OP da SER onde está acontecendo a assembleia. Outro aspecto que mudou em relação ao modelo anterior foi a eliminação do d direito da população que estava presente na assembleia ia de participar da avaliação do OP, no qual eles podiam tecer suas considerações sobre o OP e ser ouvidos pelo poder público municipal representado pelos secretários. Deste modo, os participantes podiam, podia nesse espaço, 87 revelar sua insatisfação com a demora da execução das demandas aprovadas; solicitar esclarecimentos ao poder público sobre a não materialização dessas demandas; e ainda podiam exaltar a importância do OP, por ser um mecanismo que tornava visível as reivindicações antigas das comunidades menos favorecidas de Fortaleza. Enfim, nesse espaço, abria-se a possibilidade de diálogo, embora ainda incipiente, entre população e Prefeitura. Porém, a ausência desse momento e também a ausência dos representantes das secretarias nas assembleias do OP, de certa forma, exauriu essa tentativa de diálogo. Agora, os participantes só falam na hora de apresentar suas propostas. Enquanto o representante da equipe do OP explica cada um dos objetivos da assembleia, aqueles que tiverem propostas para indicar já podem cadastrá-las36. Então, são organizadas filas com as pessoas que têm propostas a apresentar. As equipes de apoio da Prefeitura Municipal anotam as propostas em tarjetas grandes, de maneira que fiquem visíveis a todos, numerando-as e classificando-as de acordo com os eixos temáticos do OP. Em seguida, cada pessoa apresenta sua proposta à plenária, tendo o tempo de um minuto para defender e explicar sua ideia, conforme nos mostram as fotos a seguir. Normalmente quem expõe essas demandas são os líderes comunitários; a presença deles no OP é muito expressiva, pois eles também orientam as pessoas para votarem nas propostas apresentadas por eles ou pelo grupo. Observamos que, apesar das propostas propagarem problemas enfrentados por todos na comunidade, a sua elaboração, em grande parte, não passa por uma discussão coletiva anterior à assembleia, não há um envolvimento ativo da comunidade em torno da construção dessas demandas. 36 Isso acaba criando uma grande dispersão na plenária e torna difícil a compreensão do que está sendo apresentado. 88 FOTO Nº 05 – Cadastro das propostas - Assembleia Eletiva SER V -2011 (Foto da autora). FOTO Nº 06 – Apresentação das propostas- Assembleia Eletiva SER V -2011 (Foto da autora). Ao acompanharmos a comunidade do Marrocos em uma dessas assembleias, percebemos um esforço por parte dos convidados em tentar articular propostas que expressassem um consenso, mas isso aconteceu de forma aligeirada dentro do ônibus que os levava para assembleia. Um dos moradores que, durante toda a semana, fez articulações para o povo ir à assembleia, passava de cadeira em cadeira perguntando as pessoas o que elas achavam que teriam de defender como proposta para a comunidade Marrocos, e assim foram surgindo várias sugestões que iam sendo discutidas, embora limitadamente. O tempo no ônibus não foi suficiente para esgotarem as discussões e continuaram ao chegarem à assembleia. Assim, falava com um e com outro, conversava daqui e dali, tudo isso enquanto o representante da Prefeitura falava. E em meio a essa correria e barulho e com todos os limites que possam existir e imaginar, eles construíram suas propostas, a saber: atendimento da comunidade pelo posto de saúde Abner Cavalcante e a presença de agentes de saúde no bairro; cursos profissionalizantes; geração de trabalho e renda para atender os moradores da comunidade; e a construção de uma creche ou aluguel de salas para atender crianças que ainda não estão em creche. Esses relatos demonstraram a fragilidade do processo de construção das propostas para o OP e a necessidade de melhorá-lo de forma a envolver a comunidade a fim de que estas se afirmem coletivamente. 89 Concluída a exposição das propostas, inicia-se o processo de votação. Os participantes têm um tempo para revisarem as sugestões apresentadas e optarem pelas três que querem eleger como as mais importantes para a sua localidade. No entanto, os votos já são registrados nas cédulas ao mesmo tempo em que as propostas estão sendo apresentadas. Acontece assim, no momento em que os participantes identificam as propostas do seu bairro ou comunidade, eles fecham os seus votos e nem escutam mais as outras propostas. A contagem dos votos é realizada logo após o encerramento da votação. Para tanto, compõe-se a mesa apuradora, que conta os votos sob a fiscalização dos participantes da assembleia e, ao final, é apresentada a lista com as propostas eleitas e seus respectivos votos, encerrando-se a assembleia. Esperamos que nosso passeio tenha ajudado a elucidar o clima de uma assembleia eletiva, encorajando-os a continuar apreciando as mudanças na estruturação do OP em Fortaleza. Vejamos, agora, como se organizam as assembleias decisivas. 3.2.2 As Assembleias Decisivas Esse momento é totalmente diferente do que acontecia no formato anterior. É nesta assembleia, conforme discurso da Prefeitura, que aconteceria a participação direta, em que os participantes da assembleia escolheriam as demandas a serem contempladas no orçamento municipal sem a intermediação dos conselheiros. É aqui também que os delegados do OP são eleitos. 90 FOTO Nº 07 – Assembleia Decisiva SER V 2011(Foto da autora). FOTO Nº 08 – Assembleia Decisiva SER V 2011(Foto da autora). Igualmente como acontece nas eletivas, quando as distâncias são muito grandes, a Prefeitura disponibiliza ônibus para levar os participantes à assembleia. E mais uma vez a comunidade do Marrocos contou com o transporte para garantir sua presença na assembleia, e nós acompanhamos novamente esse processo e ficamos surpresos, pois, dessa vez, os moradores não responderam à mobilização da mesma maneira que responderam o chamado para as eletivas. Perguntamos-nos o porquê disso acontecer e vimos que a dificuldade de muitos moradores é compreender bem o processo do OP em sua totalidade; a distância de tempo, cerca de seis meses, que separa uma assembleia da outra; e a falta de discussão entre os moradores sobre o OP, nesse período, fez com que esses moradores não quisessem mesmo participar desse momento. E nos parece que esse problema não se manifesta apenas no Marrocos, pois vimos uma descontinuidade de participação de uma assembleia para a outra. Assim, foi comum encontrar nas assembleias decisivas, as quais acompanhamos, um número expressivo de pessoas que estavam indo ao OP pela primeira vez, e que nunca haviam participado de nenhuma atividade do OP. Percebemos que muitas pessoas estavam totalmente alheias ao processo, sem saber ao certo o que essa reunião significava e muito menos sem compreender que propostas eram essas que teriam que votar, uma vez que não estiveram presentes no primeiro momento quando estas propostas foram elaboradas e priorizadas, o que revela a pouca representatividade e a baixa capacidade decisória destes participantes. 91 Diante disso, começamos a questionar a qualidade da participação direta tão propalada nesse novo modelo; buscamos saber com base em que parâmetros eles iriam decidir as obras e serviços que deveriam entrar no orçamento; e como aconteceria a eleição das propostas. Mostraremos mais adiante como tudo isso acontece, mas, antes, permita-nos narrar a maneira pela qual se realiza essa assembleia. A assembleia é composta por dois momentos. No primeiro, acontece a eleição dos delegados, aqueles que irão representar o bairro e a comunidade e que irão exercer a fiscalização da execução das obras e serviços do OP. A maioria desses representantes, conforme indicamos anteriormente, são identificados como líderes comunitários. Estes já estabelecem ou estabeleceram alguma relação com a Prefeitura, por meio do OP, e são eles, geralmente, os responsáveis pela mobilização dos participantes nas reuniões. E, especificamente nesta reunião, eles têm um grande interesse em levar pessoas para elegê-los ou para eleger aqueles que eles estão apoiando. Por isso, não importa se a pessoa esteja ciente ou não das discussões anteriores do ciclo do OP, se já participaram, o que lhes interessam realmente é o quórum. O processo de eleição dos delegados acontece da seguinte forma: organizam-se filas com aqueles que querem se candidatar. A equipe de apoio da Prefeitura registra o nome completo dos pretendentes e lhes entrega um número de registro, o qual é utilizado pelos participantes para a votação. Assim, cada candidato cadastrado apresenta-se, defende sua candidatura e divulga seu número para o pleito. Segue-se, então, com a votação e apuração, e, no final, são apresentados os nomes dos delegados eleitos para compor o Fórum de Delegados. Percebemos que esta escolha, algumas vezes, orienta-se por relações personalistas. DaMatta (1997), ao discutir a cidadania na sociabilidade brasileira, ajuda-nos a compreender essa lógica, que chama de “lógica das lealdades relacionais”, que dispensa o compromisso legal ou ideológico. Segundo este autor, a estratégia social e política mais visível no Brasil é a de buscar a relação. “Quem você conhece versus quem conheço é o dado 92 fundamental no cálculo social brasileiro” (DAMATTA, 1997, p.88). Assim, os participantes elegem seus candidatos com base na relação que estabelecem com eles. No segundo momento acontece o encaminhamento das propostas priorizadas nas assembleias eletivas. Com base no estudo técnico elaborado pela Prefeitura37, são apresentados aos participantes o status de cada uma das demandas. Desta forma, elas são classificadas em viáveis, não viáveis. Dentre as viáveis, estão aquelas que são possíveis, e é entre essas que a população participante da assembleia tem que votar e decidir qual será contemplada, isso quando existe mais de uma para escolher, pois, às vezes, vem só uma classificada como possível e não há mais sobre o que se decidir. Não demorou muito para descobrirmos que a tal “participação direta” não passava de mero discurso. Assim, com o andamento da assembleia, percebemos que não seria necessária nenhuma discussão prévia, nenhum parâmetro para decisões, pois não existem decisões a serem tomadas. O que vimos é que a Prefeitura define previamente quais investimentos são possíveis e, assim, o processo de participação, de decisão, resume-se a uma consulta popular. Carlos (2009) nos assevera que um dos limites ao processo de incorporação de atores sociais coletivos ao debate é exatamente a partilha real do processo decisório entre poder público e os cidadãos interessados. Segundo a autora, ao contrário disso, verifica-se que na maioria dos casos a participação da sociedade civil é entendida em um viés meramente consultivo, ao invés de concebida como um processo de autodeterminação e de soberania popular na definição das políticas que se constroem nas interações sociais de deliberação coletiva, consubstanciada em um projeto de participação na gestão pública resistente a formas mais emancipadoras e politizadas de controle social, voltado tão somente à legitimação, credibilidade e referendamento das propostas do governo (Idem p.233). Diferente do que acontecia nas rodadas de negociação no COP, em que os conselheiros, embora de forma incipiente, tinham a possibilidade de debater com os secretários a situação das demandas nas assembleias decisivas, os participantes apenas são informados sobre a posição da Prefeitura, posição que se reafirma como sentença, uma vez 37 O estudo das demandas é realizado no intervalo de tempo entre as Assembleias Eletivas e Decisivas, normalmente entre os meses de maio e setembro. 93 que não há com quem e nem como debater, discutir ou revogar a decisão anunciada. Nesses termos, a relação entre poder público e cidadãos é vazia de interação dialógica, reflexiva e crítica, portanto, vazia da possibilidade de partilhamento de poder e de democratização do processo decisório. E isso descaracteriza o OP de seu potencial político e de sua capacidade formadora capaz de “qualificar a cidadania para o exercício autônomo da tomada de decisões e para a responsabilização e controle social dos agentes públicos” (CARLOS, idem. p. 232). Deste modo, no lugar de avançarmos para um debate público ampliado, pautado na explicitação das diferenças de interesses, na legitimidade do conflito como parâmetro para a tomada de decisões, esbarramos no esvaziamento político desse espaço que acaba servindo muito mais aos propósitos de um projeto político conservador que não compartilha, a não ser, retoricamente, o poder de decisão. Mais do que antes, observamos a supremacia do saber técnico que retira dos cidadãos participantes a possibilidade de pensar de forma propositiva, crítica, realista e viável às soluções para os problemas vividos em seus territórios (CARLOS, idem). Desse modo, concordamos com Ferraz (2009, p.124) ao afirmar que esse processo de esvaziamento reitera a evidência de que uma concepção de participação democrática restrita e elitista em que a manutenção de modelos tradicionais (centralizadores, autoritários, tecnoburocráticos, particularistas) de processamento das decisões que repõe a exclusão política das organizações representativas da sociedade civil, tem balizado essas experiências e contribuído, também, para um processo de restrição e especialização da participação no interior dessas organizações, aprofundando o distanciamento entre lideranças, representantes dessas organizações nos arranjos participativos e as bases societárias às quais se vinculam. Com isto não queremos dizer que as questões organizacionais, administrativas e técnicas devam ser desprezadas, mas que elas precisam ser reformadas no sentido de produzir mudanças efetivas no modo de gerir os recursos públicos, definir políticas ou organizar serviços (NOGUEIRA, 2004); de promover o envolvimento adequado e suficiente da administração ao apoio à participação; e de estabelecer uma nova cultura política de modo a estimular práticas efetivas de uma gestão compartilhada (CARLOS, 2009). É preciso, pois, romper com a cultura tecnoburocrática prevalecente em nossa formação político-cultural e fazer emergir uma cultura tecnodemocrática, na qual os critérios técnicos e as soluções apresentadas pelo corpo técnico e administrativo não sejam impostos de forma autoritária, mas passem por uma ampla e aberta discussão (SANTOS, 2009). Em suma, necessita-se 94 reverter o padrão de planejamento, aliando a especialização técnico-administrativa com o protagonismo ético político, para, assim, saber lidar com a participação não como recurso de legitimação governamental, mas como espaço de emancipação (NOGUEIRA, 2004). Diante do exposto e com base no balanço das relações estabelecidas no âmbito do OP em Fortaleza, devidamente apresentadas neste capítulo, somos advertidos sobre o quanto este espaço precisa ser aperfeiçoado e sobre o quanto ainda é preciso avançar na consolidação de uma gestão pública administrativa democrática. A observação da manutenção de hierarquias, da baixa capacidade de articulação e mobilização de organizações da sociedade civil, a deficiência da publicização do Estado em termos da transparência, da partilha de poder, e a existência de uma tendência instrumental e utilitária da democracia devidamente calcada nos fundamentos normativos da retórica reformista do Estado que tendem a inviabilizar as relações de conflito e as contradições existentes neste espaço, de modo a desmobilizar e esvaziar as reivindicações de seus participantes, aponta-nos alguns dos desafios que ainda precisam ser enfrentados. No próximo capítulo, apresentamos as percepções dos moradores do Marrocos acerca do OP e tentamos perceber se esses limites, outrora apresentados, interferem, condicionam ou não seus modos de compreender esse espaço. 95 4. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM FORTALEZA: ATORES, PRÁTICAS E DISCURSOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO Neste capítulo propomo-nos à construção de uma análise interpretativa do OP a partir do ponto de vista dos moradores da Comunidade Marrocos. Inicialmente, apresentamos como se estabeleceu a relação da Comunidade com o OP e como isso tem influenciado sua posição em relação a este espaço. A seguir, trazemos as falas dos moradores que justificam a sua não participação neste espaço. Por fim, apresentamos e interpretamos as significações da participação e as percepções presentes em seus discursos acerca deste espaço. 4.1. Relação da Comunidade Marrocos com o Orçamento Participativo A relação da comunidade do Marrocos com o OP começa no primeiro ano de realização dele. A ONG Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa - CDVHS - foi referida, por nossos entrevistados, como a responsável, naquele momento, pela divulgação do OP e articulação dos moradores do Grande Bom Jardim para participarem desse novo espaço. A oportunidade de reivindicar melhorias e soluções para problemas antigos da comunidade foi a principal razão que levou os moradores a irem ao OP. Os excertos abaixo confirmam essa proposição: Eu fui lá, fui realmente esperando ver alguma coisa acontecer que foi os pedidos dessas casas, nós fomos fazer os pedidos dessas casas. Aí tivemos lá, tivemos lá no CDV... (CDVHS), tudo isso antes de ir para a assembleia grande. No CDV... nós tivemos o primeiro contato, foi quando eles vieram falar do OP. Só que eu como muitas não sabia o que é que significava, eu fui, como é que eu te digo, pra saber o que era, pra saber se tinha alguma coisa de bom pra cá, pra dentro. (Ranya) Porque assim, o Marrocos era bem decadente, aí qual o objetivo? Vamos pra a assembleia, vamos pedir isso e isso para o Marrocos (...) Porque aqui era cheio de casas de taipa. A presidente da associação pediu as casas, eu pedi o calçamento e o saneamento. (Jade) Bem o que me incentivou na realidade é que eu queria que a nossa comunidade, assim, nosso bairro crescesse. Eu fui lá para procurar alguma coisa para nossa comunidade (...) Então, eu quero estar por lá, e eu quero, inclusive, se tiver projeto e eu tiver como levar, eu quero ver se me ouvem e se esses votos são votados pra gente ver se a gente consegue alguma coisa pra cá. (Ali) Apenas um dos entrevistados atrelou sua motivação à curiosidade e ao desejo de saber como funcionava esse espaço. 96 O que foi que me motivou? Nada, porque eu quis participar só pra ver como é que é. Eu queria conhecer só isso! Curiosidade, só isso e pronto. (Mohamed) Fizemos um levantamento e vimos que não foram muitas as reivindicações da comunidade aprovadas no Plano de Ações do OP. Entre os anos de 2005 a 2011, identificamos apenas quatro demandas38, uma na área da habitação, uma na educação e as outras duas na área de desenvolvimento econômico, discriminadas a seguir: em 2005, encontramos a solicitação da construção de 157 casas populares que substituíram as casas de taipa existentes na comunidade; e a construção de uma creche. Em 2007, a creche foi citada novamente para constar no Plano de Ações, uma vez que não foi construída no ano anterior, conforme tinha sido planejada. É importante ressaltar que essa creche só foi concluída agora em 2012, cinco anos depois da primeira proposta. E os moradores do Marrocos ainda não ficaram satisfeitos, pois a creche não foi construída dentro da comunidade, como eles haviam solicitado, mas em uma comunidade próxima, no Parque São Vicente. Novas demandas são encontradas apenas no ano de 2011, ou seja, passaram-se exatamente três anos39 para vermos novamente o Marrocos no Plano de Ações, sendo que, agora, as demandas atentavam para a necessidade de geração de trabalho e renda, e para a realização de cursos de cabeleireiro para os jovens e mulheres da comunidade. Em relação ao projeto habitacional, a Prefeitura iniciou a obra no ano de 2006, o projeto previa, além da construção das casas, a infraestrutura das ruas, saneamento básico e a regularização fundiária. O que levou muita expectativa para os moradores; alguns dos nossos entrevistados nos relataram a euforia daquele momento: 38 Essas foram as demandas que depois das negociações foram contempladas no Plano de Ações. Isso significa que existiram mais propostas, mas não entraram no Plano de Ações, como aconteceu no ciclo 2011 em que a comunidade apresentou quatro demandas e apenas duas foram aprovadas. 39 Estamos levando em conta que no ano de 2009 não houve eleição de demandas no OP em Fortaleza. E atrelamos essa ausência da comunidade nesse espaço à repercussão negativa da não realização da demanda de construção das 157 casas. Tema que abordaremos a seguir. 97 Aí em, 2006 a gente fomos contemplados [sic]. Quando a assistente social da Habitafor chegou aqui, ela falou pra gente que a gente tinha sido contemplado não só com as casas, nós tinha sido[sic] contemplados não só com as casas, a gente tinha sido contemplado com o saneamento, o calçamento e a regularização fundiária. E aí pronto, foi aquela euforia aqui dentro! Aquilo só me incentivou a continuar indo para as assembleias, continuar participando do OP. (Jade) Nós fizemos até um pedido elevado, pedimos 250 casas. Mas por ter sido aceitado [sic] as cento e cinquenta e sete, nós achemos [sic] até uma glória pra nós, porque cento e poucas casas que seriam feitas, pra nós foi muito! A expectativa era grande, toda hora nós via [sic] eles chegarem. Pelo menos eu, tinha dia que eu nem dormia, eu ficava naquele pensamento: meu Deus como é que vai ser essas casas, como é que vai ser? Que eu não pensaria de ser umas casas tão boas, não! Mas a gente ficava na expectativa até o dia aqui que começaram a chegar. Ah quando o pessoal da Habitafor entrou ali, ave Maria foi uma festa pra nós, porque nós ainda ficava [sic] pensado será que eles vem mesmo, será que é verdade? Primeiro eles vieram fazer toda a avaliação, todo o cadastramento, realmente do jeito que foi dito lá, que eles vinham fazer todo esse cadastramento, iam conhecer o nível de tudo que era pra poder escolher as famílias que ia ser contempladas [sic] e começar a construção das casas. (Zoraide) A obra, contudo, não foi finalizada, pois vários problemas impediram a conclusão dessa demanda: o primeiro grande obstáculo manifestou-se na concepção do projeto; os moradores não foram chamados a participar de sua elaboração, os técnicos da Prefeitura chegaram com tudo pronto e apenas apresentaram o que iria ser feito. Várias objeções e discordâncias foram esboçadas pela comunidade, gerando resistência à sua execução. Outro grande problema atrelado a esse envolveu a postura da equipe técnica em relação à área de intervenção. Na época, existiam na comunidade muitos terrenos vazios, cercados, mas desocupados, e o projeto previu nesses terrenos a construção das novas casas e a entrega dos equipamentos sociais para a comunidade. No entanto, os terrenos tinham seus supostos donos, eram pessoas que não tiveram condições de construir sua moradia, por isso cercaram os terrenos, para construírem logo que melhorassem financeiramente; e outras possuíam o terreno como investimento. Essas pessoas passaram a reivindicar a propriedade dos terrenos, e isso gerou uma grande confusão, uma vez que a equipe técnica não reconhecia a propriedade pela falta de documentação que a comprovasse. Ora, como essa documentação existiria se o terreno foi fruto de ocupação? Tal fato gerou uma grande insatisfação e resistência ao projeto também por parte desses “proprietários”. Não bastasse toda a turbulência que esse relacionamento truncado da Prefeitura com os moradores da comunidade produzia, existiam ainda outros percalços que fizeram com que o projeto habitacional desandasse: a empresa contratada reclamava do atraso dos repasses 98 dos recursos por parte da Gestão Municipal, o que tornava a execução da obra lenta; e um dos problemas mais sérios foi a denúncia de desvio do material de construção. Os moradores dão conta de que cimento, tijolos e outros materiais destinados ao projeto foram vendidos, dentro da própria comunidade, por algumas pessoas que trabalhavam na empresa. Vejamos o que uma de nossas entrevistadas nos falou sobre isso: a gente vimos [sic], casas grandes sendo feitas com o material da firma que tinha aqui e quando foi parando as obras. Foi desviado muita coisa, muito cimento, muito tijolo, muita coisa mesmo. Aí foi onde desandou tudo, aí o pessoal começaram [sic] a desacreditar. A obra parou no começo de 2008, aí foi quando invadiram as casas. Deixaram as casas aí e o pessoal foram invadindo [sic]. Tem gente que, eu sei, que não estava nem na programação de ganhar, moradores daqui mesmo, que invadiram as casas que estavam aí abandonadas.(Nazira) Depois de tanta confusão, a obra foi paralisada, a Prefeitura entregou apenas 62 unidades habitacionais das 157 previstas, executou pouquíssima coisa referente à infraestrutura das ruas, e não conseguiu encaminhar as ações de saneamento básico, tampouco realizar a regularização fundiária. A empresa responsável abriu falência e abandonou o empreendimento e até hoje a comunidade espera uma posição da Prefeitura acerca dessa demanda. As fotos abaixo retratam a realidade deixada na comunidade após intervenção do Poder Público Municipal. FOTO Nº 09 – Casas entregues pela Prefeitura (Foto da autora). FOTO Nº 10 – Rua sem infraestrutura (Foto da autora). 99 FOTO Nº 11 – Uma das poucas ruas que foram pavimentadas (Foto da autora). FOTO Nº 12 – Ausência de esgotamento sanitário (Foto da autora). O que nos chamou a atenção nesse incidente foi perceber a posição da comunidade, o que nos levou a questionar por que os moradores ficaram apenas assistindo a esses acontecimentos? O que eles fizeram e o que têm feito para cobrar do Poder Público Municipal a prestação de contas do dinheiro que ali foi investido? O próprio contexto matizado por nós, linhas atrás, nos dá pistas para refletirmos sobre essa posição e nos possibilita analisar a complexidade desse processo e evidenciar nele as resistências, as lutas que contestam a posição passiva da comunidade presente em nosso julgamento inicial. Primeiramente, temos a euforia, a esperança de se ter modificada a realidade ríspida, e também a possibilidade de mudança de vida. Depois temos a frustração de muitos moradores com as proposições do projeto, alguns pontos de discordância foram: a retirada das pessoas que moravam à beira do Canal da Viúva, canal que passa dentro da comunidade. As famílias que não concordaram com essa proposição foram aquelas que moravam à beira do canal e possuíam casas bem maiores do que as casas oferecidas pela Prefeitura. Elas ainda tentaram negociar a sua mudança, pedindo a Gestão Municipal, além da nova moradia, o pagamento de indenização que cobrisse a diferença de tamanho entre as casas. Negociação que não foi aceita pela Poder Público. Outro ponto de divergência estava na proposta de urbanização trazida pelo projeto de intervenção, que previa a construção de pequenas praças ao longo da comunidade. Os 100 arquitetos responsáveis acreditavam que essa seria uma boa ideia para a promoção do lazer naquela localidade, mas não contavam com a contestação dos moradores em relação a esses equipamentos. A comunidade posicionou-se contra porque, na opinião deles, em um lugar com problemas sérios de violência, tráfico de drogas, as praças seriam utilizadas apenas como espaço de proliferação dessas práticas. E por isso solicitaram à Prefeitura que no lugar das praças priorizassem a construção da creche, que já havia sido demandado no OP, de uma escola que atendesse as crianças em tempo integral, bem como de equipamento nos quais a população pudesse ser capacitada e orientada para a geração de trabalho e renda, uma das maiores necessidades da comunidade, segundo seus relatos. Mais um ponto de contestação, e nós já falamos sobre ele, foi a utilização indiscriminada dos terrenos vazios existentes da comunidade. Conforme referimos, não houve nenhuma preocupação da equipe técnica responsável pelo projeto em saber quem eram seus donos ou mesmo chamá-los para conversar e negociar a intervenção da Prefeitura ali. Tal posição do Poder Público, a nosso ver, foi arbitrária e altamente incoerente com a democratização dos processos de gestão da cidade tão propalada em seus discursos. E, aqui, Tatagiba (2009) nos ajuda a compreender que essa retórica acerca da participação, tão evidente nas gestões públicas nesses últimos tempos, na verdade cumpre o papel apenas de tentar modernizar e superar as formas convencionais e burocráticas da administração pública sem de fato produzir uma democratização da gestão do Estado, nas palavras da autora: O estabelecimento dos acordos ou a mobilização para a ação conjunta não resulta necessariamente de um debate prévio e informado acerca das alternativas postas à definição do problema e das formas de intervenção. O que está em jogo não é a definição compartilhada do que deverá ser, em cada caso, considerado interesse público [...] o foco não está na definição política do sistema como um todo, no sentido da decisão acerca dos objetivos a serem coletivamente perseguidos, mas uma ação que se inicia e se mantém num certo sentimento de urgência, onde o que conta é minimizar os impactos dos problemas aqui e agora. Nessa direção, o padrão da interação com o ‘outro’ é menos exigente normativamente, uma vez que não é necessário debater e confrontar as diferentes concepções e valores [...] a participação despe-se de seu potencial transformador, por meio de um deslocamento da centralidade do conflito, uma vez que o que está em jogo não é a mudança de condições de dominação, mas a possibilidade de administrar de forma eficiente os recursos financeiros, materiais e humanos existentes. O que se busca como horizonte de expectativas não é a ‘partilha do poder de governar’ mas a dissolução desse poder em gerência eficiente (idem, p.152 e 153). Assim, a participação reduz-se a um recurso gerencial útil para solucionar determinados problemas ou viabilizar e legitimar a reprodução política e eleitoral de 101 governos. Concentra-se muito mais na obtenção de vantagens e de resultados do que na modificação de correlações de forças ou padrões estruturais. Nogueira (2004) clarifica essa proposição ao afirmar: As pessoas podem participar sem se intrometer significativamente no estabelecimento das escolhas essenciais. Podem permanecer subalternas a deliberações técnicas ou cálculos políticos engendrados nos bastidores, em nome da necessidade que se teria de obter suportes técnico-científicos para decidir ou de concentrar certas decisões eminentemente políticas (p.143). Por conta disso, é que se manifesta nosso interesse em apreender também os significados de participação construídos a partir da experiência do OP de modo a observar se essa concepção influencia e se reproduz nos discursos dos moradores do Marrocos. Antes de tratarmos propriamente desse assunto, achamos necessário trazer a posição daqueles que não participam do OP. Conforme dito anteriormente, interessou-nos conhecer os motivos pelos quais a maioria dos moradores da comunidade não toma parte nesse espaço. Por que depois de sete anos de realização do OP em nossa cidade o nível de participação dessa comunidade é tão baixo?40 4.2. Os motivos da não participação Alguns indicadores citados no capítulo anterior nos orientam sobre a desmotivação da comunidade, tais como: a forma como os moradores são mobilizados a participar; a ausência de uma reflexão e discussão entre eles sobre este espaço; e a pouca expressividade do OP dentro da comunidade, uma vez que as demandas com as quais a comunidade foi contemplada não foram realizadas em sua totalidade. Nossos entrevistados afirmaram ainda, pelo menos, três outros motivos. Um primeiro, mais pontual e que tem conexão com os citados anteriormente, diz respeito à falta 40 No levantamento que fizemos, a fim de determinarmos quem seria nossos interlocutores, conseguimos identificar como participantes ativos do OP, ou seja, aqueles que o acompanham desde o começo e que ainda participam de suas atividades atualmente, apenas quatro moradores. Os quatro, porém, foram por nós entrevistados. 102 de divulgação. Quando perguntamos se eles conheciam o OP e sobre o que já ouviram falar sobre ele, nossos entrevistados não souberam responder, as falas transcritas abaixo tornam evidente essa posição: Não, eu não sei o que é e nem ouvi falar!!! Eu acho que falta divulgação por isso que ninguém vai, porque aí Márcia, por exemplo você é líder aqui do Marrocos, aí o que é que eu tenho que fazer? Rapaz, vamos falar com eles, vamos reunir um grupo. Porque não é só você que arranja, eu tenho dito aqui muitas vezes, hoje só se arranja as coisas de grupo, num é só eu, num é só você, nem duas, nem três pessoas que arranja não, Márcia! Tem que ter um grupo, tem que ter aquelas pessoas certas pra trabalhar. (Mustafá) Bem, eu acho que o problema está na divulgação dos eventos que vai ter, porque vamos dizer que a associação, porque ela tem uma facilidade de saber disso com mais antecedência, ela também pode ajudar em dar uma divulgação, vamos dizer que alguém facilite lá um panfleto, um carro de som, uma pessoa vir no mano a mano mesmo chegar, ó vai ter a reunião sobre isso, você vai lá questionar sobre tal... é isso aí que eu acho, porque sempre quando tem, às vezes a gente não sabe, num vai. Aí vai poucas pessoas, porque as pessoas não tem interesse, aí não tem ninguém para representar a sua rua, nem o seu bairro, porque a divulgação foi pouca. (Khadija) O segundo motivo, de maior amplitude, está relacionado ao descrédito dos moradores em relação à “política” ou aos políticos. A ideia de política aqui é aquela referente apenas à ação de votar e escolher os representantes. Esse descrédito é fruto de uma relação perniciosa entre comunidades e alguns candidatos a cargos políticos tão presentes em nossa cidade. Sabemos ainda como são antigas e recorrentes as visitas realizadas por esses candidatos às comunidades, apenas nos períodos próximos às eleições, com intuito eleitoreiro. Muitas são as promessas não cumpridas que trazem como consequência a frustração e a descrença. As falas abaixo ilustram essa afirmação: Aí Márcia, é o seguinte, como diz o outro, aqui no Marrocos nós não tem Prefeitura, nós num conhece um agente de saúde. Nós aqui vive ao deus dará. Aqui, nós não tem uma polícia, ninguém num passa aqui, é havendo desastres aí, mortes, é balaço, é essas coisas. A gente aqui é umas pessoas, que nós vive aqui, como se diz, a deus dará mesmo! Só a mão de Deus pra ter misericórdia da gente, porque maior é Deus mesmo, porque ele é dono do céus e da terra, é ele quem repara em nós!Porque a Prefeitura num vem aqui não!(Mustafá) Eu queria que realmente os políticos olhassem pra nós e vissem, enxergassem não só no dia da eleição pra vir aqui dizer: oh sou candidato a prefeito, a deputado, a senador, governador e outras coisas e eu to querendo ser eleito, to querendo que vocês votem em mim! E aí eu vou dizer: por que? Por que eu vou votar no senhor? Só quando a gente ver as melhorias, ver alguma coisa que alguém fez.Eu queria ver isso! (Kjadija) Essa incredulidade, portanto, manifesta-se contra o desprezo às ações do poder público. E no caso do Marrocos, mais especificamente, manifesta-se a favor da renúncia ao 103 OP. Vejamos o que nos disse um de nossos interlocutores quando conversávamos sobre a participação da comunidade nesse espaço: Pois é, eu conheci o OP já interessado que a Prefeitura retomasse esse projeto aqui, no ano passado (referindo-se a 2011). Então eu comecei a fazer perguntas e chegamos a conhecer o pessoal da Regional, Regional V, aí a gente teve uma palestra com o pessoal e a gente ficou interessado, empolgado com essa situação, com essa possibilidade de retomar essas obras aqui e a gente tentou botar uma associação, porque a associação que tem aqui, a gente não via a associação assim trabalhando, entendeu, buscando benefícios pra dentro da comunidade. Então a gente tentou montar uma associação e o foco principal era que fossem retomadas essas obras, mais de 60 casas que ainda faltam aqui dentro da comunidade e com isso ia receber o saneamento e toda uma melhoria. Foi boa a participação nos primeiros meses, mas aí também já veio a descrença também, porque o pessoal não acredita muito nessa prefeita atual. Então a gente ficou assim, descrédito mesmo, sem acreditar no programa e pronto, daí a gente se desanimou e não buscamos mais (Said) [...] Eu acho que essa falta de vontade de participar, eu acho que é também por falta de crença no governo, seja no estadual ou da prefeitura. Essa descrença deles também ajuda essa atitude de acomodação. A gente ver isso aqui, nós, ultimamente, há alguns meses atrás quando eu estava participando, eu saia articulando com a caixa de som, mas eu percebi que eu falava na prefeitura, que era o pessoal da prefeitura que ia vir, eu achava que isso ia incentivar mais pra eles participarem, foi ao contrario, eles não vieram, quando eu disse vai vir um representante da prefeitura vai vir pra conversar com a gente, eles não vieram, não teve essa participação, por causa dessa descrença deles com a prefeitura. (Said) Ora, se os cidadãos são convidados a participar de uma iniciativa dedicada a resolver determinados problemas e, com o passar do tempo, essa iniciativa não se manifesta em ganhos efetivos, é razoável que o desinteresse apareça e que alguma frustração se manifeste. Nogueira (2004), porém, não considera que esse desinteresse seja sinônimo de apatia, antes, para ele, representa uma reposta. Deste modo, a omissão seria uma contestação, em suas palavras: O cidadão nesse caso pode voltar-se contra o sistema e tentar vingar-se dele, agredilo. Formas de agressão: o cidadão que se omite, que deixa de se interessar ativamente pelos assuntos públicos, que não acredita em mais nada e pensa que todos os políticos são por princípio ladrões põe-se fora da comunidade e colabora para enfraquecê-la (p.165). O terceiro motivo para a não participação de alguns dos moradores no OP está ligado ao desgaste sofrido ao longo dos anos pela Associação de Moradores do Marrocos, principalmente após a entrada da Prefeitura na comunidade, em que ambas passaram a ser 104 identificadas como parceiras. Isso atraiu a resistência dos moradores também para a Associação. Nossos entrevistados nos contaram que a Associação surgiu logo no começo da ocupação, e foi criada com a ajuda de lideranças do Parque Santo Amaro, outra comunidade que fica bem próxima ao Marrocos. Essas pessoas foram chamadas, por aqueles que ocuparam o terreno, para ajudar no processo de organização e demarcação da terra. Alguns dos que estavam constituindo morada ali se reuniram aos líderes do Santo Amaro e formaram a Associação de Moradores do Marrocos, e juntos constituíram a sua liderança, que se perpetua até hoje. A Associação atuava dentro da comunidade, definindo o tamanho dos lotes, desenhando o arruamento, e organizando as pessoas para solicitação de serviços de água e energia. Atuava também como uma frente assistencial, fazendo a doação do sopão, acompanhando o grupo de gestantes, que atendia as mulheres grávidas, membros das famílias mais necessitadas da área, com a doação de um enxoval básico para seus bebês. Esses últimos “serviços” eram mantidos, em sua maioria, por políticos, candidatos ao Legislativo tanto municipal quanto estadual, e seu funcionamento ficava então atrelado à boa vontade desses políticos em disponibilizar os recursos que, na maioria das vezes, não davam conta das necessidades da comunidade, ou sequer chegavam. Desta forma, a continuidade e eficácia desses serviços eram bastante frágeis, deixando várias famílias sem atendimento, o que acabou gerando grande insatisfação da comunidade no que diz respeito à atuação da Associação. Outro ponto que gerou e continua gerando insatisfação dos moradores nesse quesito é ausência de renovação da direção da Associação e a atuação das lideranças de outra comunidade na Associação do Marrocos. Algo que deveria ter sido apenas uma ajuda no começo, enraizou-se. Conforme narraram nossos interlocutores, uma pessoa que não é da comunidade não pode falar em nome das pessoas que vivem ali, pois, por mais que conheça as necessidades, não se envolve com elas do mesmo modo, e nem as vivencia em seu cotidiano. 105 Como se não bastassem esses problemas, outro fator que contribuiu bastante para o desgaste da Associação e ao mesmo tempo para a recusa da participação no OP, foi a ligação que a Associação passou a ter com a Prefeitura. Para a execução do projeto habitacional, a equipe técnica municipal entrou na comunidade por meio da parceria que realizou com a Associação. No início da obra, as reuniões eram feitas na sua sede, e os técnicos sempre andavam na comunidade sob a companhia de algum membro da diretoria da Associação. As duas instituições tornaram-se para a comunidade um ente só. Então, a descrença em uma significava também incredulidade na outra. Foi a partir daí que a Associação perdeu suas forças teve sua atuação dificultada, mas, mesmo assim, ainda exercia alguma influência na comunidade. Todavia, essa “parceria” com o Poder Público Municipal enfraqueceu sua manifestação e atualmente a Associação ainda existe, mas não passa de um prédio de portas fechadas, pois não existe mais nenhuma atividade promovida por essa entidade dentro do Marrocos, hoje ela subsiste sem nenhuma expressividade ou legitimidade. Observemos o que nos dizem nossos entrevistados acerca disso: Não tem associação aqui não!!! Essa associação que tem aí foi criada no tempo da invasão e hoje não faz mais nada! Tinha que ter uma associação aqui mesmo para fazer, para trabalhar em beneficio do povo, pra fazer documento dos terrenos, alguma coisa. (Mustafá) Nós não temos líder comunitária, tô lhe dizendo, e eu digo em qualquer canto, nós não temos líder comunitária, nós não temos um agente de saúde aqui dentro do Marrocos, nós não temos nada! (Khadija) O pessoal diz: a comunidade do Marrocos, mas aqui não tem comunidade, aqui não tem uma associação, aqui não tem líder, aqui não tem coisa nenhuma. (Said) Percebemos como é grande a rejeição dos moradores à Associação, não há nenhum reconhecimento por parte deles que confira a essa entidade poder para representá-los. Porém, se na comunidade essa liderança não tem mais nenhuma legitimidade, no OP ela é reconhecida em alta estima, compondo o quadro de delegados e conselheiros do OP, representando a comunidade. Todas as vezes que entramos em contato com a equipe do OP para falarmos sobre a pesquisa, eles sempre faziam referência aos líderes da Associação como os representantes do Marrocos no OP. Essa discrepância nos faz compreender também os motivos de muitas pessoas da comunidade não se disporem a estar no OP. Quando acompanhamos a mobilização para as assembleias em 2011, foi comum escutarmos as pessoas dizendo que não iriam porque não concordavam em estar no mesmo 106 espaço que a presidente da Associação estava, pois se ela fazia parte, era sinal de que não funcionava. Toda essa ojeriza à figura da liderança acaba dificultando a comunicação, comprometendo a divulgação, o repasse das informações sobre o OP. Ora, se ela, como delegado(a) ou conselheiro(a) é a ponte que liga a comunidade ao OP, isso significa que no Marrocos essa ponte está obstruída. Nessas circunstâncias, que significados de participação são construídos a partir da experiência do OP? É sobre isso que discorreremos nas linhas a seguir. 4.3. Discursos sobre a participação: as versões dos moradores do Marrocos Um dos traços mais característico dos últimos tempos é o uso indiscriminado do termo “participação”. Segundo Silva (2004), a noção de participação tornou-se uma espécie de “curinga” no jogo da afirmação de projetos dos mais variados grupos políticos, pois é um termo que perpassa a quase totalidade dos projetos políticos, desde movimentos sociais, programas dos governos federal, [estadual e municipal], programas de agências externas de financiamento, até campanhas na mídia para arregimentar voluntários (idem, p. 32). Diante disso, atentamos para o fato de que a generalização do discurso da participação envolve uma disputa pela supremacia de certas concepções e significados (DAGNINO, 2004). Estes significados, por sua vez, são construídos socialmente conforme o contexto em que é mobilizado (SILVA, 2004). Por isso, faz-se, cada vez mais, necessário o debate e a explicitação dos sentidos que se atribuem a esta palavra. Deste modo, buscamos observar quais concepções de participação estão presentes nos discursos dos sujeitos sociais e como essas definições influenciam sua interação com o OP. Nossa pretensão não é apresentar um conceito de participação, não como última palavra, como concepção fechada, mas como significações em construção, em constante devir histórico, atentando sempre para a sua contraditoriedade e transitoriedade, uma vez que estão em constantes modificações e ressignificações no cotidiano. 107 Foi possível constatar a existência de uma diversidade de olhares e diferentes significações sobre a participação. Examinamos atentamente a heterogeneidade dos discursos proferidos por estes sujeitos e realizamos a sua categorização por meio do agrupamento tanto das características comuns como daquelas que se relacionavam entre si (GOMES, 1994). Assim, nós dividimos os elementos discursivos presentes nas falas dos entrevistados em três categorias específicas, que explicitam o modo como os eles veem a participação. Na primeira categorização, reunimos as falas que identificam e limitam a participação à experiência no Orçamento Participativo, conforme nos mostra os discursos a seguir: A participação, eu acho que é o seguinte, se a gente participar mesmo, se a gente tiver aquela participação, aquele conhecimento de participação, aquele conhecimento daquela lei, a gente votar numa proposta, a gente botar aquela proposta... É esse o meu lema, a gente pegar aquela proposta, a gente levar 10 pessoas pra votar para que essa proposta seja feita. Aí todos eles participou [sic] para que isso ali fosse feito (...) é participação, nós participemos [sic] pra que aquilo fosse votado, nós tivemos aquela voz, de participar e de votar. É isso aí que eu digo que é participação, é quando a gente faz uma lei, uma demanda que ali a gente leva aquelas pessoas que votam naquela demanda. E aquelas, todas pessoas participou nessa rua aqui que votou pra ela ser feita! É isso que se chama participação. (Albieri) A coisa que é participar que eu acho é eu poder chegar lá e me colocar como um é... eu posso entrar com o pedido de alguma coisa.(...).Tem uma reunião, uma assembleia em que todos tem que participar, muita gente vai escuta, mas não tem direito de falar nada. Mas participar eu acho que é a gente ter que falar e obter algumas respostas que é necessária pra gente, pra mim e para as pessoas que estão no meu bairro, na minha comunidade. Eu acho que é isso. (Ali) As atividades desenvolvidas no âmbito do OP aparecem como sinônimos de participação. Entendemos que o OP é sim uma forma de participação, mas ele aparece como resposta à indagação feita por nós sobre o significado de participação, ou seja, manifesta-se como sua própria definição. Esta, a nosso ver, é uma ideia restrita da participação que se harmoniza com a concepção gerencial citada anteriormente. Observamos aqui o risco de reduzir a participação apenas àquela que se realiza nos espaços institucionalizados, a ponto de levar ao enfraquecimento outras formas de participação provenientes da organização autônoma da sociedade face ao governo. Desta forma, teremos uma participação regulada, em que são fixados os limites permitidos ou desejados de participação, com a supremacia dos interesses da gestão municipal em detrimento dos interesses da sociedade civil (SIMIONATTO, 2001). 108 Esta concepção está presente nos discursos do governo municipal que tem delimitado, quase que exclusivamente, o espaço do OP como o espaço de efetiva participação da população. Percebemos esta postura por parte da Prefeitura, principalmente quando tem que responder junto à imprensa as solicitações da população manifestadas em outros espaços que não o OP, a exemplo do que aconteceu em 2008, quando mais de 600 famílias que não tinham moradia, provenientes da Comunidade do Papoco, ocuparam o terreno do Campus do Pici. Uma das indicações dadas às famílias pela HABITAFOR, para que suas solicitações fossem atendidas, foi para que elas participassem do OP e levassem para lá suas demandas. Temos observado que tal recomendação tem virado regra na administração pública de Fortaleza. Se a população chega às secretarias ou aos órgãos municipais para solicitar melhoria no serviço público ou reivindicar alguma obra, a primeira coisa que ouve é: “essa é uma demanda do OP?”Se a resposta for negativa, logo é instruída, “você tem que levar essa demanda para as assembleias do OP, porque, hoje, a Prefeitura prioriza as demandas do OP”41. Não há como não tecer críticas à forma como o OP em Fortaleza é conduzido. Atitudes como essas exemplificam as delimitações postas à participação por parte do poder público municipal, de modo a desconsiderar e desrespeitar as demais formas de reivindicações e organizações da população. Mas voltemos à nossa categorização e analisemos mais um dos significados de participação que aparece nas falas de nossos interlocutores. Este próximo significado, o mais reproduzido nas alocuções dos sujeitos dessa pesquisa, vincula a participação a valores comunitários e à representação. Atentamos para o fato de que a existência, talvez por estar presente apenas no mundo das ideias, de um espaço aberto à participação direta, que visa criar cidadãos mais atuantes, autônomos, capazes de interferirem na gestão pública, não confronta os canais tradicionais de intermediação de interesse, uma vez que a ideia de representação encontra terreno muito propício nesse espaço para seu desenvolvimento e atualização (FEDOZI, 2008). No discurso de muitos de nossos entrevistados reiterou-se a necessidade de alguém que representasse de maneira eficaz a comunidade, de modo a solucionar as carências/necessidades imediatas existentes ali. De acordo com os moradores entrevistados, participação é a gente conscientizar a comunidade, não adianta você lutar por alguma coisa se você não deixar aquela comunidade ciente do que você vai buscar. Você tem que conscientizar, 41 Assertivas ouvidas por nós quase todos os dias em nossa experiência de estágio na HABITAFOR. 109 olha a gente ta buscando isso, porque isso é o nosso direito e a gente tem que conscientizar para que essa comunidade não enfraqueça. Porque não adianta você pegar, fazer uma fala, nós temos esse direito, vamos buscar tal coisa mas... tem que passar tudo a miúdo pra eles, olha a gente ta buscando isso, mas isso não é só chegar lá e vai ta pronto não, existe todo um processo, existe uma teimosia dos governos, eles não vão ceder assim fácil, então a gente tem que brigar mesmo, não pode ser só uma vez, não vai ser duas e dizer a eles mas vai valer a pena, vai valer a pena porque é pra você, é pro meu filho. Então é, pra participar tem que está todo mundo consciente do que realmente quer, tem que haver um bom senso. (Saíde – grifo nosso) Participação é o conhecimento, é o conhecimento pra poder passar para o pessoal da comunidade. É um mini fórum para dizer para o povo o que passou-se nas reuniões já que o povo não quer ir, né? (Mohamed – grifo nosso) Eu acho a participação muito importante, é como eu estou lhe dizendo, só que está faltando isso aqui dentro do Marrocos, está faltando uma pessoa que viva na comunidade, que converse com as pessoas, você hoje não arranja nada só, não, hoje tem que ter um grupo, você não vai só. Vamos se ajuntar, cinco, dez, e bora, borá lá pra nós conversar com o fulano, e pedir alguma coisa aqui para comunidade. Por exemplo, o Padre que esta andando por aqui, era bom se ele criasse uma associação, assim uma coisa que a gente visse, convidasse o povo aí, a gente fizesse uma reunião, conversasse com o pessoal, isso tudo incentiva as pessoas!!! Era importante, mas não tem!!! (Mustafá) Conforme nos indica Fedozzi (idem), a participação vinculada aos valores comunitários tem como constitutivos as ideias de servir a comunidade, ajudá-la, dar-lhe condição de liderança, união dos moradores, prática da solidariedade, para pertencer a entidades. Como podemos observar, em todas as declarações, essas ideias puderam ser identificadas. Segundo o autor, tais noções não abarcam a construção de uma cultura democrática que se assenta no debate público e na inserção dos cidadãos nas decisões políticas. Desta forma, a participação aqui se restringe a promoção do bem-estar da comunidade atrelada à intervenção de alguém que carregue exclusivamente essa tarefa, não há nenhuma preocupação com mudanças de sociabilidade, uma vez que o olhar está voltado para resolução de questões imediatas. Tal postura não permite vislumbrar a participação numa perspectiva política, de articulação coletiva, antes, os próprios sujeitos, quase “super-heróis”, tendem a chamar para si, ou para um outro, a responsabilidade para solução de problemas. Encontramos ainda, na análise dos discursos de nossos interlocutores, outra noção de participação, que nos parece apresentar elementos que se associam ao exercício da democracia e da cidadania, embora não aponte para modificação de correlações de forças ou padrões estruturais. É uma participação específica que Nogueira (2004) classifica como participação cidadã. As três alocuções transcritas abaixo denotam o que estamos querendo dizer: 110 Participar é você ter o direito de escolher o que vai acontecer na sua comunidade e não é porque você vai escolher, que você vai deixar pra lá não, você tem que lutar, você tem que ir até o fim que você consegue. E que eu acredito que nós temos esse direito, nós temos que correr atrás, nós não podemos deixar ele passar não. (Zoraide) Participar é eu estar dentro, eu estar dentro do que vai acontecer. É eu está vendo quem é que estar certo, quem é que estar errado. É estar presente, você tem que estar dentro, tem que estar participando, está vendo, está acompanhando. (Jade – grifo nosso) Para mim a participação é as pessoas está junto um com o outro [sic], é saber ouvir as pessoas, conversar, saber se impor, se impor na hora que precisa, mas também saber calar na hora que é necessário. Porque é participando que se ajuda, é que se ver, que se aprende, é que se tem algo, porque... e uma cabeça só não pensa, não diz nada não, eu acho assim, uma cabeça só não vai pensar tudo não, porque eu tenho um pensamento, você tem outro, aí outra pessoa vem, aí precisa aqueles três pensamentos juntam uma coisa só, às vezes é um pensamento, os três são diferentes mas juntando aqueles três pensamentos acaba chegando em algum lugar. Eu acho isso! (Ranya) As novas objetivações do capitalismo e da sociedade moderna incitam para que a participação se desligue da política e perca seu conteúdo ético político a serviço de uma ligação mais estreita com os interesses particulares, com a resolução de problemas e com o atendimento de demandas específicas. Participar passa a significar também uma forma de interferir, colaborar e administrar. Deste modo, a participação não põe em xeque o poder ou as relações de dominação, antes se dedica a compartilhar decisões governamentais, para reduzir atritos, e interferir na elaboração orçamentária. Assim Nogueira (idem, p.142) nos diz que a participação cidadã manifesta dois elementos distintos e contraditórios, a saber: Por uma lado, expressa a intenção de determinados atores de interferir no processo político-social, de modo a fazer valer seus valores e interesse particulares. Por outro, expressa o elemento de cidadania, no sentido cívico, enfatizando as dimensões de universalidade, generalidade, igualdade de direitos, responsabilidades e deveres. No bojo da participação cidadã está se constituindo outro tipo de participação, a participação gerencial que se orienta por uma idéia de política como troca entre governantes e governados: quanto mais interações cooperativas existirem, melhor para o sucesso eleitoral e a legitimação dos governantes e melhor para os grupos sociais envolvidos, que podem assim ver atendidas parte de suas postulações. A análise das falas de nossos interlocutores evidencia-nos que, embora elas elucidem diversas concepções de participação, elas também parecem apontar para uma mesma chave de significados que remete a uma participação instrumentalizada. Para Tatagiba (2005, p.17 e 19), o que explica a propagação dessa instrumentalização da participação é a sua despolitização, em suas palavras: 111 A impressão que se tem é que a participação foi despida de toda carga simbólica que, em outros momentos, permitiu relacioná-la a projetos mais amplos de transformação social. Tanto as lideranças quanto os representantes do poder público parecem lançar sobre a participação expectativas que a confinam ao campo de produção das políticas públicas, ao processo de gestão [...] O momento atual parece estar marcado por essa ausência de horizontes políticos mais amplos capazes de conferir novos significados às práticas participativas, traduzindo-se numa certa despolitização da participação – no rastro da desvalorização da política como arena de conflito (p. 17 e 19). Enfatizar o caráter político da participação é considerá-la como princípio fundamental para a ampliação da política, de modo a configurar-se como um projeto de construção de uma nova sociabilidade. Para Dagnino (2004) e Telles (1999), o projeto democratizante e participativo que caracterizou os anos 1970 e 1980 no Brasil inaugura a rearticulação e protagonismo da sociedade civil brasileira na luta por direitos de cidadania social e pela criação de espaços públicos abertos à participação ativa dos cidadãos. Para Dagnino (idem, p.4 e 5): A participação era pensada como partilha do poder, como participação na tomada de decisões. Um poder pensado não como um aparato a ser tomado, mas como um conjunto de relações sociais a ser transformado [...] E este poder está tanto na sociedade quanto no Estado e, portanto, é necessário pensar sua transformação tanto na sociedade quanto no Estado [...] A sociedade civil resolveu fazer uma aposta na possibilidade de uma atuação conjunta entre o Estado e a sociedade civil, através, exatamente, do princípio da participação. Ou seja, se consolidou a ideia de que a sociedade tem o direito de participar e que, portanto, pode e deve compartilhar o poder do Estado. Para isso, a Constituição de 1988 assegurou alguns mecanismos. Para Teles (1999), esta nova ordem legal instituída em 1988 abre possibilidade para efetivação de uma cidadania ativa e para o desenvolvimento de uma tessitura democrática aberta à prática de representação e interlocução pública. Nesse sentido, a noção política de participação produzida naquele momento traz a possibilidade de definição de “um novo tipo de regulação social capaz de garantir e criar novos direitos” ( idem, p.158). Na visão da autora, a participação exerce efeitos positivos relativos à consciência de direitos, à integração social, ao reconhecimento do outro, à ação coletiva e ao exercício da alteridade e do reconhecimento de todos os indivíduos como portadores de direito. Assim, indivíduos seriam transformados em cidadãos capazes de repensar a sua postura em relação aos outros, e que saibam reconhecer nas regras e normas sociais o resultado do acordo mútuo, do respeito ao outro e da reciprocidade. 112 Para tanto, porém, faz-se necessário que os espaços destinados à interlocução entre Estado e sociedade sejam reais, não fiquem apenas no discurso, sejam de verdade arenas públicas, lócus da visibilidade dos conflitos e das demandas sociais e da elaboração dos parâmetros públicos no reconhecimento dos direitos por meio da negociação dos interesses envolvidos e da deliberação de políticas que tenham como medida o direito de todos. O quadro ilustrado até agora tornou evidente o quanto é preciso avançar para que os processos de participação desenvolvidos por meio do OP no Marrocos ultrapassem os limites da democracia gerencial e gerem benefícios para a comunidade como um todo, principalmente no que diz respeito à proliferação de valores democráticos capazes de criar, nos termos de Telles (1999), uma nova contratualidade que construa uma medida de equidade e as regras da civilidade. É importante afirmar também que será inútil a abertura de espaços de participação se não houver investimentos neles e, principalmente, se os demais processos da gestão pública não passarem por uma reforma democrática e ainda se mantiverem fechados à intervenção dos sujeitos sociais. É preciso mudanças na administração de modo que as práticas de gestão partilhada sejam permanentes e perpassem toda gestão municipal. Com isso, afirmamos que mais importante do que ter espaços montados para a participação é ter de fato processos que efetivem a participação ampla e consistente dos cidadãos, de forma que suas decisões tenham validade, sejam respeitadas e realizadas pelos governos. 4.4. Um balanço da experiência do OP: olhares dos moradores do Marrocos A última parte deste capítulo, não menos importante, enuncia as visões dos moradores do Marrocos que vivenciam ou vivenciaram o OP sobre esse espaço. A partir da análise de suas declarações, apreendemos as suas percepções e perspectivas a cerca do OP, bem como as limitações e as contribuições dessa experiência para suas vidas. Elencamos, a seguir, os três grupos que sintetizam os aspectos sobre o que pensam nossos interlocutores a respeito do OP. 113 Um grupo expressivo de nossos entrevistados acredita que a inauguração do OP trouxe para a população de Fortaleza, sobretudo àquelas que vivem na periferia, a oportunidade de expor suas necessidades e de se fazer ouvir pelo poder público, prática, segundo eles, inexistente até então nesta cidade. Nesse sentido, o OP torna público as dificuldades existentes na comunidade, retirando-as do seu isolamento. Constitui, portanto, um espaço de interlocução entre cidadãos e poder público. Em suas falas, eles também alertam para a necessidade desse espaço ser cada vez mais aperfeiçoado, sobretudo no que diz respeito ao atendimento das demandas. Selecionamos três depoimentos de nossos interlocutores que evidenciam essa perspectiva: Pra mim e no meu conhecimento ele significa muito, muita coisa, porque lá a gente vai procurar recurso pra cá, pra dentro, pra ajudar aqui, a comunidade. Só que acaba no vazio quando aquilo que se pede não é atendido. (Ranya) O OP é a gente participar das coisas, das coisas da prefeitura, de pedir uma rua, de pedir um calçamento, de pedir um asfalto, de pedir uma coisa, da gente lutar e ganhar. Já que colocaram esse OP a gente tem que participar mesmo porque se a gente não participar a gente não tem voz, nem vez e nem voto! Se a gente não vai, não participa, não sabe de nada mas tem a língua que é uma beleza pra falar mas não entende nada, não sabe onde tem que buscar as coisas! Então o OP eu gosto, e eu acho que a gente tem que participar mesmo e lutar pra que não acabe! Nós lutamos para que ele vire lei. (Albieri) É o espaço onde temos abertura para pedir direto ao poder público, sem a intervenção dos vereadores, como acontecia antes, as necessidades da comunidade. Só precisa ser mais rápido porque é muito lento na hora de cumprir as demandas. (Zoraide) Além de espaço para reivindicações de melhores condições para o bairro, o OP também é considerado como espaço de socialização. Essa concepção é recorrente na fala de alguns dos interlocutores. Eles afirmam que, por meio do OP, puderam conhecer outras pessoas e a realidade em que viviam outros munícipes. E, desta forma, ampliaram sua percepção acerca da Cidade, uma vez que tomaram conhecimento de que os problemas enfrentados por eles não eram exclusivos de suas comunidades, pois também existiam em outros locais e em diferentes proporções. Nesse sentido, o OP promove o desenvolvimento do sentimento coletivo, da solidariedade social entre os indivíduos que dele participam. Os excertos escolhidos a seguir nos mostra essa outra perspectiva sobre o OP: É um lugar bom, onde eu conheci muita gente. Já tive reuniões com o governador, com os deputados, foi bom pra mim porque eu conheci muita gente, foi bom pra trazer conhecimento que eu não tinha! (Ali) Eu acho muito bom, eu gosto, é uma coisa que eu tenho prazer de estar fazendo, eu tenho prazer em ir, eu tenho prazer em ter que sair pras reuniões. O que eu mais gosto é de sair pras reuniões. É uma coisa muito boa, a gente conhece outras pessoas, que estão na luta como a gente. A gente tem companheirismo, pra mim é muito bom! (Jade) 114 Outra perspectiva pela qual nossos entrevistados visualizam o OP, não tão exultante como as demais já apresentadas, é aquela que se identifica como um simples programa da Prefeitura que depende de sua vontade política. Conforme esses moradores, o OP só é válido para aquelas comunidades que tiveram suas demandas atendidas, portanto, no Marrocos, ele não teve nenhum mérito. Vejamos o que eles nos disseram: Pelo pouco que eu entendo do OP, eu acho muito bom, acho muito interessante que a comunidade participe. Mas é um programa do governo, e se você não acredita no governo como é que você vai acreditar numa ferramenta do governo? Aí fica desse jeito, aí a gente acaba desistindo, isso desestimula a gente! Então eu acho assim, é um programa bom, funciona, mas se o governo vier bem, se tiver bem, se não, se o governo não está bem, se a sociedade não acredita no governo como é que vai acreditar num programa do governo? No tempo que eu participei, e eu conheço pouco, eu não vi funcionar. Eu não vi funcionar por que? Por exemplo, eu to falando daqui, aqui no Marrocos essas casas que faltam são demandas do OP e olha a quanto tempo tá parado isso daqui, há quanto tempo? Isso aqui é de 2005, se eu não tiver enganado, a gente ta em 2012 e olha quanta coisa poderia ter mudado, se esse orçamento participativo estivesse concretizado aqui, se tivesse terminado as obras. A violência não estaria do jeito que ta hoje, eu acredito que não! Então por isso que eu digo é bom se funcionasse. Se tivesse concluído... se o governo tivesse mais empenho funcionaria, seria bom! Mas como o governo não tem esse empenho, essa vontade, não sei porque, aí não funciona. (Said) Sobre o OP é o seguinte, nós que participa nos acha o seguinte, esse OP pode até valer para comunidade onde a obra terminou, que ela entregou! nós tem que dizer isso aí. Porque aqui nunca saiu! Essa proposta das casa do OP, no começo. E não sai. Aí gente fica botando proposta de novo! E pra quê droga botar proposta de novo? Se o projeto já foi aprovado no OP. Já é a terceira vez, que nós pede, calçamento, calçamento, calçamento, uma proposta que estava dentro do projeto. Aí fica tanta da proposta e fica parado. (Mohamed) Conforme observamos, a construção das significações sobre o OP são grandemente influenciadas pelo modo como os seus processos se efetivaram na comunidade. Vimos como tem sido extremamente penoso o contexto dessa efetivação. E verificamos que, até entre os que participam do OP, o descrédito é recorrente, apesar de reconhecerem a sua importância pelas possibilidades que se abrem para apresentarem ao poder público os problemas de sua região, porém, a demora no atendimento de suas demandas tem desestimulado alguns moradores que têm abandonado esse espaço. É aquilo que já dissemos anteriormente, se a participação não se traduz em resultados, o desinteresse aparece. E Santos (2009) reafirma essa proposição ao referir que, especificamente no OP, a efetiva participação da população está diretamente vinculada à eficácia das decisões, se ela não acontece, a tendência é que as pessoas deixem de participar. 115 E não foi à toa que, quando perguntamos aos nossos interlocutores sobre as principais dificuldades identificadas no OP, eles foram unânimes ao responder: a não realização das demandas aprovadas. Os depoimentos abaixo tornam evidentes: É o relaxamento, e a falta de empenho do governo em atender as demandas aprovadas... acho que aquele pessoal que ta lá fica só na cadeira. Ta havendo um erro, ta tendo um problema, num ta do jeito que é pra ser. O OP é uma bola de neve, porque ta vendo, é a terceira vez que vamos pedir esse negócio, é a terceira vez, a terceira! (Mohamed) Na realidade eu vejo assim, o que eu não posso fazer, eu não prometo! Porque se uma demanda, ela foi muito bem votada, ela tem prioridade. Se nós não temos como fazer ou não podemos fazer não vamos nem comentar nela, porque teve uma demanda ali da Valdemar Paes, no ano retrasado eu tive na assembleia que era justamente para falar das demandas que que iam ser feitas no começo do ano, aí uma foi a Valdemar Paes, tinha um dinheiro, pra fazer três ruas, aí tinha lá as ruas pra ser feita aí a gente tinha que votar e escolher a rua, a Valdemar Paes foi a mais bem votada, ela tirou o primeiro lugar iam começar no mês seguinte, até hoje! Aí é isso que eu não concordo, que eu não acho certo! (Jade) A única coisa que o OP deveria melhorar que eu já disse pra eles lá é as demandas que foi feitas, que foi negociadas que não saiu! Agora, eu queria, e eu falei lá pra o pessoal do OP, que as propostas que fosse colocadas mesmo a gente não perdesse. Dissesse assim, eu quero essa rua aqui, e tem que sair essa rua! Melhorar mais, ter mais força, força pra fazer mesmo! Tem gente que diz assim: não, esse OP não vale nada! Que OP? Esse OP lá existe! Por causa disso, porque tem muitas demandas que não saem! Pra ficar mesmo um OP de moral! O OP tem que chegar, dizer que vai fazer e fazer mesmo! (Albieri) Esta parece ser uma das fragilidades mais significativas do OP dentro do Marrocos que necessita ser superada. Para que este espaço não seja apenas um meio utilizado pelo poder municipal para forjar o consenso em torno de seus interesses e decisões, conforme nos alerta Demo (1988, p.20): Na verdade, a ideologia mais barata do poder é encobrir-se com a capa da participação. Se realistas formos, partimos daí e não perderemos um minuto sequer em justificativas vãs, que são nada mais que autodefesas. Quem acredita em participação, estabelece uma disputa com o poder. Assim, faz-se necessário avançar rumo à apropriação efetiva deste processo. Temos visto que a tendência à dominação (idem) é a propensão histórica que tem caracterizado as relações políticas na sociedade brasileira, em que se predomina o exercício do “poder de cima para baixo” e a interposição da organização autônoma da sociedade civil. Todavia, não acreditamos que tal tendência seja intransponível e este é o desafio posto aos participantes do OP. Em outros termos, a efetivação concreta da democratização do Estado o 116 controle do poder é conquista. Mais uma vez as elaborações de Demo (idem, p 20) são relevantes: “é preciso encarar o poder de frente, partir dele e, então, abrir os espaços de participação, numa construção arduamente levantada, centímetro por centímetro, para que também não se recue nenhum centímetro”. A despeito das limitações presentes na experiência do OP na comunidade do Marrocos, existem alguns moradores que, diferente da maioria, continuam participando e acreditando no OP. Para eles, o OP é um divisor de águas na forma de gerir a Cidade. Antes havia uma preocupação muito grande com a estrutura física, e pouco ou quase nenhum cuidado com a população, muito menos em efetivar a participação dela nas decisões do Município. E aqui eles reproduzem o discurso da gestão. Mesmo com a demora no atendimento das demandas, eles consideram a experiência do OP bem sucedida. Segundo eles, a abertura desse espaço, por meio da participação, proporcionou à população o direito de reivindicar diretamente por aquilo que realmente é essencial para atender as necessidades deles, e isso é o que os tem motivado a continuar fazendo parte do OP; e, como direito, esse espaço precisa ser reivindicado e não abandonado, como propõe uma de nossas entrevistadas: Como eu já falei, continuo participando pelo fato de você ter o direito de escolher o que vai acontecer na sua comunidade e não é porque você vai escolher, que você vai deixar pra lá não, você tem que lutar, você tem que ir até o fim que você consegue. E que eu acredito que já que existe, que nós temos esse direito, nós temos que correr atrás, nós não podemos deixar ele passar não! (Jade) Ainda dentre as motivações para prosseguir participando do OP, encontramos, mais uma vez, como o principal motor dessa atitude o desejo de ver sua comunidade transformada, de acordo com a citação de nossos interlocutores: Eu continuo participando porque queria ver minha comunidade diferente! Urbanizada, com os serviços básicos funcionando, é o que eu quero ver. Então se houver, e eu sei que vai haver outras reuniões e eu quero estar por lá, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa pra cá. O que eu queria mesmo é que esse projeto fosse encerrado... aqui nós não temos a rede de tratamento de esgoto, é clandestina, foram feitas mas não ta sendo usado. Aqui ta tudo jogado a céu aberto, não é pior porque nós os moradores aqui e acolá a gente dá uma arrumada pra que melhore pra gente. (Ali) Porque eu quero que as coisas melhorem pra todo mundo, a gente tem vontade de ver as coisas aqui andar bem direitinho, mas o negócio é que não tá andando muito ainda não. Tem coisas que está indo devagar, lento, lento. (Zoraide) Porque eu tenho que atingir aquela meta de arranjar alguma coisa e trazer pra cá, pra dentro... porque se a gente não for, vai ficar pior, a gente não vai saber se vai vir, ou se ficou, ou se falaram ou não o nome do Marrocos. Então, a comunidade do Marrocos, de qualquer maneira, seja uma ou duas pessoas tem que aparecer, porque se não, não falam. E aí pode ser que um dia, 117 não é possível que num escute! Não é possível que um dia nós não ganhe nada aqui pra dentro. A fé é maior! (Ranya) Por fim, procuramos saber também dos moradores do Marrocos que mudanças a participação deles no OP trouxe para suas vidas. Percebemos, pelas declarações de nossos entrevistados, o reconhecimento de um processo educativo por meio do qual eles possam aperfeiçoar suas ações: Sim, ter o conhecimento! O conhecimento foi bom, né? Porque assim, nessas participações da OP eu cheguei a conhecer várias coisas, vários movimentos, vários, muito mais gente, muita gente de fora, influente que a gente não, que eu não conhecia. Então pra minha vida ele foi muito boa, me ajudou muito! Me ajudou muito a eu ajudar muita gente também aqui dentro, aprender a me comunicar mais. (Ranya) Trouxe mais um pouco de sabedoria, trouxe mais um pouco de inteligência, coisas que eu não sabia, hj a gente sabe, não é so eu, são muitos. Coisa que a gente nem sabia por onde começar, hoje a gente já sabe, por onde ir, onde bater, qual a porta que a gente bate, tudo através do OP. Se a gente tinha dificuldade com o telefone de um órgão, alguma coisa, liga pro OP que o OP (referindo-se a equipe de suporte do OP) diz onde é aquele telefone, aquele endereço. Ele é o órgão que ajuda a gente! (Albiere) agora a gente tá mais envolvida, a gente se envolve mais também, a gente conversa mais, conhece muita gente, vai pra um lugar diferente, naquele tempo a gente viajou para João Pessoa, é muito bom! Eu gosto muito, eu acho bom! (Zoraíde) Em meio ao processo de participação, nossos entrevistados admitem que são desenvolvidas qualidades e habilidades, e que está inserido nos espaços participativos é ter a oportunidade de expandir a sua atuação e adquirir conhecimentos sobre o funcionamento do poder público, sobre as instâncias devem recorrer para a reivindicação de melhoria da qualidade de vida, compartilhando ou trocando saberes; esta possibilidade é gerada pelo caráter pedagógico da participação. Deste modo, a participação aparece como mecanismo de aprendizado e aperfeiçoamento, que desenvolve nos indivíduos uma maior clareza sobre os resultados da sua atuação. A observação empírica nos mostrou as fragilidades das relações da Comunidade do Marrocos com o OP, sobretudo por conta da baixa efetividade das respostas às demandas assinaladas pela Comunidade. O que acaba tornando-se motivo para que muitos moradores não legitimem esse espaço e se afastem dele. Porém, também nos mostrou que, apesar das limitações presentes na experiência do OP, para alguns moradores, esse é um espaço que não pode ser abandonado, antes precisa ser ocupado. E a isto, acrescentamos, a necessidade de sua qualificão na perspectiva de constituir-se como um espaço de contestação e confronto de modo a possibilitar decisões que visem à real democratização da gestão pública. 118 CONSIDERAÇÕES FINAIS Em nosso estudo, buscamos compreender e interpretar os significados de participação e as percepções sobre o Orçamento Participativo inscritos nos discursos e práticas dos moradores da Comunidade do Marrocos. Antes de retomarmos os aspectos relevantes de nosso estudo, pontuados ao longo dos capítulos, e apresentarmos a síntese dos resultados da pesquisa, precisamos ponderar sobre algo importante em nossa proposta de estudo. Queremos afirmar, aqui, a impossibilidade de esgotamento da realidade por meio deste trabalho. E reiterar que os achados deste trabalho não são privilegiadas, apenas particulares; o importante nesses achados é sua especificidade complexa, sua circunstancialidade. Portanto, os resultados por ele apresentados não poderão ser tomados como verdade absoluta, nele estarão presentes apenas aproximações da totalidade complexa que constitui a realidade. Nesta perspectiva, nosso trabalho investigativo não nos permite fechar conclusões acerca da participação e da experiência do Orçamento Participativo em Fortaleza. Assim, as generalizações, aqui apresentadas, dão-se dentro da microexperiência estudada e no marco temporal específico. A nossa referência é que o OP é um processo contraditório que envolve várias dimensões, relações de poder e significados em disputa. E como processo, está sempre em aberto, sendo construído e reconstruído pelos sujeitos sociais ali presentes. Desta forma, o que apresentamos, enquanto resultados de nossa pesquisa, são apenas expressões daquilo que vem se gestando nesse processo. Na busca de compreendermos as especificidades da experiência do OP em Fortaleza e a construção dos significados sobre a participação gestados neste espaço, realizamos, inicialmente, um resgate sócio-histórico e político-cultural do contexto de emergência do OP no Brasil. A delimitação desse contexto nos apresentou os paradoxos que marcaram a conjuntura de sua emergência. Vimos que o OP surge num período de efervescência das lutas 119 democráticas e também de implementação do projeto de ajuste estrutural em nosso País. Nesse contexto ambíguo, a participação torna-se palavra-chave, quase banalizada, utilizada como estratégia diferenciada pelos projetos políticos em curso (FEDOZI, 2008). Assim, temos uma tensão constante entre os sentidos de participação construídos por cada um desses projetos: de um lado, temos uma perspectiva coletiva de intervenção nos espaços públicos com o exercício da deliberação e do controle social sobre as ações do Estado; e de outro, a redução da participação a um recurso gerencial, descolada de sua dimensão política, contestatória e negocial (TATAGIBA, 2003; CARLOS, 2009). Tais constatações impõe-nos a tarefa de apontar as distinções existentes entre estes projetos políticos para identificar os significados de participação que vêm sendo reforçados na experiência do OP em Fortaleza. Ao olharmos as gestões de Luizianne Lins (2005-2008; 2009-2012), percebemos a multiplicidade de canais abertos à participação em seu governo. Os processos do PPA e Plano Diretor participativo, do OP, tornam incontestáveis a disposição do seu governo em ampliar os espaços de participação. Contudo, somente a abertura desses espaços não significa a efetiva democratização da gestão da Cidade, uma vez que outras áreas da gestão não se democratizam, logo a participação parece estar confinada apenas em lugares determinados, sem nenhum incentivo fora desses lugares. A análise da materialidade do OP em Fortaleza nos fez perceber, muitas vezes, que as práticas cotidianas construídas nesse processo vão de encontro a seus objetivos propostos no discurso oficial. Observamos a reincidência das “marcas do atraso” nas relações existentes no OP, tanto entre os sujeitos da sociedade civil, expressas nas formas de elaborarem e elegerem as propostas, bem como escolherem seus representantes, como, e principalmente, entre estes e o Poder Público Municipal, na tentativa de condução do processo e de delimitação do espaço permitido à participação da população. Vimos, ainda, a existência de uma tendência instrumental e utilitária da democracia que tende a inviabilizar as relações de conflito e as contradições existentes neste espaço. Assim, reconhecemos o quanto o OP precisa ser aprimorado para contribuir na construção de uma gestão pública verdadeiramente participativa. Quanto aos significados de participação, as narrativas de nossos entrevistados revelaram a multiplicidade de percepções acerca desse tema. Porém, apesar dessa diversidade, foi possível encontrar entre elas um ponto em comum, qual seja: a indicação do caráter 120 instrumental da participação em detrimento de seu caráter político. Constatamos, então, que o OP, em Fortaleza, no lugar de ultrapassar os limites da democracia gerencial, acaba reforçando-os. Avançar para além desses marcos faz-se extremamente necessário e este é um dos principais desafios para aqueles que ocupam esse espaço. A despeito das limitações, o exame das declarações de nossos interlocutores acerca do OP em Fortaleza evidencia o reconhecimento e a importância que eles conferem a esse mecanismo de democracia participativa. Deste modo, o OP é visto como um espaço de interlocução entre cidadão e poder público que proporciona à população o direito de propor diretamente aquilo que querem que aconteça em suas comunidades; o OP também é considerado como espaço de socialização no qual quem dele participa tem a possibilidade de ampliar a sua percepção acerca dos problemas da cidade. Nesta perspectiva, o OP também é considerado um processo educativo, por meio do qual as habilidades e qualidades de seus participantes são desenvolvidas. Assim, à medida que participam, os indivíduos têm a oportunidade de desenvolverem o conhecimento acerca do funcionamento institucional da Gestão Municipal. Assim, buscamos perceber a experiência do Orçamento Participativo em Fortaleza a partir das múltiplas perspectivas construídas pelos sujeitos sociais que dele participam. É bem verdade que os limites apontados nesta análise demonstram que a proposta do OP não tem conseguido alterar elementos fundamentais da cultura política, principalmente na relação que a Prefeitura tem estabelecido com a população nesse espaço, embora a gestão municipal se autoproclame democrática e participativa. Porém, não há, em nossa Cidade, o envolvimento adequado e suficiente por parte da administração ao apoio à participação. O descomprometimento e o desprezo do governo em consolidar as demandas aprovadas pouco têm contribuído para o fortalecimento da participação dos moradores da comunidade. A despolitização da participação, que se expressa e se reproduz a uma participação instrumentalizada, aponta-nos os desafios a serem enfrentados. Contudo, este enfrentamento só é possível no exercício da democracia, na qualificação e politização deste espaço para que este seja realmente um espaço público de interlocução, confronto e negociação de conflitos. Como afirma Fedozi (2008), a construção da cultura democrática somente é possível com o exercício da prática democrática. 121 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABREU, Marina Maciel.Serviço Social e a organização da cultura: perfis pedagógicos da prática profissional. São Paulo: Cortez, 2002. ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Participação Cidadã nas Políticas Públicas. IN: FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER, Participação Cidadã: Novos Conceitos e Metodologias. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2004. ALVAREZ, Sônia E; DAGNINcO, Evelina; ESCOBAR, Arturo (orgs). O cultural e o político nos movimentos sociais latino-americanos. IN: _____ Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. pp.15-57 ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER. Emir & GENTILI, Pablo (orgs). Pós – neoliberalismos: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. pp. 09-23 ARÃO, Márcia Regina Mariano de Sousa. Orçamento participativo e participação: uma análise crítico-interpretativa do Orçamento Participativo em Fortaleza-Ce – Ciclo 2008. 2009. 178f. Monografia (Curso de Serviço Social), Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2009. AVRITZER, Leonardo; NAVARRO, Zander (Orgs). A inovação democrática no Brasil: o Orçamento Participativo. São Paulo: Cortez, 2003. _____. Modelos de deliberação democrática: uma análise do orçamento participativo no Brasil In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org). Democratizar a Democracia: Os Caminhos da Democracia Participativa. 4ª Ed. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2009. pp. 561 -597. _____. O Orçamento Participativo: As experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte. In: DAGNINO, Evelina. Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil, São Paulo: Paz e Terra, 2002. pp.17 -46. BARREIRA, Irlys Alencar Firmo. O reverso das vitrines: conflitos urbanos e cultura política. Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed, 1992 ______. Pensamento, palavras e obras. In: PARENTE,Josênio; ARRUDA, José Maria (Orgs). A era Jereissati: modernidade e mito. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002. 122 BEZERRA, Leila Maria Passos de Sousa. O significado dos discursos e práticas do “voluntariado contemporâneo” :A experiência da Associação Peter Pan. 2005.Dissertação (Mestrado em Sociologia), Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2005 ._____. A re-significação híbrida do voluntariado: uma interpretação político-cultural da regulação da pobreza no Brasil contemporâneo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS. 12. 2007. CFESS.Foz do Iguaçu. CARLOS, Euzinéia. O Orçamento Participativo em Vitória: sob o signo de diferentes visões ideológico-normativas. In: SILVA, Marta Zorzal; BRITO JÚNIOR, Bajonas Teixeira de, (orgs). Participação Social na gestão pública: olhares sobre as experiências de Vitória - ES. São Paulo: Annablume, 2009. pp. 224-250 CARVALHO, Alba Pinho de. Reorganização do Estado brasileiro na contempareneidade: desafios das políticas públicas como direito de cidadania. In: SEMINARIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL. 2005. CRESS.Fortaleza. CHAUÍ, Marilena. Considerações sobre a democracia e os obstáculos à sua concretização. In: TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves (org), Os sentidos da democracia e da participação. São Paulo: Instituto Pólis, 2005. p. 23-30. CUNHA, Eleonora Schettini Martins. O potencial de conselhos de políticas e Orçamentos Participativos para o aprofundamento democrático. In: DAGNINO, Evelina; TATAGIBA, Luciana (Orgs). Democracia, sociedade civil e participação. Chapecó: Argos, 2007. pp.25 – 44. COSTA, Sérgio. As cores de Ercília: esfera pública, democracia, configurações pósnacionais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. DAGNINO, Evelina Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: MATO, Daniel (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización.caracas: faces, universidad central de Venezuela, 2004a pp. 95-110. Disponível em: http://www.globalcult.org.ve/pub/rocky/libro2/dagnino.pdf>Acesso em: 04 março 2007. _____. Para retomar a reinvenção democrática: qual cidadania? Qual participação? In: In: FÓRUM SOCIAL NORDESTINO, 2004b. Recife Disponível em: <http://www.ibase.org.br/userimages/evelina_dagnino_port.pdf> Acesso em: 04 março 2007. DEMO, Pedro. Participação é conquista. São Paulo: Cortez, 1988. 123 DURIGUETTO, Maria Lúcia. Sociedade Civil, esfera pública, terceiro setor: a dança dos conceitos. Revista Serviço Social e Sociedade, n 81, São Paulo: Cortez, 2005. pp 82 – 101. _____. Debate contemporâneo: sociedade civil, democracia e esfera pública na tradição liberal. In: ______ Sociedade civil e democracia: um debate necessário. São Paulo: Cortez, 2007. pp.73-130. FEDOZI, Luciano. Introdução. In: ____. O eu e os outros: participação e transformação da consciência moral e cidadania. Porto Alegre: Tomo editoria, 2008. pp. 09 – 20. FERRAZ, Ana Targina Rodrigues. O processo de adjetivação da democracia: a disputa por sentidos. In: SILVA, Marta Zorzal; BRITO JÚNIOR, Bajonas Teixeira de, (orgs). Participação Social na gestão pública: olhares sobre as experiências de Vitória - ES. São Paulo: Annablume, 2009. pp. 119 – 144 FERNANDES, Adelita Neto Carleial; DIÓGENES, Glória Maria; LIMA, Maria Cláudia Nogueira de Lima. Movimentos sociais urbanos em Fortaleza: trajetória de um novo sujeito social. In: BRAGA, Elza Franco; BARREIRA, Irlys Alencar Firmo (Org). A política da escassez: lutas urbanas e programas sociais governamentais. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 1991.pp.39-77 FORTALEZA. Plano Plurianual (2006-2009). Lei n. 9.044 de 30 de novembro de 2005. ______.Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA. Guia do Orçamento Participativo. 2006. _____. Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento – SEPLA. Regimento Interno do Orçamento Participativo. 2006 _____.Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento - SEPLA. Caderno de Formação do OP Fortaleza, n. 1. Série Cadernos de Formação. 2007. _____. Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento – SEPLA. Regimento Interno do Orçamento Participativo. 2007. _____. Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento – SEPLA. Plano de obras e serviços do Orçamento Participativo 2007. 2007 _____. Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento – SEPLA. Regimento Interno do Orçamento Participativo. 2008. 124 _____. Secretaria Municipal de Planejamentoe Orçamento. Orçamento Participativo - Uma Revista da Participação Popular em Fortaleza, Fortaleza, 2009 ______. Plano Plurianual (2010-2013). Lei n. 9.560 de 28 de dezembro de 2009. _____. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC Relatório quadra chuvosa 2005-2008. 2008. Disponível em:<http://www2.gmf.fortaleza.ce.gov.br/images/dcivil/relatqdchu2008.pdf> Acesso em: 18 fevereiro 2009. ____. Comissão de Participação Popular – CPP. Regimento Interno do Orçamento Participativo. 2010 _____. Comissão de Participação Popular – CPP. Prefeitura de Fortaleza inicia Ciclo do Orçamento Participativo 2010. 2010. Disponível em: http://www.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=13152. Acesso em: 30 de agosto de 2010. FRANÇA JÚNIOR. Luís Celestino de. A eleição de Fortaleza nas páginas de O Globo e O Povo: uma análise comparativa sobre enquadramentos e critérios de noticiabilidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. 28. 2005. Rio de Janeiro. Disponível em: < http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R15771.pdf> Acesso em: 30 abril 2011. FREIRE, Silene de Moraes. Estado, Democracia e Questão Social no Brasil In: BRAVO, Maria Inês Souza; POTYARA, Amazoneida Pereira Pereira (orgs). Política Social e democracia. São Paulo. Cortez. Rio de Janeiro: UERJ, 2001.pp.149 – 172 GADELHA, Ana Lúcia Lima. O Orçamento Público Participativo como instrumento de efetivação da cidadania: avaliando a experiência de Fortaleza. 2010. 230ff. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2010 GEERTZ, A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LCT, 1989. GENRO,Tarso; SOUZA, Ubiratan de . Orçamento participativo: a experiência de Porto Alegre. 3ª ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997. GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e redes solídárias. 2 edição. São Paulo: Cortez, 2008. 125 GOMES, Romeu. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza(org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: RJ: Vozes, 1994. pp. 67 – 80. JAIME JR, Pedro. Um texto, múltiplas interpretações: Antropologia hermenêutica e cultura Organizacional. Rev. adm. empres. [online]. 2002, vol.42, n.4, pp. 1-12. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v42n4/v42n4a08.pdf > Acesso em: 24 agosto 2010. JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. Verso e reverso do perfil urbano de Fortaleza. Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará. 2000 LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. Possibilidades e limites da democracia deliberariva: a experiência do Orçamento Participativo de Porto Alegre. 2002. 216f. Tese (doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000246426&fd=y. Acesso em: 23 junho 2011. ______ A representação no interior das experiências de participação. Revista Lua Nova, nº 70. Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. São Paulo. 2007 pp. 139 – 170. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a07n70.pdf. Acesso em 19 agosto 2010. MARTINS, José de Sousa. Clientelismo e corrupção no Brasil contemporâneo. In: _____. O poder do atraso: ensaios de Sociologia da História Lenta. São Paulo: Hucitec, 1994. pp. 11 -51. MARTINELLI, Maria Lúcia.Seminário sobre metodologias qualitativas da pesquisa. In: _____ (org). Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São Paulo. Veras Editora, 1999a. pp.11-18 _____. O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em serviço social. In: _____ (org). Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São Paulo. Veras Editora, 1999b. pp.19-31. MARQUETTI, Adalmir. Participação e resdistribuição: o Orçamento Participativo em Porto Alegre. In: AVRITZER, Leonardo; NAVARRO, Zander. A inovação democrática no Brasil: o Orçamento Participativo. São Paulo: Cortez, 2003 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: RJ: Vozes, 1994. pp.09 – 29. 126 :_____. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4ª edição. São Paulo Hucitec-Abrasco, 1992. MOREIRA, Helon Bezerra. O orçamento Participativo de Fortaleza: o empoderamento da sociedade civil que dela participa. Fortaleza. 2008. 124f. Monografia (Curso de Ciências Sociais) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2008. NAVARRO, Zander . O “Orcamento Participativo” de Porto Alegre (1989 -2002): um conciso comentário crítico In: _____; AVRITZER, Leonardo (org). A inovação democrática no Brasil: o Orçamento Participativo. São Paulo: Cortez, 2003. pp.89-128. NEVES, Angela Vieira. Cultura política e democracia participativa: um estudo sobre o Orçamento Participativo. Rio de Janeiro: Gramma, 2008. NETO, Otávio Cruz. O trabalho de campo como descoberta e criação. In. MINAYO, Maria Cecília de Sousa. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. São Paulo: Cortez, 2004. OLIVEIRA, Lúcia Conde de. As práticas de participação institucionalizadas e sua interface com a cultura política: um olhar sobre o cotidiano de um Conselho Municipal de Saúde no Nordeste brasileiro. 2006. 258f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Rio de Janeiro: UERJ, 2006. PAIVA, Luiz Fábio Silva. Bairro Bom Jardim formação, desigualdade e segurança pública. In: ARAGÃO, Elizabeth Fiuza; FREITAS, Geovani Jacó de et al. (orgs.). Fortaleza e suas tramas: olhares sobre a Cidade. Fortaleza: EdUECE, 2008. pp. 233 – 262. PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz Paulo Rouanet – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992 PEREIRA, Eveline Medeiros. Participação popular nos marcos do capital: uma análise sobre o Projeto Raízes de Cidadania da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 2007. 113f. Monografia (Curso de Serviço Social) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2007. 127 PERETZ, Henri. Métodos em Sociologia. Tradução Joaquim Candido Machado da Silva. Lisboa: Rocco, 2000 PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do desenvolvimento humano. Brasília, 2003. Disponível em: < http://74.125.45.132/search?q=cache:Cv1nBrgV60wJ:www.pnud.org.br/atlas/PR/Calculo_ID H.doc+atlas+de+desenvolvimento+humano+2003+idh&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1> Acesso em 18 fevereiro 2009. PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 2004 / Luizianne Lins 13 – Por Amor a Fortaleza: propostas para uma cidade bela, justa e democrática, agosto de 2004. RAICHELIS, Raquel; WANDERLEY, Luiz Eduardo. Desafios de uma gestão pública democrática na integração regional. Revista Serviço Social e sociedade. Ano XXV, n 78. São Paulo: Cortez, jul/set 2004. p. 05 – 32. SÁNCHEZ, Félix. Orçamento Participativo: teoria e Prática. São Paulo: Cortez, 2002 SANTOS, Boaventura de Sousa . Orçamento Participativo em Porto Alegre: para uma democracia redistributiva. In: _____. (org). Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. pp. 455 -559. ____ ; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In: _____. (org). Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. pp. 39 – 83 SANTOS, Maria Rosimary Soares, Orçamento Participativo: a construção de espaços públicos e a formação de sujeitos políticos. São João Del Rei: Tempos Gerais, 1999 pp. 01-12 SILVA, Ilse Gomes. Democracia e Participação na Reforma do Estado. São Paulo: Cortez, 2003. SILVA, Letícia Batista. Democracia e participação popular: notas sobre o Orçamento Participativo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS. 11. 2004. CEFSS. Fortaleza. SILVA, Roberto Marinho Alves da. Gestão municipal participativa: institucionalidade e cultura política. Revista Desafios Sociais. Ano I, n 01. Natal: UFRN/CCSA, Jul/dez 2001. p. 117 – 138. 128 SIMIONATO, Ivete. Pobreza e participação: jogo das aparências e as armadilhas do discurso das agências multilaterais. Revista Serviço Social e Sociedade. n 66. São Paulo: Cortez, 2001.pp.145-164. TATAGIBA, Luciana. Os desafios de articulação entre sociedade civil e sociedade política, sob o marco da democracia gerencial: o caso do projeto Rede Criança em VitóriaES. In: SILVA, Marta Zorzal; BRITO JÚNIOR, Bajonas Teixeira de, (orgs). Participação Social na gestão pública: olhares sobre as experiências de Vitória - ES. São Paulo: Annablume, 2009. pp. 145-193 ______. Participação, modelos de gestão e cultura política local. In: XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA. 7. 2003. UNICAMP. Campinas. 129 APENDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA PESSOAS QUE NÃO PARTICIPAM DO OP 1.PERFIL DO ENTREVISTADO 1.1. NOME 1.2 IDADE: 1.5. OCUPAÇÃO 1.3 SEXO F( ) M ( ) 1.4. ESCOLARIDADE 1.6. RENDA FAMILIAR 1.5 PARTICIPA OU JÁ PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL OU ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO? QUAL? 2. REMONTANDO A HISTÓRIA DO MARROCOS 2.1. VOCÊ ESTÁ NO MARROCOS DESDE O COMEÇO? 2.2. CONTE-ME SOBRE SUA CHEGADA A COMUNIDADE. 2.3. COMO SURGE A COMUNIDADE DO MARROCOS? EM QUE ANO? E COMO FOI O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DA TERRA? 2.4. E POR QUE A COMUNIDADE FOI BATIZADA COM ESSE NOME? 2.5. EM QUE ANO SURGE A ASSOCIAÇÃO, COMO SURGE E PORQUE SURGE? QUAL O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO NA OCUPAÇÃO DO MARROCOS? VOCÊ PARTICIPOU EM ALGUM MOMENTO DA ASSOCIAÇÃO? 2.6. QUE OUTRAS INSTITUIÇÕES OU ENTIDADES ATUAM DENTRO DO MARROCOS? DESDE QUANDO? E QUAIS ATIVIDADES? VOCÊ CONHECE OU FAZ PARTE DE ALGUMA DESSAS ATIVIDADES? 2.7. QUAIS AS PRINCIPAIS REINVIDICAÇÕES DA COMUNIDADE? 2.8. VOCÊ GOSTA DE MORAR AQUI? O QUE VOCÊ SONHA (QUAIS AS PERPECTIVAS) PARA SUA COMUNIDADE? E COMO VOCÊ ACHA QUE ISSO PODE SER REALIZADO 3. SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO VOCÊ PARTICIPA/PARTICIPOU DO OP? 3.2. SE NÃO 3.2.1.POR QUE VOCÊ NÃO PARTICIPA/PARTICIPOU? 3.2.2.MAS VOCÊ JÁ OUVIU FALAR? 130 3.2.3.CONTE-ME ENTÃO, O QUE VOCÊ SABE SOBRE O OP? 3.2.4.POR QUE VOCÊ ACHA QUE, MESMO DEPOIS DE 7 ANOS DE REALIZAÇÃO DO OP EM NOSSA CIDADE, ELE NÃO TENHA SIDO TÃO CONHECIDO NA SUA COMUNIDADE? 3.2.5 O QUE VOCÊ ACHA QUE SERIA NECESSARIO(QUE PRECISA SER FEITO) PARA QUE SUA COMUNIDADE PARTICIPASSE EM PESO DO OP? 3.3. PARA VOCÊ O QUE É PARTICIPAR? 131 APENDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA PARTICIPANTES DO OP .PERFIL DO ENTREVISTADO 1.1. NOME 1.2 IDADE: 1.5. OCUPAÇÃO 1.3 SEXO F( ) M ( ) 1.4. ESCOLARIDADE 1.6. RENDA FAMILIAR 1.5 PARTICIPA OU JÁ PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL OU ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO? QUAL? 2. REMONTANDO A HISTÓRIA DO MARROCOS 2.1. VOCÊ ESTÁ NO MARROCOS DESDE O COMEÇO? 2.2. CONTE-ME SOBRE SUA CHEGADA A COMUNIDADE. 2.3. COMO SURGE A COMUNIDADE DO MARROCOS? EM QUE ANO? E COMO FOI O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DA TERRA? 2.4. E POR QUE A COMUNIDADE FOI BATIZADA COM ESSE NOME? 2.5. EM QUE ANO SURGE A ASSOCIAÇÃO, COMO SURGE E PORQUE SURGE? QUAL O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO NA OCUPAÇÃO DO MARROCOS? VOCÊ PARTICIPOU EM ALGUM MOMENTO DA ASSOCIAÇÃO? 2.6. QUE OUTRAS INSTITUIÇÕES OU ENTIDADES ATUAM DENTRO DO MARROCOS? DESDE QUANDO? E QUAIS ATIVIDADES? VOCÊ CONHECE OU FAZ PARTE DE ALGUMA DESSAS ATIVIDADES? 2.7. QUAIS AS PRINCIPAIS REINVIDICAÇÕES DA COMUNIDADE? 2.8. VOCÊ GOSTA DE MORAR AQUI? O QUE VOCÊ SONHA (QUAIS AS PERPECTIVAS) PARA SUA COMUNIDADE? E COMO VOCÊ ACHA QUE ISSO PODE SER REALIZADO 3. SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO VOCÊ PARTICIPA/PARTICIPOU DO OP? 3.1.SE SIM: 3.1.1. FALE-ME COMO VOCÊ CONHECEU O OP? QUANDO ISSO ACONTECEU? 3.1.2. O QUE MOTIVOU VOCÊ A PARTICIPAR DESSE ESPAÇO? 3.1.3. O QUE SIGNIFICA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PRA VOCÊ? 132 3.1.4. VOCÊ ACHA QUE PARTICIPAR DO OP TROUXE ALGUMA CONTRIBUIÇÃO PARA SUA VIDA? E PARA A COMUNIDADE? 3.1.5. A COMUNIDADE DO MARROCOS TEVE ALGUMA DEMANDA APROVADA NO OP? QUAIS? 3.1.6. COMO ESSAS PROPOSTAS FORAM CONSTRUÍDAS? 3.1.7. CONTE-ME COMO FOI QUE VOCÊS SE ORGANIZARAM PARA APROVAR ESSAS PROPOSTAS NO OP? 3.1.8. VOCÊ CONTINUA PARTICIPANDO DO OP? SE NÃO, PORQUE VOCÊ NÃO PARTICIPA MAIS? SE SIM, O QUE TEM INCENTIVADO VOCÊ A CONTINUAR NESSE ESPAÇO? 3.1.9. QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE VOCÊ IDENTIFICA NO PROCESSO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO? 3.1.10. QUAIS MUDANÇAS VOCÊ ACHA QUE DEVERIAM OCORRER NESSE ESPAÇO? 133 ANEXO A – AREAS DE PARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SER I 2008 Fonte: SEPLA 134 ANEXO B – ÁREAS DE PARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SER II 2008 Fonte: SEPLA 135 ANEXO C – AREAS DE PARTICIPAÇAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SER III - 2008 Fonte: SEPLA 136 ANEXO D – AREAS DE PARTICIPAÇAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SER IV - 2008 Fonte: SEPLA 137 ANEXO E – AREAS DE PARTICIPAÇAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SER V 2008 Fonte: SEPLA 138 ANEXO E – AREAS DE PARTICIPAÇAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SER VI - 2008 Fonte: SEPLA
Download