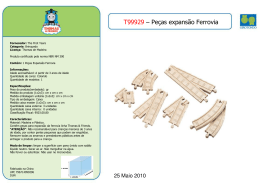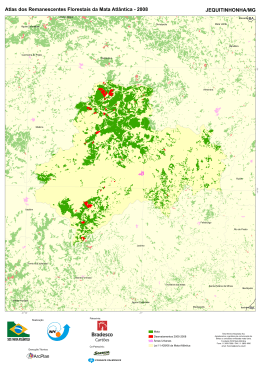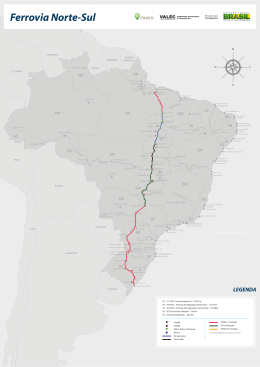1 FERROVIA: RECORTE LOCAL DE UM PATRIMÔNIO MUNDIAL José Geraldo Esquerdo Furtado Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e-mail: [email protected] Esse texto constitui uma reflexão inicial sobre o objeto de pesquisa que iniciamos junto ao Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Propomos refletir sobre o conjunto patrimonial ferroviário datado da segunda metade do século XIX edificado na Cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Um complexo que se destaca na paisagem urbana, de significativo valor histórico e artístico, que se encontra em estado de total ou parcial arruinamento. A abordagem terá um tom ensaístico, privilegiando mais a observação empírica do que a aplicação teórica. Iremos contextualizar de início, mesmo que brevemente, de maneira histórica e sociológica, o sul da Zona da Mata mineira, macro região onde se insere a cidade de Além Paraíba. Consideramos essa abordagem importante inicialmente por se tratar de um congresso de grande amplitude e, ao falar apenas de uma pequena cidade correríamos o risco de uma descontextualização prejudicial a uma melhor compreensão do objeto de pesquisa em si. E, por outro lado, escapamos ao risco de uma “vulgata localista” (BOURDIN: 2001) reducionista que daria ao contexto social uma identidade ancorada no tempo e espaço e não privilegiando a dinâmica de uma sociedade que convive com o esquecimento do significado da ferrovia para a região. Por isso, o enquadramento regional do objeto levará em conta alguns elementos que, pela sua própria natureza, excitam e transformam uma sociedade: o transporte, a indústria e a migração. Feito isso, nossa abordagem, ainda mantendo um aspecto macrodimensional, tratará da ferrovia enquanto aparato do patrimônio histórico industrial. Esse aparato bem merecia o reconhecimento pelos órgãos responsáveis devido a sua universalidade, por ter sido o primeiro elemento de modernidade a penetrar de forma significativa e permanente os rincões do país. No entanto, a ferrovia perde essa magnitude para a região ao se tornar um objeto local, deixando de ser um elemento 2 exógeno ao negociar com o local, aspectos culturais transcendentes ao seu propósito econômico. Em última instância não são esses valores econômicos que prevalecem, mas o que eles podem oferecer em termos de valores humanos desfrutáveis. É este econômico transubstanciado que permanece na memória como valor intangível de um patrimônio histórico legado. Por fim, entraremos em Além Paraíba para demonstrar um momento de esquecimento de tudo que significou para a cidade o empreendimento ferroviário do passado, o mal estar que vive a cidade por não saber o que fazer com um patrimônio que se tornou maior que ela mesma. A pesquisa na Zona da Mata mineira, para além de uma questão de pertencimento, se faz necessária em função do apagamento desta região do mapa histórico da nação. Para provar o que afirmamos basta folhear os livros didáticos de história que circulam hoje no país e perceberemos que essa região não aparece senão em breves notas de pé ou canto de página. A Zona da Mata não é uma região qualquer, sendo por mais de meio século protagonista importante da economia e política nacional, desde o momento em que a atividade cafeeira se tornou o carro-chefe das finanças nacionais a partir dos anos de 1820, até o advento da cafeicultura no oeste paulista por volta de 1860, com a qual passou a dividir esse papel, e gradativamente superada pelo empreendimento paulista. A história não dá muitas chances aos perdedores. São Paulo é o estado mais rico do país porque soube converter a riqueza agrária em indústria e é esse sucesso que vigora nos manuais didáticos e na memória nacional. À Zona da Mata restou a decadência e o esquecimento em virtude da ineficiência de sua elite, presa a uma concepção de mundo colonial estagnada e à qual se manteve presa. Um mundo que criou e onde se isolou, deixando escapar a oportunidade de construir um futuro diferente. A modernidade entra na região pelas vias férreas, concedendo à Zona da Mata a possibilidade de uma grande transformação, alinhando-a as novas demandas de desenvolvimento via industrialização. As cidades da Zona da Mata experimentaram um significativo momento desse processo de industrialização e desenvolvimento urbano e social no decorrer da primeira metade do século passado. Fábricas de papel e tecido, companhias hidroelétricas, indústrias de laticínios, frigoríficos e curtume, foram algumas das atividades que se tornaram comuns nestas cidades. As estações eram 3 espaços de intensa movimentação e o termômetro da economia, medida pela intensidade do fluxo de mercadorias. Tateando o território, vila por vila, cidade por cidade, plantando suas estações e oficinas, a Estrada de Ferro Leopoldina foi capaz de integrar toda a região, não só entre si, mas, sobretudo, com o Rio de Janeiro. Tudo se reinicia com a ferrovia. A idéia de reiniciar nos ocorre porque necessitamos marcar um ponto de referência para um objeto que se introduz num espaço já estabelecido. Se tivermos de dar à Zona da Mata um referente de origem de sua formação sócio-econômica haveríamos de retornar aos tempos das fazendas de café, em meio às quais surgiram povoados, vilas e depois, cidades. Referencial importante porque é nesse espaço que se injetará, gradativamente, elementos da modernidade. As primeiras doses dessa modernidade foram aplicadas pela ferrovia e as marcas dessa vacina contra o ostracismo rural ainda estão presente na forma de patrimônio edificado, mas esquecida na sua intangibilidade de significado histórico, sociológico e antropológico. A ferrovia não destruiu a ruralidade imanente da Zona da Mata, mas a pósmodernidade, na forma de reestruturação produtiva, tem contribuído fortemente para apagar a ferrovia da região. Reiniciar não é desconsiderar o tempo passado, não significa um rompimento com o que sucedeu antes, mas uma reorganização do espaço face às novas demandas, mostrando sua capacidade de negociar com o diferente, com o “de fora”, convertendo-se num espaço modificado e não novo. Além da ferrovia, outro fator propiciou a implantação de indústria na Zona da Mata. Esse fenômeno foi denominado, pela sociologia dos anos de 1960, como “Brasil Arcaico”, para caracterizar o espaço de convivência entre o rural atrasado e o industrial que surge à sua sombra. Segundo o sociólogo Juarez Rubens Brandão Lopes (1967), a possibilidade de uma mão-de-obra mais barata e controlada oriunda da orla rural, dava aos empreendedores do interior significativa vantagem sobre os grandes centros, onde se viviam nesta época as primeiras agitações operárias. As organizações sindicais, com suas demandas por melhores salariais e de trabalho, pesavam sobre os custos dos produtos industrializados, dando às indústrias do interior significativa vantagem na medida em que o transporte barateava com o desenvolvimento da ferrovia. Ainda segundo Brandão Lopes, essa vantagem perdurará até o momento em que a luta operária 4 chega ao interior e, somada à política trabalhista do Estado Novo, reduzem as diferenças compensatórias das indústrias interioranas. A partir dos anos de 1960, inicia-se a crise desse “Brasil Arcaico”, da qual nem a ferrovia escapou. Uma crise ampla e profunda, econômica, social e cultural, atingindo todos os níveis de vida das cidades da Zona da Mata, que se ressentem até os dias de hoje. Durante esse período de crescimento observamos uma significativa e variada migração para a região, principalmente de estrangeiros. Eram italianos, portugueses, árabes, entre outros, que aqui se estabeleceram como comerciantes, empresários, trabalhadores especializados ou rurais, atraídos provavelmente pelas oportunidades oferecidas pela dinâmica economia. Os fluxos migratórios nesse caso são um bom indicativo da repercussão, real ou imaginada, das possibilidades oferecidas para a conquista de melhores condições de vida ou investimentos. A ferrovia abria esse caminho, sendo ela mesma mais que um meio de transporte, mas também parte da indústria que promove emprego e investimento. Neste momento o movimento era de interiorização, a nação caminhava para dentro de si mesma. Esses imigrantes traziam consigo mais do que trabalho em suas mãos, pouco ou muito cabedal nas suas bagagens, traziam as incertezas da transição migratória. Não construíram um espaço concreto dentro do novo território, não há “Mocas”, não há “Liberdades” nem “Nova Holanda” dentro da Zona da Mata. Talvez, por não ter sido tão sistematizada como o caso foi a caso de São Paulo, mantendo um caráter mais aleatório, fragmentado e diversificado, múltiplas influências que marcaram a dinâmica identitária da Zona da Mata durante seu processo de industrialização. Esse fluxo foi interrompido quando o país, esquecendo seu interior, seus espaços recônditos, não observando a brutal e desordenada concentração industrial e populacional dos grandes centros, optou pelo desenvolvimento dos grandes centros urbanos, justamente no momento em que revia sua política de transporte, substituindo a ferrovia pela rodovia, durante as décadas de 60 e 70, época de forte industrialização do país. Nesse momento, o Estado não foi capaz de dar continuidade nem se interessou ao projeto de transporte ferroviário e interiorização iniciado na primeira fase da industrialização nacional, promovendo o movimento contrário de esvaziamento do interior, invertendo o sentido do fluxo migratório. Na medida em que se aprofundava a 5 crise do “Brasil Arcaico”, perdendo seu encanto atrativo, os olhares se voltam para os grandes centros, espaços das renovadas oportunidades. Essa inversão de fluxo é facilmente percebida hoje pelo grande volume de linhas de ônibus que liga a Zona da Mata ao Rio de Janeiro. Empurradas pela necessidade ou atraídas pelo seu fascínio é para esse grande centro que olham os habitantes dos municípios do sul da Mata. O vínculo entre o grande centro e o interior se dá hoje através de duas formas migratória as quais denominamos migração por extensão e migração intermitente. A migração por extensão ocorre quando indivíduos isoladamente, filhos de famílias que permanecem no interior, se estabelecem nos grandes centros. Geralmente estudantes que encontram lá a seqüência de seus estudos e, depois de formados lá permanecem devido às melhores oportunidades e condições de trabalho e renda e poucos retornam ao interior. Não há sentimento de desterramento. Os vínculos não se rompem, nem mesmo chegam a ser interrompidos devido ao contato constante com a família que geralmente permanece no local de origem. A memória está próxima e é sempre renovada pela constante presença do migrante por extensão. Mas isso causa ambigüidade a essa identidade: esse indivíduo vivencia o frenesi da metrópole, se adapta a ela, mas carrega consigo as características do seu local de origem. A migração intermitente é penosa. Feita por trabalhadores de baixa qualificação que encontram nos grandes centros uma melhor remuneração. Mas, para garantir a sobra de recursos, a família deve permanecer no interior. A vida desses trabalhadores migrantes temporários é um vai-e-vem constante, isolando dois elementos fundamentais de sua identidade, a família e o trabalho, que passam a ser vivenciados em dois espaços com dinâmicas distintas. Trabalhadores líquidos, ambivalentes, usando as noções de Zygmunt Bauman (1999, 2001) para demonstrar uma identidade obrigada a mudar de forma constantemente. Resultante perversa de uma modernidade tardia da qual se desprendeu qualquer forma de humanidade. A modernidade vista pela via da indústria e tecnologia tende a uma noção de progresso contínuo e infinito, mas que descreve na realidade um movimento uniformemente variado. A partir do instante de aceleração podemos identificar transformações mais acentuadas, marcando um ponto de ruptura entre dois momentos, 6 não somente do aparato industrial, mas também da vida ao seu redor. Assim, a aceleração que significou a passagem do vapor para a eletricidade deixou para trás não somente uma forma de produzir, mas também um determinado estilo de vida. Nesta primeira fase da industrialização, todo movimento era centrípeto à fábrica, em torno da qual se formavam bairros, vilas e, em alguns casos, cidades. O ritmo da vida era marcado pelo apito e a dinâmica social pela fábrica. O bom trabalhador era aquele que tinha o menor número de registros de emprego em sua carteira, de preferência que tivesse toda sua vida profissional ligado a mesma empresa. A experiência não era um deslocar constante de um emprego a outro, mas sim o resultado de um conhecer local, de um único ofício de uma única fábrica. Na Zona da Mata a impressão que se tem é que o tempo e espaço se cristalizaram antes que a aceleração a transformasse. Presa em meio a suas montanhas, as cidades da região não tiveram para onde correr, seu tempo cristalizado não foi nem para frente nem para trás, seus espaços limitados expulsaram seus excedentes. Só restou o esquecimento ao qual se apegou. O trem era o meio de transporte que não feria a noção de tempo/espaço, sendo peça da mesma natureza da indústria que ajudou a criar e do rural que ajudou a sustentar na região. Seu objetivo era integrar e comunicar e não antecipar. Sua grande virtude foi aproximar mundos sem a necessidade de desnaturalizá-los. Integrada a região, a ferrovia deixou ali suas marcas indeléveis. Uma das cidades da Zona da Mata mais marcadas pela ferrovia foi Além Paraíba. Por isso, daqui por diante iremos flanar por esta cidade, inventeriá-la através do patrimônio histórico construído na sua paisagem. Olhar de perto um exemplo vigoroso do que tratamos anteriormente sobre a região. Uma cidade tão linear quanto à ferrovia que a corta de um estremo a outro e a divide em duas: do lado de baixo ou do lado de cima da linha; para baixo ou para cima pode também ser a direção de um transeunte nativo que se orienta pelo curso do Rio Paraíba do Sul; ou que sobe e desce os morros que comprime a cidade contra o rio. Seus poucos planos são as planícies aluvionais de onde nasceu a cidade. A primeira dessas áreas planas é o bairro de Porto Novo. No centro desse plano ergueu-se a Estação de Porto Novo, a última da linha auxiliar da Estrada de Ferro D. Pedro II inaugurada em 1871. Os quatro torreões de dois pavimentos marcam o espaço 7 mercadológico, industrial e comercial da cidade. Nas suas imediações estão as Fábrica de Tecido D. Isabel e a Fábrica de Papel Santa Maria. E também uma laminação para compensados, uma algodoeira e um laticínio dos quais só restam vestígios de memória. Neste entorno, também encontramos um conjunto arquitetônico de casas comerciais, algumas encimadas por residência de seus respectivos proprietários, variando do estilo colonial ao moderno, ecletismo que demonstra a trajetória da cidade, as camadas de história que foram se depositando sobre ela. Se há lugar de trabalho, pressupõe-se que haja também trabalhadores, componente capazes de dar vida a todo patrimônio industrial. Mas, por falta de espaço no plano, sua posição marginal os fez subir o Morro Nossa Senhora da Conceição, que encima o espaço privilegiado da economia. Da estação se vê o Morro, lá de cima se vê a Estação e, somente nessa posição, o trabalho se sobrepõe ao capital. Vale a pena flanar pelas ruas que se estreitam enquanto subimos o morro e olhar de perto as estratégias da vida tantas vezes repetida em outros lugares, como se fossem da própria natureza humana as mesmas técnicas de subsistência. Espremer as casas umas às outras, dividir entre vizinhos a mesma parede, estender para qualquer lado vazio ou para cima as casas que se expandem geometricamente enquanto as famílias crescem aritmeticamente. Esses leigos arquitetos e práticos engenheiros, com suas próprias mãos, mais do que levantam paredes, constroem vizinhança. O desafio para o flâner é saber onde inicia e onde termina a propriedade deste ou daquele cidadão, porque a propriedade ali mais parece um bem coletivo pela falta de limites nítidos entre as residências. E se for além, tentando identificar os núcleos familiares – pobre flâner – jamais conseguirá entender se não se deixar pertencer àquele espaço. Todos entram nas casas de todos, todos ralham com os filhos seus e de todos, os inevitáveis conflitos são abertos, francos, constituindo, no entanto, um instrumento daquela forma coesiva (Simmel: 1983). A vida não tem segredos, a comunidade é um só panóptico. Pelo acesso maior chega-se a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que denomina o bairro. Por outro acesso mais discreto, atrás da estação, também se chega ao morro, mas não sem antes passar pelas casas de tolerância da Ladeira do Escorrega, via evitada em nome da boa reputação. Num plágio do Rio de Janeiro, no morro nasce o samba pela batuta do mestre Neguinho (Sebastião Costa), influenciado pelos seus três anos de vida 8 na então capital federal, fundou no seu morro a Escola de Samba Unidos da Colina. No dia-a-dia o morro desce para trabalhar e no carnaval desce para protagonizar sua própria festa. Deslocando nosso “flaner” para o próximo plano, no bairro Vila Laroca encontraremos a Oficina de Porto Novo. Um conjunto de edificações, datados de 1880, pertencentes à antiga Estrada de Ferro Leopoldina, construído para manutenção de seus equipamentos de transportes. Esse complexo oficineiro chegou a manter aproximadamente oitocentos postos de trabalho onde atuava a elite operária da cidade (HOBSBAWN: 1987), sendo que o padrão de vida desses trabalhadores é nitidamente melhor que trabalhadores de outras empresas. Dividindo o espaço com a Oficina, um complexo residencial predominantemente operário preenche o restante do bairro. A concentração desse segmento social transforma o espaço num labirinto de vielas e becos, mas com uma configuração menos degradada que sua congênere demonstrada anteriormente. Quando o plano não suportou mais a presença de tanta gente o jeito foi subir o Morro São Geraldo onde também se encontra a Igreja do mesmo santo. Mas, como estamos falando de uma elite operária, esse Morro de ferroviários não é tão populoso como o outro e os espaços são distribuídos mais uniformemente, o público e o privado tem contornos nítidos embora tangentes. O que fazia esse bairro se movimentar é o apito da Oficina, enchendo momentaneamente as ruas de ferroviários. Apito para ir e vir, ouvido com clareza em todos os lares, tão preciso que por ele se acertavam os relógios. Marcas intangíveis de um patrimônio que sobrevive na memória dos que viveram para ouvi-lo. Se ainda houvesse na Vila algum vestígio tangível da Oficina Binato, uma empresa familiar de metalurgia, não restaria qualquer dúvida quanto à natureza do bairro. O terceiro plano que propomos descrever se abre a partir da Estação de São José, a primeira da Estrada de Ferro Leopoldina, inaugurada pelo Imperador em 1874. Aqui valem alguns esclarecimentos, importantes demais para uma nota de pé de página porque dá à cidade a condição de entroncamento ferroviário. Como dissemos anteriormente, a Estação de Porto Novo é a última da Estrada de Ferro D. Pedro II, já a 9 Estação de São José é a primeira da Estrada de Ferro Leopoldina. No tempo em que as empresas ferroviárias eram muitas e não apenas uma estatal, a Leopoldina foi criada para dar seqüência ao projeto de interiorização do Império e assistir ao complexo fazendário e populacional fragmentado e isolado da região. Foi criado este novo tronco cujas ramificações foram penetrando gradativamente pela Zona da Mata mineira e, através da Ponte Preta, construída nas imediações da cidade, o rio Paraíba do Sul foi vencido e a Leopoldina ganhou a Mata Fluminense. De volta ao terceiro largo que mencionamos anteriormente, nota-se um espaço vazio circundado pelos poderes da cidade. Ao seu redor, além da Estação, encontramos o Fórum, a Delegacia, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e a Matriz de São José, padroeiro da cidade. Deste lugar não se avistam os Morros da Trindade nem da Floresta – áreas pobres e degradadas da cidade - e, se essa percepção nos permite criar simbolismos, situação ideal para que as autoridades não vejam a realidade da cidade. Sendo recorrentes na memória das autoridades as práticas do esquecimento, se desobrigam de fazer um nexo entre passado e futuro, entender o caminho que levou a cidade a um avançado estado de degradação patrimonial e social, sendo um o reflexo do outro. A cidade traz várias simbologias oficias da sua tradição operária como, por exemplo, São José de Botas, o carpinteiro, como padroeiro e no hino municipal, que no primeiro verso diz: “Cidade, força e trabalho”, além de abrigar um significativo patrimônio industrial exposto aos olhos de todos, uma população predominantemente de origem operária. Como explicar o esquecimento do mundo do trabalho que marca fortemente a paisagem urbana e a história da cidade? Estamos atrás de explicações e não de desculpas - embora as duas coisas se confundam quando se coloca a segunda no lugar da primeira – que justifique a falta de percepção política dos males que incidiram sobre a cidade na perdida década de oitenta. Se neste passado recente de crise nacional e local nada pode ou foi feito para garantir o aparato cultural e suprir as demandas sociais, isso não justifica o apagamento da memória e do espaço urbano dos símbolos patrimoniais que remetem ao momento de expansão e crescimento, a não ser que se queira esquecer a ineficiência política e conter a pressão do passado sobre o presente que geralmente incide sobre a opinião pública. 10 Assim como a História, o patrimônio histórico não deve estar preso a um passado cristalizado porque a memória nele contida - o “lugar de memória” (NORA: 1993) que representa - deve dialogar com as demandas do presente. Disso resulta não apenas a construção/reconstrução/manutenção de tradições e identidades, mas também motivações para políticas públicas obriguem a manter e ampliar as conquistas sociais. Isso não é apenas um discurso de militância, mas a busca da essencialidade que de alguma forma expressam os patrimônios históricos industriais. O problema que parece ser evidente para a manutenção do patrimônio ferroviário de Além Paraíba são as suas dimensões e o lugar privilegiado que ocupam. Não foi por acaso que destacamos a geografia da cidade, sua carência de áreas valorizadas de expansão transformam aqueles patrimônios no alvo da especulação imobiliária que encontra na inércia do poder público, no silêncio da população, no vandalismo e na ação do tempo aliados fabulosos. O especulador não tem nome, não aparece publicamente. Oportunistas que são, apenas aguardam o momento de “dar o bote”. Por outro lado, os agentes de preservação patrimoniais locais não encontram forças para sozinhos conterem a degradação, mas vêm conquistando aliados importantes em ONGs de outras cidades que, a distancia, movem processos junto ao Ministério Público Federal com algum efeito prático. Em meio a essa disputa o poder público local diz que age e, ao mesmo tempo, expões uma série de impedimentos à ação justificando sua inércia. O conjunto arquitetônico que apresentamos demonstra claramente o vínculo histórico da cidade com a ferrovia. No entanto, seu estado de arruinamento e abandono nos faz pensar no significado desta memória para a comunidade. Em 2006, episódio envolvendo a Oficina de Porto Novo tornou ainda mais premente essa reflexão. Através de processo jurídico, a Igreja Matriz da cidade entrou em posse do terreno onde está instalada a Oficina de Porto Novo juntamente com seus prédios. Não tivemos ainda acesso ao processo, mas em conversa com um dos juízes do Fórum local, ficamos sabendo que a sentença foi dada a partir de um contrato de comodato entre a Igreja e a Estrada de Ferro Leopoldina, por ocasião da instalação da Oficina em terrenos da primeira. Imediatamente após a conclusão dos autos, o terreno da Oficina foi demarcado e vendido. Neste momento, também se inicia a demolição do prédio do antigo 11 almoxarifado, um dos elementos do seu complexo arquitetônico, com indicação de que os outros também teriam o mesmo destino, com exceção do prédio do escritório e da rotunda, porque já haviam sido tombados por lei municipal em 1993. O que nos chamou atenção nesse episódio foi o fato de não ter havido mobilização social generalizada ou mesmo uma demonstração de indignação por parte da sociedade. Foi somente a ação de alguns agentes preservacionistas através de denúncias feitas a uma rádio local e a vários órgãos – inclusive ao Vaticano - e com uma audiência pública conseguida na Câmara de Vereadores, além de matérias publicadas nos jornais de circulação local e regional, que refrearam a ação demolitória. Durante o programa de debate sobre o assunto na rádio local, não houve qualquer manifestação popular via telefone, como sempre acontece nesse tipo de programação; na audiência pública, embora bastante divulgada na cidade, não houve presença do público para acompanhar o debate que envolveu a autoridade eclesiástica local, poder público e os preservacionistas. Numa cidade tão marcada pela ferrovia, a ausência da população, a incapacidade de mobilização e a pouca demonstração de apego ao patrimônio por parte da comunidade nos leva a pensar em qual seria a memória que a cidade guarda desse patrimônio? Trata-se de esquecimento? Amnésia coletiva? Ou essa memória nunca foi de fato estabelecida? Existe uma memória em estado latente que necessita ser ativada, ou será necessário construí-la? O problema do patrimônio industrial do século XIX se instala quando sua função econômica e social não é mais necessária, seu aparato torna-se superado, assim como todo um estilo de vida organizado em função dele é alterado em função de outras estruturas produtivas que são estabelecidas, obedecendo à dinâmica da modernidade. O conceito de modernidade apropriado pelo senso comum segue no mesmo sentido como algo capaz de oferecer mais do que já se tem, tornando descartável o obsoleto tudo que não é de uso no presente. Foi assim na instalação do aparato industrial no século XIX que libertou a sociedades da Zona da Mata da dura exploração e cativeiro rural, criando um estilo de vida urbano. E mesmo que se trate de “cidades-rurais”, ali as pessoas encontravam uma vida menos dura e mais dinâmica. Quando aquele aparato novecentista foi superado, nada se instalou em seu lugar, provocando uma ruptura no sentido de progresso, de desenvolvimento, de algo melhor que vem depois. Vejo nisso 12 uma forma de esquecimento, uma paralisia no tempo dinâmico da modernidade, ficando preso a um presente degenerado, sem forças para voltar ao passado e sem iniciativa para ir adiante. Acredito que a degradação do patrimônio ferroviário de Além Paraíba seja resultado desse momento. Se houvesse crescimento econômico compensatório na cidade, talvez fizesse mais sentido para a sociedade a memória do patrimônio existente. Não estou querendo dizer que o melhor para o patrimônio industrial é ser sempre superado para que seja preservado, mas apenas refletindo sobre um caso específico onde a estagnação econômica e social não trouxe nada mais que o abandono de antigas estruturas arquitetônicas e sociológicas. Refiro-me aqui, tanto à falta de políticas públicas viáveis e bem planejadas que assimilem o impacto de novos modos de produção, quanto à reestruturação produtiva e precarização do trabalho que desde os anos 1980 vem contribuindo para a desvalorização do trabalhador. As “obsoletas” estruturas fabris são abandonadas, entregue as ruínas do tempo e, por estarem em lugares geralmente valorizados, passam a ser cobiçados por empreendimento imobiliários. Agora o campo das disputas ganha o espaço da memória, história e musealização, em confronto com aqueles que vêem aqueles imóveis apenas como valor mercadológico. Essa gradual decomposição do legado industrial do século XIX é indicativo de duas agonias: da sociedade formada em função dele e que vê desfazer-se lentamente um certo estilo de vida, lamentando os novos tempos que não trouxeram compensações; na frente dessa sociedade, o patrimônio edificado vai perdendo seu significado. Lugar de memória... Qual memória? Dos áureos tempos de seu funcionamento? Ou memória de uma decadência que tende ao esquecimento? Este é o momento crítico dos patrimônios fabris, quando sua função original deixa de servir e sua função histórica não foi instaurada. O século XIX terminou tardiamente em muitos lugares e, até recentemente, poderíamos percebê-lo ainda vivo. O que o destruiu? Que forças contribuíram para sua aniquilação? Cada tempo projeta sua modernidade construída nos despojos de sua precedente. Mas a última modernidade criou como elemento de sua projeção a antecipação do futuro. Por não ter mais futuro, instala-se o tempo das incertezas... E o caminho que se apresentava infinito, parece encontra-se no seu extremo. A isso, por falta de melhor 13 denominação, chamamos pós-modernidade. Miriam Sepúlveda dos Santos (2003) chama a atenção para o enfoque que a memória tem ganhado ultimamente, “nunca se falou tanto em memória”. Questiona a autora se isso não seria medo de uma amnésia coletiva. A solução é voltar ao passado, refazer o caminho para um diálogo existencial. Das formas decrépitas do passado, pela sua robustez, pelos seus tons de ocre, pelas pátinas provocadas pelas fuligens renasce Mnemosine nas asas de Fênix. “Fez-se justiça à etimologia que aproxima a palavra grega géron ‘velho’, do termo geras ‘honra’ (Le GOFF: 1992, p.169). Mas isso tem-se constituído com grande dificuldade: fazer o exame de consciência, perceber que se destruiu em vão um passado, assumir a culpa e restituir seu significado. Bibliografia BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. BOURDIN, Alain. A questão local. Tradução: Orlando dos Santos Reis. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. _____. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. HOBSBAWM, E. Mundos do trabalho: novos estudos sobre história operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Le GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução: Bernardo Leitão. Campinas, Editora da UNICAMP, 2ª ed., 1992. LOPES, Juarez Rubens Brandão. Crise do Brasil Arcaico. Coleção Corpo e Alma do Brasil. Difusão Européia do Livro. São Paulo, 1967. NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares, In: Projeto História. São Paulo: PUC, n. 10, dezembro de 1993. SANTOS, Mirian Sepúlveda dos. Memória Coletiva e Teoria Social. São Paulo: Annablume, 2003. SIMMEL, G. A natureza sociológica do conflito. In: Simmel. Sociologia. MORAES FILHO, E. (org.). São Paulo: Ática, 1983. 14
Download