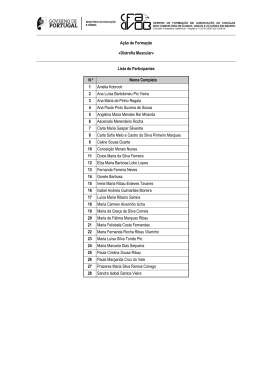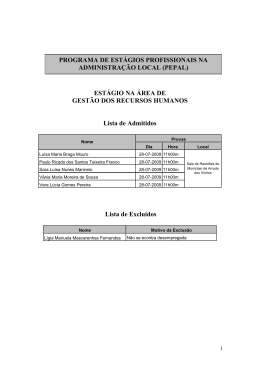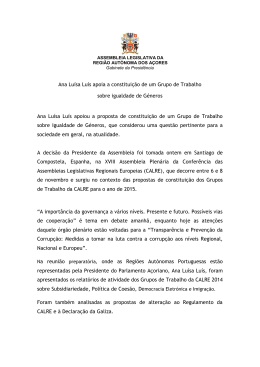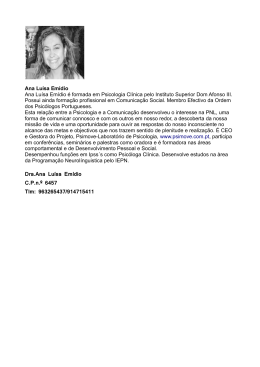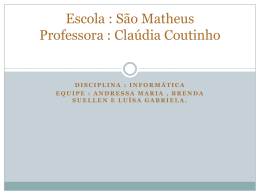A MORTE NÃO É DESTINO. UMA TRAJETÓRIA DA SOBREVIVÊNCIA FEMININA NA LITERATURA PORTUGUESA1 THE DEATH IS NOT DESTINY. A TRAJECTORY OF THE FEMININE SURVIVAL IN PORTUGUESE LITERATURE Monica do Nascimento Figueiredo* Só eu sei as esquinas por que passei Só eu sei... E quem será na correnteza do amor que vai saber se guiar? A nave em breve ao vento vaga de leve e traz toda a paz que um dia o desejou levou.... (Esquinas, Djavan) Resumo Este artigo se propõe analisar o percurso de algumas personagens femininas nos romances portugueses dos séculos XIX e XX, descrevendo as formas de sobrevivência inscritas pelo feminino na literatura finissecular. Para isso, focaliza as obras O Primo Basílio, Pedro e Paula, O Vale da Paixão e Ensaio sobre a cegueira como espaços de reavaliação crítica do papel da mulher, detendo-se na aquisição da linguagem e na vitória do sujeito e no corpo, na casa e na cidade como lugares problematizados pela ficção, bem como avaliando a crise das relações sociais experimentadas em dois fins de século: XIX e XX. Palavra-chave: Literatura Portuguesa, Séculos XIX e XX, Personagens Femininas, Formas de Sobrevivência. Abstract É PRECISO REVER O ABSTRACT POIS TIVE QUE MODIFICAR O RESUMO. Path analysis of some feminine characters in Portuguese romances from XIX and XX centuries. The way of survival enrolled by feminine in literature, at the end of XIX and XX century. O Primo Basílio, Pedro e Paula, O Vale da Paixão, and Ensaio sobre a cegueira as critical reevaluation spaces of the role of woman. The language acquisition and the victory of the individual. The body, the house and the city as places recovered by the fiction. The crisis of the social relations experienced on two end centuries: XIX and XX. Key words: Portuguese Literature, XIX and XX Centuries, Feminine Characters, Way of Survival. 1 Comentários introdutórios: dois fins de século Desde a famosa aula proferida por Barthes (1989)2, parece que se aprendeu que não há discurso para fora do poder, pelo menos não dentro daquilo que nos acostumamos a chamar o uso comum da linguagem, uma vez que o poder é como o “parasita de um organismo trans-social” (p. 12) que, preso à linguagem pela sua expressão obrigatória que é a língua, se liga inexoravelmente a toda a história da humanidade. Enclausurada nos discursos, resta à condição humana a trapaça: “trapacear com a língua, trapacear a língua” (p. 16), parece ser o caminho para que se evite a autoridade da asserção e o gregarismo da repetição3. Ao revolucionar o uso da linguagem, a literatura promove uma revolução no corpo do texto, refazendo aquilo que é dominado pelo hábito e, por isso, incapaz de dar conta do pequeno, da rasura, da lacuna e do silêncio. Instaurar a instabilidade no saber, eis o grande desafio do texto literário. A re(a)presentação do real só é possível por meio da linguagem; no entanto, o que ela (re)cria não é o real da coisa – que estará sempre no fora do discurso, preso à concretude dos fatos –, mas, sim, o efeito de real (p. 96). O que aqui pretendo perseguir são quatro formas singulares de enunciação do que chamo, com Barthes, de efeito de real. O que de perto interessa ver é como Eça de Queirós em O Primo Basílio; Helder Macedo em Pedro e Paula; Lídia Jorge em O Vale da Paixão e José Saramago em Ensaio sobre a cegueira4 transformaram a referencialidade histórica em enunciação e como esta foi capaz de gerar um sentido estético carregado de significação para o espaço. Enfim, quero crer que essas narrativas são exemplos de exercício de linguagem desejosa de sabor, capazes que são de inscrever uma outra forma de saber que não se quer sinônimo do real, mas antes possibilidade de significação latente. Há, no entanto, que se justificar a temporalidade que separa a narrativa queirosiana dos demais textos. Num livro primoroso, O declínio do homem público – As tiranias da intimidade, Richard Sennett (1988) aponta que, para se compreenderem as relações modernas estabelecidas entre vida pública e vida privada, enfim, para se compreender a sociedade contemporânea, será necessário um retorno cuidadoso à era vitoriana, quando tudo aquilo com que acertamos contas hoje em dia foi efetivamente criado. Como afirma Sennett (1988), “o século XIX ainda não terminou” (p. 44). A seu modo, esses quatro romances podem ser considerados exemplos de narrativas finisseculares. Se a expressão “fim de século” está assinalada como identificação da viragem do século XIX para o século XX, é necessário também perceber que ela de longe ultrapassa uma mera referência cronológica, porque é, em verdade, a representação de uma atmosfera de crise, ou melhor, de um estado de espírito marcado pela tensão e pelo conflito. Se Eça de Queirós inscreve a crise do advento da modernidade no seu O Primo Basílio; Helder Macedo, Lídia Jorge e José Saramago também abrem espaço para que a crise do fim da modernidade ganhe registro por meio das linhas da ficção. 2 Luísa: a sobrevivência silenciosa É de dentro da decadência do Portugal oitocentista construído por Eça que surge o desejo gaguejante de Luísa, bem como, nas três narrativas contemporâneas, é de dentro do último fim de século marcado por uma atmosfera de isolamento, de instabilidade e de violência latentes que nasce a resistência desejante de outras três personagens femininas. Se Luísa teve de perder a segurança do abrigo que representava o lar burguês em troca do vislumbre de certa liberdade individual – a liberdade de descobrir a sua sexualidade e o seu corpo –, um século depois, as mulheres de papel da contemporaneidade tiveram de promover uma outra forma de luta contra “uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais” (Bauman, 1998, p. 10). Luísa, Paula, a filha de Walter e a mulher do médico são trajetórias audaciosas de desejo. Guardadas as devidas proporções, cada uma delas, a seu modo, teve de lutar com o tempo histórico a que estavam circunscritas pela aquisição do conhecimento que nem sempre lhes era permitido. Todas elas ataram os seus percursos desejantes à linguagem, e é a aquisição de um discurso próprio que, conscientemente ou não, perseguem. Parte da silenciada (e por isso silenciosa) Luísa a indagação fundadora: “com que linguagem?” (PB, p. 323). Talvez, e mesmo sem o saber, Luísa pressentisse que o “silêncio é assim a ‘respiração’ (o fôlego) da significação; um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido” (Orlandi, 1997, p. 13). Mas se Luísa aprendeu a conviver com o silêncio, o mesmo não conseguiu fazer com a fala, que para ela nunca ultrapassou a forma gaguejante. Por ser incapaz de transformar o silêncio que impossibilita em pausa significativa na emissão do discurso, ela não foi capaz de sobreviver à doença que silenciou para sempre a sua titubeante busca de significação. Como impostora, Luísa toma posse do discurso proveniente de suas leituras, não estando apta a transformá-lo num discurso próprio que fosse capaz de ajudá-la a enfrentar a concretude de um tempo que perpetuava o silêncio feminino. Se tivesse sido capaz de tornar próprio o discurso alheio, teria virilizado a sua fala, garantindo, com isso, a existência que a salvaria do silêncio a que foi condenada pela morte. A longa agonia de Luísa é marcada pelo emudecimento. No século XIX, por ser incapaz de construir um discurso que lhe garantisse a existência e que justificasse o seu atrevimento desejante, Luísa foi punida com o desabrigo. Expulsa de seu corpo, de sua casa e de sua cidade, ainda assim, com a história do seu fracasso narrado, ela abriu caminho para que o corpo da Paula, de Helder Macedo, pudesse ultrapassar todas as formas de violência a que estaria, por sua história pessoal, condenada. A curiosidade de Luísa é agora substituída pelo desejo de experiência de Paula que, conscientemente, busca uma linguagem que seja capaz de garantir a sua existência como sujeito. 3 Paula: um corpo no mundo Trata-se de um outro tempo, igualmente difícil e pouco confortável à existência feminina. Contrariamente a Eça que no século XIX declarou o seu duvidoso desamor por Luísa, Helder Macedo, na contemporaneidade, assume, especularmente, por meio de seu narrador, o fascínio por sua personagem. Semelhanças nas dessemelhanças são aquilo que acaba por unir a escrita desses dois autores que, a seu modo, perceberam a condição adoecida dos tempos históricos que lhes serviam de palco de ação. A necessidade da cura parece ser a lição repetida por Helder Macedo ao recuperar o texto de Eça de Queirós5 para uma das epígrafes do livro. E é do corpo de Paula que vem a cura do mal, um corpo desejante que na contemporaneidade está à procura de uma forma de vida mais saudável. Se Luísa foi ameaçada de perder a casa e com ela o seu lugar dentro do modelo social oitocentista, Paula esteve sempre em trânsito. Essa mulher inaugura um novo tempo, é a mulher da geração das que trabalham fora e que, portanto, assumiram a rua como um espaço também possível. Paula é uma pedestre por escolha que decide dominar os espaços, percorrer as cidades, querendo evidentemente muito mais do que Luísa pôde algum dia desejar para fora do abrigo de uma casa burguesa. Outro tempo, novo imaginário, realizações viáveis. Sobrevivente ao estupro do irmão, Paula guardou em seu corpo a pulsão da vida. Na verdade, o estupro pode ser visto “como um meio de lidar com a deficiência, dependência ou inadaptabilidade masculinas” (Tomaselli e Porter, 1992, Introd.), porque por detrás da violência o que se esconde é o desejo masculino de punir “aquilo que [o homem] imagina prendê-lo numa armadilha: ele pune o corpo feminino” (Tomaselli e Porter, 1992, p. 93). Graças ao poder conferido por sua imaginação, Paula conseguirá passar pela paisagem cinzenta do Portugal salazarista e por toda a adoecida história familiar, experimentando uma plenitude que não é só amorosa, mas também sexual e que a faz “querer ser livre entre homens aprisionados” (PP, p. 127). Se, por contar somente com a sua curiosidade, só foi possível a Luísa a descoberta do corpo para aquém do amor, Paula, um século depois, já pode experimentar uma plenitude que é capaz de unir carne e espírito. Essa heroína não precisa mais optar pela morte como as Bovarys sedentas de um mundo menos medíocre. Também não é, como as Luísas, imolada por suas transgressões. Ela fica e assume sozinha o saber sobre si e sobre a filha cuja origem terá de construir. Abandonando o lugar tradicional do feminino, Paula escolherá diante do narrador a paternidade para sua filha. Por uma lógica voluntariamente não científica, mas ética, Filipa só poderia ser filha de Gabriel, a filha que ele “mereceu” (PP, p. 202), porque tirara dela o “sabor da morte” (PP, p. 206) quando dentro dela morreu, sepultando de vez a memória do estupro e escolhendo como última morada o corpo daquela que foi plenamente amada. 4 A Filha de Walter: a vitória sobre o desabrigo Do mesmo modo, o percurso da personagem de Eça acabou por anunciar a chegada de um tempo em que uma mulher ameaçada pelo desabrigo, a filha de Walter – de O Vale da Paixão, de Lídia Jorge –, se pudesse tornar a dona legítima da casa de Valmares ao aprender a permanecer. Ora, para que a completude da filha possa ser vislumbrada, é preciso voltar a Walter, ensina desde logo a narradora. Por meio de um discurso gaguejante, marcado pelas adversativas e pelas condicionais, ela constrói um texto que obsessivamente parece estar sempre a recomeçar.Vencer o esquecimento é tarefa trabalhosa, e o que restou de memória a essa filha são fiapos de um passado que ela avidamente alinhava, tentando recuperar um tecido que, já na origem, se assume como falhado, se assume como carência e vazio. Seguindo hipoteticamente os passos vacilantes de Luísa e a travessia determinada de Paula, a filha de Walter também fará da imaginação a sua garantia de sobrevivência e o seu instrumento de ultrapassagem em direção a uma existência mais saudável. Desabrigada antes mesmo de seu nascimento, transformará o seu poder de criação em discurso e por meio dele se tornará a dona legítima da casa de Valmares, que há de ficar como uma “casa do futuro” por ser “mais sólida, mais clara, mais vasta que todas as casas do passado” (Bachelard, 1989, p. 48). Com a mãe, Maria Ema, ela dividiu o segredo de seu amor e com ela esperou o retorno daquele que sempre habitou o lugar movediço que existia entre o pai e o homem. Ambas guardaram secretamente a foto tirada em 1951, quando Walter retornou a Valmares. O corpo concreto do pai esteve ao lado do corpo da filha, aprisionado definitivamente nessa foto que ficou escondida sob o risco de revelar uma ligação que precisava ser esquecida. Do esquecimento de Walter dependia a manutenção da ordem da casa. Obrigada desde cedo a se desviar de sua condição de filha, a dona da voz narrativa traçou para si uma trajetória à margem: à margem da família, à margem do afeto, à margem da casa e, por algum tempo, à margem de um discurso assumidamente em primeira pessoa. Escamotear-se assim em terceira pessoa era uma forma de se olhar de fora para se ver no confronto com os outros, observa-se de fora até poder-se sentir dona de si, um eu cujos limites foi obrigada a construir numa relação em que o amor, a culpa e o ódio se conjuraram. A narradora cedo transformou o revólver do pai num brinquedo mantido sempre perto de seu corpo, capaz de afugentar os fantasmas infantis e de personificar a proteção fálica que lhe tinha sido negada. O revólver, escondido ao longo dos anos embaixo do colchão, transforma-se na metáfora do corpo masculino que, mesmo ausente, povoa o imaginário da filha incestuosamente ligada à imagem desejada do pai. A arma, na verdade, protegeu não só a filha, como também a sua imaginação, pois, sabendo que era pela aquisição do discurso que a sua individualidade estaria garantida – afinal, ela “escreveria nos cadernos escolares, protegida pelo revólver, deixado pelo pai, não esquecido, deixado” (VP, p. 134) –, ela protegeu-se da casa com o falo da arma, ao mesmo tempo em que preencheu os espaços vazios por meio de uma fala que era plenitude de criação. Se Luísa suspeitou que o impasse de sua existência pudesse estar resumido na indagação “com que linguagem?”, mais de um século depois e já de posse de um discurso a custo conseguido, a filha de Walter ousou perguntar “o que é a nossa morada?” (VP, p. 125). Era a sua forma de querer dizer a casa, e não somente de experimentá-la. Precisava alegorizá-la, torná-la discurso próprio. Ao enfrentar a incompletude que havia sido selada antes mesmo de seu nascimento, aquela que sequer recebeu um nome buscou as palavras necessárias para aprender a morar em si. Se “o amor é uma das respostas que o homem inventou para olhar de frente a morte” (Paz, 1994, p. 117), a filha de Walter amou o pai que partira para não morrer, e transformou a casa de Valmares num lugar onde o feminino lhe ensinaria a aventura de permanecer, não mais como prisioneira, mas como a que opta por ficar depois de ter partido. 5 A Mulher do Médico: os perigos da travessia E, por último, transeunte incapacitada de vencer o espaço urbano, Luísa é, de certa forma, o pretérito inscrito na trajetória de resistência da mulher do médico do Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, que, na contemporaneidade, foi dotada de olhos da diferença, fortes o bastante para confrontarem o inferno em que se transformou a cidade no último fim de século. Se Paula pintou suas palavras-telas, se a filha de Walter criou suas palavras-filmes, a mulher do médico encontrou com seus olhos as palavras necessárias. Mas, se Paula silencia quando não quer dizer e se a filha de Walter cala enquanto aprendia a dizer, a mulher do médico tem de dizer. Ser obrigada a dizer é uma forma perversa de violência que brutalmente viola o corpo daquela que, ao decidir acompanhar o marido, se transforma na testemunha necessária, no corpo sempre presente que, não recusando a experiência da dor vivida como destino compartilhado, poderá ensinar a antiga lição da compaixão. No doloroso episódio do estupro, o discurso radicaliza a abominação, e o narrador assume ele próprio um tom agressivo, corroborando a atmosfera de terror que domina o manicômio após a insurreição dos cegos maus. Sem pudor, o romance divide o universo do manicômio entre bons e maus que repetem em segunda instância o lugar dos oprimidos e dos opressores, ao mesmo tempo em que atualiza a memória histórica da violência que parece perseguir preferencialmente o feminino desde tempos imemoriais. Mostrando que a indignidade se concretiza no corpo, a narrativa não esquece de que o corpo feminino é o mais plenamente atingido. Os cegos maus fizeram com que cada uma das vítimas sofresse “tudo quanto é possível fazer a uma mulher deixando-a ainda viva” (EC, p. 178), instalando nelas uma morte que só poderia ser vencida graças à teimosa insistência pela vida. Mas, como a Paula de Helder Macedo ensinou, a vida ressurge dos corpos massacrados. Vencendo uma violência que pretendeu silenciar até a linguagem, porque o “inominável” existe (EC, p. 179), as mulheres violentadas do Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, tiveram de renascer outras a partir de uma dor que ficará para sempre como memória, pois o “inconsciente é um conservador da dor, ele não a esquece” (Nazio, 1997, p. 57). Bem próxima da filha de Walter, que vencendo o medo também percorria os cantos escuros da casa de Valmares, protegida por um revólver que matava tudo aquilo que ameaçava a sua integridade de sujeito, a mulher do médico igualmente pressentia que “o furor feminino é freqüentemente de base erótica” (Delumeau, 1993, p. 64). Por sua condição de ser desejante, a mulher do médico transformará em gozo a morte do opressor, libertando seu corpo e o das companheiras da utilização sádica a que tinham sido submetidos. De seu corpo ultrajado parte a redentora vingança que impede que elas se transformem em vítimas sacrificais, imobilizadas num corpo imolado – como se tornou o de Luísa – que, sem lugar, não poderia protagonizar a história de ocupação que afinal acaba por inscrever. Se a mulher do médico tem medo, para além de todo o horror, o que a atemoriza é o esquecimento. Por isso, insiste no aviso: “Abramos os olhos”, pois é necessário ver, e mesmo aqueles que não o podem fazer por conta dos olhos cegos, deverão fazê-lo pela memória dolorosamente inscrita em cada pele. Os corpos são superfícies onde foram impressas as marcas do tempo, é preciso não esquecer o que já foi para que se possa saber o que ainda será. É preciso que a mulher do médico “não se perca, não se deixe perder” (EC, p. 279), implora o escritor cego ao perceber que seu olhar-palavra era o texto legítimo que sobreviveria ao tempo em dissolução, sendo afinal imprescindível ao nascimento dessa narrativa que, em detrimento de todas as formas de aparência, desvela que paradoxalmente “só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são” (EC, p. 128). 6 Para concluir Todas elas partiram da dificuldade de escrita de Luísa para enfim, no século XX, conseguirem inscrever as suas histórias grafadas nas telas de Paula, nos contos da filha de Walter, ou nos “olhos narrativos” da mulher do médico. Todas essas mulheres transformaram o silêncio de Luísa em pausa significativa. Por isso, Paula venceu o mutismo a que teria sido condenada por sua história familiar, do mesmo modo que a filha de Walter rompeu com a calada condição de indesejada e que a mulher do médico ultrapassou a silencial condição da cegueira de que se tornara trágica espectadora. Essas personagens foram capazes de inscrever suas falas no viés do silêncio. Por meio de seus percursos, escreveram uma trajetória de luta pela ocupação e pela posse dos espaços, porque todas estavam marcadas pela pulsão – que também se quer sexual – de sobrevivência e, por isso, puderam enfrentar e vencer o desabrigo a que Luísa tinha sido condenada. Em ficção, elas construíram para o fim do século XX uma outra história, e é, por isso, que aqui falo de mulheres que não se deixaram morrer e que produziram, em vida, uma outra possibilidade de “efeito de real” para o feminino. Notas 1 O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa “E[ç]as Mulheres: um estudo da presença feminina na narrativa de Eça de Queirós”, que contou com o apoio da Fundação Universitária José Bonifácio, por meio do Prêmio Antonio Luís Vianna, de 2006. 2 Aula inaugural da cadeira de Semiologia Literária do Colégio de França, pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. 3 Parto da concepção de que para Barthes (1989) “língua e discurso são indivisos, pois eles deslizam segundo o mesmo eixo de poder” (p. 31). 4 Para as citações do texto, usarei respectivamente as abreviações: PB; PP, VP e EC. 5 Cito: “Num país em que a ocupação geral é estar doente, o maior serviço patriótico é, incontestavelmente, saber curar.” Referências BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1989. BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1989. BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998. DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. JORGE, Lídia. O Vale da Paixão. Lisboa: Círculo de Leitores, 1999. MACEDO, Helder. Pedro e Paula. Lisboa: Editorial Presença, 1998. NAZIO, Juan-David. O livro da dor e do amor. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1997. ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. São Paulo: Ed. da UNICAMP, 1997. PAZ, Octávio. A dupla chama: amor e erotismo. São Paulo: Siciliano, 1994. QUEIRÓS, Eça de. O Primo Basílio. Lisboa: Livros do Brasil, s/d. SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. SENNETT, Richard. O declínio do homem público – As tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. TOMASELLI, Sylvana; PORTER, Roy. Estupro. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1992. Dados da autora: Monica do Nascimento Figueiredo * Doutora em Letras Vernáculas/Literatura Portuguesa – UFRJ – Pós-doutora – Universidade de Coimbra – e Professora de Literatura Portuguesa – Faculdade de Letras/UFRJ Endereço para contato: Universidade Federal do Rio de Janeiro Faculdade de Letras – Departamento de Letras Vernáculas Avenida Brigadeiro Trompowsi, s/nº Cidade Universitária – Ilha do Fundão 21949-900 Rio de Janeiro, RJ – Brasil Endereço eletrônico: [email protected] Data de recebimento: 3 maio 2007 Data de aprovação: 6 set. 2007
Download