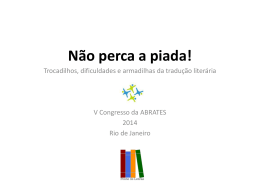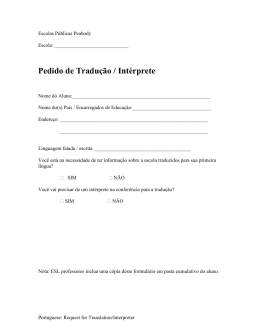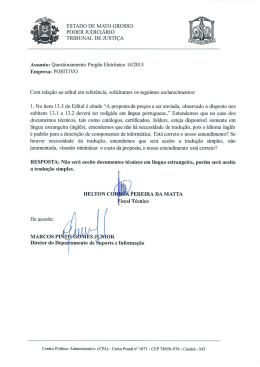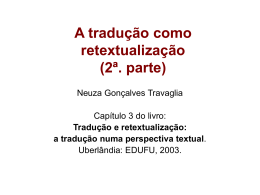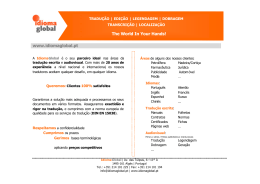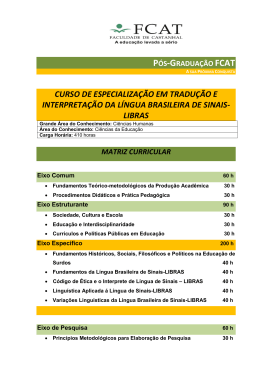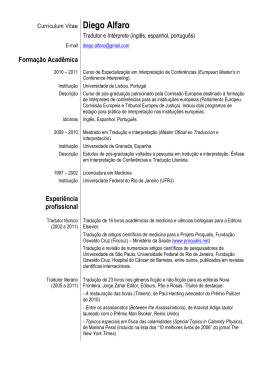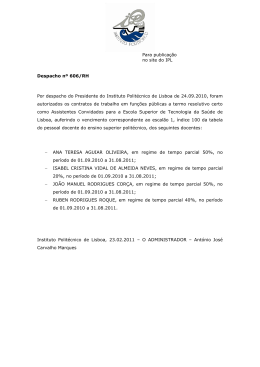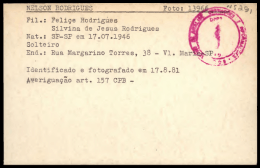Babilónia n.º6/7 pp. 47 - 65 José Rodrigues Miguéis: Um Escritor sorri à Tradução com meia cara Ana Aguilar Franco, Professora na Universidade Lusófona Palavras-chave: Miguéis, Scott Fitzgerald, Estudos de Tradução, O Grande Gatsby Key-words: Miguéis, Scott Fitzgerald, Translation Studies, The Great Gatsby Resumo: A dupla condição do escritor José Rodrigues Miguéis, enquanto português e americano, bem como o facto de ter optado por escrever sempre na sua língua materna, embora radicado nos EUA, desde 1935, torna as suas traduções de obras literárias, de Inglês para Português, num objecto de observação pertinente, no contexto dos estudos de tradução. A partir da sua tradução do romance The Great Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, serão observados aspectos no texto de chegada para os quais se procurará apontar as opções tradutórias subjacentes, de acordo com princípios e conceitos da Teoria da Tradução. Abstract: The Portuguese and American nationality of the writer José Rodrigues Miguéis as well as his decision to use only his mother tongue in his writing activity, although living in New York since 1935, brings particular insight to his literary translations from English into Portuguese as a research object within the Translation Studies. In this work, several aspects of Miguéis’s translation of The Great Gatsby, by Francis Scott Fitzgerald, will be highlighted so as to give meaning to his translation options according to the principles and concepts of the Theory of Translation 47 Ana Franco Introdução A dupla condição de José Rodrigues Miguéis, enquanto português e americano, bem como o facto de ter optado por escrever sempre na sua língua materna, embora radicado nos EUA ,desde 1935, torna as suas traduções de obras literárias, de Inglês para Português, num objecto de observação pertinente, no contexto dos estudos de tradução. Na verdade, investigações relativas à actividade tradutória têm afirmado que esta é um fenómeno indissociável do ambiente cultural em que ocorre. Neste sentido, os modelos propostos por Even-Zohar,e posteriormente por Toury, procuraram criar esquemas de estudo das opções tradutórias tomadas através do tempo e das culturas. Com base num conceito de norma, a que está subjacente a definição de um conjunto de parâmetros, consegue-se situar essas escolhas, não só em relação à cultura de chegada, como também em relação à cultura de partida, ou ainda, em relação a uma cultura intermédia em que a tradução possa ter sido baseada. Os investigadores mencionados aceitavam como premissa de trabalho a noção de que também o tradutor pertence, inevitavelmente, a um espaço literário e cultural, mesmo que este se encontre afastado/distante do local em que o tradutor se encontra. No caso de Miguéis, além de este ter trabalhado como tradutor de textos literários e não-literários, acresce a circunstância de ter manifestado preocupações de carácter teórico sobre o exercício da tradução, em artigos que publica sobre a matéria. O presente trabalho visa apresentar uma faceta de José Rodrigues Miguéis, enquanto tradutor, no contexto da sua produção literária, procurando enquadrar a perspectiva evidenciada na tradição americana e na tradição portuguesa. Tomando como objecto de observação a sua tradução do romance The Great Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald,1 serão observados aspectos no texto de chegada para os quais se procurará apontar as opções tradutórias subjacentes, de acordo com princípios e conceitos da Teoria da Tradução, nomeadamente, dos universais tradutórios. Miguéis e a Tradução Contrariamente ao que o percurso do escritor aparenta, a tradução é um facto permanente ao longo da sua carreira: em 1927 (aos 26 anos), traduz e 1 Fitzgerald, F.Scott. O Grande Gatsby. Pref.e trad.José Rodrigues Miguéis. 4ª ed. Lisboa: Editorial presença. 1991. Fitzgerald, F.Scott. The Great Gatsby. Introd. Anthony Burgess. London: Penguin Books. 1992. 48 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução adapta a partir do inglês o Curso sistemático de lições de coisas: Primeiro ciclo, com Introdução de António Sérgio; em 1935, traduz A Abadessa de Castro, de Stendhal; em 1942, após adquirir a nacionalidade americana, inicia uma colaboração de cerca de dez anos com o Reader’s Digest, como co-editor e, mais tarde, como colaborador independente, sendo consensualmente reconhecido como o tradutor mais competente para a publicação; em 1958, traduz Coração Solitário Caçador, de Carson McCullers, com Prefácio seu intitulado “Carson McCullers ou A Vitória da Comunicação”; em 1960, traduz O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, com Prefácio seu intitulado “Scott Fitzgerald ou a Autodestruição Criadora”; entre 1958 e 1962, traduz seis contos inseridos na colecção O Livro das Mil e Uma Noites, com Introdução de Aquilino Ribeiro (1958-1962); em 1961, colabora com Raymond Sayers na edição de um disco, com fins pedagógicos, declamando poetas portugueses por si traduzidos para inglês; em 1974, traduz Uma Luz ao Escurecer, de Erskine Caldwell. Estes dados comprovam a natureza multifacetada da actividade tradutória de Miguéis decorrente, por um lado, de necessidades pecuniárias, colmatadas pela colaboração no Reader’s Digest e, por outro lado, do forte interesse tanto pela literatura portuguesa como norte-americana, ou ainda pela área das ciências pedagógicas (além da licenciatura em Direito, faz uma especialização em Pedagogia na Universidade Livre de Bruxelas). Em entrevista ao Diário de Lisboa (13.Mar.1958) Miguéis falando sobre a sua experiência americana, enumera autores americanos que considera centrais. Noutra entrevista, desta vez ao Diário Popular (2.Jul.1959, “Supl.Lit” 1,11) refere a influência da cultura americana no seu sentido profissional, destaca autores que incluem os que traduziu, com uma referência de especial admiração por Erskine Caldwell. A tradução literária assume um significado particular no contexto do seu percurso, pois ao transpor autores que tanto admira para a sua língua materna, Miguéis apropria-se de um universo cultural, integrando-o na língua em que decidiu exprimir a sua sensibilidade literária; a um enriquecimento do património cultural português, corresponde um enriquecimento pessoal do escritor. A propósito da dispersão da sua actividade profissional, em 1947, numa carta enviada para Mário Neves, (autor da sua biografia) Miguéis desabafa sobre as dificuldades em conciliar as duas absorventes ocupações da sua vida: a criação literária e a tradução: Ensaios 49 Ana Franco Imagine o que é ter de traduzir e rever para publicação, entre 10 e 29 do mês, cerca de 33.000 palavras em qualidade «estritamente Miguéis» — sabendo-se que o estilo e assuntos do R.D. [Reader’s Digest] são como o Urânio-X…só à força de ciclotron! […] Se eu pudesse viver de abstracções, e empregar todo esse tempo em escrever, quanto não poderia ser feito! Demais, escrever é-me muito mais fácil do que traduzir…. Na verdade, em vários momentos Miguéis comentou escrever compulsivamente, assumindo que a vida não era suficientemente longa para pôr no papel todas as ideias que ainda tinha para transmitir. Os lamentos, na missiva, prosseguem: Hoje, por exemplo, sentei-me a esta mesa às 10 da manhã; lutei todo o dia com salmões, toninhas e trutas da menagerie do R.D. — e às 7.30, para mudar o disco, ponho-me a escrever-lhe. E assim quase todos os dias, para aprontar aquelas duas a três páginas da revista, sem as quais não há o clássico bacon & eggs! E em cima disto, escrevo! E é preciso ler! E algum convívio, ainda que seja forçado e enjoativo! Miguéis termina com um tom irónico, um recurso característico no escritor, citando Camões: Não interprete à letra os queixumes: ainda por cá há reservas de bom humor! Peça aos deuses do Ver e Crer que de cá bem cedo me levem a vê-lo, e terá colaboração. (1990:171-172) Em 1961, de novo em carta para Mário Neves, presente na bibliografia já referida, Miguéis continua a tecer comentários sobre as circunstâncias que envolvem a produção literária : No contacto quotidiano e real das nossas coisas, voltarei à actividade. Não é que não tenha trabalhado imenso: mas dos livros em que trabalho quase tudo é impublicável, e o resultado é um certo desânimo. Acresce que a necessidade me tem obrigado a aceitar trabalhos de tradução (nada como antigamente) que me amola o juízo e comem energia. Não entro em detalhes ociosos! Cada dia mais metido na concha…Portugal dói — ainda mais cá fora, porque é na feroz concorrência com outros países, num meio gigantesco, que as nossas fraquezas sobressaem mais: nas letras, na política, no turismo, no comércio…em tudo.” (1990:219) A dolorosa conjuntura política portuguesa, que continuava a dificultar-lhe a sua vida de escritor, força-o a permanecer dependente de trabalhos que não o realizavam enquanto tradutor, situação agravada pelo peso económico do Brasil 50 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução que, já nessa altura, nos EUA, dominava a indústria da tradução para português. Ainda sobre esta actividade desenvolvida por Miguéis, Camila Miguéis, em entrevista conduzida por Maria de Sousa, integrada em José Rodrigues Miguéis: Lisboa em Manhattan, editada com a coordenação de Onésimo Teotónio de Almeida (2001:235), menciona o significativo volume de textos de vária ordem, traduzidos por Miguéis. E exemplifica a sua dedicação, contando que o escritor chegou a visitar uma fábrica para aprender a usar um torno, uma vez que teria que traduzir o Manual do Torneiro. O próprio Miguéis, em 1968, entrevistado em Nova Iorque pelo Diário de Lisboa, ao ser questionado sobre o modo como se assegura a subsistência deste “escritor português em Nova Iorque” responde: Trabalhando, isto é, escrevendo e traduzindo. Durante muitos anos na secção portuguesa do Reader’s Digest, proferindo conferências, fazendo traduções, inclusivamente de propaganda de máquinas agrícolas…(1968:5-6) Mais tarde, em 1980, na última entrevista que Miguéis concede, conduzida por Carolina Matos, a pretexto das dificuldades de aceitação sentidas enquanto intelectual estrangeiro a escrever em português, Miguéis reafirma que a tradução havia sido a sua fonte permanente de rendimento (2001: 251-258). Além da actividade tradutória, Miguéis escreve sobre questões relativas à metodologia, em especial, da tradução literária, que ilustram preocupações enquadradas no processo evolutivo dos estudos de tradução. Considere-se o artigo “Era Uma Vez um Désiré…”, publicado no Diário de Lisboa,, em Setembro de 1960, e o artigo “Garranos, Polvos, Cotovias e Gato por Lebre (Sobre os problemas da tradução)”, publicado na Seara Nova, em Setembro de 1965, Note-se que ambos datam da década de sessenta, época de grandes mudanças a nível de paradigma de abordagem desta área de estudos. Também neste âmbito, o facto de Miguéis estar inserido na cultura norte-americana e manter contacto com a cultura portuguesa, tem implicações a nível da sua posição face às realidades dos dois espaços geográficos, nomeadamente, do entendimento feito sobre o estatuto da tradução, assente, ou não em juízos de valor; da abordagem feita ao texto de partida; do papel atribuído ao texto de chegada per si; do processo subjacente, “mecânico” ou “criativo”, tal como refere Susan Bassnett (2003: 21) a propósito da actualidade das palavras de Hilaire Bulloc, numa conferência (“On Translation”) em 1931. Ensaios 51 Ana Franco Em “Era Uma Vez um Désiré…”, Miguéis discorre sobre situações que podem ocorrer ao longo do processo tradutório. Relatando as observações de alguém seu conhecido sobre a peça A Streetcar Named Desire, de Tennessee Williams, procura explicitar como os jogos semânticos podem mascarar um significado e confundir o tradutor. É dada uma justificação para a /tradução do título: o tradutor francês, ao traduzir a peça do inglês, teria estabelecido uma equivalência entre o toponímico “désiré” (palavra francesa que surgindo escrita em maiúsculas -“DESIRE” - perde os acentos) e “desire” em inglês. Por este motivo, traduziria o título para “Un Tramway nommé Désir”; posteriormente surgiria traduzido para português como Um Eléctrico Chamado Desejo, sem que este processo de equivalência tivesse na sua origem um sentido simbólico, embora o facto de uma personagem se referir a um “streetcar named desire” tenha vindo a fornecer a efectiva dimensão simbólica justificativa para o título. Apesar da aparente confusão em torno das origens francesas do espaço da narrativa (New Orleans) e do não-reconhecimento do toponímico como vocábulo francês, Miguéis considera que ao tradutor não restava outra hipótese para resolver a questão da simbologia da obra. No mesmo artigo, disserta com humor sobre a oportunidade da tradução do título “busy like a cat on a hot tin roof” como: “gata em telhado de zinco quente”, com base na simbologia atribuída à personagem, na medida em que, como Miguéis salienta, não existe nenhuma equivalência idiomática: Idiomáticamente, em português de Português (e não de Tradutor), a frase não corresponde a nenhum esquema mental, não evoca nenhuma imagem nem sentimento. É uma frase anglo-americana dita com palavras portuguesas. (1960, 13557:8) A crítica à tradução literal, que seria a executada com maior frequência, é apresentada através da diferenciação entre a língua própria do tradutor e a língua de chegada, realçando que a primeira não é genuína, ao não incluir os processos de equivalência entre língua de partida e língua de chegada. Recusando a defesa intransigente da “pureza” da língua e defendendo uma eventual “miscegenação”, conquanto esta não implique uma subalternização linguística, termina com uma observação sobre o papel do tradutor e o acto de traduzir: A cada passo tropeçamos, na leitura de revistas, livros e jornais, em frases de tal modo traduzidas, que se é forçado, para as entender, a retrovertê-las á língua original, pois o tradutor (?) não soube libertar-se dos esquemas mentais e sintáticos dessa língua, para lhes substituir 52 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução por esquemas correspondentes na nossa própria língua. Porque traduzir, meus filhos, não é trocar palavras de uma língua em palavras de outra mas encontrar as equivalências idiomáticas, transferir as formas verbais de uma cultura ou estrutura mental para o pensamento e estrutura sintáctica de outro idioma.(1960, nr.13557:8) As afirmações de Miguéis evidenciam que a sua perspectiva implica já um processo de descodificação e recodificação, ou seja, uma transferência linguística dependente de uma interpretação cultural, em detrimento de uma outra abordagem muito próxima do texto de partida. Estas preocupações, distantes do conceito de “belle infidèle”, enquadram-se no discurso que marcou as mudanças de entendimento quanto ao significado, à função e à execução da tradução literária, a partir dos anos 60. Num outro artigo “Garranos, Polvos, Cotovias e Gato por Lebre (Sobre os problemas da tradução)”, Miguéis regressa à temática do artigo “Era Uma Vez um Désiré…” de 1960, ou seja, às dificuldades decorrentes do estabelecimento de equivalências entre a cultura do texto de partida e a cultura do texto de chegada. As primeiras linhas são relevantes para aferir do papel abrangente atribuído por Miguéis ao exercício da tradução (1965, nr.1439: 281-282): As experiências do tradutor portugus in partibus infidelium dariam para um livro de memórias em que se ouviria latejar um coração retalhado: o do expatriado que a todas as horas trava inglório combate em defesa dessa pátria impalpável e epiderme interior que é a língua materna, contra adversários e concorrentes de toda a ordem, desde os próprios compatriotas deserdados da cultura, […]aos nossos irmãos brasileiros, com frequência ultraciosos da sua originalidade, […] aos espanhóis e hispanos de vários matizes, que em muitos casos, por ignorância e chauvinismo, teimam em não reconhecer o facto autónomo do mundo luso-brasileiro (“el portugués es castellano mal hablado!”) e aos próprios norte-americanos, mal-informados, alheios às picuinhas de minorias, e empenhados, sobretudo, em vender a sua mercadoria (ou filosofia) ao freguês, por meio de uma gíria que lhe agrade.[...] só lá fora se compreende o que vale uma Gramática e o que significa uma Cultura!” A actualidade e perspicácia das observações merecem destaque porquanto o peso de uma língua deriva cada vez mais da importância do país ou países que a falam. O aceso debate em torno do texto do Acordo Ortográfico de 1990, visando uma ortografia comum entre os países lusófonos, é disto um exemplo. Ensaios 53 Ana Franco No excerto, o autor pinta um cenário bastante incisivo das dificuldades de afirmação de independência da língua e da cultura portuguesa, da implantação da variante europeia do português como mais-valia comercial, face à concorrência da variante brasileira. O desabafo final realça a natureza relevante da identidade de um país associada à relevância da sua língua e da sua cultura. O texto prossegue em tom irónico e incisivo, num “humorismo magoado”, tal como Jaime Cortesão qualificou ao referir-se ao escritor no artigo “Regresso do Filho Pródigo”, publicado no Primeiro de Janeiro (nr.117, 29.Abr.1958: 1,3). Invocando a sua qualidade de tradutor para fundamentar as suas opiniões, valoriza a existência, em vários países incluindo os EUA, de uma ampla e pertinente discussão em torno da actividade tradutória, evidenciada pela multiplicidade de congressos, artigos, livros, não obstante, segundo ele, a continuada ocorrência de “atentados contra o sentido dos textos” que limitam os leitores a terem acesso a “meras aproximações”. Miguéis dá exemplos, que estão na origem do sugestivo título do artigo baseado na alusão ao adágio popular “gato por lebre”. Uma das situações deriva da já referida ausência de uma fronteira clara entre o português e o castelhano, junto da opinião internacional, pois da confusão entre a homografia de “polvo” (em espanhol) e de “polvo” (em português) resultou a sua tradução para “dust” (em inglês); outra situação, ilustrativa da problemática em torno da busca de equivalentes culturais, diz respeito à obra de Harper Lee, To Kill a Mockingbird, traduzido para Não Matem a Cotovia. Os comentários de Miguéis sobre o critérios que presidiram à tradução do título viriam a ser objecto de protesto público por parte de Lyon de Castro, director de Publicações Europa-América, editora responsável pela publicação do romance traduzido, uma vez que de acordo com a prática corrente na época, a escolha do título era da responsabilidade do director e não do tradutor. As palavras duras de Lyon de Castro viriam a suscitar a intervenção da Direcção da Seara Nova, em defesa de Miguéis. As opiniões divergentes patentes neste incidente resultam, em grande medida, de interesses comerciais que envolvem a actividade tradutória em determinados campos, por vezes colidindo com o estatuto do tradutor. As “Cotovias” de Miguéis Tal como já foi referido, o interesse de Miguéis pela cultura e pela literatura norte-americana é um facto várias vezes referido nas entrevistas concedidas em diversas fases da sua vida. Com recorrência, incluiu Carson McCullers , Scott 54 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução Fitzgerald e Erskine Caldwell na lista dos escritores preferidos e que traduziu, incluso motivando os seus prefácios “Carson McCullers ou A Vitória da Comunicação” para Coração, Solitário Caçador e “Scott Fitzgerald ou a AutodestruiçãoCriadora” para O Grande Gatsby. No caso do prefácio do romance The Great Gatsby, Miguéis centra-o na sua apresentação de Scott Fitzgerald, no percurso biográfico, no seu carácter em articulação com o sentido do romance e com o valor simbólico da sua obra, sem comentar ou justificar opções tradutórias, que justificariam serem alvo de comentário. A obra O Grande Gatsby surge perante o leitor português como um objecto de leitura único, autónomo, sem que o seu autor/tradutor manifeste ligações umbilicais. Relativamente à aceitação da sua tradução, uma breve nota no suplemento literário do Diário Popular (1960: 6) qualifica-a como “tradução primorosa de José Rodrigues Miguéis” e classifica de notável o seu prefácio intitulado “Scott Fitzgerald ou a autodestruição criadora”. Na publicação Vértice (1960:514515), igualmente se enaltece a qualidade do prefácio, considerado óptimo e esclarecedor, mas associando-o também ao carácter do próprio Miguéis ao considerá-lo: “uma desconcertante e, ao mesmo tempo, patética revelação da sua face íntima”. Relativamente ao texto traduzido o autor da crítica afirma: A tradução é fluente e geralmente correcta, apesar de certas construções ou termos que a longa permanência do tradutor na América ou uma deficiente revisão deixaram passar… Repare-se na crítica valorativa assente na dicotomia correcto/incorrecto, evidenciando um tipo de abordagem dominante até aos anos 70, conquanto ainda hoje seja possível encontrar este tipo de observação. O reparo a propósito da excessiva aproximação ao texto de partida, tem alguma pertinência, em termos da metodologia tradutória adoptada por Miguéis Na verdade, não obstante a sua forte ligação afectiva à língua portuguesa, essa longa permanência em Nova Iorque, vivida e sentida por intermédio de uma depurada visão jornalística, não só influenciou a sua produção literária (a nível temático, por exemplo) como parece reflectir-se em particularidades da tradução literária. Segundo Susan Bassnett (2003:183-189), os problemas levantados pela tradução de narrativa literária têm sido alvo de menor atenção do que os da poesia, aparentemente por existirem menos testemunhos por parte de tradutores e por se ter considerado que a eventual maior simplicidade da estrutura da prosa é mais fácil de traduzir. Citando Hilaire Belloc, autor de On Translation, Ensaios 55 Ana Franco publicado em 1931, Bassnett enumera seis regras a aplicar pelo tradutor deste tipo de texto que consistem em pautar a tradução pelo sentido total a transferir por cada secção do texto de partida; optar por traduzir uma expressão idiomática por outra; atender ao peso de uma expressão em determinado contexto; prestar atenção aos vocábulos denominados ”falsos amigos”; “transmutar ousadamente” uma vez que a essência da tradução é a ressurreição de um objecto estranho num corpo nativo”; evitar embelezar o texto. Se por um lado existe uma responsabilidade moral em relação ao texto de partida, é também afirmado o direito de o tradutor alterar o texto de chegada para estar em conformidade com as normas estilísticas e idiomáticas da língua de chegada. Para Basnett, a divisão do texto em blocos/secções constitui o problema central que se coloca ao tradutor, por ser dificil identificar as unidades de tradução, na medida em que estas não correspondem apenas à divisão linear em capítulos. Se uma frase, ou um parágrafo, é tomada isoladamente, não está em relação com a totalidade da obra. Uma vez que o texto é constituido por uma série de sistemas e recursos técnicos concatenados, cada um com uma função, é necessário encontrar e entender essas funções em relação ao texto como um todo, para em seguida, encontrar um sistema na língua de chegada que cumpra as mesmas funções. Os procedimentos podem ser inúmeros, mas ao longo do tempo também tem havido tentativas de racionalização. Nos anos 40 e 50, uma época contemporânea de Miguéis, Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet, no artigo “A Methodology for Translation” (Venuti, 2000:84-93), distinguem os dois métodos de tradução: directa ou literal e oblíqua. A primeira inclui a transposição elemento por elemento para o o texto de chegada, baseada na existência de categorias paralelas, conceitos paralelos. A segunda deriva da existência de diferenças estruturais ou metalinguísticas que implicam alterações a nível sintáctico ou lexical a fim de concretizar a passagem para o texto de chegada. Os autores consideram os seguintes métodos tradutórios: o “empréstimo”, com o objectivo de criar um efeito estilístico específico, introduzindo no texto de chegada uma marca expressiva do texto de partida; o “decalque”, uma variação do empréstimo em que a expressão emprestada do texto de partida é em seguida traduzida literalmente e que, por vezes, vem a ser assimilada pelo texto de chegada; “tradução literal”, a passagem directa palavra por palavra, muito comum entre línguas da mesma família linguística; a “transposição”, que implica a substituição por uma classe morfológica distinta; a “modelação”, que pressupõe uma mudança da forma da mensagem, obtida por uma mudança do ponto de 56 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução vista (“it is not difficult to show” /”il est facile de démontrer”); a “equivalência”, a transposição de uma situação por meio de uma estrutura totalmente diferente, como sucede, por exemplo, no caso das onomatopeias e dos provérbios; a “adaptação” , uma forma específica de equivalência perante situações presentes no texto de partida que são desconhecidas no texto de chegada. No quadro das situações apresentadas há ainda a considerar, numa fase posterior dos estudos de tradução, nos anos 80 e 90, com nomeadamente, Baker, Blum-Kulka, Schlesinger, Toury, Vanderauwera, a existência de universais tradutórios, ou seja, de factos que são comuns a todos os tipos de texto traduzido. Foram identificados da seguinte forma: “simplificação” e “não-repetição de vocábulos tal como no texto de partida” a nível lexical, sintáctico e estilístico; “explicitação”, um aumento da clareza por inserção de mais vocábulos; “normalização”, constituída por mudanças lexicais, sintácticas com o objectivo de enquadrar o texto de chegada numa maior convencionalidade; “transferência discursiva e lei da interferência, em que a passagem não ocorre por meio dos conhecimentos linguísticos do tradutor, mas directamente a partir do texto de partida, implicando que artifícios do texto de partida sejam transferidos para o texto de chegada”; “distribuição distinta/diferente de elementos lexicais do texto de chegada”, em resultado do processo de mediação da linguagem por parte do tradutor. No caso de O Grande Gatsby é possível identificar situações relevantes para as quais o tradutor encontrou diversas soluções, que contribuem para a construção da identidade do texto de chegada2: 1. A nível lexical, considerem-se as seguintes ocorrências: a) Diversos vocábulos em inglês do texto de partida são mantidos, em itálico, no texto de chegada: settler (p.31); front (p.41) no sentido de “frente de guerra”; cab (p.50); taxi; week-ends (p.43); drink (p.51); subway (p.56); cocktail (p.60); buttler (p.68); party (p. 74, 114) tanto no sentido de “festa”, mas no género masculino, como “grupo de pessoas”, respectivamente; bootlegger (p.76); knickerbockers (p.77); all right!; highball (p.109); gentleman (p.84); roadster (p.87); rout (p.92); cottages (p.97); deck (p.107); saloon (p.108); fox (p.112) que no texto de partida surge como foxtrot; nurse (120); ale (113); elevated (p.126); college (p.167); ferry-boat (p.171). Ensaios 57 Ana Franco Dos casos apresentados, é possível detectar que muitos estão intimamente ligados a aspectos bastante específicos do espaço sócio-cultural onde a acção se desenrola. Pode considerar-se que o tradutor os manteve como forma de deixar no texto de chegada evidências dessa identidade. Refira-se ainda que os vocábulos gentleman, roadster e ferry-boat são anglicismos que passaram a integrar a língua portuguesa. Neste processo, é possível reconhecer, também, a supremacia da língua inglesa que acaba por forçar a presença junto da língua portuguesa. b) Alguns vocábulos ingleses surgem no texto de chegada traduzidos para termos franceses: evening dress é traduzido como vestido de soirée (p.147); frosted wedding-cake, para glacé da pastelaria nupcial (p.34); popular cafés, para boîtes (p.47); a denizen of Broadway como um habitué da Broadway (p.86) c) A designação heavily beaded eyelashes é traduzida por outro termo inglês: kohl (p.69). d) Os vocábulos franceses utilizados no texto de partida, são mantidos no texto de chegada: hôtel de ville (p.32); bureau (p.51); chiffon (p.147); hors-d’oeuvre (p.59); coupé (p.71); tablier (p.78); habitué (p.86); boudoir (p.100); ménagerie (p.113); de reproche (p.121); suite (p.127). Este caso é significativo, pois permite tirar conclusões sobre a relevância da língua francesa nas culturas de ambos os textos. No caso da cultura de partida, Fitzgerald recorre a léxico francês para caracterizar o ambiente sofisticado do espaço da narrativa onde se fazia sentir a influência da cultura francesa; no caso da cultura de chegada, Miguéis, ao utilizá-los está a transferir essa eficácia de caracterização, na medida em que também no contexto português se fazia sentir a forte presença da cultura francesa. e) O vocábulo italiano piccolo, um instrumento musical, é mantido no texto de chegada (p.60) Neste caso, o termo embora de origem italiano surge no texto de partida e Miguéis optou por mantê-lo no texto de chegada. 2 Os exemplos dados podem surgir em mais páginas do que as indicadas entre parênteses. 58 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução f) No texto de partida, são utilizadas expressões em calão, bem como vocábulos cuja ortografia foi adulterada, para obter determinados efeitos, nomeadamente, transmitir uma entoação discursiva particular, completar a caracterização de algumas personagens em termos do seu nível de instrução, ou do extracto social a que pertencem. No texto de chegada, esta ocorrência foi objecto idêntica adequação por parte Miguéis. Por exemplo, em casos específicos, coronel e Oxford surgem também no texto de chegada com a grafia coroner (p.157) e oggsford (p.85) por forma a deixar patente o baixo nível sócio-cultural das personagens. Noutro caso, a expressão How-de-do! (120) é mantida, desta feita, assinalando o snobismo da personagem. 2- A nível da utilização da Nota de Tradutor, apenas alguns vocábulos são objecto de explicação: boot-legger (p.76); mint-julep (p.127); putter (p.129); pool-room (163). A propósito da designação das povoações East Egg e West Egg, Miguéis faz a tradução numa N. do T., por forma a completar o jogo simbólico que está presente no texto de partida, utilizado para enquadrar socialmente as personagens. Atendendo ao elevado número de situações, tal como já ficou demonstrado, Miguéis utilizou com pouca frequência este recurso para explicar o sentido do vocábulo inglês que manteve no texto de chegada e o contexto cultural em que está inserido. 3- A nível semântico, saliente-se a forma como Miguéis resolve o problema do pronome pessoal “you”. Em inglês, pode corresponder, em português, aos pronomes “tu”, “você” e “vós” e, a nível da comunicação oral, não apresenta distinção a nível das formas de tratamento. Neste caso, Miguéis obtou por traduzir “you” pelos pronomes “tu” e “você” (explícito), de acordo com a situação de comunicação em que surge e com as relações interpessoais na narrativa, em função de um critério de adequação ao estatuto social das personagens, seguindo as convenções portuguesas. 4- A nível da sintaxe, ocasionalmente surgem frases no texto de chegada que apresentam uma estrutura sintáctica muito próxima do texto de partida. Por exemplo: From the moment I telephoned news of the catastrophe to West Village foi traduzido da seguinte forma: Desde o instante em que telefonei a notícia da catástrofe para West Egg Village. Ensaios 59 Ana Franco Este é um caso que pode evidenciar a grande proximidade do tradutor, neste caso, de Miguéis à língua de partida e uma interferência desta na língua de chegada. Perante os casos apresentados, é evidente que a abordagem tradutória de Miguéis deu origem a um texto com características que evidenciam situações de adequação, de estrangeirização, bem como de interferência. A recorrente presença de vocábulos ingleses e franceses decorre, em parte de factores, já mencionados, que se prendem como a hegemonia cultural das línguas em causa, junto da cultura de chegada. Por outro lado, a sua relação de proximidade com a língua inglesa e a língua francesa é um dado inquestionável. Na verdade, não é de desprezar o facto de Miguéis, em época anterior à sua partida para Nova Iorque (1935), ter passado uma temporada em Bruxelas, facto que concorre para uma maior fluência linguística em francês. Existe uma convivência do inglês, do francês e do português na estrutura linguística de Miguéis, enquanto tradutor, eventualmente também enquanto escritor, mas este é um tópico a desenvolver no âmbito de outro estudo. A propósito da língua inglesa, considere-se a afirmação de David Brookshaw, tradutor de The Polyedric Mirror: Tales of American Life, na introdução da obra(2005:13): One of the most abiding comments made by the appreciators of Miguéis as a writer in Portugal is his ‘portuguesismo’ [...]. The supreme expression of this, according to his commentators, was that he always wrote in Portuguese, in spite of the fluency he gained over the years and the fact that he often resorted to English words and terms (preserved in italics in the translation), not to mention occasionally anglicizing his Portuguese. [...] What is perhaps more interesting about Miguéis and undoubtedly a feature that adds to the uniqueness of his work, is the fact that he in effect became a writer of the diaspora, assuming many of the intellectual characteristics of a man of two worlds, or between two worlds. Na verdade, a suprema vontade de se manter próximo da língua materna é um factor a ponderar juntamente com a inevitável assimilação de traços linguísticos e culturais inerentes ao espaço em que se encontra integrado. A condição de José Rodrigues Miguéis, português, naturalizado americano em 1942, coloca-o numa dupla condição cultural, com reflexos igualmente evidentes na sua criação literária. Nascido em 1901, na premonitória Rua da Saudade, em Lisboa, cedo parte do seu país, inicialmente, como já referido, 60 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução para a Bélgica e em 1936 para os EUA, onde permanecerá até 1980, ano da sua morte, com breves interrupções para se deslocar a Lisboa, por motivos pessoais e ao Brasil, por motivos profissionais. A vontade de regressar constitui um sonho que tem necessidade de alimentar, mas não de concretizar. A sua correspondência pessoal integra diversas cartas em que fica claro um sentimento de não-pertença a espaço algum. Contudo, decidiu ficar em Nova Iorque até ao fim da vida. Considere-se a observação de Brokshaw que reforça esta ideia (2005: 18): There is little doubt that Miguéis could have returned to Portugal if he so wished. However, in spite of his attachment to his roots, he could never re-forge the links with Portugal where, to his regret, he remained largely unrecognized. The link between the expatriate and his native land remained fraught with contradiction”. Tal como uma língua intermédia, existe um não-espaço, um lugar entre as duas realidades que dão forma à sua identidade cultural. Leia-se o comentário de Miguéis, incluído nos manuscritos constantes do espólio, citado por Onésimo Teotónio de Almeida (2002: 17): Decerto, eu pratiquei contradições. Pratico-as ainda. Quem tiver a consciência limpa que me apedreje…Mas o que faço, o que tenho feito, é com paixão, com essa tenacidade que é o meu motivo de orgulho, a minha honra. Como um artífice que tem por alvo a simplicidade. A sua multifacetada produção literária tem sido, necessariamente, objecto de abordagens que ora enfatizam as marcas da diáspora, ora realçam a sua americanidade. Apesar do evidente posicionamento entre-culturas, com reflexos na escrita, ao nível da criação literária e tradutória, é comumente aceite como incontestável a quase obstinação de Miguéis em escrever sempre na sua língua materna, tal como o próprio afirmou: Era a minha maneira de continuar a viver em Portugal, sem lá estar. (Diante do malogro dos poucos esforços que fiz para ser lido em inglês, cedo me convenci de que era preferível manter-me inédito, mas português, (Um Homem Sorri à Morte - com Meia Cara 1989:16,17) Na verdade, Miguéis é autor de romances, de inspiração autobiográfica, emblemáticos da literatura portuguesa do Séc. XX, nomeadamente, A Escola do Paraíso e O Milagre Segundo Salomé, consensualmente referidos como retratos impressivos da sociedade lisboeta durante momentos históricos relevantes, Ensaios 61 Ana Franco como a Implantação da República e a ascensão do Estado Novo. O Milagre Segundo Salomé, em especial, cuja criação lhe tomou cerca de 30 anos da sua vida, publicado em 1975 e recentemente adaptado para o cinema, foi pelo próprio considerado a sua obra-prima. Por outro lado, os seus contos além de incluirem temáticas marcadamente de inspiração portuguesa (por exemplo, “Gente da terceira Classe”) contempla outras totalmente americanas (por exemplo, “O Natal do dr.Crosby”). Atendendo à efectiva diversidade de quadrantes tocados por Miguéis, a tradução enquadra-se então/pois, no carácter multifacetado da sua obra, aprsentando como tónicas a defesa da cultura portuguesa e o forte interesse pela literatura americana. O excerto da introdução que prepara para a sua tradução de Coração Solitário Caçador, de Carson McCullers, (1987:1415) abre uma nova janela de entendimento: Tem-se dito e acreditado que The Heart is a Lonely Hunter trata, antes de tudo, da irremediável Solidão: o próprio título parece sugeri-lo. […] Muito ao invés, segundo creio, este romance diz-nos da luta dos homens contra a solidão, e da sua vitória sobre ela: da necessidade e da possibilidade da comunicação. Sem isso como a entenderíamos nós? Escrever um livro, mesmo no relativo isolamento, é já vencer a solidão, é comunicar, participar, agir, influenciar e propor maneiras de vencer o Horror Subjacente ou Patente. A actividade tradutória, enquanto outra força criadora presente em Miguéis, revela-se,como mais uma forma a que o escritor recorre com a finalidade de derrotar sentimentos de solidão, de que não raras vezes se queixava, mas que, afinal, sabia repudiar com veemência. A nível das estratégias utilizadas, os aspectos identificados no texto de chegada de O Grande Gatsby evidenciam práticas que estão em consonância com investigações realizadas nessa época, a que teve acesso por se encontrar nos EUA, pese embora não ter ainda a actividade tradutória reconhecimento significativo. Mas é também claro que, para Miguéis, traduzir para o português significa estabelecer novas pontes entre Portugal e os EUA, seu país de adopção. Ao incorporar autores americanos na literatura portuguesa está a prolongar os horizontes da sua cultura materna, numa tentativa de reforçar os elos que o ligam ao seu país natal. Assim, apesar das suas declarações de princípio, ao ler Miguéis é imprescindível ter em conta o tipo de vivência de quem está inserido noutra cultura, em contacto com as correntes estéticas dum universo americano. 62 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução O caso de José Rodrigues Miguéis, atendendo a tudo o que foi exposto, é exemplificativo da natureza ímpar de cada tradução, de cada tradutor. À semelhança da criação literária, também a actividade tradutória, enquanto fenómeno trans-cultural, evidencia uma intenção criadora única, um acto de comunicação que é marca da individualidade do seu criador. Bibliografia 1. Obras Literárias de José Rodrigues Miguéis Miguéis, José Rodrigues (1991) O Grande Gatsby, Lisboa: Editorial Presença. Miguéis, José Rodrigues (1987) Coração Solitário Caçador, Lisboa: EuropaAmérica. Miguéis, José Rodrigues (1989) Um Homem Sorri à morte – com meia cara. 4ªed. Lisboa: Editorial Estampa. 2. Bibliografia Secundária Aguiar, Maria Virgínia (1963) “Rodrigues Miguéis de Novo em Portugal” in República, nr.1744:1 e 11 Almeida, Onésimo Teotónio (1987) “J.Rodrigues Miguéis – Um Arranha-Ceús que Falava Português” in L(USA)ÃNDIA a Décima Ilha, Angra do Heroísmo: Dir. Serv. Emigração. Almeida, Onésimo Teotónio (2002) “Retrato do artista enquanto escritor” in Onésimo Teotónio Almeida (org) José Rodrigues Miguéis: Uma Vida em Papéis repartida, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 13-23. Almeida, Onésimo Teotónio (2002) José Rodrigues Miguéis: Uma Vida em papéis repartida, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Almeida, Onésimo Teotónio e Rego, Manuela (2001) José Rodrigues Miguéis: 1909-1980 Catálogo da Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Alves, Teresa Ferreira de Almeida (2003) “Across the Seas into a Sea of Works: The Fictions of Miguéis, Fernandes/Oates and Gaspar” in Estudos AngloPortugueses – Livro de Homenagem a Maria Leonor Machado de Sousa, Lisboa: Ed.Colibri, 525-534. Avelar, Mário (1994) América Pátria de Heróis, Lisboa: Edições Colibri. Ensaios 63 Ana Franco Azevedo, Manuel (1968) “Um Escritor Português nos Estados Unidos”in Diário de Lisboa, 5-6. Baker, Mena ed. (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge, 130-133;288-291;305-313. B.A. “O Grande Gatsby” in Vértice Vol XX, nr. 204, 514-515. Bassnett, Susan (2003) Estudos de Tradução. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Brookshaw, David (2005) The Polyedric Mirror: Tales of American Life, Providence, Rhode Island: Gavea-Brown. Castro, Francisco Lyon (1965) “Publicações Europa-América Comentam Um Artigo de Rodrigues Miguéis” in Seara Nova Nr.1442. Coelho, Jacinto Prado (1976) “A Tradução Literária” Ao Contrário de Penélope. Venda Nova: Bertrand, 67-71. Diário Popular (1960) “O Grande Gatsby por F.Scott Fitzgerald” in Diário Popular, Supl Literário, 6. Duarte, João Ferreira (2000) “The Politics of Non-Translation: A Case Study in Anglo-Portuguese Relations in Helena Buescu e João Ferreira Duarte. Sublime.Tradução. Lisboa: Edições Colibri. Fitzgerald, F. Scott (1992) The Great Gatsby, London & New York: Penguin. Freitas, Vamberto (2002) “Miguéis e a L-Americanidade Literária” in Onésimo Teotónio Almeida e Manuela Rego (org) José Rodrigues Miguéis: Uma Vida em Papéis repartida, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 93-102. Henriques, Mário (1959) “José Rodrigues Miguéis, Primeiro Prémio ‘Camilo’, afirma: ‘Só Pretendo Contar Histórias Simples e Claras!’” in Diário Popular Supl. Literário, Lisboa Nr.131, 1, 6 e 11. Kerr Jr., John Austin (1977) Miguéis – To the Seventh Decade, University, Mississippi: Romance Monographs. Lopes, Norberto (n.d.?) “Um Escritor volta à vida que ele conheceu e viveu com todas as ansiedades do tempo” in Diário de Lisboa Nr.12.666, 1 e 14. Matos, Carolina “Entrevista com José Rodrigues Miguéis” in Onésimo Teotónio Almeida (org) José Rodrigues Miguéis: Lisboa em Manhattan (2001). Lisboa: Estampa, 251-258. 64 Babilónia n.º 6/7 2009 José Rodrigues Miguéis: um escritor sorri à tradução Miguéis, José Rodrigues (1960) “Era Uma Vez Um Désiré…” in Diário de Lisboa, 5 de Setembro: 8. Miguéis, José Rodrigues (1965) “Garranos, Polvos, Cotovias (Sobre os problemas da tradução) in Seara Nova, nr.1439, 281-282. Monteiro, George (1983) Steerage and Ten Other Stories. Providence, Rhode Island: Gavea-Brown. Neves, Mário (1990) José Rodrigues Miguéis: Vida e Obra. Lisboa: Caminho. Pais, Carlos Castilho (1997) Teoria Diacrónica da Tradução Portuguesa: Antologia (Séc.XV-XX). Lisboa: Universidade Aberta. Sayers, Raymond (2002) “A América de José Rodrigues Miguéis” in Onésimo Teotónio Almeida (org) José Rodrigues Miguéis: Lisboa em Manhattan, Lisboa: Estampa, 25-44. Snell-Hornby, Mary (1995) Translation Studies.Rev. Ed. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co. Sousa, Maria (2001) “Conversa com Camila Miguéis” in Onésimo Teotónio Almeida (org) José Rodrigues Miguéis: Lisboa em Manhattan, Lisboa: Estampa, 235. Toury, Gideon (1995) Descriptive Transalation and Beyond. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Co. Venuti, Lawrence (2000) The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge. Ensaios 65
Download