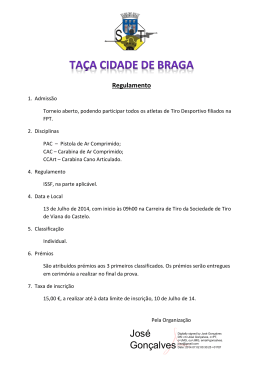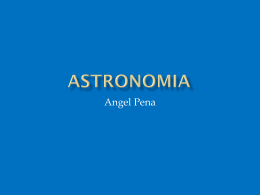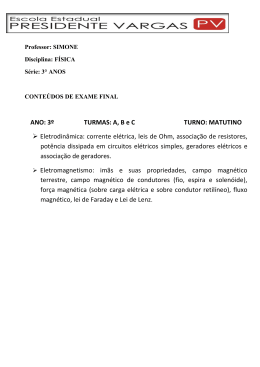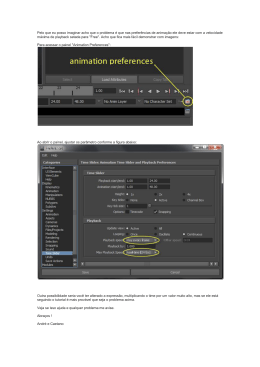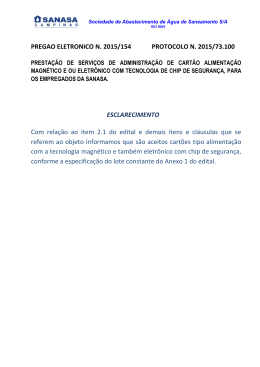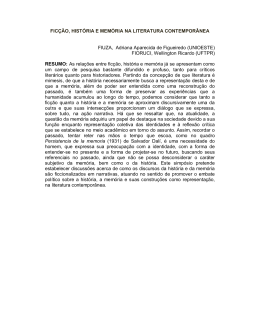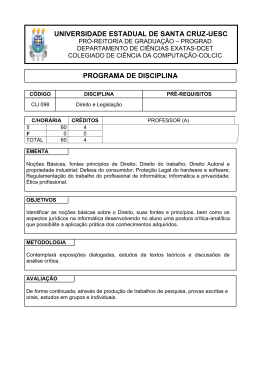Entrevista a JOÃO MARIA GUSMÃO E PEDRO PAIVA Sandra Vieira Jürgens (Original: Sandra Vieira Jürgens, «João Maria Gusmão/Pedro Paiva». In: arq./a: Arquitectura e Arte, n. 31, Maio/Junho 2005, pp. 94-‐99. ) João Maria Gusmão (Lisboa, 1979) e Pedro Paiva (Lisboa, 1977) desenvolvem os seus projectos artísticos no campo da fotografia e do filme de 16 mm e no domínio da instalação, com a apresentação de projecções de vídeos e de diapositivos. Começaram a expor os trabalhos realizados em conjunto em 2001. Recentemente, os dois artistas venceram a 5ª edição do Prémio Novos Artistas, instituído pela EDP (Electricidade de Portugal), e exibiram um conjunto de trabalhos intitulado Intrusão: The Red Square no Museu do Chiado. Sandra Vieira Jürgens: Vocês trabalham em parceria desde 2001. Como é que isso aconteceu? Pedro Paiva: Começou no âmbito escolar, quando andávamos no terceiro ano do curso de pintura. Foi um encontro feliz porque entretanto eu tinha passado de escultura para pintura e integrei facilmente um grupo de colegas que já se davam muito bem na altura. O processo de nos conhecermos até começarmos a trabalhar foi súbito, muito rápido, porque encontrámos logo à partida uma série de cruzamentos e de interesses, principalmente literários, que proporcionaram o desenvolvimento das primeiras experiências. A primeira experiência foi um fracasso. Produzimos um vídeo no âmbito de uma avaliação em pintura no terceiro ano que era uma narrativa. Contava uma história muito lírica, de encontros e desencontros, de separações… João Maria Gusmão: Era tudo histórias de amor. PP -‐ Não era de amor. JMG-‐ Não era de amor? PP -‐ Mas havia. JMG – Encontros, desencontros. Era acerca do amor com certeza. SVJ: Era um trabalho muito escolar? JMG: Não! Aquilo foi chumbado, não era escolar. PP: Mas esse primeiro trabalho que resultou num mau trabalho, não foi motivo para desistirmos e deixarmos de desenvolver o que nos interessava em trabalhos posteriores. Mais tarde, em 2001, organizei a exposição InMemory na Zé dos Bois, e aí deu-‐se a primeira aparição de trabalho realizado em conjunto. Mas nessa altura mostrámos peças individuais. JMG: E tínhamos outras peças colectivas que não foram feitas para essa ocasião, mas dentro do âmbito escolar que já não tinham constituído um fracasso tão evidente como a anterior. Até foi um grande sucesso. PP: Sim, as peças posteriores foram um grande sucesso. JMG: A seguir à exposição In Memory, comissariada pelo Pedro, estivemos nas Tercenas, e foi realmente aí que conseguimos organizar-‐nos de uma forma não relacionada com a escola, ou pelo menos ter aquela sensação que é muito difícil; nós estávamos no quarto ano nessa altura, a fazer meios anos, e ao mesmo tempo nas Tercenas e tínhamos que lidar com condições físicas que já não eram a escola. Portanto as nossas propostas já não eram apresentadas para a Universidade até porque todo o nosso empreendimento saía fora do âmbito curricular. E isto foi um marco muito importante para nós: as Tercenas do Marquês e o projecto DeParamnésia. SVJ: Quais foram as principais razões para terem continuado a prosseguir em parceria? Em que aspectos se complementam e de que maneira isso surge reflectido nos trabalhos que realizam? JMG: Acho que passámos por várias fases, fases essas muito diferentes. Acho que quando avançámos com o projecto das Tercenas, participávamos os dois numa espécie de ideia não autoral; uma noção de disseminação de identidade. Tratava-‐se de uma intenção muito presente em nós. Estávamos a trabalhar sobre questões da percepção e especificamente sobre uma percepção diferida, qualquer coisa no seguimento de Bergson, do seu entendimento particular do fenómeno da Paramnésia, que seria o tal forjar de uma memória “o déjà vu”. Nós estávamos a trabalhar numa extra-‐percepção, qualquer coisa que figurava como falha e que pretendíamos relacionar a um sentido existencial da descoberta da própria percepção, neste caso o visível. Todavia, são figuras com as quais lidamos actualmente como temas das propostas da arte contemporânea. PP: Para além disso também prevalecia essa componente ética que reforçava uma cumplicidade de trabalho, essa tendência para não nos circunscrevermos numa posição estritamente autoral. Ou seja, constituía uma mais valia o facto de estarmos a trabalhar a dois, de pudermos discutir e avançarmos em todos os aspectos, até no aspecto de produção. JMG: A circulação de conhecimento: eu passava textos ao Pedro, o Pedro passava-‐me textos, o Pedro tinha uma ideia, e eu tinha uma mais ideia sobre a dele, e o “mais” era sempre prevalente, nunca havia uma coisa no lixo. Não havia a questão de um de nós propor qualquer coisa definitiva; era sempre qualquer coisa que para o outro surgia com uma intensidade e que havia de produzir uma outra coisa mais cedo ou mais tarde. E isto dissipou-‐se, foi-‐se dissipando porque nessa altura estávamos a trabalhar sobre determinadas coisas e viemos a descobrir e a aprofundar outras questões. Penso que agora temos uma figura muito mais autoral, como um conjunto. Mas acho que é só uma questão de maturidade. Quer dizer, fala-‐se de maturidade; nós começamos a trabalhar há pouco tempo e este fenómeno do jovem artista é um figurino até extraordinariamente escolar, de entrada de autores no meio, mas de qualquer maneira isto nunca que se passou connosco. Temos vindo a criar desde 2001 as nossas próprias condições de produção, de reflexão e visibilidade. Soubemos produzir com a ZDB as exposições da DeParamnésia, construímos com o projecto do Eflúvio Magnético, apoiado na altura pela Gulbenkian e agora pelo IA, um sistema de pensamento complexo. É evidente que recorremos a estruturas e a entidades que possibilitavam a viabilidade dos projectos, todavia não são estes os meios que operam a legitimação e o reconhecimento do jovem artista. O que aconteceu foi que o nosso crescimento não teve nada a ver com esta dimensão, pois tínhamos um trabalho muito consistente antes do prémio EDP. Foi desse trabalho consistente que surgiu um convite para expormos no Museu do Chiado. SVJ: Venceram a 5ª edição do Prémio Novos Artistas, instituído pela EDP. De que forma isso foi importante para o vosso percurso? JMG: Fizemos uma proposta em que aproveitámos condições reais para a fazer. Realmente, a peça do pêndulo, foi uma proposta que para nós foi muito importante fazer. Mas foi uma mostra de trabalho. Não foi mais do que isso. Não produziu nada de diferenciado para além dessa peça, que era realmente uma coisa que queríamos fazer há muito tempo. PP: Por outro lado, em termos de visibilidade houve uma alteração. Começámos a ter mais visibilidade. O que para nós não é importante; sentimo-‐nos muito mais atraídos por uma dimensão real de trabalho, de projecto, de envolvimento, intelectual, teórico, prático, todos os aspectos que possas imaginar. Interessa-‐nos muito mais o momento, quando nos apercebemos que estamos a agarrar uma exposição, quando estamos a abrir e a fechar essa chave, a desenvolver circulações de sentidos, do que propriamente a mostrar o nosso trabalho como aconteceu no CCB. Isso só tem uma importância cultural porque encaixa nesse circuito cultural. Isto só existe porque existem outras dimensões que não nos dizem respeito, dimensões que interessa realmente que existam, mas que não são propriamente do nosso interesse substancial. É evidente que é um reconhecimento e nós estamos muito reconhecidos. SVJ: Como é que separam o vosso trabalho individual daquele que fazem em dupla? JMG: Não sabemos, é muito engraçado. Depende do nosso calendário. Não, ultimamente têm-‐nos sido propostos trabalhos para realizar em parceria. Há aqui uma diferença muito grande. Quando estávamos no Eflúvio Magnético fizemos o nosso próprio calendário. Estávamos na DeParamnesia e fazíamos o nosso calendário e portanto não tínhamos que andar a correr atrás de qualquer coisa. Neste momento aquilo que nós temos agendado e os desafios propostos por esse tipo de exposições faz com que estejamos sempre um pouco atrás disso... Infelizmente... Mas também sabemos o que é o contrário, estar um ano a expor e um ano a preparar uma coisa e lidar com as dificuldades todas que é apresentar isso. Embora não tenhamos sentido isso como uma grande facada, mas realmente tivemos um ano assim, mas trabalhámos e organizámos as nossas coisas e quando expusemos o Eflúvio Magnético tratava-‐se de uma exposição fechada. Mas a verdade é que neste momento só penso em trabalhar com o Pedro e as minhas propostas são dirigidas a ele e as dele são dirigidas a mim. E portanto a coisa funciona muito de acordo com aquilo que são as nossas vontades. PP: Centralizamos as vontades face a esse panorama. JMG: Sem ressentimento nenhum. Quer dizer uma ideia minha é uma ideia nossa e uma ideia dele é uma ideia nossa. SVJ: Mas ao pensarem num projecto, numa ideia, como é que decidem se o vão desenvolver individualmente ou em conjunto? JMG: O meu trabalho e o do Pedro é o mesmo. Ou seja a dimensão autoral daquilo que é a nossa proposta tem a ver com coincidências que são estéticas, são ideológicas, políticas, são portanto afirmativas. Tudo aquilo em que nós avançamos neste momento vale um pelo outro, porque acreditamos e depositamos um no outro aquilo que produzimos. Portanto não há diferença autoral entre uma coisa que eu agora venha a fazer ou que o Pedro faça. Claro que existe um calendário que estabelece uma agenda individual, e recentemente apareceu uma série de coisas que foram feitas por mim e outras que foram feitas pelo Pedro que parecem constituir uma fissura e uma cisão em relação a isto que estou a dizer, mas não será tanto assim. PP: Não é concreto, acho que não se pode mesmo distinguir. O João fez uma exposição individual não há muito tempo e mesmo essa exposição não se distingue de maneira alguma dos projectos seguintes. JMG: Por exemplo, essa exposição na Galeria Ara intitulada Fiasco foi trabalhada por mim e pelo Pedro naquilo que é o nosso trabalho discursivo como um tema importantíssimo. Foi mais desenvolvido por mim, dado que resultou naquela exposição, porque estava inscrito naquele tal calendário, mas é verdade que é assim que funcionamos. Por exemplo, faria todo o sentido que uma apresentação do Eflúvio Magnético implicasse uma série de coisas do Fiasco. É evidente que não estou a falar dos desenhos, ou dos bronzes, mas dos filmes. Mas é com este tipo de à vontade que lidamos com essa diferença autoral. E para nós, neste momento que estamos a trabalhar, isso não traz absolutamente questão nenhuma. SVJ: Quando não estão de acordo como é que fazem? Como gerem os conflitos? JMG: Com argumentos complexos, é a discutir. PP: Mas muitas vezes vamos para a frente e falhamos. JMG: Nós falhamos imenso. PP: Falhamos imenso. Aliás estamos sempre a falhar. E há uma outra coisa engraçada que acontece muito nas nossas exposições. Vou dar um exemplo, na última exposição individual na Galeria Graça Brandão, Matéria Imparticulada errámos imenso, trabalhámos, excluímos, enfim foi um trabalho muito complexo e muito duradouro. Por exemplo a fotografia do Forjador de Armas, foi uma peça chave na exposição, mas aparentemente não tinha muita importância no conjunto de todos os trabalhos. JMG: Até porque a sua composição, ou aquilo que ela implica em termos dos vários estratos em que é apresentada e é proposta a ser pensada, escapa às teias do que normalmente propomos e portanto há ali uma figura muito estranha. PP: Nós erramos muito, mas quando tomamos uma opção e avançamos e chegamos à conclusão que a vamos apresentar, muitas das peças que à partida não eram as peças centrais tornam-‐se centrais, até pelas conjecturas que vamos desenvolvendo, e mesmo depois da própria exposição ser apresentada. JMG: Acho que não é tanto assim. Isso não é verdade. Acho que não é assim. Há uma diferença muito grande em tu conceberes a exposição, desenhares a exposição e perceberes todas as implicações e responsabilizares-‐te por tudo aquilo que ela pode afirmar e propor. Essa é a nossa preocupação máxima. É encontrar uma necessidade para um espaço extra-‐discursivo em que tu avanças. Ou seja, a ordem daquilo que nós fazemos é visual, mas que tem um espaço discursivo que é fundador daquilo que tu propões. Só que por vezes há, como é evidente, momentos que são materializados por determinadas peças que são mais espectaculares e que dominam visualmente, então no nosso caso podemos falar mesmo dessa noção; peças que dominam visualmente e em termos narrativos oferecem tudo aquilo que possas esperar que seja uma peça, uma coisa que corresponde às expectativas. Mas depois, de uma forma mais subtil, vamos perceber a necessidade de outras coisas, que não têm tanta importância e que quando são avançadas têm a sua pertinência e depois tomam lugar como centrais num fechamento da proposta. E esta descoberta só a fazemos a seguir. Mas de forma alguma vamos propô-‐la sem saber o que estamos a fazer. PP: Sim. Eu estava a dizer na perspectiva em que nós arriscamos muito, mas temos consciência daquilo que estamos a arriscar e vamos propor e, por vezes, apercebemo-‐ nos das coisas que desenvolvemos. Qualquer coisa no sentido da descoberta póstuma, mas não é da descoberta do sentido da exposição ou então do fundamento. SVJ: Recentemente tiveram uma exposição no Museu do Chiado intitulada Intrusão: The Red Square. Qual foi o tema desta exposição? JMG: É difícil tentar responder a essa pergunta assim de uma forma muito linear porque na sequência do Eflúvio Magnético as coisas estão muito interligadas num tipo de ficções e na compreensão do lugar e da necessidade desse tipo de ficções. Estamos a falar de ficções que quando são avançadas estabelecem sempre uma interdição; primeiro epistemológica, depois uma existencial é este tipo de noção que nós avançamos no Eflúvio Magnético e que recuperámos da descrição do tal fenómeno do Vitor Hugo, o “Eflúvio Magnético”. Estas ficções são propostas completamente distintas da encenação de uma meteorologia, ou de uma encenação de um estado caótico, que é o que imageticamente o “eflúvio” sugere. Nós tentamos lidar com a responsabilidade deste tipo de ficção. Quais são os envolvimentos na acção do sujeito e na proposta artística, porque ao fim e ao cabo o Eflúvio Magnético é uma proposta ficcional que está enraizada numa narrativa que se propõe ser artística e conduz a pensar uma série de questões. Quais são as responsabilidades do sujeito que está envolvido numa ficção que é desestruturante da sua própria afirmação, da sua própria vitalidade. Agora a ideia central de Red Square está relacionada com a nomeação da própria exposição, é a ideia de uma espécie de viajante de um espaço não euclidiano que circula de imagem para outra imagem e que se perde nessa outra imagem, mas que considera o retorno dessa outra imagem. É um tipo de ficção que nós localizamos muito na Patafísica do princípio do século e que tem muitas implicações interessantes. SVJ: Porque é que a Patafísica, que Alfred Jarry definia como “a ciência das soluções imaginárias”, é uma referência importante no vosso discurso? Sobretudo porque é uma operação literária que a partir de Nietzsche tenta pensar com todos os envolvimentos modernos, e todas as outras questões, mas que tenta pensar sempre a transferência de um niilismo reactivo para um niilismo activo. Ou seja, que pensa sempre ou pondera a condição de uma afirmação, ou de uma ficção literária ser uma coisa afirmativa na sua plenitude. E considera este percurso através de mecanismos extraordinariamente anarcas e subversivos, nomeadamente a auto-‐ destruição como o fim último dessa afirmação. Mas é um tema que é muito caro para nós por estar sempre relacionado com a condição da tal ficção de que estava a falar. A Patafísica utiliza a técnica na realização da supressão do sujeito, ou seja ela culmina sempre com o rebentamento do ser do sujeito que activa a invenção. E nesse momento em que ele engenha e forja a própria autodestruição, ele está sempre numa espécie de cosmos cerrado, mas ficciona sempre o último momento em que se pensa verdadeiramente forte e no domínio do seu próprio desejo, sem contudo se pensar como um ser, na teia do niilismo, um sujeito como desejo de nada, um nada de valor. Porque é a vontade dele, é sempre a ficção do desejo e o desejo da própria afirmação. SVJ: Um aspecto fundamental da vossa produção artística relaciona-‐se com a realização de filmes em 16 mm. Esse medium tem um carácter anacrónico? Normalmente os artistas da vossa geração trabalham com o vídeo. O que é que procuram explorar? PP: Nós nunca temos uma visão antropológica e anacrónica face ao 16 mm. Temos uma visão a dois níveis. Uma delas é um factor de síntese de composição que nos permite trabalhar uma situação e uma acção, normalmente desenvolvida por um sujeito ou vários sujeitos que nos facilita o empreendimento em que estamos a trabalhar nesse momento. Por outro lado, nós trabalhamos esse meio a nível fotográfico. Se fores ao cinema e tiveres a oportunidade de falar com o realizador não lhe perguntas porque é que ele trabalha em 35 mm. Acho que é o mesmo tipo de perspectiva. JMG: Mas há aí questões que são de um distanciamento em relação a um determinado tipo de posições e autorias que são quase de delimitação entre intervenientes culturais. Posso dizer claramente isto: nós não temos um posicionamento em relação aos temas e conteúdos ou às propostas idênticas que são do domínio comum de uma determinada geração de artistas que está próxima do vídeo e do aparecimento do vídeo. Há um tipo de intencionalidade que está na base da nossa escolha. Não é uma consideração acerca do medium. Não é isso que fundamenta as nossas opções. Aquilo que as fundamenta são os temas que achamos serem problemas verdadeiros e não os temas que são demasiadamente superficiais para constituírem uma questão com interesse real. Isto acontece com a maior parte das questões levantadas pelas considerações culturais que elegem o problema da definição da mediação como o tema central da acção do artista contemporâneo.
Download