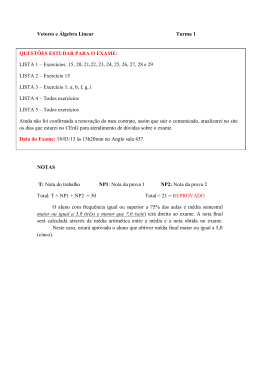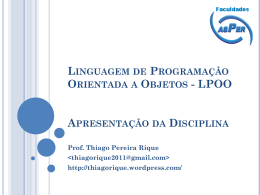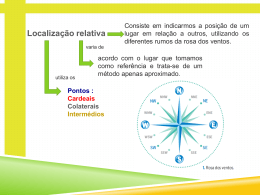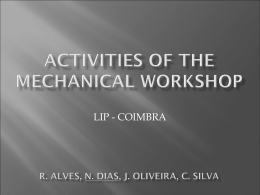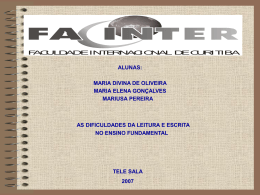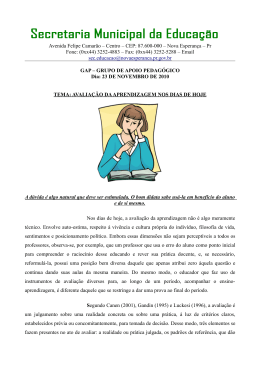A SUPERAÇmO DA ESCOLA BURGUESA: EIS A UTOPIA! José Luís Vieira de Almeida A história da Escola burguesa pode ser caracterizada por dois momentos: o primeiro que é conhecido no Brasil como Escola Tradicional e o segundo que é denominado de Escola Nova. A divisão em dois momentos não pode ser rígida, pois, no Brasil, ainda hoje há escolas tradicionais. No período em que vige a Escola Tradicional (séculos XVII a XIX), a burguesia apresenta-se como classe ascendente, ou seja, ela aspira tornar-se classe dominante e, por isso, precisa do apoio das outras classes sociais dominadas para a consecuçno do seu projeto de sociedade. Em troca dessa anuLncia, ela defende o acesso universal B Escola, possibilidade que se funda no preceito de que todos os estudantes sno, essencialmente, iguais e, nessa medida, gozam das mesmas oportunidades de ascensno social. Nesse projeto, embora as oportunidades sejam as mesmas, apenas os mais capazes, aqueles que sabem aproveitar as oportunidades ascenderno socialmente. A Escola é a principal agLncia encarregada de igualar os estudantes oferecendo um ensino igual para todos. Assim, todos os estudantes sno iguais no ponto de partida e se distinguem pelos seus méritos e esforço pessoais, no ponto de chegada, ou seja, no momento em que deixam a Escola. Assim, cada estudante é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso.Individualiza-se o mérito do “bom aluno”, mas sobretudo a culpa pelo mau desempenho que, quase sempre, implicará outros fracassos pelos quais, por conseqüLncia, ele também será o único culpado. Em suma, a Escola tradicional iguala os diferentes e, em nome da igualdade formal, esconde a desigualdade real. A Escola nova começa a se desenvolver no final do século XIX, portanto depois da Revoluçno Francesa (1789) e da Revoluçno Industrial de 1850 e, dessa forma, representa os interesses da classe burguesa como classe dominante. Nessa condiçno, a burguesia nno pôde continuar sustentando a igualdade, ainda que formal, entre os seres humanos, pois a condiçno de classe dominante e o exercício da dominaçno implicam a presença das classes dominadas. Assim, ao contrário de defender a igualdade, a burguesia passa a defender as diferenças individuais, isso graças Bs teses elaboradas pela Escola Clássica de Economia. Assim, embora a burguesia nno abandone completamente a defesa da igualdade formal que se expressa, por exemplo, em teses como “todos sno iguais perante a lei”, (presente no artigo 5º da Constituiçno da República Federativa do Brasil) ela precisa fazer com que as outras classes sociais aceitem a sua dominaçno como decorrLncia das diferenças individuais. Desse modo, essas diferenças tornam-se naturais e, por isso, devem ser aceitas por toda a sociedade. Diante desse modo de explicar as diferenças entre os seres humanos, o ideário escolar burguLs nno pode mais sustentar a idéia de que, na Escola, todos os alunos sno iguais e só se tornam diferentes depois de concluírem os seus cursos, no ponto de chegada. Agora, é preciso instituir a diferença desde o ponto de partida em nome das diferenças individuais. Assim, a passagem da Escola Tradicional para a Escola Nova implica o enfraquecimento da tese da igualdade entre os alunos, em favor da idéia de que eles sno diferentes entre si, sno indivíduos portadores de necessidades e interesses que nno podem ser satisfeitos coletivamente. Diante desse imperativo, que é de cunho ideológico, foi preciso “mudar” a Escola. A ESCOLA NOVA Por causa dessa necessidade, os educadores escolanovistas esforçaram-se para desenvolver uma crítica, muitas vezes feroz, B Escola Tradicional e, a partir dela, alterar a organizaçno da Escola. Ocorre que aqueles educadores nno criticaram a Escola burguesa no sentido de superá-la, quiseram apenas reformá-la para atender Bs necessidades do indivíduo e, assim, nno puderam ir além da antítese da Escola Tradicional. Toda antítese expressa o contrário da tese e, desse forma, as mudanças promovidas pelos escolanovistas restringiram-se, por exemplo, B disposiçno dos alunos na sala de aula, ao modo de ministrar as aulas e B escolha dos tópicos a serem ensinados. No Brasil, onde a expressno da Escola Nova foi tardia, iniciou-se na década de trinta do século XX, e demorou a disseminar-se, até o início dos anos setenta as carteiras escolares eram, quase sempre fixas e conjugadas, ou seja, o assento de uma carteira servia de suporte para a mesa de trabalho da posterior, de modo que os alunos só podiam permanecer em fila e olhando para a frente, onde estavam os dois elementos mais importantes da sala de aula, o professor e o quadro negro. Essas carteiras foram, rapidamente substituídas por outras que sno individuais, para indivíduos, e móveis. Esta “mobilidade” permite que os alunos escolham a posiçno em que desejam permanecer e facilitam o trabalho em grupo que é uma das formas preferidas pelos docentes para ministrarem as aulas, combatendo, assim, a aula expositiva herdada da Escola Tradicional. O problema é que o grupo na Escola Nova tende a reduzir-se B soma dos indivíduos. Dessa forma, o trabalho escolar resultante dessa concepçno é, quase sempre, a soma das atividades parciais (individuais) desenvolvidas por cada um dos estudantes. É comum observar-se, nas salas de aula brasileiras, sobretudo no ensino superior, os “seminários” ministrados por estudantes nos quais cada um expte um tópico do assunto a ser tratado, logo, a soma deles exprime a totalidade. Outra cena comum, nessas salas de aula, é aquela na qual os estudantes permanecem sentados em círculo, ouvindo o professor que, geralmente, se coloca de pé no centro do círculo, desenvolvendo, portanto, uma aula expositiva. Esse tipo de mudança, embora, no Brasil, esteja presente ainda hoje, caracteriza o que nesse texto denomina-se primeira fase da Escola Nova. Ela abrange desde o final do século XIX até o término da Segunda Guerra Mundial. O foco da relaçno pedagógica, que na Escola Tradicional centrava-se no professor e no ensino e na Escola Nova deslocou-se para a aprendizagem e para o estudante, foi a principal mudança ocorrida no ambiente escolar nessa primeira fase do escolanovismo. Tal mudança se fez em nome do respeito B individualidade dos estudantes. Ora, se os indivíduos sno, necessariamente, distintos entre si, como é possível ensinar a todos ao mesmo tempo, ministrando-lhes a mesma disciplina e o mesmo tópico? A soluçno desse dilema, do ponto de vista do modo de pensar burguLs, apresenta apenas uma alternativa: é preciso fazer com que cada aluno aprenda a partir dos seus interesses e necessidades individuais. Assim, diante da impossibilidade de ensinar a todos ao mesmo tempo, é preciso fazer com que eles aprendam a aprender, o que os torna autônomos. É claro que, nesse contexto, autonomia quer dizer individualizaçno. O lema “aprender a aprender”, sintetiza a posiçno dos educadores escolanovsitas sustentando que ao professor cabe apenas ensinar o estudante a aprender por meio da sua própria experiLncia que deve fundar-se nos seus interesses e necessidades individuais. Em outras palavras, o fundamento da aprendizagem do discente é a sua própria experiLncia. O professor deve apenas estimulá-lo a buscar a soluçno das indagaçtes que formula a partir da sua vivLncia cotidiana. É por isso que SAVIANI (1977) chama a Pedagogia Nova de Pedagogia da ExistLncia. É oportuno observar que esse é um lema caro inclusive a muitas correntes progressistas do pensamento pedagógico, como por exemplo, os freireanos do Brasil. A origem liberal-burguesa e pragmática da expressno indica o seu vínculo, inevitável, com o individualismo. Há argumentos justificando o seu uso com outra acepçno, pois, segundo tais argumentos, ela pode ser re–significada. Deve-se duvidar dessa possibilidade, porque a expressno é ideológica e as expresstes ideológicas nno podem ser re–significadas fora do âmbito da ideologia. Assim, o “aprender a aprender” está vinculado B auto-suficiLncia do indivíduo e, por isso, jamais poderá assumir um caráter libertário ou libertador. O compromisso do “aprender a aprender” é com o indivíduo, porém, quando o lema é pronunciado com o entusiasmo comum aos educadores comprometidos com as demandas populares, a noçno de indivíduo parece irrelevante, mas o perigo da reproduçno ideológica está nessa aparente irrelevância. As mudanças no âmbito da metodologia de ensino e da difusno do lema “aprender a aprender” conferiram B Educaçno e B Escola um caráter pragmático e esta foi a principal característica da primeira fase do escolanovismo. Na segunda fase, implementada depois da Segunda Guerra Mundial, os representantes da Escola Nova começaram a desenvolver mudanças de ordem conceptual, cuja base foi e é a psicologia da aprendizagem, o que consolida a idéia de que a Escola deve preocupar-se exclusivamente com o aluno e o seu aprendizado. Nesta segunda fase da Escola Nova, pode-se destacar, na Educaçno brasileira, a influLncia de vários psicólogos da aprendizagem. Na década de sessenta, observa-se o predomínio das idéias de SKINNER, mas também está presente o pensamento de ROGERS, sobretudo nas experiLncias de Educaçno nno-formal. A partir da década de setenta, os educadores brasileiros tomam contato com as formulaçtes de Piaget e, assim, quase todos se “tornam construtivistas”. Na década seguinte, foi a vez de VIGOTSKY aparecer no cenário e, nos anos noventa, a novidade sno as inteligLncias múltiplas de GARDNER. O pensamento desses autores, quando veiculado pelos educadores brasileiros, assume sempre a perspectiva da aprendizagem por parte do aluno. Em nome dessa nobre preocupaçno, os educadores brasileiros podem lançar mno de fragmentos das concepçtes desses autores e arranja-las segundo a sua conveniLncia no sentido de explicar ou justificar as suas práticas educativas. Isso ocorre, por exemplo em relaçno a Piaget e Vigotsky. Embora o primeiro seja neo-kantiano e o segundo marxista, muitos educadores brasileiros defendem a idéia de que o pensamento de ambos é complementar. Dessa forma, o fato de ambos estarem filiados a correntes teórico-metodológicas distintas, passa a ser irrelevante. O importante é que se consiga explicar, ainda que de forma equivocada, a aprendizagem do aluno. Cabe explicitar que diferentes opçtes teórico-metodológicas implicam diferentes modos de compreender o mundo, bem como a adoçno de distintas categorias de análise da realidade, quase sempre incompatíveis entre si. As duas fases da Escola Nova, embora apresentem características distintas, tLm na aprendizagem do aluno o seu ponto central. Na primeira fase, predomina a idéia de que ele deve “aprender a aprender”e isso só é possível quando os seus interesses e necessidades individuais sno respeitados. Na segunda, caracterizada pela recorrLncia, quase exclusiva, Bs formulaçtes teóricas dos psicólogos da aprendizagem, reforça-se a idéia do compromisso da Escola com a aprendizagem do aluno. A segunda fase da Escola Nova reforça os pontos centrais das teses escolanovistas desenvolvidas na primeira fase conferindo-lhe consistLncia teórica a partir das teorias de aprendizagem desenvolvidas pela Psicologia. Assim, o ideário da Escola Nova que na primeira fase restringia-se a um conjunto de princípios pedagógicos e preceitos metodológicos, ganha legitimidade científica na segunda fase. Assim, o núcleo central das formulaçtes escolanovistas permanece intacto. Este núcleo funda-se na noçno de que o aluno deve ser autônomo e, dessa forma, deve aprender por meio da experiLncia, preferencialmente, os conhecimentos que lhe sno necessários e úteis. Articulando-se os trLs elementos básicos desse núcleo tLm-se: experiLncia, necessidade e utilidade. Tendo em vista que todos eles apresentam um cunho imediato, sobretudo a experiLncia e a utilidade, pode-se afirmar que a Escola Nova preconiza uma “aprendizagem pragmática”. Desse modo, nno é o acaso que faz com que a metodologia usada pelos escolanovistas no sentido de propiciar a aprendizagem do aluno funda-se em atividades de ensino. Em outros termos, a “aprendizagem pragmática”, própria da Escola Nova, só pode desenvolver-se com base nas atividades de ensino, porque elas propiciam a experiLncia imediata do aluno e é por meio da experiLncia que o aluno aprende. Cabe observar que, na Escola brasileira, a atividade pedagógica é, quase sempre, compreendida na perspectiva do senso comum e, desse ponto de vista, ela se vincula, exclusivamente, a um fazer imediato e, por isso, dispensa a discussno de conceitos e teorias. Em outras palavras, espera-se que, por meio da atividade pedagógica, o aluno seja capaz de desenvolver, sozinho, as abstraçts necessárias para a compreensno dos conceitos, bem como estabeleça as relaçtes entre eles. Assim, o professor desobriga-se de ensinar o aluno, quem o ensina é a atividade. A aprendizagem pragmática que se expressa sobretudo nas atividades de ensino tem por base trLs idéias: acumulaçno, construçno ou apropriaçno do conhecimento. Elas sno aparentemente distintas embora guardem a mesma conotaçno. A noçno de que o conhecimento deve ser acumulado pelo aluno é própria da Escola Tradicional e, por isso, recebe críticas dos escolanovistas. Por outro lado, a Escola Nova no Brasil nno consegue abrir mno da avaliaçno quantitativa que mede, exatamente, o desempenho do aluno, ou seja, o conhecimento acumulado pelo aluno. A avaliaçno pedagógica A idéia de construçno do conhecimento, o construtivismo, é difundida no Brasil com base no pensamento de PIAGET, porém, é provável que o autor discordasse do uso dessa categoria para explicar os processos de aprendizagem pois, de acordo com PIAGET (1991), eles desenvolvem-se no plano da acomodaçno, pois promovem mudanças constantes que nno modificam, radicalmente, a vida do aluno. A construçno, ao contrário, ocorre poucas vezes na vida do ser humano mas promove sínteses que acarretam mudanças radicais. Assim, nno se pode falar em construçno do conhecimento por parte de cada aluno tido como indivíduo. O construtivismo, no Brasil, provavelmente, esteja associado B noçno de construçno civil que é um processo lento de sobreposiçno de tijolos um a um. Nesta representaçno, cada aluno é responsável pela construçno do seu próprio conhecimento, preferencialmente, a partir das atividades de ensino. É provável que, segundo Piaget, cada aluno seja capaz de acomodar o conhecimento sintetizado a partir da sua relaçno com o meio e nno acumulado na forma de tijolos sobrepostos. A noçno de que o aluno deve apropriar-se do conhecimento desenvolve-se no Brasil a partir dos adeptos da teoria crítica social dos conteúdos. Esses educadores opte-se B Escola burguesa e aos escolanovistas, mas, ao defenderem a necessidade de apropriaçno do conhecimento por parte do aluno, nno conseguem superar a idéia de que ele deve ser acumulado, guardado como propriedade individual. O aluno nno pode apropriar-se do conhecimento, ao contrário, ele deve sintetiza-lo. CONFIGURANDO A UTOPIA Um projeto de superaçno da Escola burguesa deve ocupar-se do combate B noçno de que o conhecimento deve ser acumulado, apropriado individualmente. É preciso cuidar para que todas as verstes dessa idéia sejam identificadas e criticadas com vistas a sua superaçno. O conhecimento é produzido coletiva e historicamente, conforme alerta SAVIANI op cit, por meio de processos de síntese. Portanto, a aprendizagem que é o modo pelo qual pode-se conhecer depende da relaçno dialética que se estabelece entre o aprendiz com os outros aprendizes, entre eles e o professor, bem como entre o aprendiz e o docente. O lema “aprender a aprender” é outra formulaçno escolanovista que deve ser superada caso se queira, de fato, mudar a Escola. A idéia de que os alunos aprendem sozinhos nno visa conceder-lhes autonomia, mas sim torná-los indivíduos, que nessa condiçno, podem prescindir das relaçtes interpessoais. Aliás, a autonomia, tal como o conhecimento, resulta de processos históricos e, portanto coletivos. Por isto, os indivíduos, na medida em que vivem isolados, nno podem ser autônomos. A utopia nno reside no “aprender a aprender”, mas na relaçno dialética que deve estabelecer-se entre quem ensina e quem aprende. Outro ponto-chave a combater é aquele que preconiza a aprendizagem por meio de atividades de ensino. Elas nno podem substituir a necessária discussno dos conceitos que visa o estabelecimento de relaçtes entre eles. Assim, a Escola que hoje se empenha em organizar atividades pedagógicas, deve preocupar-se com a organizaçno do pensamento dos seus alunos, para o que tais atividades podem contribuir desde que articuladas B discussno das relaçtes entre conceitos. É preciso também atentar mais uma vez para o fato de que os educadores escolanovistas promovem mudanças metodológicas para preservar as relaçtes de poder vigentes na Escola, ou seja, tais mudanças, quando ocorrem, estno restritas ao interior da sala de aula e, por isso, nno atingem as outras instâncias da vida escolar. Nno há mudança possível sem que a Escola seja compreendida como totalidade dialética e histórica. A MEDIAÇmO Compreendendo-se a Escola como totalidade dialética e histórica, utopia, o que falta, é uma Escola que supere a Escola burguesa, tanto a Tradicional que privilegia o professor e o ensino quanto a Nova que tem por foco o aluno e a aprendizagem. Assim, o centro dessa Escola deve ser a relaçno pedagógica fundada na tensno dialética entre o professor e o aluno, entre o ensino e a aprendizagem. Esta tensno dialética é uma mediaçno porque expressa uma relaçno entre o imediato e o mediato. Para explicitar esses dois termos, assim expressa-se Marx: “A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come com faca e garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua, com unhas e dentes”. (MARX, Introduçno de 1857 apud LUKÁCS, 1979: 68). Assim, a fome animal está no plano do imediato onde vivem todos os seres vivos, já a fome humana é mediata porque satisfeita com base em mediaçtes: o tempero e o cozimento da carne, o garfo e a faca. Além disso foi preciso, acender o fogo e arrumar a mesa... . A fome humana quando é sentida, também é imediata, mas nno é satisfeita nesse plano. Ainda com base na explicaçno de Marx, pode-se afirmar que apenas os seres humanos sno capazes de mediar. A relaçno pedagógica é uma mediaçno porque o educador e o ensino estno no plano do mediato enquanto que a aprendizagem e o educando estno no plano do imediato. Assim, o educador esforça-se para trazer o educando para esse plano, para que ele compreenda os conceitos, os teoremas, as categorias filosóficas... . Por outro lado, o educando, que quase sempre, está confortável no imediato, tenta trazer o professor para este campo que ele conhece de modo exclusivo. Nesse jogo de forças no qual ora os conflitos sno velados ora sno explícitos, é que se dá a mediaçno. Ela, necessariamente exprime a superaçno do imediato no mediato, porém, é importante observar que superar nno é suprimir. Desse modo, os educadores escolanovistas quando estimulam a reproduçno experiLncias cotidianas dos alunos eliminam a dialeticidade da relaçno entre o imediato e o mediato, dificultando assim o desenvolvimento de mediaçtes. Cabe esclarecer que o imediato nno é mais pobre nem inferior ao mediato, portanto, o mediato nno é mais rico, melhor ou superior ao imediato; eles sno estados distintos e opostos entre si. Dessa forma, as relaçtes entre o ensino e a aprendizagem e entre o educando e o educador nno podem ser hierárquicas, nem de dominaçno por um lado ou de subordinaçno por outro. Por isso, na relaçno educando – educador ora predomina a expressno do educador ora a do educando. Cabe principalmente ao primeiro propiciar a expressno do segundo por meio da mediaçno. É preciso assinalar que nessa concepçno de mediaçno o educando e o educador serno, sempre, opostos entre si, porém nno antagônicos. A PARTICULARIDADE Outro modo de compreender a relaçno pedagógica na perspectiva da mediaçno é a partir de LUKÁCS (1982). Para ele, a mediaçno funda-se em trLs categorias: a generalidade, a particularidade e a singularidade. O ser humano estabelece vínculos tanto com a natureza, quanto com a sociedade por meio da relaçno dialética que se desenvolve entre seu ser singular, que nno se assemelha a nenhum outro, e o seu ser geral, que se identifica com os outros seres humanos na vida em sociedade e com a espécie, bem como com todos os seres vivos, na natureza. Assim, o homem é, ao mesmo tempo, portador de uma singularidade, que o distingue de todos os outros seres, e de uma generalidade que o torna um ser semelhante a qualquer outro: a relaçno dialética entre a diferença (singular) e a semelhança (geral) viabiliza a inserçno do ser humano na natureza e na sociedade. Por isso, a singularidade e a generalidade, embora sejam estados do Ser, devem ser compreendidas no seu movimento de negaçno recíproca. O singular nega o geral, mas está presente nele e, por outro lado, a generalidade nega a singularidade, porém, só se realiza por meio dela. A negaçno recíproca entre a singularidade e a generalidade é a particularidade; ela é o movimento que relaciona o singular com o geral. A particularidade estabelece a mediaçno entre o singular e o geral; ela é responsável pela relaçno dos dois termos. Este movimento torna relativas tanto a generalidade como a singularidade, portanto elas devem ser compreendidas como processos que tendem B generalizaçno e B singularizaçno, respectivamente. Assim, nno se pode alcançar a generalidade ou a singularidade, pois cada generalidade alcançada deve ser superada por uma outra que a contém. O mesmo ocorre com a singularidade, ela também deve ser entendida na perspectiva da superaçno. O entendimento da mediaçno a partir das categorias singularidade, particularidade e generalidade, permite que se compreenda, com maior clareza, o movimento, a negatividade e a superaçno no contexto das relaçtes educando – educador e ensino – aprendizagem. O educador e o ensino ocupam o pólo da generalidade: um educador, na maior parte das vezes, se relaciona com mais de um educando e trabalha com os elementos constitutivos de uma área do conhecimento. Por outro lado, o educando e a aprendizagem se localizam na singularidade, isto é, nno há um aluno que seja igual ao outro, nem mesmo quando eles sno irmnos gLmeos. Cada pessoa é única, singular, desse modo as experiLncias pessoais sno também singulares e diversas, mesmo quando elas vivenciam um mesmo episódio, ou desenvolvem atividades comuns como, por exemplo, participam de uma mesma relaçno educativa. A tensno entre os termos opostos, a generalidade e a singularidade, ocorre por meio da mediaçno que se expressa na particularidade. Por isso, nenhuma aula é igual a outra, mesmo quando nelas se aborda o mesmo assunto e se faz uso dos mesmos critérios de seleçno e de organizaçno dos tópicos abordados, bem como da mesma metodologia. Para ensinar, o educador nno pode ignorar o cotidiano dos educandos, pois o ensino só se efetiva pela contraposiçno do conhecimento que ele pretende veicular aos elementos deste cotidiano. Porém, o educador nno pode se apropriar das vivLncias cotidianas dos educandos visto que ele nno é, e jamais poderá ser, um deles. O educador deve esforçar-se por estabelecer as diferenças entre o conhecimento a ser comunicado e as experiLncias cotidianas dos educandos: ao enfatizar as diferenças entre os dois termos, o educador aborda as relaçtes entre eles. Por outro lado, o educando aprende quando relaciona, por meio da oposiçno, as suas experiLncias cotidianas com os tópicos relativos ao conhecimento já sistematizado pela humanidade que lhe sno comunicados pelo educador. Este conhecimento modifica a sua vida cotidiana, mas nno a suprime, ao contrário, a fortalece, na medida em que permite que ela seja pensada e, dessa forma, articulada Bs experiLncias que a humanidade vem sistematizando no decorrer da história. Quanto maior é esta articulaçno, maiores sno as possibilidades de mediaçno entre os dois pólos. EIS A UTOPIA! A utopia na Educaçno, a Escola que falta é aquela na qual o professor saiba o que é ensinar e, de fato, ensine os seus alunos; é aquela em que os alunos aprendam a fazer relaçtes entre conceitos para que a partir delas compreendam a natureza e a sociedade; é aquela em que as relaçtes sejam regidas pela tensno dialética e nno pela hierarquia, muitas vezes dissimulada por meio de discursos que enaltecem a democracia, burguesa, é claro. As categorias de mediaçno e particularidade superam os dilemas e as aporias da Escola burguesa, mostrando que as questtes que ela enfatiza, quase sempre sno falsas Uma falsa questno é, por exemplo, o privilégio do ensino em detrimento da aprendizagem na Escola Tradicional ou a situaçno inversa na Escola Nova. O ensino e a aprendizagem sno pólos de uma relaçno de mediaçno e, nela nno há privilégio, há tensno. A idéia que sustenta o princípio do “aprender a aprender” preconiza que um professor nno pode ensinar a todos os seus alunos ao mesmo tempo porque eles sno indivíduos e, como tal, portadores de interesses e necessidades distintas. De fato, eles sno portadores de necessidades e interesses distintos, mas nno sno indivíduos, sno seres singulares e, dessa forma podem estabelecer uma relaçno dialética com a generalidade. Esta situaçno permite ao professor ensinar a todos os alunos ao mesmo tempo estabelecendo a síntese entre o geral e o particular que é a particularidade. Esses exemplos mostram que a utopia aqui exposta pode responder qualquer questno e superar qualquer dilema proposto pela Escola burguesa porque está fundada no Ser Social que, repetindo, por ser social é dialético e histórico. A escola pode ser outra coisa? REFERKNCIAS BIBLIOGRÁFICAS LUKÁCS, György. Ontologia do Ser Social: Os princípios ontológicos fundamentais de Marx. [Trad. Carlos Nelson Coltinho] Sno Paulo: Livraria Editora CiLncias Humanas, 1979, 174 p. ___. La categoría de la particularidad. In: Estética I. [Trad. Manuel Sacristán] Espanha: Grijalbo, 1982, 316 p. PIAGET, Jean Seis estudos de psicologia [trad. Maria Alice Magalhnes D'Amorim e Paulo Sergio Lima Silva] 18. ed, 1991, 149 p. SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia : teorias da educaçno, curvatura da vara, onze teses sobre educaçno e política. 1977, 103 p. (Coleçno polLmicas do nosso tempo ; v. 5) BIBLIOGRAFIA DUARTE, Newton, Vigotski e o "Aprender a aprender" (crítica Bs apropriaçtes neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana.) UNESP, 1999, 300 f. (livre docLncia) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de CiLncias e Letras de Araraquara _____ Educaçno escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vigotski. 3. ed. 2001, 115 p. (PolLmicas do nosso tempo; v. 55) GARDNER, Howard, O verdadeiro, o belo e o bom : os princípios básicos para uma nova educaçno. [Trad. Álvaro Cabral] 1999, 363p. Avaliaçno mediadora : uma pratica em construçno da pre-escola a universidade 11. ed. Porto Alegre: c Mediaçno, 1997, 199 p. LUKÁCS, György. Ontologia do Ser Social: A falsa e a verdadeira ontologia de Hegel. [Trad. Carlos Nelson Coutinho] Sno Paulo: Livraria Editora CiLncias Humanas, 1979, 114 p PIAGET, Jean. A epistemologia genética. [trad. Nathanael C: Caixeiro] 1972, 110p. ROGERS, Carl Ranson, Tornar-se pessoa. [trad. de Manuel Jose do Carmo Ferreira] 2. ed., 1961,342p. _____ . Liberdade para aprender. [trad. Edgar de Godói da Mata Machado; Márcio Paulo de Andrade] 2. ed., 1973, 308 p. (Estante de psicologia) Avaliaçno emancipatoria : desafio a teoria e a pratica de avaliaçno e reformulaçno de currículo. 1988. 151 p. SKINNER, Burrhus Frederich Sobre o behaviorismo. [trad. Maria da Penha Villalobos] 1974, 216 p. _____ . CiLncia e comportamento humano. [trad. Jono Carlos Todorov; Rodolfo Azzi] 10. ed., 1998, 489 p. VIGOTSKY, Lev. Semenovich Pensamento e linguagem. [trad. Jefferson Luiz Camargo; ver. técnica José Cipolla Neto] 2. ed, 1989, 135 p. _____ . A formaçno social da mente : o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. [orgs. Michael Cole et al; trads. José Cipolla Neto, Luiz Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche] 4. ed., 1991, 168 p. (Coleçno psicologia e pedagogia)
Download