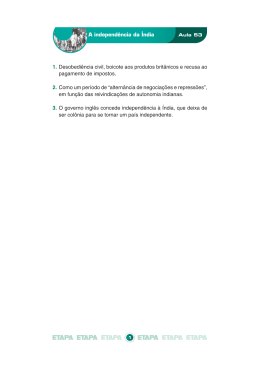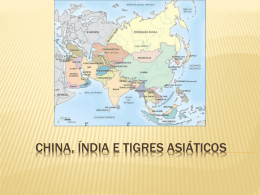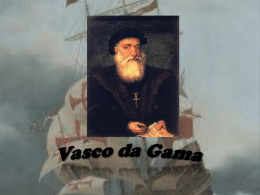UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. CURSO DE HISTÓRIA LEIDIVALDO DOS SANTOS SILVA EXPANSÃO PORTUGUESA À ÁSIA: Um estudo a respeito das narrativas de naufrágio de naus e galeões da Carreira da Índia, da História Trágico-Marítima SÃO LUÍS-MA 2009 LEIDIVALDO DOS SANTOS SILVA EXPANSÃO PORTUGUESA À ÁSIA: Um estudo a respeito das narrativas de naufrágio de naus e galeões da Carreira da Índia, da História Trágico-Marítima Monografia apresentada ao Curso de História, da Universidade Estadual do Maranhão, como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em História. Orientador: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho SÃO LUÍS-MA 2009 Silva, Leidivaldo dos Santos Expansão portuguesa à Ásia: um estudo a respeito das narrativas de naufrágio de naus e galeões da Carreira da Índia, da História Trágico-Marítima / Leidivaldo dos Santos Silva. – São Luís, 2009. 153 p. Monografia (Graduação) – Curso de História, Universidade Estadual do Maranhão, 2009. LEIDIVALDO DOS SANTOS SILVA Orientador: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho 1.Carreira da Índia 2.Navegação 4.Narrativa de viagem I. Título CDU: 94(540) 3.Naufrágio LEIDIVALDO DOS SANTOS SILVA EXPANSÃO PORTUGUESA À ÁSIA: Um estudo a respeito das narrativas de naufrágio de naus e galeões da Carreira da Índia, da História Trágico-Marítima Aprovada em: 08/07/2009 BANCA EXAMINADORA ___________________________________________________ Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho (Orientador) ___________________________________________________ 1o Examinador (a) ___________________________________________________ 2o Examinador (a) AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar, agradeço ao amoroso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Especificamente por ter me ajudado nas vezes em que solicitei sua ajuda. A Ele todo louvor e adoração, pelos séculos! Agradeço a minha mãe, Maria, pelo amor, carinho, zelo, atenção. E a minha família. Agradecimento especial vai ao professor Carlos Alberto Ximendes e à sua esposa Júlia Constança, por ele ter me orientado, gentilmente. Que o Senhor Jesus os abençõe ainda mais! Meus agradecimentos vão ainda a todos os professores do Curso de História da Uema. Especialmente aos seguintes professores: Henrique Borralho, Helidacy Corrêa, Alan Pachêco Filho, Marcelo Galves e Yuri Costa. Aos meus colegas: Gilliam Almeida, Luciana Santiago, Meireles Torres, Felipe Ucijara e Marcelo Fortaleza. E ao professor Ananias Martins. Por fim, agradeço a todos que indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho. “Este viage de Portugal pera a Índia… es sin nenguna contradición la mayor y más ardua de quantas ay en lo descubierto”. Padre Alesando Valignana. Terceiro quartel do século XVI. RESUMO Esta produção trás uma análise sobre as narrativas referentes a naufrágio de navios portugueses da rota da Índia, presentes na obra setecentista História Trágico-Marítima, publicada por Bernardo Gomes de Brito. Sendo assim, são excluídos dois relatos desta obra, um referente à viagem do navio Santo António, que faz parte da rota do Brasil, e o outro é a Descrição da cidade de Columbo pelo Padre Manuel Barradas da Companhia de Jesus. Discuto várias dificuldades enfrentadas por viajantes da Carreira da Índia, no século XVI, tais como: fome, sede, doenças, tempestades, infiltração, partida tarde da Índia, ataque de corsários, naufrágio, desterro na Cafraria... .Analiso, ainda, um aspecto trágico das narrativas, através da analogia com o modelo de tragédia proposto por Aristóteles em sua Poética, especificamente no que diz respeito ao ideal de tentar despertar pena e temor no espectador a partir de cenas trágicas apresentadas. Várias narrativas podem emocionar, entristecer e até mesmo atemorizar o leitor. Para esta análise, contudo, selecionei apenas o relato sobre o navio São João, pois ele é mais direto. O narrador anônimo quer causar tristeza e pena no leitor a partir, principalmente, da ênfase ao sofrimento do fidalgo Manuel de Sousa Sepúlveda e de sua esposa D. Leonor de Sá, por ocasião do naufrágio. Além deste aspecto, discuto alguns elementos que qualificam as narrativas de naufrágio como “trágicas”. Para isto, utilizo um trabalho do autor Glenn Most, Da tragédia ao trágico. Por fim, analiso uma das características de quase todas as narrativas, isto é, a ênfase à culpa do homem português quinhentista perante Deus. Em vários relatos, o naufrágio é enfatizado como um castigo de Deus aos viajantes “pecadores”. Para a análise sobre pecado e a crença da ira de Deus a viajantes portugueses da Carreira da Índia, utilizo a obra de Jean Delumeau, O pecado e o medo [...]. Palavras-chave: Carreira da Índia; navegação; naufrágio; narrativa de viagem. ABSTRACT This production brings an analysis of the narratives concerning the sinking of ships along the route of Portuguese India, work in the eighteenth Tragic Maritime History, published by Bernardo Gomes de Brito. Thus, two reports are excluded from this work, a trip on the ship San Antonio, part of the route of Brazil, and the other is the description of the city of Columbus by Father Manuel Barradas the Company of Jesus. Discuss various problems faced by travelers of the Career in India, in the sixteenth century, such as hunger, thirst, disease, storms, infiltration, starting late in India, attack by pirates, shipwreck, exile in Cafraria ... . Analysis, also a tragic aspect of the narrative, by analogy with the model of tragedy proposed by Aristotle in his Poetics, specifically with respect to the ideal of trying to arouse pity and fear in the spectator from tragic scenes presented. Several narratives can stir, discomfort and even fear in the reader. For this analysis, however, selected only the story of the ship St. John, because he is more direct. The anonymous narrator and cause sorrow and pity from the reader, mainly emphasizing the suffering of the noble Manuel de Sousa Sepulveda and his wife D. Leonor de Sá at the wreck. Besides this, I discuss some elements that qualify the narratives of accident as "tragic." For this, use a copyright work of Glenn Most, from tragedy to tragedy. Finally, I analyze one of the characteristics of almost all the narratives, ie the emphasis on man's guilt before God sixteenth Portuguese. In several reports, the wreck is emphasized as a punishment from God for travelers "sinners." For the analysis of sin and the belief of the wrath of God to Portuguese travelers of the Career in India, using the work of Jean Delumeau, Sin and fear [...]. Key-words: Career in India, shipping, shipwreck, travel narrative. SUMÁRIO INTRODUÇÃO.....................................................................................1 1. ASPECTOS DA CARREIRA DA ÍNDIA..................................................11 1.1. Duas escalas do Atlântico: Brasil e ilha de Santa Helena.......................11 1.2. “Homens de armas” à Índia......................................................................22 1.3. A mulher nas narrativas de naufrágio......................................................43 2. ALGUNS ELEMENTOS CONDUCENTES A NAUFRÁGIO EM NAVIOS DA CARREIRA DA ÍNDIA...........................................................57 2.1. Infiltração...................................................................................................57 2.2. A questão da carga.....................................................................................67 2.3 Corso a navios portugueses da Carreira da Índia por ingleses e holandeses................................................................................................... 84 3. NAUFRÁGIO: IMPLICAÇÕES DE CUNHO RELIGIOSO............101 3.1 Padres em navios da rota da Índia......................................................101 3.2 Confissões na iminência do naufrágio.................................................108 3.3 Viajantes pecadores...............................................................................115 3.4 A ira de Deus na viagem........................................................................119 4. NAUFRÁGIOS NA COSTA DA CAFRARIA.................................125 4.1 Conceitos básicos do “trágico” nas narrativas....................................126 4.2 O desterro português na Cafraria........................................................131 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................142 FONTES.......................................................................................................146 BIBLIOGRAFIA..........................................................................................149 INTRODUÇÃO Em termos gerais, a Carreira da Índia era a viagem portuguesa anualmente realizada de Portugal à Índia e desta para Portugal, pela Rota do Cabo da Boa Esperança, sobretudo para fins comerciais. Os navios mais utilizados eram naus (carracas) e galeões. Uma nau da rota da Índia possuía três a quatro cobertas, castelo na popa e na proa, três mastros. Seu porte variava, na segunda metade do século XVI, de 500 a 1000 tonéis, além de ser ainda um navio útil para a guerra, podendo dispor de vinte ou mais bocas de fogo. (BARRETO, 2000, p. 51; DOMINGUES, 1998, p. 222; IRIA, 1963, p. 73). O galeão era um navio adaptado mais para a guerra, dispunha de “dois mastros à vante com vela redonda, dois mastros à ré, o mastro da mezena e da contramezena com vela latina” (DOMINGUES, 1992, p. 54). As narrativas de naufrágio da História Trágico-Marítima são frutos do contexto histórico das viagens portuguesas à Índia. Entretanto, nesta obra há um relato de naufrágio que não diz respeito à rota da Índia, ou seja, o referente à nau Santo António, que faz parte da Carreira do Brasil. As narrativas de naufrágio foram coligidas no século XVIII por Bernardo Gomes de Brito, da Academia Real de História Portuguesa, fundada pelo rei de Portugal D. João V. Depois da observação e autorização da burocracia real, bem com da Inquisição portuguesa, as narrativas foram publicadas em dois volumes, nos anos de 1735 e 1736, com o título História TrágicoMarítima. Mas várias delas já haviam sido impressas em Portugal, nos séculos XVI e XVII, em forma de folheto de cordel. Os relatos de naufrágio ganharam popularidade em Portugal nos séculos XVI e XVII, devido também ao desenvolvimento de instrumentos tipográficos. O sucesso das narrativas de naufrágio esteve relacionado à curiosidade das pessoas por assuntos de terras além-mar. Num contexto histórico em que Portugal esteve profundamente ligado às atividades marítimas, possuindo possessões nos quatro cantos do mundo, em que aumentavam os contatos entre os diferentes grupos humanos do mundo, era grande o desejo de notícias acerca do ultramar e de questões marítimas. Além disso, para a apreciação às narrativas de naufrágio, houve outro fator: o cunho trágico delas, aliado ao “gosto por histórias trágicas, profundamente arraigado no imaginário coletivo”. (MADEIRA, 2005, p. 28) Os narradores tinham consciência de que seus relatos despertavam a curiosidades das pessoas. Eles fizeram questão de ressaltar os tipos de padecimentos e infortúnios dos viajantes, num claro projeto para emocionar, despertar tristeza e piedade no leitor. Henrique Dias esclarece que sua pretensão é escrever sobre infortúnios e desastres da viagem que fez rumo à Índia, e ainda lembra: “... E cada um dos que estes nossos trabalhos lerem desejará ver o fim e remate de tão estranhos e novos sucessos e novas invenções de mortes...”. (DIAS, 1998, p. 234). No que diz respeito à autoria, sabemos que seis (6) narrativas foram escritas por pessoas que vivenciaram o naufrágio. Elas se referem aos seguintes navios: galeão São Bento e naus Conceição, Santa Maria da Barca, São Paulo, São Tomé e São Francisco. Para escrevê-las, os autores se valeram da memória. Dos demais cinco relatos, apenas três narradores dizem a fonte de onde tiraram as informações: o autor anônimo do relato sobre o galeão São João, João Batista Lavanha e Melchior Estácio do Amaral. O primeiro escreveu a partir de informações que obteve de testemunhas do naufrágio, como o guardião do referido navio, Álvaro Fernandes, e escravas. Lavanha produziu a sua narrativa depois de comparar um cartapácio do piloto da nau Santo Alberto com informações dadas por Nuno Velho Pereira – capitão dos portugueses no naufrágio da referida nau. Amaral, por sua vez, diz que escreveu o tratado da batalha do galeão Santiago com os holandeses, a partir de informações que obteve de participantes do conflito (“pessoas de crédito”, como ele escreve) e de uma certidão de D. Pedro Manuel (1998, p. 512). Apenas para duas narrativas não sabemos as fontes de onde os autores tiraram as informações: o relato de Manuel Godinho Cardoso, referente à nau Santiago e a narrativa do autor anônimo, sobre as naus Águia e Garça. Manuel de Mesquita Perestrelo, João Batista Lavanha e Diogo do Couto são autores que se notabilizaram também por terem escritos outros trabalhos que chegaram até nós. Do autor Perestrelo (que foi piloto), chegou até nós um roteiro da navegação do Cabo da Boa Esperança até Moçambique (ALBUQUERQUE, 1991, p. 84). Lavanha nos deixou vários trabalhos, e boa parte deles de interesse náutico, como o Tratado da arte de navegar, etc. (MONIZ, 2001, 17). Diogo do Couto deu continuidade às Décadas da Ásia, iniciadas pelo célebre João de Barros. Couto escreveu da IV até a XII Década. Além dessas, ele produziu uma variedade de outras obras, as quais chegaram até nós, entre elas, O soldado prático. Diga-se de passagem, a Década XIII da Ásia foi produzida no século XVII por António Bocarro. Assim, Barros, Couto e Bocarro foram os três grandes historiadores da Ásia Portuguesa, dos séculos XVI e XVII. Dos demais autores, muito pouco se sabe, principalmente sobre o autor anônimo do relato referente à viagem e naufrágio do galeão São João. É preciso esclarecer algumas questões sobre a autoria de duas narrativas da História Trágico-Marítima. Uma é a Relação da viagem e sucesso que tiveram as naus Águia e Garça vindas da Índia para este reino no ano de 1559 e a outra é a Relação do naufrágio da nau Santa Maria da Barca de que era capitão D. Luís Fernandes de Vasconcelos, a qual se perdeu vindo da Índia para Portugal no ano de 1559. A primeira aparece no compêndio de Bernardo Gomes de Brito, juntamente com a fonte do padre Manuel Barradas. O titulo da relação é o seguinte: Relaçaõ da viagem, e successo que tiveraõ as naos Aguia, e Garça vindo da India para este Reyno no Anno de I559 com huma discriçaõ da Cidade de Columbo, pelo padre Manuel Barradas da Companhia de JESUS, enviada a outro Padre da mesma Companhia morador em Lisboa. Bernardo Gomes de Brito publicou a narrativa sobre as naus Águia e Garça junto com a Descrição da Cidade de Columbo, entretanto, não avisou que são fontes de autores diferentes. Pelo título, cai-se facilmente na armadilha de considerar o padre Manuel Barradas o autor das duas fontes. Na realidade ele é apenas o autor da Descrição. As duas fontes têm estilo de escrita diferente. A escrita da Descrição é mais complexa do que a da narrativa sobre as naus Águia e Garça. António Moniz concluiu que Diogo do Couto é o autor desta última fonte (2001, p. 18). De fato, o estilo de escrita, as críticas dela lembram textos de Couto. Entretanto, para não gerar confusão, no presente trabalho, esta última fonte aparece como anônima. Mas sempre referirei o nome dos navios de que ela trata. A segunda (sobre a nau Santa Maria da Barca) trata-se de uma colagem de duas fontes, feita por Bernardo Gomes de Brito, que, entretanto, não o disse. O início dela – composto por quase três páginas, que trata da viagem de ida à Índia pela mesma nau, em 1557 – é na realidade o capítulo II do Livro Quinto da Sétima Década da Ásia, de Diogo do Couto (LANCIANI, 1983, p. 71; MONIZ, Ibid., p. 15). O restante da narrativa – que corresponde a maior parte da fonte e trata da viagem de regresso a Portugal, no ano de 1559 – é de um autor anônimo, o qual vivenciou o naufrágio da Santa Maria da Barca. Essa parte começa assim: “Partimos de Cochim aos dezenove de janeiro, em uma quinta-feira, às oito horas do dia...” (ANÔNIMO, 1998, p. 171). Ou seja, Brito juntou duas fontes, uma que trata da viagem de ida e outra sobre o regresso. Mas, a fim de que não gere confusão e em conformidade com a História Trágico-Marítima, no presente trabalho, utilizo a autoria anônima para as duas fontes. Em se tratando da Carreira da Índia, os relatos de naufrágio são importantes também pelo fato de possibilitarem uma visão microscópica acerca de alguns aspectos das viagens de Portugal à Índia e vice-versa, com ênfase nos principais problemas enfrentados pelos viajantes, como a dificuldade de ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, quando se partia da Índia depois do mês recomendado (dezembro) e infiltração. As narrativas descrevem naufrágio de naus e galeões portugueses da Carreira da Índia. Uma das principais razões de sua produção é perpetuar a lembrança do desastre marítimo, por meio do escrito. Isso fica mais explícito na narrativa referente à nau São Tomé, que é uma produção feita por encomenda, a rogo de D. Ana de Lima, irmã do fidalgo D. Paulo de Lima, o qual morreu no naufrágio. Foi escrita por Diogo do Couto, guarda-mor da Torre do Tombo de Goa e sobrevivente do referido desastre marítimo. O naufrágio de navio da Carreira da Índia era considerado pelos portugueses um evento de destaque, repercutia em Portugal e na Índia Portuguesa, causava perdas irreparáveis, em se tratando de vidas humanas, e, do ponto de vista econômico, provocava prejuízos aos responsáveis pela organização da viagem, mais diretamente à Coroa, nobres e mercadores. Em vista disso, para os narradores fica justificável o ato de escrever sobre desastres marítimos. Mas é importante lembrar que algumas narrativas não foram escritas somente para a conservação da memória sobre o naufrágio. A produção esteve ligada também à pretensão de estabelecer normas de conduta no leitor: tentar frear pecados, como a cobiça; incentivar que os homens passem a ser “bons cristãos”, obedecendo aos mandamentos do Senhor e “trazendo o temor de Deus diante dos olhos”, como se diz na narrativa sobre o galeão São João (ANÔNIMO, 1998, p. 5). João Batista Lavanha, autor do relato sobre a nau Santo Alberto, deixa claro os motivos para a sua escrita: escreveu para avisar aos viajantes da Carreira da Índia como eles deverão agir, caso sofram naufrágio na costa da Cafraria (especificamente no sudeste da África Oriental). Isso porque, na lógica de Lavanha, “... o naufrágio ensina como se devem haver os navegantes em outro que lhes pode acontecer...” (1998, p. 375). Melchior Estácio do Amaral, por sua vez, produziu uma narrativa pedagógica, para evitar outros naufrágios. Ele apresenta várias causas de naufrágio e sugestões para tentar impedir mais perdas marítimas. Estas narrativas possuem mensagem pedagógica. Existe a pretensão de que elas tenham uma função mais pragmática, principalmente para as pessoas que faziam viagens marítimas pela Rota do Cabo ou possuíam ligação com a organização da viagem. No presente trabalho, utilizo como sinônimos os termos narrativa e relato. Ambos referindo-se aos verbos: expor, contar. Ciro Flamarion Cardoso diz que: “Quem narra ou relata está, nos termos mais simples da expressão, contado uma história” (1997, p. 10). Esta definição se aplica aos narradores dos relatos de naufrágio. Eles têm uma história para contar; consideram necessário expor no papel os infortúnios da viagem. E tal história possui a pretensão de ser verdadeira, de expor a verdade. Dois autores deixam claro isto: Manuel de Mesquita Perestrelo e Henrique Dias. O primeiro afirma que seu propósito “é escrever somente a verdade do que toca aos acontecimentos desta história” (PERESTRELO, 1998, p. 39); já o segundo menciona que vai escrever os infortúnios da viagem, “com a maior verdade que em mim for” (DIAS, 1998, 234). Eles são narradores e testemunhas. Enfatizar que se escreverá a verdade, assim como mencionar as fontes de onde se colheu as informações (como se viu para três autores), faz parte de um projeto de tentar gerar credibilidade às narrativas, de não dar espaço para que sejam consideradas fantasiosas. O presente trabalho compreende o recorte temporal de 1497, que é a data da partida de Lisboa pela armada pioneira de Vasco da Gama, a 1610 – tempo em que partiu de Portugal a armada do capitão-mor Luís Mendes de Vasconcelos e também é o ano do regresso da nau Nossa Senhora de Jesus a Lisboa. Entretanto, uma parte considerável do trabalho situa-se no recorte cronológico relacionado às narrativas de naufrágio, ou seja, 1552 a 1604. O primeiro é o ano do naufrágio do galeão São João e o segundo (1604) trata-se do ano da escrita de Melchior Estácio do Amaral. No que diz respeito a espaço, as minhas análises referem-se à Índia Portuguesa, especialmente a Goa e a Cochim. As fontes históricas primeiras de análise são as narrativas da História Trágico-Marítima. Mas apenas as referentes à Carreira da Índia. Utilizo a edição brasileira de 1998, apresentada por Ana Miranda e com introdução e notas de Alexei Bueno. É a edição com a linguagem mais próxima da atualidade. Na obra está atualizada a pontuação, a acentuação, mas não totalmente a ortografia. Para o presente trabalho, foram excluídas duas fontes do compêndio, a saber: Naufrágio que passou Jorge de Albuquerque Coelho vindo do Brasil para este reino no ano de 1565, escrito por Bento Teixeira Pinto, que se achou no dito naufrágio. Esta faz parte da Carreira do Brasil. A outra é a Descrição da cidade de Columbo pelo Padre Manuel Barradas da Companhia de Jesus. As demais fontes do compêndio referem-se à viagem e naufrágio de navios da Carreira da Índia, tanto a ida à Índia quando ao regresso a Portugal. As narrativas sobre o regresso são majoritárias, no total 7; enquanto para a ida à Índia são 4. Assim, excetuando duas narrativas da História Trágico-Marítima, são analisadas aqui 11, especificamente referentes aos galeões São João e São Bento e às naus Conceição, Águia (também chamada de Patifa), Garça, Santa Maria da Barca, São Paulo, Santiago, São Tomé, Santo Alberto, São Francisco e o texto de Melchior Estácio do Amaral – Tratado das batalhas e sucessos do galeão Santiago com os holandeses na ilha de Santa Helena e da nau Chagas, com os ingleses entre as ilhas dos Açores; ambas capitanias da Carreira da Índia; e da causa e desastres por que em vinte anos se perderam trinta e oito naus dela. O termo sucesso, que aparece no título das relações de naufrágio e no Tratado de batalha, deve ser compreendido no sentido de acontecimento, vicissitude; ele vem do verbo suceder. Tentei não ficar preso apenas às narrativas de naufrágio. Assim, utilizo várias outras fontes, as quais proporcionam compreensão sobre o contexto histórico e aos próprios relatos de naufrágio, na medida em que possibilitam conhecer aspectos da Carreira da Índia que não foram contemplados por eles. Entre outros, as razões que levavam os navios a partirem da Índia depois do mês de dezembro, já que os navegadores, armadores, contratadores sabiam que isso era perigoso para a viagem. Alguns narradores apontam e criticam a partida tarde da Índia como um dos fatores para o naufrágio, mas não explicam os motivos para tal e as conseqüências disso não são narradas de maneira bem esclarecedora. Sobre a Índia Portuguesa, quase não se comenta. Diante disso, precisamos recorrer a outras fontes primárias e a produções historiográficas, para termos maior compreensão sobre as narrativas de naufrágio. As cartas do célebre governador da Índia D. João de Castro, enviadas ao rei D. João III, são uma das fontes portuguesas mais importante para o presente trabalho. Elas são utilizadas nos quatro capítulos. Constituem fontes originais. Mas é claro que devem ser lidas com a devida prudência e crítica. O trabalho constitui um estudo comparativo às narrativas de naufrágio. Tentei não generalizar, pois são heterogêneas, embora existam algumas semelhanças entre elas. A presente produção não é propriamente dito uma análise sobre estética literária dos relatos. É antes um estudo sobre aspectos da Carreira da Índia, usando as narrativas de naufrágio como fonte primeira. Análises sobre as características retóricas delas já foram feitas por vários autores, como, por exemplo, António Moniz (2001) e Angélica Madeira (2005). Esta última autora, em uma parte de seu livro, analisa a dimensão barroca dos relatos de naufrágio. Na maior parte do presente trabalho, ver-se-á uma análise sobre o contexto da expansão portuguesa à Ásia, as navegações portuguesas à Índia, no século XVI. Sendo assim, tentei na medida do possível fornecer subsídios teóricos, esclarecendo algumas lacunas presentes nas narrativas. Isso para ficar mais compreensível o contexto histórico da Carreira da Índia e os próprios relatos de naufrágio. Respeitante à retórica, analiso a analogia entre a narrativa sobre o galeão São João e o modelo de tragédia proposto por Aristóteles em sua Poética, e discuto alguns conceitos básicos do trágico nas narrativas de naufrágio. Estes dois temas não foram contemplados pelos autores acima mencionados. Por isso resolvi abordá-los. Mas a minha análise é associativa ao contexto histórico em que as narrativas estão inseridas, ou seja, à Carreira da Índia, na segunda metade do século XVI. Em suma, esta produção trata-se de um estudo sobre as narrativas de naufrágio, procurando analisar seus temas principais, ao mesmo tempo situá-las no contexto histórico das viagens portuguesas à Índia, no século XVI. O trabalho é norteado por várias indagações. Entre outras: Quais as causas dos naufrágios? Qual a visão trágica que se transmite sobre as viagens portuguesas pela Rota do Cabo? Quais os aspectos análogos entre as narrativas e a Poética de Aristóteles? Por que se dar ênfase a discurso sobre pecado? Como se dão as relações entre náufragos portugueses e negros da Cafraria? O capitulo I trata de características da Carreira da Índia, a saber, duas escalas do Atlântico, a ida de homens de arma à Índia e a presença feminina nos relatos de naufrágio. O segundo item, ainda que não tenha tanta ligação explícita com as narrativas como os dois outros, é uma temática intrínseca à Carreira da Índia, por isso dediquei um espaço para comentá-lo. Dos lugares do Atlântico utilizados como escalas por navios da Carreira da Índia, as narrativas de naufrágio fazem referência mais largamente a três, a saber, Brasil, Açores e ilha de Santa Helena, aos quais alguns navios (de que elas tratam) aportaram. Em vista disso, para uma compreensão mais ampla acerca tanto das narrativas como da Carreira da Índia, faço algumas considerações sobre estes lugares de escalas. Comento sobre as causas que levavam os navios da rota da Índia a aportarem neles e ainda o posicionamento da Coroa, já que ela era a organizadora majoritária das viagens. Porém, no primeiro capítulo, não contemplo os Açores, mas no capítulo segundo, especificamente na parte concernente a corso. No segundo tópico, analiso outro aspecto de que se revestiu a Carreira da Índia e a Índia Portuguesa, ou seja, o cunho militar. Os navios não saíam de Portugal tão-somente para, na Índia, receberem mercadorias e retornarem com elas, mas eles também levavam homens para prestarem serviços militares ali e em outras partes da Ásia Portuguesa. Primeiramente, discuto alguns fatores para a ida de “homens de armas” à Índia Portuguesa, em seguida, analiso alguns motivos que levavam soldados a não preferirem o serviço militar na Índia. Na última parte do mesmo item, aproveito para analisar causas de mortalidade durante a viagem de ida a Índia. Referências a insuficiência de homens para atuar militarmente na Índia é presente em fontes portuguesas. Uma das razões para tal insuficiência foi o elevado número de pessoas que morria nas travessias ou na própria Índia. Por fim, o cunho militar da Índia Portuguesa e, conseqüentemente, das viagens pela Rota do Cabo, é uma temática complexa, que exige um estudo mais aprofundado, assim sendo no presente trabalho limito-me apenas a fazer ligeiras observações, considerando o século XVI e princípio do XVII. Comento sobre um século, em pouco mais de 20 páginas. É forçoso reconhecer que isto se adéqua ao que Paul Veyne afirma de que o historiador pode fazer com que um século caiba em uma página ou “comprimir dez anos em duas linhas” (1998, p. 18-27). No segundo tópico, analiso mais diretamente as narrativas de naufrágio, procurando compreender como elas tratam as mulheres a bordo dos navios e quem são essas mulheres. Depois discuto sobre a morte da fidalga D. Leonor de Sá (e de seu marido). Neste último caso, comento analogias entre a narrativa de naufrágio e algumas propostas para tragédia, feitas por Aristóteles, em sua obra Poética. Em outros relatos de naufrágio existe analogia com as sugestões do pensador grego, por exemplo, no referente ao galeão São Bento e às naus Conceição e São Paulo. Por fim, este tópico sobre a mulher, possibilitará ainda perceber características das narrativas, com ênfase ao seu cunho masculino. No capítulo II, discuto sobre alguns fatores que podiam provocar naufrágio em navios da Carreira da Índia. De fato, causaram nos navios da História Trágico-Marítima. Desenvolvo três tópicos: infiltração, carga e ataque de corsários. Comento sobre infiltração, enfatizando algumas de suas causas. Discuto vários aspectos ligados à carga, como a partida tarde da Índia, a má arrumação das mercadorias nos barcos, o sobrecarregamento nos navios portugueses que regressavam da Índia... Concernente ao corso, analiso o Tratado de batalha, escrito por Amaral, procurando situá-lo no seu contexto histórico, ao mesmo tempo comentando seus principais pontos. Mas é claro que havia outros fatores para desastre marítimo. Entre eles, pode-se dizer a imperícia de piloto. Nas viagens tão longas para a Índia era fundamental que houvesse piloto experiente na arte de navegar e que conhecesse bem o roteiro da Carreira da Índia. Em duas narrativas, uma sobre o naufrágio da nau Conceição e a outra referente à nau São Paulo, a imperícia, inexperiência e arrogância de piloto, são denunciados como fatores de primeira ordem para o desastre. O capítulo III trata das implicações de cunho religioso provocadas pelos naufrágios. Aqui analiso algumas das práticas espirituais que os viajantes adotaram nas circunstâncias perigosas, principalmente a confissão dos pecados, e ainda as atitudes religiosas de padres. Em seguida, comento mais diretamente sobre o discurso acerca de pecado e da ira de Deus. Estes dois aspectos são bem presentes em quase todas as narrativas. Tal fato tem a ver com a mentalidade do homem português quinhentista e foi favorecido pelas circunstâncias do desastre marítimo. O discurso sobre o pecado é uma das implicações dos naufrágios. Por fim, as considerações que faço sobre a Bíblia, não têm como objetivo depreciar, negar ou discordar, mas apenas enfatizar uma concepção que se tinha dela, destacá-la como livro de inspiração e fundamentação ideológica dos cristãos. Além disso, não pretendo negar ou discordar da crença dos narradores sobre a ira de Deus a viajantes portugueses, mas apenas analisá-la e tentar compreendê-la. No capítulo IV, há uma discussão sobre conceitos básicos do trágico nos relatos, sobre as características que identificam as narrativas como trágicas. Analiso apoiado no trabalho de Glenn W. Most, Da tragédia ao trágico. No último tópico, discuto a parte final de quase todas as narrativas de naufrágio, ou seja, o desterro dos sobreviventes do naufrágio em terras da África Oriental. Procuro analisar as formas de relação entre náufragos e negros... .A discussão trata pouco sobre etnocentrismo, isso porque não é meu propósito desenvolver este assunto aqui. Por fim, no quarto capítulo são analisados apenas os relatos referentes aos galeões São João e São Bento e às naus Águia, Garça, Santa Maria da Barca, Santiago, São Tomé e Santo Alberto, excluindo assim as narrativas sobre as naus Conceição, São Paulo, São Francisco e o texto de Melchior Estácio do Amaral (este último é considerado apenas na parte introdutória do capítulo). Nestes últimos relatos não há desterro português na África Oriental. CAPÍTULO I 1. ASPECTOS DA CARREIRA DA ÍNDIA 1.1 Duas escalas do Atlântico: Brasil e ilha de Santa Helena Durante os três séculos e meio de existência da Carreira da Índia, o Brasil foi uma das opções de escala no Atlântico para os navios, durante a ida à Índia ou no regresso a Portugal. Um dos motivos que levava navios da rota da Índia a tocar o Brasil tinha a ver com o roteiro seguido por eles, principalmente na viagem de ida à Ásia. Na viagem de Portugal até o Cabo da Boa Esperança, os navios normalmente não navegavam por toda a costa ocidental africana, porque para além de Serra Leoa os ventos dominantes (alísios de sueste) sopravam na direção da proa dos barcos. Ou seja, caso tentassem, os navios receberiam ventos contrários, que obviamente dificultariam o prosseguimento da viagem, com risco de naufrágio e outros inconvenientes. A dificuldade era maior, porque na Carreira da Índia utilizavam-se majoritariamente naus1, isto é, “navios de pano redondo, que, sendo incapazes de bolinar, não podiam avançar directamente contra o alíseo de S.E. ...”. (MATOS, 1994, p. 118). A solução consistia, portanto, em desviar dos ventos contrários, os alísios de sueste. Em vista disso, as naus da Carreira da Índia depois de passar por Cabo Verde atingiam a região africana da atual Serra Leoa e colocando-se em altura dela rumavam, descrevendo um largo arco que as aproximava do Brasil (DOMINGUES, 1998, p. 222). Em suma, ao atingirem a latitude de Serra Leoa as naus dirigiam a sua proa para sudoeste, a fim de desviar dos ventos contrários, seguindo em demanda do Cabo de Santo Agostinho (na costa do Brasil), para depois passarem pelos Abrolhos, contornarem a ilha de Martim Vaz, a ilha de Trindade, e então rumar ao Cabo da Boa Esperança. A primeira manobra, na linguagem náutica da época, passou a ser denominada “volta do mar” e a segunda (para o Cabo da Boa Esperança) “volta da terra”. ______________ 1 Nau – grande navio mercante da Carreira da Índia – recebia também a denominação de “carraca”. Por não ser incorreto e por questão de estética, neste trabalho mantém-se apenas o termo “nau”. Na Carreira da Índia, para a carga, também eram utilizados galeões e caravelas. “Bolinar” era basicamente navegar contra o vento, fazendo ziguezague. Para fazer tal percurso, precisava-se obviamente de conhecimento prévio acerca do regime dos ventos dominantes e das correntes marítimas do Atlântico Sul. Na viagem pioneira de Vasco da Gama já se tinha tal conhecimento, uma vez que a armada fez a “volta do mar” e a “volta da terra” (VELHO, 1998, p. 42-43; FONSECA, 2001, p. 149), semelhante ao rumo que depois as naus da Carreira da Índia passaram a seguir. Mas é certo que o roteiro seguido pela armada de Vasco da Gama foi ganhando aperfeiçoamento, devido também à obtenção de novos conhecimentos acerca do percurso, ao longo das viagens realizadas à Índia. A rota seguida pela armada de Vasco da Gama, inclusive, foi sugerida por ele para a esquadra de Cabral2. Esta seguiu-a. Depois de passar por Cabo Verde, a armada cabralina fez escala3 a terra que posteriormente passou a ser chamada Brasil, aproveitando os viajantes para reabastecerem-se de água e lenha, como afirmou Caminha (2003, p. 46 e 59). A partir da viagem da armada de Cabral, em 1500, o Brasil passou então a funcionar como escala para navios da Carreira da Índia. No que diz respeito ao século XVI, a ida de navios da rota da Índia ao Brasil é mais registrada para meados deste século em diante. O percurso realizado pelas naus no regresso não implicava muita aproximação com as costas brasileiras, mas não impediu vários navios de aportarem no Brasil. Ao dobrar o Cabo da Boa Esperança, as naus seguiam em demanda da ilha de Santa Helena. Depois navegavam a leste da ilha de Ascensão. Passada a linha do Equador, os navios procuravam os Penedos de São Pedro, para a partir deles, navegarem ao Atlântico Norte, fazer a rota pelo largo, até atingirem a altura dos Açores (GUERREIRO, 1998, p. 418), e seguir a Portugal. No regresso ao Reino e depois de dobrar o Cabo da Boa Esperança, as naus navegavam com os alísios de sueste pela popa, o que convinha à viagem, mas chegando à costa da Guiné, recebiam os ventos (alísios de nordeste) pela proa, daí a necessidade de contornar os Açores, desviando-se dos ventos contrários. _________ 2 Cf. “Rascunho das instruções de Vasco da Gama a Cabral”. In: Janaína AMADO e Luís Carlos FIGUEIREDO (Orgs.). Brasil 1500: quarenta documentos. Brasília: Editora Universidade Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001, p. 27. 3 Em carta destinada aos reis da Espanha, D. Manuel I, precipitadamente, viu uma conveniência de a Terra de Santa Cruz funcionar como escala para navios em viagem à Índia: “...A qual [terra] pareceu que nosso Senhor milagrosamente quis que se achasse, porque é mui conveniente e necessária à navegação da Índia, porque ali [Pedro Álvares Cabral] corrigiu suas naus e tomou água.” Cf. “Carta de D. Manuel aos reis católicos”. In: Janaína AMADO e Luís Carlos FIGUEIREDO. Ibid., p. 221. Contudo, durante boa parte dos séculos XVI e XVII os reis de Portugal e vice-reis da Índia proibiram os navios da Carreira da Índia de tocarem o Brasil. A rota seguida pelas naus na ida à Ásia implicava, portanto, aproximação às costas brasileiras, o que facilitava para os navios tocarem o Brasil. Quando um navio deixava de prosseguir viagem à Índia e seguia ao Brasil, dizia-se que ele havia “arribado”. Neste caso, arribar significava, na maior parte das vezes, seguir para esta região, por impossibilidade de continuar a navegação para a Índia, consolidando assim uma viagem interrompida ou abortada. Das razões imediatas que levavam navios da rota da Índia a mudar o rumo e seguir para o Brasil, aparecem: dano nos mastros, mastaréus, vergas, etc., no velame, quebra do leme, do timão e infiltração – problemas, como se vê, técnicos, que exigiam reparos para o prosseguimento da viagem. Além disso, quando havia muitos doentes a bordo, seguia-se ao Brasil também para cuidar deles, embora na maior parte das vezes este motivo integrava outros. Havia ainda outros fatores não menos consideráveis, como reabastecimento de água doce e de alimentos, preferencialmente frescos4. A fim de aproveitarem os ventos (alísios) do Atlântico e a monção do sudoeste do Índico, os navios da Carreira da Índia (em viagens regulares) partiam de Lisboa em março ou em princípios de abril (MATOS, 1994, p. 116; BARRETO, 2000, p. 51). Porém, o mais adequado seria partir de Lisboa o mais tardar em março para também não sofrerem os inconvenientes da costa da Guiné, como calmarias (às vezes com ventos contrários) (IRIA, 1963, p. 59; LAVAL, 1944, vol. II, p. 326). Assim, as viagens abortadas (arribadas), em que o navio era obrigado a seguir para o Brasil ou a retornar ao Reino, estavam também ligadas a más condições meteorológicas do Atlântico. Como bem disse Vitorino Magalhães Godinho sobre viagem abortada no Atlântico: “Resulta, na maior parte das vezes, de más condições meteorológicas no Atlântico: tempestades ao largo da costa portuguesa passado o meado de abril, calmas perto do litoral brasileiro e forte corrente contraria que impede de dobrar o cabo de Santo Agostinho” (1982, vol. III, p. 44). Da costa brasileira o porto mais freqüentado por naus da Carreira da Índia era o da Bahia, especificamente o da cidade de Salvador, devido a alguns fatores, entre outros, a cidade era então ____________ 4 É claro que para arribadas ao Brasil também houve artimanhas por parte de oficiais de naus e outros em prol de realizar o comércio ilícito ou contrabando, embora isso seja mais registrado para o século XVII. É desnecessário comentar esse assunto aqui para não fugir do recorte temporal. Ele pode ser lido em: José Roberto do Amaral LAPA. A Bahia e a carreira da Índia. Ed. fac-similada. São Paulo: Hucitec, Unicamp, 2000; Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963. o centro administrativo da colônia e possuía satisfatório ancoradouro para os navios (LAPA, 2000, p. 2). Na História Trágico-Marítima há três referências à ida ao Brasil por naus em viagem à Índia: a nau Santa Maria da Barca, a nau São Paulo e a nau São Francisco. A nau Santa Maria da Barca invernou no Brasil, devido ao fato de ter saído tarde de Lisboa, 30 de abril de 1557, e às calmarias da costa da Guiné, que ocasionaram a perda de muito tempo, impedindo o navio de acompanhar a monção do Índico. A crer no narrador anônimo, a nau ficou 70 dias na costa da Guiné. Este fato, na linguagem náutica da época, chamava-se “ficar no pairo”, em que o navio movimentava-se lentamente, por causa da escassez de vento e logicamente por lentidão das correntes marítimas. Isto causava prejuízo à viagem, pois provocava atraso, diminuição dos alimentos e da água. O Armazém da Índia em Lisboa provia os navios (especificamente à tripulação e à tropa) com alimentos para alguns meses. Além disso, as calmarias da costa da Guiné propiciavam doenças ou mesmo causavam febre nos viajantes, com o excessivo calor. Por causa destes inconvenientes a costa da Guiné foi vista pelos tripulantes, passageiros e pelos responsáveis pela organização das viagens um dos locais do roteiro da Carreira da Índia mais temido, indesejável e enfadonho. Contudo, o narrador da nau Santa Maria da Barca não se interessou em mencionar nenhum destes problemas. Ele diz que os viajantes dela, no tempo em que permaneceram na Bahia, foram alojados e alimentados pelo governador-geral do Brasil – D. Duarte da Costa (ANÔNIMO, 1998, p. 171). Após a invernada na Bahia, a referida nau seguiu para a Índia. Foi na viagem de regresso que ela naufragou nas proximidades da ilha de São Lourenço (Madagascar), por excesso de infiltração. Na viagem da nau São Paulo em direção à Índia, em 1560, já se percebe mais claramente alguns dos principais problemas técnicos que motivavam seguir ao Brasil, bem como as péssimas condições sanitárias a bordo, a falta de água, de alimento e o atraso em relação à monção do Índico. Segundo o narrador Henrique Dias, as calmarias, assim como o excesso de chuva da costa da Guiné, provocaram vários problemas: atraso na viagem, ocorrência de doentes, desaparelho da nau, com podridão de algumas peças, falta d’água e de alimento. Nessas circunstâncias, após “conselho de todos os fidalgos, criados de El-Rei e homens do mar”, a nau São Paulo arribou ao Brasil. Conforme Henrique Dias, os viajantes passaram 44 dias na Bahia e se proveram do necessitado, como reparo na nau, consertando-se o leme, reabastecimento de água, de mantimentos e tratamento aos doentes (1998, p. 202-203). Esta nau seguiu para a Índia, dobrou o Cabo da Boa Esperança, entretanto, não chegou à Índia, em virtude da inexperiência do piloto, que não conhecia bem o roteiro do Índico, e o navio naufragou, em 1561, na costa da ilha de Samatra, região, aliás, distante do roteiro que normalmente os navios da Carreira seguiam depois de dobrar o Cabo da Boa Esperança, na viagem de ida à Índia. A terceira é a nau São Francisco que, em viagem à Índia no ano de 1596, por ocasião da quebra do leme e da existência de doentes, fez escala ao Brasil, “ainda que contra um expresso regimento d’El-Rei, porque a necessidade não tem lei” (AFONSO, 1998, p. 430). O navio passou meses na Bahia e retornou a Portugal, perdendo a viagem à Índia. O narrador da viagem desta nau, o padre Gaspar Afonso, ao dizer “ainda que contra um expresso regimento d’El-Rei”, menciona um ponto essencial sobre a ida de navios da Carreira da Índia ao Brasil. Tanto a Coroa portuguesa quanto o vice-rei da Índia proibiram terminantemente os navios mercantes em viagens à Índia de tocarem o Brasil, durante boa parte dos séculos XVI e XVII. Na realidade, o rei de Portugal tendia a não vê com bons olhos a ida de navios da Carreira da Índia a qualquer porto, tanto no Índico quanto no Atlântico. Os dois lugares que a Coroa autorizava para escala (mas em casos de extrema necessidade) era a ilha de Moçambique (escala no Oceano Índico) e os Açores (BOXER, 2002, p. 220) (escala no Atlântico), especificamente na ilha Terceira, onde havia nesta última (mas nem sempre) frotas para escoltar os navios até Portugal, sendo também o lugar de reagrupamento da armada. Em se tratando da viagem de ida à Ásia, a Coroa portuguesa recomendava que caso houvesse problemas que dificultassem seguir para o Cabo da Boa Esperança, os navios deveriam retornar a Lisboa e não fossem ao Brasil nem para receberem reparo (neste caso apenas em extrema necessidade), nem para invernarem. Infelizmente não tenho nenhum dos regimentos dos capitães das naus da História Trágico-Marítima (e nunca ouvi falar que algum deles tenha chegado até nós), contudo disponho de regimentos para outros navios, como o da nau S. Pantalião, que partiu para a Índia na armada de 1592, junto com a nau Santo Alberto (a narrativa sobre o naufrágio desta última está na História Trágico-Marítima). Assim, proibição a invernada no Brasil fica claro no regimento dado pelo rei de Portugal Filipe I para Álvaro Rodrigues de Távora, o capitão da nau São Pantalião, que partiu à Índia em 1592: Se por algum caso que seja não poderdes dobrar o cabo de Boa Sperança pera aquelle anno irdes a India e virdes com a carga de espeçearia fordes invernar ao Brasil porque acontecendo manda Sua Magestade que por nenhum caso seja inverneis nas ditas partes do Brazil, antes vos venhais direitamente a esta cidade de Lisboa.5 O navio referido conseguiu dobrar o Cabo e não invernou no Brasil. Em se tratando de reparos aos navios e da alimentação dos viajantes no Brasil (no caso de invernada, por exemplo), a Coroa alegava que havia gastos de seu dinheiro além do que realmente necessitava. Além disso, ela não via com bons olhos escalas no Brasil por navios da rota da Índia, porque também receava a perda da viagem (BOXER, 1980, p. 45) (como aconteceu com a nau São Francisco, atrás mencionada), caso houvesse atraso. Outro motivo era o temor da Coroa à possível deserção dos homens, na Bahia (LAPA, 2000, p. 221). Aliás, da nau São Paulo, segundo Henrique Dias, durante a permanência do navio na Bahia, ficaram homens (do serviço da Coroa), “para irem descobrir o rio do Ouro, aonde então o governador mandava um capitão” (1998, p. 205). Pode-se observar uma clara deserção. A Coroa portuguesa considerava inconvenientes as deserções durante invernadas dos navios ou até mesmo em curtas estadias no Brasil, porque não aceitava a possibilidade de ficarem na região os homens para o serviço militar na Índia ou marinheiros. É claro que houve casos em que navios da rota da Índia por não conseguirem seguir ao Cabo da Boa Esperança retornaram a Lisboa, não indo ao Brasil. Da armada de Matias de Albuquerque composta de cinco navios a qual partiu de Lisboa em 1590, quatro retornaram ao Reino, apenas o do capitão conseguiu seguir viagem: “As outras quatro arribaram todas ao Reino, por contraste que tiveram”, como está no códice anônimo da British Library (1989, p. 48). Respeitante ao regresso a Portugal, como a Carreira da Índia era realizada mais para a comercialização – comprar mercadorias orientais na Índia e trazê-las para Lisboa e daí vender à Europa e às vezes para as colônias, a Coroa portuguesa temia a ocorrência de contrabando durante a permanência dos navios no Brasil. É escusado comentar que houve contrabando durante a permanência de navio no porto de Salvador. Era proibida a comercialização direta de produtos transportados por navios da rota da Índia com o Brasil, especificamente com a Bahia. (LAPA, Ibid., p. 229). __________ 5 Cf. “Regimento da nau S. Pantalião”. In Artur Teodoro de MATOS. Na rota da Índia: Estudos de História da Expansão Portuguesa. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1994, p. 178. Em conformidade com os interesses econômicos da Coroa, as mercadorias orientais transportadas pelos navios não poderiam ser vendidas em qualquer outra região. Elas deveriam ser levadas a Lisboa e dela sair, já pagos os direitos alfandegários. Assim, na lógica do rei de Portugal, no tempo em que o navio permanecesse no Brasil, poderia haver descaminhos de mercadorias orientais, o que constituía um dano à Fazenda da Coroa, uma vez que assim também não seriam pagos direitos alfandegários. Ademais, aportar no Brasil causava atrasos em relação à chegada ao Reino, como aconteceu com a nau do capitão João Soares a qual, retornando da Índia em 1600, foi reabastecer- se de água no Brasil e chegou a Lisboa mais tarde do que as demais naus. Como está na fonte Navios da Carreira da Índia (1497-1653), códice anônimo da British Library: “João Soares, à volta da Índia, por escorrer a ilha de Santa Helena, foi fazer aguada ao Brasil, e chegou a Lisboa em Novembro, havendo chegado as outras todas em Agosto” (1989, p. 54). O padre Afonso Gaspar afirmou atrás que para certas arribadas “a necessidade não tem lei”. Isso está ligado ao fato de que mesmo havendo proibição real para a ida à Bahia por navios em viagem à Índia, às vezes era impossível não realizá-la em prol da salvação dos viajantes, sobretudo se o barco apresentasse dano em elementos essenciais para o prosseguimento da viagem, como no leme, velame, mastro ou houvesse muita infiltração, o que exigiria reparos o mais rápido possível para não haver naufrágio. Nestas circunstâncias, a Coroa autorizava arribadas, desde que fossem devidamente registradas pelo escrivão de bordo, com a assinatura do capitão, piloto ou mestre6. Melchior Estácio do Amaral, ao narrar a batalha do galeão Santiago com holandeses, ocorrida em 1602 na ilha de Santa Helena, reivindica esta ilha ao domínio exclusivo de Portugal, reivindicação essa apoiada, principalmente, no direito pelo descobrimento (o discurso de legitimação escrito por Amaral será observado no capítulo II). Isso porque também estava em questão a disputa entre portugueses e holandeses pela ilha de Santa Helena (é claro também por outras regiões ultramarinas na Ásia, África e Brasil). Em virtude disso e do fato de a ilha de Santa Helena ser uma das escalas do Atlântico para navios da Carreira da Índia mencionada consideravelmente na História Trágico-Marítima, faço aqui algumas considerações sobre a ilha de Santa Helena. _______________ 6 Para informações acerca das implicações que as escalas de navios da Carreira da Índia provocavam na sociedade de Salvador, consultar o livro: José Roberto do Amaral LAPA. A Bahia e a carreira da Índia. Ed. fac-similada. São Paulo: Hucitec, Unicamp, 2000. Para o comentário, utilizo também a fonte Viagem de Francisco Pyrard, de Laval [...], que é contemporânea a Amaral. O francês Pyrard, de Laval permaneceu em Goa de 1608 a 1610 e regressou à Europa neste último ano a bordo de uma nau da Carreira da Índia – Nossa Senhora de Jesus. Depois de dobrar o Cabo da Boa Esperança, esta nau tocou a ilha de Santa Helena, como era de hábito. Por causa disso, Laval fez algumas considerações sobre a referida ilha. Localizada no meio do Atlântico Sul, a ilha de Santa Helena foi descoberta7 em 1502, durante a viagem de regresso da terceira frota enviada à Índia, cujo capitão-mor era João da Nova. A ilha era desabitada. Segundo João de Barros, o capitão João da Nova e os demais viajantes abasteceram-se de água nela (1945, vol. I, p.184). A partir de então a referida ilha tornou-se uma escala para navios da Carreira da Índia, na viagem de regresso da Ásia. Tendo em vista a boa localização e satisfatório ancoradouro da ilha de Santa Helena para escala, os portugueses trataram de introduzir nela várias espécies de animais, como galinha, porco, cabra, perdiz, etc. Na referida ilha podia-se encontrar também diversas espécies de vegetais, como também limoeiros, laranjeiras, limeiras, cujos frutos, aliás, eram eficientes à cura da doença escorbuto, pois eles são ricos em vitamina C, como hoje se sabe. Além disso, em obediência à sua religiosidade, os portugueses construíram em Santa Helena uma capela, na qual se realizava missa e outras atividades religiosas no tempo em que os viajantes permaneciam ali, provendo-se do necessário para o prosseguimento da viagem a Portugal. Entretanto, quando começaram a aportar na ilha de Santa Helena, no último quartel do século XVI, os holandeses promoveram destruição nela, cortando árvores, matando animais e fazendo estragos na capela. Francisco Pyrard, de Laval ficou surpreso ao ver a destruição que eles fizeram nas árvores e na capela da ilha, quando a nau em que ele viajava, Nossa Senhora de Jesus, ancorara ali, em 1610. A surpresa dele é maior em relação à capela, porque ela estava bem conservada (nove anos antes), em 1601, quando ele passara pela ilha de Santa Helena. ________________ 7 Discutindo também sobre a polissemia do termo descobrimento, o historiador Vitorino Magalhães Godinho salienta que a descoberta pelos portugueses da ilha de Santa Helena (e de outras regiões), situa-se no sentido pleno do referido termo. Isso devido ao fato de a ilha ser deserta; não haver, por parte dos portugueses, informação ou conhecimento prévio sobre a existência dela; e ao fato de que os portugueses conseguiram regressar a Portugal e depois irem à ilha, enfim, ao fato de eles terem conseguido dominar a rota. Para o autor, este último ponto é muito importante. “O regresso é evidentemente a chave mestra do descobrir”. (1998, pp. 62-68). Francisco Pyrard, de Laval, então, descreve a situação em que se encontrava a capela, em 1601: “... Esta capela estava mui bem ornada de um bom altar e de belas imagens e painéis, e no alto do frontispício tinha uma bela e grande cruz de pedra de cantaria, branca como mármore, e bem fabricada, que os portugueses haviam trazido de Portugal.” (1944, vol. II, p. 217). Segundo Laval, os holandeses estavam se vingando do fato de os portugueses terem também destruído as imagens, papéis e painéis que eles haviam deixado na ilha de Santa Helena. Observa-se a intolerância religiosa recíproca e as atitudes de ambas as partes repousavam numa disputa pela ilha. Tanto Pyrard, de Laval quanto Amaral afirmam que a ilha de Santa Helena era desabitada. Segundo Laval, o rei de Portugal (e da Espanha) não queria povoar com pessoas a referida ilha (especificamente no tempo dos dois primeiros filipes), porque temia que os povoadores reclamassem o domínio sobre ela. Além disso, a povoação da ilha traria outros inconvenientes: “... incomodaria muito os pobres navegantes fatigados do mar, que não achariam coisa alguma para se refrescar e restaurar, ou [os povoadores] lhe venderiam bem caro o que houvesse, e assim seriam obrigados a deixar ali uma parte dos lucros da sua viagem”. (Idem. Ibid., p. 220-221). Os navios aportavam na ilha de Santa Helena quase que exclusivamente na viagem de regresso da Ásia. Na viagem de ida, em virtude do roteiro seguido, tornava-se difícil escalar Santa Helena, uma vez que os navios faziam a “volta da terra” (como já foi comentado atrás), em demanda do Cabo da Boa Esperança, o que, conseqüentemente, os distanciava dela. Além disso, caso tentassem ir à ilha, seria perigoso por causa dos ventos contrários. Mas, por outro lado, os navios de regresso nem sempre, ao demandar a referida ilha, conseguiam encontrá-la; alguns erravam o percurso e iam reabastecer-se de água em outro local, como no Brasil. Em uma Relação de armadas da Índia existem algumas referências sobre este assunto. Entre outros casos, o capitão-mor Bernardim Ribeiro Pacheco, a bordo da nau Madre de Deus, em 1589, não conseguiu acertar a ilha de Santa Helena, e foi reabastecer-se de água no Brasil8. __________ 8 Cf. “Navios da Carreira da Índia (1497-1653), códice anônimo da British Library.” In: Luís de ALBUQUERQUE. Relações da Carreira da Índia. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 47. Cotejei esta com outra fonte presente nesta mesma obra, que também traz uma relação de armadas que partiram à Índia: “Governadores da Índia”, do padre Manuel Xavier. O nome original da primeira fonte é: “Relação das Náos e Armadas da Índia, com os Sucessos Dellas Que Se Puderam Saber, para Noticia e Instrucção dos Curiozos, e Amantes da História da Índia.”. Os viajantes escalavam a ilha de Santa Helena para o reabastecimento de água doce, de alimentos frescos, como pescado, para a obtenção de lenha, fazer reparos nos barcos e às vezes esperar outros navios da armada para juntos seguirem a Portugal. Além disso, era o local onde também se abandonavam os doentes mais graves (GUERREIRO, 1998, p. 426; RAMOS, 2004, p. 88). Segundo Laval, os holandeses passaram a fazer o mesmo na ilha de Santa Helena, quando aportavam nela (LAVAL, 1944, vol. II, p. 220). A necessidade de água era a motivação mais apresentada para seguir à ilha de Santa Helena. São reveladoras as palavras de João de Barros sobre a importância da ilha de Santa Helena para a navegação da Carreira da Índia: A qual ilha parece que a criou Deus, naquele lugar para dár vida a quantos homens vêem da India, porque depois que foi achada até hoje, tôdos trabalham de a tomar por terem melhor aguáda de tôda esta carreira, ao menos a mais necessária que se toma, quando vêem da Índia. E tanto que as naus, que ali vêem ter, se dão por salvas e navegadas, pela necessidade que elas trazem pelo muito refresco que nela acham... (1945, vol. I, p. 184-185). É enfatizada a grande carência de água a bordo dos navios da Carreira. O percurso era muito longo. Nas melhores condições, as viagens demoravam de seis a sete meses (mas sem escalas demoradas). A referida ilha era uma escala quase obrigatória. Amaral afirma que para os navios de retorno da Ásia, Santa Helena era considerada uma ilha “tão deleitosa” (1998, p. 497), devido à ânsia dos navegadores para saciar a sede. A sede em naus da Rota do Cabo tornava-se mais intensa em virtude também do consumo de alimentos salgados, como peixe e carne. Quando não frescos, os peixes, por exemplo, eram conservados em salmoura ou salgados e secos ao sol, o que assim logicamente favorecia a sede. Nos primeiros 30 anos de administração filipina, a Coroa recomendava aos capitães de navio que aportassem na ilha de Santa Helena, sobretudo para esperarem os demais navios da armada (caso tivessem partido da Índia em companhia), a fim de seguirem juntos a Portugal, principalmente pela costa dos Açores, onde (como se observará no próximo capítulo) normalmente havia corsários ingleses. Um exemplo mais próximo é o galeão Santiago, que recebeu ordem para escalar Santa Helena e esperar os demais navios de sua companhia, a batalha dele com os holandeses é narrada por Amaral. Recomendações similares a estas são claramente expressas por Filipe I para o capitão da nau S. Pantalião, Álvaro Rodrigues de Távora, em viagem deste para a Índia, em 1592. Na viagem de regresso, Távora deveria fazer o seguinte na ilha de Santa Helena: E na dita ylha esperareis pelas naos de vossa companhia que ynda não forem chegadas ate vinte de Mayo que he o tempo que por meu regimento mando que esperem as naos humas por outras na dita ylha. E della vos vireis embora em conserva [em companhia] com as mesmas naos e navegareis com vossa gente apercebida ate este Reino como vedes que cumpre de maneira que em nenhuma parte da viagem em que vos encontrardes com alguns navios de cossairos vos acheis desapercebido.9 Assim, o governo português, quando não tinha notícia da ida de europeus (como holandeses e ingleses) para Santa Helena, tendia a recomendar aos capitães de navios que aportassem na ilha, para o reagrupamento da armada. Mas antes de avistar a ilha, os navegadores deveriam estar com a artilharia preparada para guerra. Ao tocar em Santa Helena, os navios não deveriam demorar muito, pois além da possibilidade de ser atacados por corsários, havia a questão comercial, já que saíam da Índia para Portugal transportando mercadorias de alto valor para a Coroa e para outros envolvidos10. Se algum navio saísse de Santa Helena sem a companhia de outros, ele deveria seguir com a artilharia preparada para guerra. Entretanto, quando possuía informação sobre a ida de corsários para Santa Helena, a Coroa recomendava que os navios não fossem a ela, eles deveriam seguir rota batida, ou seja, prosseguir sem aportar na ilha. Caso houvesse muita necessidade de reabastecimento de água, às vezes o rei concedia liberdade para eles irem a outro porto, como, por exemplo, São Paulo de Luanda, embora este não estivesse isento corsários europeus. A nau Chagas, por exemplo, devido à ordem régia, não escalou a ilha de Santa Helena depois de dobrar o Cabo, em 1594, mas sim o porto de São Paulo de Luanda. _______________ 9 Cf. “Instrução particular de D. Filipe I para Álvaro Rodrigues de Távora capitão da nau S. Pantalião”. In Artur Teodoro de MATOS. Na rota da Índia: Estudos de História da Expansão Portuguesa. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1994, p. 159. 10 Como expressou Fernando Castelo Branco: “A chegada ao porto de Lisboa dos navios da carreira da Índia não representava apenas o finalizar dessa viagem. Significava terem chegado a salvo aqueles que do Oriente retornavam e com ansiedade e angústia eram aguardados. Significava para os particulares e para o erário régio avultados lucros, a incorporação de grandes riquezas nos seus patrimónios, o que tanto representava para ambos, em suma, para a economia nacional”. (1998, p.752). 1.2 “Homens de armas” à Índia O historiador Matthew Restall, em sua elucidativa obra Sete mitos da conquista espanhola, desmonta o mito de que os espanhóis liderados por Hernan Cortés e Francisco Pizarro na “conquista” do México e do Peru eram soldados enviados pelo rei da Espanha. Eles, na visão do autor, constituíam um “bando diversificado de indivíduos” (2006, p. 69). Aqui nos interessam as considerações que o autor dá sobre o termo “soldado” para a primeira metade do século XVI. Esclarece Restall que, nas fontes espanholas escritas nas décadas de 20 e 30 do referido século, não aparece a terminologia “soldado”, sobretudo para designar os espanhóis participantes da “conquista” do México e do Peru. Mas sim em fontes espanholas produzidas na segunda metade do século XVI em diante. Em suas cartas escritas na década de 20 do referido século e endereçadas ao rei Carlos V, Cortés, por exemplo, não denomina seus homens com o termo “soldado”, mas “peões” ou “homens a pé”. Entretanto, Bernal Diaz, que participou junto com Cortés na “conquista” do México, designa seus companheiros de “soldados”. A explicação para isto é simples: Bernal Diaz escreveu já na velhice, concluindo o seu texto (ver Fontes, p. 147) na década de setenta do século XVI, portanto, já era corrente o termo “soldado” para denominar os espanhóis da “conquista” do México. Restall diz assim: “A paulatina adoção da denominação soldado no final do século XVI – acompanhada imediatamente pela consolidação da premissa de que os primeiros conquistadores eram soldados – estava relacionada a mudanças mais amplas do estilo europeu de guerrear.” (Ibid., p. 71, o grifo é do próprio autor). No caso dos portugueses, este fato não fica de fora. Em fontes portuguesas que disponho, as quais foram escritas nos primeiros trinta anos do século XVI, não há referências ao termo “soldado” para designar os homens que se embarcaram à Índia nesse período. Nelas aparecem: “Homens de armas”, “gente de arma” e “homens de peleja” 11. _______________ 11 Cf. Afonso de ALBUQUERQUE. Cartas para El-rei D. Manuel I. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1942. Seleção, prefácio e notas de António Baião; Luís de ALBUQUERQUE. (ed.) Crônica do descobrimento e primeiras conquistas da Índia pelos portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986; Luís de ALBUQUERQUE e Francisco Contente DOMINGUES (Orgs.). Grandes viagens marítimas. Lisboa: Publicações Alfa, 1989; Álvaro VELHO. O descobrimento das Índias: o diário da viagem de Vasco da Gama. Introdução, notas e comentários finais de Eduardo Bueno. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998; António da Silva REGO. Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente, Índia (1499-1522). Lisboa: Fundação Oriente: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1991. Vol. I; vários dos documentos da obra, Janaína AMADO e Luís Carlos FIGUEIREDO (Orgs.). Brasil 1500: quarenta documentos. Brasília: Editora Universidade Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001. Mas em fontes portuguesas da segunda metade do século XVI em diante, já se verifica a utilização do termo “soldado” para os homens que seguiam viagem à Índia, no serviço militar. Porém, ainda assim este termo é indistinto, generalizante. Ele era aplicado também a adolescentes que nunca haviam pegado em arma ou mesmo a adultos, de mesma situação; bastava que se embarcassem à Índia para o serviço militar. Para o início do século XVII, o termo soldado é assim explicado pelo historiador Anthony Disney: “O termo ‘soldado’ aplicava-se não só aos soldados europeus provenientes de Lisboa mas também a todos os portugueses solteiros residentes em território asiático e aptos a pegar em armas, sendo também extensivo aos euro-asiáticos lusitanizados de condição idêntica.”. (1981, p. 33). Portanto, neste presente trabalho o termo “soldado” aparece exclusivamente para os homens da segunda metade do século XVI, que se embarcaram à Índia. Às vezes, uso também um dos conceitos atrás: “Homens de armas”... .E, por fim, a definição do autor Restall, “bando diversificado de indivíduos”, usada para os espanhóis que vieram à América nas primeiras décadas do século XVI, pode ser aplicada sem nenhum problema aos portugueses que foram servir militarmente na Índia, no século XVI. A presença portuguesa na Índia logo de início mostrou-se um cunho militar e conseqüentemente a Carreira da Índia. Como se sabe, após o regresso de Vasco da Gama em 1499, os portugueses perceberam que não seria fácil penetrar no comércio asiático, especificamente com a cidade de Calicute, onde desde séculos havia estruturada toda uma rede comercial com a rota do Estreito do Mar Roxo e Golfo Pérsico, sendo que mercadores, principalmente muçulmanos, mantinham um papel de destaque nesse comércio. Em virtude também do fato de os portugueses da armada de Gama (1497-1499) terem sentido forte resistência em Calicute e não haverem conseguido comercializar como desejavam, o rei D. Manuel I enviou à Índia uma poderosa armada de 13 navios e aproximadamente 1500 homens, como é de consenso atualmente entre numerosos especialistas no assunto Amado e Figueiredo (2001), Fonseca (2001), etc. Dos cronistas oficiais sobre a expansão portuguesa à Ásia (Castanheda, Gaspar Correia e Damião de Góis), João de Barros é o que acentua bem o cunho militar de que se revestiu a armada cabralina, bem como um aspecto pedagógico para ela, frente aos indianos. Após dizer que a situação vivida por Gama na Índia demonstrou aos portugueses que “mais havia de obrar nêles [indianos] temor de ármas, que amor de bôas óbras”, Barros deixa claro outras razões para a ida de uma poderosa armada ao Oriente: Finalmente assentou el-rei que, emquanto o negócio de si não dava outro conselho, o mais seguro e melhor era ir logo poder de naus e gente, porque nesta primeira vista que sua armada desse áquelas partes, que já ao tempo de sua chegada tôda a terra havia de estar posta em ármas contra ela, convinha mostrar-se mui poderosa em armas, e em gente luzida. Das quais duas cousas, os moradores daquelas partes podiam conjecturar, que o reino de Portugal era mui poderoso para proseguir esta empresa, e a outra, vendo gente luzida, a riqueza dêle quão proveitoso lhe seria terem sua amizade. (1945, vol. I, p. 101-102). Comentários sobre a armada cabralina na Índia serão feitos no capitulo II. Com a ida das primeiras esquadras à Índia, estabeleceram-se ali feitorias portuguesas costeiras, precisamente nas regiões com as quais os portugueses fizeram alianças, como inicialmente Cochim, Cananor e Coulão. Sobre as feitorias, assim diz Vitorino Magalhães Godinho: “A presença dessas feitorias levanta a hostilidade feroz dos ‘mouros de Meca’; havia, por tal razão, que protegê-las com fortalezas e esquadras permanentes: numa palavra, que instalar o Estado português na Índia” (GODINHO, 1982, vol. III, p. 8). João de Barros nos diz que a ida de D. Francisco de Almeida à Índia, em 1505, como primeiro vice-rei dela (ou melhor, o estabelecimento do Estado português na região), teve envolvimento com “duas cousas que o descobrimento dela tinha dado”, a saber: “A uma era guerra com os mouros, e a outra o comércio com os gentios.”. (1945, vol. II, p. 79). Assim, o Estado da Índia foi, em grande medida, um empreendimento militar. O “Estado da Índia é o aparelho oficial português de comércio e de guerra nos mares e litorais da Ásia ao serviço da Coroa de Lisboa” (BARRETO, 2000, p. 40). Mas para viabilizar a presença portuguesa com segurança na Índia (Ásia), assegurar o controle sobre as rotas das especiarias, era preciso fundamentalmente a existência de muitos homens armados e de preferência experientes na guerra, embora nem sempre isso tenha sido possível. Assim, para o envio do número de homens considerado satisfatório para servir militarmente ali, especificamente na Índia, a Coroa portuguesa encontrou no recrutamento a opção mais viável. Em um documento de 1510, o rei de Portugal D. Manuel I convida homens para embarcarem-se à Índia na armada de 1511 e servirem com suas armas nos serviços que lhes fossem recomendados pelo capitão-mor. Os homens teriam como forma de pagamento 500 réis por mês, alimentação e a liberdade de comprar algumas mercadorias, como aljôfar, pedraria, panos de seda, almíscar, porcelanas, etc., com exceção de especiarias, drogas, lacre, tintas e anil. Mas dos produtos liberados, os homens deveriam comprar apenas um quintal (60 quilos aproximadamente). Eles teriam também isenção de impostos, tanto na Índia como no Reino, entre outras formas de recompensas 12. Houve situações em que se recorreu a presos para completar o efetivo militar à Índia. Segundo João de Barros, para a armada de Tristão da Cunha, que partiu para a Índia em 1506, havia quantidade de homens considerada insuficiente, em virtude da peste que então assolava Lisboa13, de modo que atacou os que seguiriam viagem, morrendo dezenas deles. Como alternativa o rei D. Manuel I mandou libertar vários presos para seguirem na armada, os quais estavam condenados a cumprir degredo em terras além-mar. Ainda assim, com doenças contagiosas, a armada partiu, mas em Cabo Verde deixou vários defuntos. Precisava-se de uma quantidade considerável de homens, também, porque havia duas armadas para seguir no mesmo ano, a saber, uma capitaneada por Tristão da Cunha, para retornar com a carga da Índia; e outra para seguir à costa da Arábia, cujo capitão-mor era Afonso de Albuquerque. (BARROS, 1945, vol. II, p. 187-190) Além disso, à Índia, durante o século XVI, não somente iam homens adultos para servir, mas também meninos, para ali habitar, sendo que alguns se tornavam soldados (COUTO, 1988, p. 124). Inclusive, em três narrativas de naufrágio da História Trágico-Marítima é mencionada a ida de meninos para a Índia: Nas naus São Paulo (DIAS, 1998, p. 200), Santiago (CARDOSO, 1998, p. 301) e São Francisco (AFONSO, 1998, p. 431). No início da penetração portuguesa na Índia, devido também à escassez de mulheres brancas européias que se embarcavam, houve um sistemático processo de casamentos de portugueses com mulheres da região, como mouras, malabares, canarins, etc., realizado na própria região. Este ato de início foi recomendado pelo rei D. Manuel I, sendo Afonso de Albuquerque o encarregado de promover os casamentos. Os homens que se casavam e então passavam a residir na Índia eram denominados casados, o que incluía também fidalgos. É certo que, quando não houve casamento, os homens se amasiavam com mulheres nativas, vivendo com elas. _______________ 12 Cf. “Liberdades e franquezas para as pessoas que desejassem ir para a Índia”. In: António da Silva REGO. Documentação para a história das missões do padroado português no Oriente, Índia (1499-1522). Lisboa: Fundação Oriente e Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1991, Vol. I, pp. 91-93. 13 Ver também Luís de ALBUQUERQUE. (ed.) Crônica do descobrimento e primeiras conquistas da Índia pelos portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986, p. 281. Vários portugueses recém-chegados à Índia também se amancebavam com suas escravas. Como conseqüência imediata do relacionamento sexual de portugueses com mulheres indianas, houve o surgimento de muitos mestiços. Os relacionamentos amorosos de portugueses com mulheres da Índia continuaram posteriormente. A justificativa de que os portugueses na Ásia, especificamente na Índia, estavam cercados de inimigos e que por isso era necessária a ida de muitos homens para atuarem militarmente ali, é presente em fontes portuguesas oficiais e particulares do século XVI, sobretudo de autoria de português que passou algum tempo na região. No início do século XVI, o célebre Afonso de Albuquerque – capitão dos portugueses na conquista das três bases centrais da Ásia Portuguesa, Goa, Malaca e Ormuz – foi um entusiasta nesta questão. Algumas de suas cartas enviadas ao rei D. Manuel I constituem, em certa medida, manuais de guerra. Nessas correspondências, o capitão português sugere normas para a conquista da Índia, para manter o domínio português, assegurar a presença portuguesa ali. Essas normas repousam eminentemente na guerra, na ênfase a um ideal de superioridade militar portuguesa na Índia. Ele faz mesmo apologia à prática da guerra. Assim, em uma de suas cartas de 1512, Albuquerque recomenda a D. Manuel I: “Guardai-vos, Senhor, de conselhos de homens a que a guerra enfada...”. (1942, p. 58). Ademais, é freqüente em algumas de suas cartas a opinião de que o rei manteria o domínio sobre a Índia, fundamentalmente através da existência de muitos homens armados, fortalezas localizadas em pontos estratégicos e obstaculizando a comercialização dos “mouros”. Nesse sentido, veja-se um trecho de outra carta sua enviada ao rei de Portugal D. Manuel I, em 1512: Digo Senhor, que aquenteis o feito da Índia mui grossamente com gente e armas, e que vos façais forte nela e segureis vossos tratos [transações comerciais] e vossas feitorias, e que arranqueis as riquezas da Índia e trato das mãos dos mouros, e isto com boas fortalezas, ganhando os lugares principais deste negócio aos mouros, e tirar-vos-eis de grandes despesas, e segurareis vosso estado da Índia, e havereis todo o bem e riquezas que nela há, e seja com tempo. (1942, p. 22-23). O estabelecimento de fortalezas na Índia, proposto por Albuquerque, seria para os portugueses se defenderem de seus “inimigos” externos – notadamente “mouros” –, bem como dos líderes das regiões aliadas, caso houvesse necessidade, já que estes últimos eram vistos pelo capitão português como não completamente confiáveis. De fato, foram estabelecidas diversas fortalezas portuguesas na Índia. Para garantir a viabilidade e segurança da comercialização portuguesa na região era mister também lançar mão da prática da guerra, como ele diz em 1512: “Dos lugares onde houver mercadoria e dos mouros mercadores não podemos haver pedraria nem especiaria por bem, e se a queremos por força e contra suas vontades, há mister fazer-lhe a guerra...” (1942, p. 33). Mais especificamente para as primeiras décadas do século XVI, o envio de armadas à Ásia, prestava-se, na lógica portuguesa, a três finalidades principais: quebrar o comércio dos mercadores mulçumanos, sobretudo daqueles que estivessem navegando para o Estreito do Mar Roxo, ou seja, fechar a Rota do Mar Vermelho para os produtos exportados da Ásia, principalmente por “mouros de Meca”; proteger as feitorias e fortalezas portuguesas (e “conquistar” mais bases); dar alguma proteção militar às regiões aliadas, como Cochim, Cananor, Coulão, etc. contra o domínio do Samorim de Calicute e dos mulçumanos (a aliança de Cochim com os portugueses, na época de Cabral, será comentada no capítulo II deste trabalho). Em vista do aspecto comercial e militar que envolveu a presença portuguesa, especificamente na Índia, o ideal passou a ser, no início do século XVI, organizar armadas com número de navios suficiente para que uns fossem e retornassem com a carga e outros ficassem para a guerra, tanto na costa da Índia quanto na entrada do Estreito do Mar Roxo. Em meados do século XVI, o célebre governador da Índia, D. João de Castro, foi mais um dos governadores que realçou um caráter militar para a Índia Portuguesa. Diante da questão se era conveniente construir uma fortaleza portuguesa na ilha de Perim, nas “Portas do Estreito”, a fim de impedir a passagem dos turcos, D. João de Castro recomendou ao rei D. João III o que devia realmente ser feito em prol de garantir a permanência portuguesa na Índia: A guarda e fortaleza com que V. A. há-de sustentar e acrescentar seu estado e ter a Índia pacífica é uma grossa e bem aparelhada armada e 3000 homens disciplinados na guerra, que possam entrar nela quando cumprir; e desta maneira, e não de outra alguma, estará a Índia segura de nossos contrários. (1989, p. 9-10). Além da existência de muitos homens armados para atuarem na Índia Portuguesa e defendê-la dos “inimigos”, Castro, um pouco à semelhança do primeiro vice-rei da Índia D. Francisco de Almeida, pregou também a superioridade naval portuguesa no Índico. Em outra passagem, D. João de Castro deixa bem claro isto ao rei de Portugal D. João III: “E para autoridade e reputação do nosso poder é necessário muito número de velas; porque a muita armada espanta e fere os inimigos, e aos amigos dá ousadia, e a pouca não é estimada dos contrários, nem dá ânimo aos que vão nela pelejar” (1989, p. 50). A armada não deveria ser composta por qualquer navio, como os que, comumente, eram utilizados pelos portugueses nas águas do Índico, fustas e galés – barcos de pequeno porte. Castro pregava a supremacia de navios de alto bordo e mais próprios para a prática da guerra, como galeões, naus e, em terceiro lugar, caravelas. Respeitante ao aspecto militar, o seu governo (1545-1548) foi marcado, basicamente, pelo Segundo Cerco de Diu, em 1546. Às invasões feitas por “inimigos” às suas fortalezas, os portugueses davam o nome cercos. A principal fortaleza portuguesa localizada em Diu (região do norte da Índia), cujo capitão era D. João Mascarenhas, foi invadida pelos turcos de Cambaia, em 1546, os quais investiram também contra dois baluartes portugueses – S. Thomé e S. Jorge. O português Leonardo Nunes (participante do combate), em sua Crônica de D. João de Castro, assim descreve Diu: “Era a cidade de Diu muito formosa e do tamanho da cidade do Porto, cercada de muitos altos muros e torres e baluartes e fortes couraças, assim da parte do rio como da do mar e da fronteira da terra”. (1989, p. 23). O objetivo principal dos turcos era, num primeiro momento, apoderar-se de Diu e expulsar os portugueses dali. Dentre os motivos imediatos para o cerco à fortaleza portuguesa de Diu, estão a reivindicação dos turcos à livre navegação de seus barcos pelo Índico, sem terem que possuir cartazes (o conceito deste termo será observado mais oportunamente no capítulo II) portugueses e a mesma liberdade para os navios de Meca. Tais reivindicações não foram aceitas pelos portugueses, e então se deflagrou a guerra entre ambos (NUNES, Ibid., p. 30). É nessa circunstância que se necessitou de um número considerável de homens de armas para expulsar de Diu os turcos e impedir que os mesmos se apoderassem do restante das fortalezas portuguesas na Índia. Porém, as naus do Reino, que transportavam homens para guerra, chegaram com atraso, e, embora estes tenham participado do conflito, não foram suficientes para fazer com que o combate ficasse em igualdade com o número dos turcos. Antes da chegada das naus do Reino, cujo capitão-mor era D. Lourenço Pires de Távora, D. João de Castro fez o procedimento comum em tais horas, ou seja, o recrutamento de homens, ainda que com dificuldade. Dos que se lançou mão para a guerra em Diu, Castro menciona apenas os lascarins, que eram os homens de armas da Índia. Mas por meio de outra fonte podemos saber alguns dos demais que participaram do combate, como os habituais escravos (não exclusivamente negros), os canarins e os naires, como nos diz o cronista Diogo do Couto, em sua Década VI (1947, p. 5 e p. 139). No combate com os turcos, os portugueses receberam ajuda de regiões que eram suas aliadas, como, principalmente, Cochim e Cananor. Os portugueses conseguiram a vitória. No conflito, morreram centenas de homens, principalmente turcos. Entre estes, os principais líderes, a saber, Coge Sofar, Juzarcão, Rumecão e os portugueses aprisionaram outro líder, Juzarcão (irmão, de mesmo nome, do que morreu). Do lado dos portugueses, foi morto também um dos filhos de D. João de Castro: D. Fernando de Castro. A vitória foi considerada pelos portugueses um grande feito e surpreendente (fruto da ajuda de Deus), uma vez que os rivais turcos eram poderosos, estavam em número considerável e dispunham de armas de fogo. Couto definiu-a de “espantosa vitória” (Ibid., p. 312). D. João de Castro, por sua vez, qualificou-a de “a maior que se viu em todo o Oriente” (1989, p. 85). Por fim, o Segundo Cerco de Diu revelou a dificuldade dos portugueses da administração de conseguir o número de homens que se considerava suficiente para o serviço militar, sem embargo de os portugueses terem vencido. Ao mesmo tempo contribuiu para reforçar no imaginário português a crença (portuguesa) de que a Índia Portuguesa era uma região cercada de inimigos, que a qualquer momento seria atacada, e por isso era imprescindível manter ali um efetivo militar potente em homens e navios. Em seu texto Reformação da milícia e governo do Estado da Índia Oriental, de 1599 (COSTA LOBO, 1987, p. 16-262), o soldado Francisco Rodrigues Silveira em vários momentos também deixa claro o aspecto militar para a presença portuguesa na Índia (Ásia). E Diogo do Couto, por sua vez, na obra O soldado prático (1612), considera a Índia Portuguesa uma terra que urge pela existência de muitos homens armados e experientes na guerra, a fim de que ela fique protegida dos “inimigos”. Ele a define assim no começo do século XVII: “... Uma terra rodeada de inimigos, que nos desejam beber o sangue, e na qual não houvera de haver senão escolas de armas, barreiras, soldadesca a ponto; por que os inimigos trouxessem sempre ante os olhos as armas portuguesas, para que sempre andassem temidos” (1988, p. 98) Comparando as duas fontes acima citadas com a fonte Viagem de Francisco Pyrard, de Laval [...], as quais são bem próximas temporalmente, podemos analisar e compreender algumas questões ligadas à ida de soldados à Índia, em fins do século XVI e princípio do seguinte. Nessa época era prática o vice-rei da Índia organizar armadas (na maior parte das vezes à custa do rei de Portugal) para navegar pela costa do Malabar, Kanara, Cabo Comorim e ao norte da Índia. Eram compostas normalmente por barcos de pequeno porte (galeota, galés, fusta, manchua, cartur). Essa prática tinha como finalidades: escoltar barcos portugueses que transportavam mercadorias de um porto a outro, já que corsários malabares atuavam no Índico Ocidental (do início do século XVII em diante, devia-se também tomar cuidado com navios europeus, como de holandeses, ingleses ou franceses); repelir piratas malabares que navegavam pelo Índico à espera de navios mercantes portugueses ou não; e por fim, fiscalizar a navegação do Índico, para verificar se navios de “mouros” ou de “gentios” estavam navegando sem portarem cartaz português. As três fontes situam-se num contexto histórico em que os portugueses desenvolviam a prática comercial com regiões a leste do Cabo Comorim (cabo do sul da Índia): Golfo de Bengala, Malaca, ilhas do sueste asiático e Extremo Oriente. Assim, anualmente, organizavamse, em Goa, armadas para a escolta de barcos mercantes portugueses provenientes também dessas regiões. Dessa forma, requeria-se contingente de soldados para servir nessas armadas, para guarnecer as fortalezas portuguesas asiáticas e prestar socorro a alguma delas. Concernente à costa ocidental da Índia, os portugueses, nesse período, já tinham fortalezas estabelecidas em regiões como Goa, Cochim, Cananor, Coulão, Diu, Onor, Mangalor, Baçaim, Damão, Chaul, etc. E ainda em lugares como Moçambique, Malaca, Ceilão, Macau, Ormuz, só para citar alguns. Os homens que se embarcavam de Portugal à Índia para o serviço militar eram registrados na Casa da Índia em Lisboa, às vezes recebiam uma parte da paga, outras vezes eram pagos na Índia antes de seguirem nos barcos de escolta ou fiscalização. Pagava-se aos soldados, normalmente, o quartel, ou seja, a quarta parte do ordenado anual que eles recebiam ou deviam receber. É de considerar que vários dos homens que seguiam viagem para a Índia não possuíam experiência militar, sendo que a indisciplina e a desordem nas batalhas eram freqüentes. Isto é asperamente criticado e denunciado pelo soldado Francisco Rodrigues Silveira, o qual escreveu seu texto (atrás mencionado) visando a chamar a atenção das autoridades de Lisboa e de Madrid para a grande desordem e indisciplina militar que havia na Ásia, por parte, principalmente, dos “soldados” portugueses. Para ele, a Coroa manteria o domínio sobre a Índia e demais regiões asiáticas se houvesse ao menos ordem nas batalhas e soldados disciplinados na arte militar. Silveira voltou para Portugal no ano de 1598, em um navio da armada de D. Afonso de Noronha, armada essa, aliás, do ano do primeiro centenário da viagem pioneira de Vasco da Gama. É certo que muitos homens embarcaram rumo à Índia forçados pelo Estado Português. Como disse Pyrard, de Laval, mais especificamente para o começo do século XVII: “Se não se acha quem queira ir de própria vontade, fazem-nos ir por força, sem diferença de idade; e todos são matriculados na Casa da Índia [em Lisboa]...” (1944, vol. II, p. 91). Mas outra coisa também é certa: vários foram voluntariamente, na esperança de conseguir riquezas. A justificativa que dois autores das narrativas de naufrágio da História Trágico-Marítima (Perestrelo e Dias) dão para a sua ida à Índia repousa na questão pobreza: eles seguiram à Índia para fugir da pobreza. Perestrelo, que estava no galeão São Bento, quando este naufragou nas proximidades do Cabo de Boa Esperança em 1554, na viagem de regresso, afirma que, por fugir da pobreza, deixa-se “a Deus e o próximo, pátria, pais, irmãos, amigos, mulheres e filhos” (1998, p. 39). Henrique Dias, passageiro da nau São Paulo, a qual naufragou nas proximidades da ilha de Samatra em 1561, é igualmente adepto da justificativa pobreza para a viagem: “Assim, não nos contentamos com o que nos é dado e concedido por Deus, nos obriga nossa cobiça, deixar nossa amada pátria e lares próprios, tão desejados, só por fugirmos à pobreza” (1998, p. 221). Não é sem razão afirmar que isso estava ligado ao fato de que, no século XVI, havia em Portugal, miséria, pobres, mendigos, fome (logicamente para a ralé), assim como também doenças infecto-contagiosas (MICELI, 1998a, p. 43-45). As valorizadas mercadorias trazidas da Índia contribuíam ainda mais para a fama dela como região rica. O próprio Camões, em sua obra Os Lusíadas, apresenta esta imagem que então se tinha da Índia como região rica: “Já sois chegados, já tendes diante/ A terra de riqueza abundante!” (2006, p.186, Canto VII, 1). Tal fama era, em certos casos, um incentivo para seguir à Índia, na esperança de conseguir alguma riqueza. De fato, os valiosos produtos (especiarias, drogas, sedas, diamantes, etc.) levados da Índia pelas naus portuguesas, constituíam em certa medida um motivo a mais para seguir a essa região. O soldado português Francisco Rodrigues Silveira, que foi servir na Índia em 1585, também se sentira atraído pela idéia de conseguir alguma riqueza na região: Que como [os soldados] não têm noticia da Índia, julgando-a pelas coisas ricas que dela para estas partes [Portugal] se trazem, parece-lhes que, em chegando a pôr os pés em terra, não há mais que desejar [...], e assim se persuadem irem para terra riquíssima, aonde lhes hão de sobejar todas as coisas à vida humana (1987, p. 16). Muitos dos que saíam de Portugal para a Índia iam a serviço da Coroa seja na administração do Estado da Índia, seja no serviço militar ou ainda no serviço religioso, e vários acalentavam a esperança de conseguir riquezas participando também do comércio de produtos orientais. É de notar o que D. João de Castro diz em carta de 1547 ao rei D. João III acerca dos oficiais de justiça que iam servir na administração da Índia Portuguesa: “... Estes letrados que cá vêm como desembargadores entram tão mortos de fome e vivos na cobiça e desejosos de enriquecer que nenhuma outra tenção têm, nem a outro fito atiram.”. (1989, p. 109). Mais precisamente para o princípio do século XVII, o cronista Diogo do Couto denuncia que era comum um indivíduo assumir o cargo de capitão de fortaleza, com o desejo de, no fim, sair rico (1988, p. 24). De fato, a Índia era uma das regiões mais rica do mundo nesse período, centro para onde confluíam produtos valiosos provenientes de várias regiões asiáticas. D. João de Castro, em carta ao rei D. João III, deixa claro que havia fortalezas portuguesas lucrativas, tanto na Ásia como na África: V. A. tem muitas fortalezas nestas partes que verdadeiramente correm delas fontes de ouro, e este nome não é estranho, pois antigamente se chamava Malaca Áurea Quersoneso, e não estaria muito errado quem suspeitasse que Sofala seja Ofir, onde Salomão mandava carregar de ouro suas naus; e as outras fortalezas, se disserem eu não tenho ouro [...], pode-se-lhes pedir aquilo que em si tiverem, e darão canela, gengibre, cravo e toda a sorte de drogarias (1989, p. 11). A Índia oferecia sim possibilidade de enriquecimento em curto prazo, porém é importante lembrar que a riqueza não estava acessível a todos. Como deixou claro o historiador Sanjay Subrahmanyam: “Nos degraus inferiores da hierarquia figurava a grande maioria, a quem era bastante difícil em circunstâncias normais, o acesso à riqueza e ao aparelho oficial em cuja esteira vinha essa riqueza”. (1994, p. 157). Assim, nem todos os que saíam de Portugal para a Índia passavam a desfrutar das riquezas. Os homens a serviço da Coroa que possuíam maior possibilidade de enriquecimento na Índia eram vice-reis, governadores, capitães de fortaleza, ouvidores, oficiais da Fazenda Real, como vedores, provedores, feitores, etc. (Não desconsidero que algum indivíduo português, fora estes, podia acumular fortunas com o comércio, mas este assunto não constitui objeto de discussão aqui). As riquezas na Ásia Portuguesa, pois, estavam mais fácies, sobretudo para os três primeiros, ainda que na maior parte das vezes de maneira ilícita aos olhos da Coroa portuguesa. Aliás, boa parte dos administradores portugueses na Ásia, especificamente na Índia, eram desonestos, corruptos e estavam preocupados mais no enriquecimento em curto prazo do que assegurar os interesses econômicos da Coroa. Os honestos constituíram uma minoria. As denúncias de corrupção dos administradores portugueses e que, na Índia, os funcionários do rei estavam roubando-o, remontam ao início do século XVI, prosseguindo para todo este século. Para o princípio do XVII, a obra de Diogo do Couto, O soldado prático, está repleta de críticas a este respeito. Tanto Couto quanto o soldado Silveira são unânimes em dizer que vice-reis, oficiais, capitães de fortaleza e outros eram corruptos, não obedeciam ao regimento real e roubavam a Coroa. Nas cartas de D. João de Castro percebe-se que não houve nenhum problema em citar várias vezes as palavras “roubo” e “roubar”, para atos que os funcionários da Coroa faziam ao tesouro (“fazenda”) desta. O soldado português Francisco Rodrigues Silveira logo ao chegar à Índia, especificamente à Goa, foi desiludido diante das condições de pobreza em que se viu. Ele dá uma informação ilustrativa a respeito dos soldados desfavorecidos que chegavam a Goa: “Aquele que não leva dinheiro ou carta a algum amigo ou parente, logo aquela primeira noite, alberga pelos alpendres das igrejas ou dentro de algum navio dos que na ribeira estão varados, com tanta miséria e desventura” (COSTA LOBO, 1987, p 17). Mais adiante deixa claro o quão estava enganado: “Des[de] o primeiro dia que, com a vista e a experiência própria, me acabei de desenganar do grande erro em que até ali me trazia a fama das coisas da Índia, e fui enxergando [...] a confusão em que me havia metido” (Ibid., p. 192). Nesse período, segundo Pyrard, de Laval, era difícil para os soldados retornarem a Portugal, porque precisavam ter “licença e passaporte do vice-rei, o que eles mui dificilmente obtêm”, e, além disso, era necessário que possuíssem recursos financeiros para se sustentarem durante as viagens de retorno (1944, vol. II, p. 94). Vários se casavam na Índia e passavam a dedicar-se ao comércio. Nem todos os que saíam de Portugal e chegavam à Índia davam preferência ao serviço militar, mas à prática do comércio. Também por causa disso, a deserção de homens de arma foi um dado freqüente. D. João de Castro e Silveira afirmam que vários dos que iam para prestar serviço militar na Índia se dispersavam para regiões asiáticas, onde os portugueses comercializavam, como Coromandel, Malaca, China, Japão, Balagate, Ceilão, etc., e o pior é que vários acabavam morrendo. (1989, p. 128; COSTA LOBO, Ibid., p. 185). O envolvimento com a prática do comércio por vários homens portugueses depois da chegada à Índia era uma maneira também de tentar garantir a sobrevivência nessa ou em outras regiões asiáticas (Malaca, Bengala, Coromandel, etc.). A maior parte dos que iam para a Índia queria comercializar ali. A partir de meados do século XVI aumentaram discursos acusando vários homens de armas de tornarem-se mercadores, e por isso recebiam a designação depreciativa “chatim” (mercador). O envolvimento de portugueses, na Índia, com a mercancia dava espaço para reforçar a idéia contraditória reinante ali, sobretudo no final do século XVI e início do seguinte, de que os portugueses conquistaram a Índia como guerreiros, mas a perderão como mercadores. Diante disso, é bom lembrar que os portugueses das primeiras décadas do século XVI, como os homens de arma, na Índia, obviamente também comercializavam (BOXER, 1980, p. 62). O principal motivo que impulsionou a expansão portuguesa à Ásia foi a intenção comercial. A menção de que os portugueses (e mestiços) ali estavam mais interessados em comercializar do que pegar em armas é presente em fontes, sobretudo da segunda metade do século XVI em diante. Como diz D. João de Castro, para meados deste século: “Anda a gente da Índia tão fora da guerra e tão metida em mercadorias, tratos [transações comerciais] e onzenas14 que quase não a conheci, sem embargo de haver poucos anos que a deixara de ver e conversar”. (1989, p. 127-128). Tal prática não era vista com bons olhos pelos portugueses da administração, porque havia a “opinião corrente” de “que um comerciante a mais era um soldado a menos” (SUBRAHMANYAM, 1994, p. 43). Até mesmo os homens do mar, chegando à Índia, queriam comercializar (ou comercializavam), e por isso também passavam a ser denominados “chatins” (mercadores). Em se tratando de meados do século XVI em diante, além dos atrativos monetários que o comércio proporcionava, havia também outro fator que desencorajava seguir no serviço militar, participando das guerras no Malabar, na escolta de navios portugueses que transportassem mercadorias de um porto a outro ou na defesa de fortaleza: os salários (soldos) insatisfatórios (COSTA LOBO, 1987, p. 185; BOXER, 2002, p. 310). Além disso (também ocasionada pelos baixos soldos), a fome muitas vezes acompanhava os soldados nos navios em que atuavam ou nas guerras, sem falar nas péssimas condições higiênicas a bordo dos barcos. _________ 14 Reis Brasil, fazendo as notas do livro O soldado prático, nos diz que “onzena” referia-se à prática abusiva de juros altíssimos (COUTO, 1988, p. 113). Em virtude dos insatisfatórios pagamentos, alguns soldados acabavam se dispersando e passavam a servir para outras pessoas na Ásia. Como diz Francisco Silveira: “E muitos se põem por soldados em navios de chatins [mercadores asiáticos] aonde, posto que o soldo não seja tão honrado como o d’elrei, é mais proveitoso por ser melhor pago” (COSTA LOBO, 1987, p. 185). Mas é claro que, devido ao fato de a Carreira da Índia ter sido trágica, vários dos homens para o serviço militar morriam durante a viagem ou nos hospitais da Índia, o que foi mais outro motivo para a dificuldade dos administradores portugueses de juntar o efetivo satisfatório de “soldados” que então se requeria. Diante disso, termino este tópico analisando algumas das principais causas para mortalidade nas viagens de Portugal para a Índia, sobretudo aos “homens de armas”. Entretanto, para as causas de morte na viagem, no comentário seguinte, não serão considerados naufrágio e ataque de corsário. Estes serão vistos em outras partes deste trabalho. Nos navios da Carreira da Índia viajavam centenas de pessoas, as quais eram de diferentes estratos sociais: escravos, oficiais dos navios, marinheiros, fidalgos, padres, mercadores, homens de armas, degredados... .Essas pessoas freqüentemente estavam sujeitas a diferentes formas de doenças e várias morriam durante a viagem, ou ao chegar à Índia, principalmente os pobres. “... Comumente os que morrem nestas naus são os mesquinhos que vêm no convés mortos de fome e despidos ao sol e chuva e sereno da noite”, como nos lembra o narrador Cardoso (1998, p. 297). O francês Francisco Pyrard, de Laval, que viveu em Goa de 1608 a 1610, enfatiza o grande número de pessoas doentes nos navios da Carreira da Índia. Ele teve a experiência de ser tratado no hospital dessa região. Ao descrevê-lo, Pyrard, de Laval nos diz que era dividido em dois comportamentos, sendo que os doentes (quando não numerosos) ficavam no de cima. O hospital lotava quando chegavam naus de Portugal, o que requeria levar os doentes também para o compartimento de baixo. “Porque todos os doentes ficam em cima, e só os põem em baixo quando são muitos, o que acontece quando chegam as naus de Portugal.”. (LAVAL, 1944, vol. II, p. 10). Diga-se de passagem, quase todos os enfermos eram homens. Houve várias razões para a ocorrência de doenças a bordo das naus e a conseqüente morte de pessoas. Uma delas é o fato de que havia pessoas que se embarcavam doentes, tanto na ida à Ásia quando no regresso a Portugal, isso verificado desde o início do século XVI. Nessa circunstância, a existência de doença infecto-contagiosa a bordo, aliada às péssimas condições higiênico-sanitárias, contribuía para a proliferação de enfermidades entre os demais viajantes. Além disso, um dos fatores mais notórios e mais enfatizados em fontes para a ocorrência de doenças a bordo, principalmente febres, são as diferenças climáticas vivenciadas pelos viajantes durante a viagem. O roteiro da Carreira da Índia era muito longo, implicava necessariamente atravessar o Atlântico e o Índico, e nesse percurso as pessoas sofriam sérias conseqüências em sua saúde, devido aos diferentes climas ou temperaturas. Como disse a historiadora Maria Fátima da Silva Gracias, em se tratando da viagem de ida à Índia: A rota da Índia não facilitava a vida dos que iam embarcados: partindo do clima ameno das zonas temperadas, desciam até aos calores equatoriais, depois sofriam muito o frio no mar junto ao Natal no extremo sul da África e mais tarde passavam para as altas temperaturas quando se aproximavam da costa da Índia. As tempestades que por vezes os surpreendiam, pioravam as condições nas naus da Carreira. (1998, p. 459). O padre Gaspar Afonso, que viajou à Índia a bordo da nau São Francisco, em 1596, nos diz que depois de passar pela Linha do Equador quase todas as pessoas adoeceram, “sem escaparem mais que cinco, de quatrocentas e sessenta pessoas que íamos na nau”, incluindo o piloto. Essa grande quantidade de doentes a bordo da nau foi um dos motivos de sua ida à Bahia, como vimos. O padre afirma ainda que ele e os demais padres (8 no total, da Companhia de Jesus) adoeceram. A causa imediata que o religioso apresenta para a doença refere-se a “dous climas tão ruins”. Os viajantes navegavam num clima frio e depois passaram para um quente (1998, p. 432). Entretanto, o padre não especifica o nome da doença que acometeu ele e os demais viajantes. Já Henrique Dias escreveu mais claramente o tipo de doença que atacou quase todos os viajantes da nau São Paulo, em 1560. Navegando muito próximo à costa da Guiné, os viajantes sofreram o inverno daquela paragem, com chuvas e tormentas, em virtude disso e de outras razões, várias pessoas adoeceram, como: “homens do mar, fidalgos, soldados, mulheres e meninos”. Sobre as febres, o narrador diz: “E as febres eram tão rijas, que em dando à pessoa a desatinava, de maneira que falava e fazia mil doudices e desatinos, uns muito para rir e outros de muita lástima e para chorar” (DIAS, 1998, p. 196). Além dessa, houve também na nau São Paulo o famoso escorbuto – uma das doenças mais comum em navios da Carreira da Índia durante séculos (GRACIAS, Ibid., p. 462) –, chamado em fontes portuguesas de mal de Luanda, mal das gengivas ou inchação. Inclusive, esta doença é registrada para a viagem pioneira do Gama, tanto na ida quanto no regresso (VELHO, 1998, p. 55 e p. 108). Uma descrição pormenorizada dela pode ser encontrada na narrativa de viagem do francês Francisco Pyrard, de Laval (1944, vol. II, p. 325-326). Mas é claro que há exceções. Nem todos os navios de ida à Índia foram acometidos de muitas enfermidades no Atlântico. Entre outros casos, pode-se mencionar a viagem do futuro governador e vice-rei da Índia D. João de Castro, realizada por volta de 1545, na qual os navios dobraram o Cabo da Boa Esperança, com um número pequeno de enfermos. Em uma de suas cartas endereçadas ao rei de Portugal D. João III, Castro nos diz que, embora tenha partido de Lisboa com o navio superlotado devido também ao excesso de clandestinos, ao chegar a Moçambique, encontrou poucos doentes. E, contente, acrescenta que a gente “chegou tão sã e bem disposta que parecia a essa hora embarcarem, Nosso Senhor seja louvado.”. (1989, p. 40). Não apenas em seu navio havia poucos doentes, mas também nos dois outros de sua companhia, que igualmente aportaram na ilha de Moçambique. Sobre estas duas naus, Castro nos diz: “Achei que nenhuma pessoa lhes era falecida de doença, somente dois homens que caíram no mar”. Nessa região, ele mandou contar os enfermos dos três navios e no total achou “14 ou 15 doentes”, os quais foram levados ao hospital. (1989, p. 40). Por fim, no que diz respeito ao pequeno número de enfermos, a referida viagem de Castro pode ser considerada próspera. Concernente ao Oceano Índico, as diferenças climáticas ou diferentes temperaturas também contribuíam para enfermidades nos viajantes. Ao ultrapassar o Cabo da Boa Esperança e depois de passar pela Terra do Natal, na viagem de ida, os navios impreterivelmente seguiam seu caminho (“derrota”) por dentro ou por fora da ilha de São Lourenço (atual Madagascar). No primeiro caso, navegavam pelo Canal de Moçambique, entre a costa oriental africana e a ilha de São Lourenço, passando próximo à ilha de João da Nova, depois às ilhas Comores e então procuravam avistar os Ilhéus Queimados, para seguir a Goa ou a Cochim. No segundo caso (por fora), os navios seguiam pelo leste da ilha de São Lourenço, e “navegando entre 34º e 35º afastados, portanto da ilha -, procuravam avistar as de João Lisboa, ou Pedro de Mascarenhas ou Diogo Rodrigues, passando a E do baixo de Saia de Malha e de Pero dos Banhos” (MATOS, 1994, p. 121). Neste último caso, o porto da Índia que passava a ser demandado prioritariamente era o de Cochim. A realização da viagem por estas duas rotas dependia de condições eólicas. Para seguir por dentro da ilha de S. Lourenço, os navios deveriam dobrar o Cabo da Boa Esperança preferencialmente antes do mês de julho. Do contrário, dobrando o Cabo em meados de julho ou depois, a viagem tinha que ser feita por fora, para não haver risco de perder a monção. Nessa circunstância, Coroa recomendava que a viagem fosse feita por fora, a fim de evitar uma possível invernada em Moçambique, onde morria gente e podia ser dispendiosa em dinheiro de sua fazenda e obviamente tempo. Nas narrativas de naufrágio, a viagem por essas duas rotas não é omitida. Para dois navios, cujo naufrágio ocorreu na ida, elas são mencionadas: nau Conceição e nau Santiago, as quais seguiram viagem à Índia em 1555 e 1585, respectivamente. Estas duas dobraram o Cabo no mês de julho. Como diz o narrador Manuel Rangel acerca da primeira nau: “Determinaram de ir por fora da ilha de S. Lourenço, por onde trouxemos tão bons tempos...” (1998, p. 97-98). Já na segunda narrativa fica mais claro a dificuldade de seguir viagem à Índia diretamente por dentro da referida ilha, devido à escassez do vento ponente. Em agosto, os oficiais da nau resolveram navegar até o baixo da Judia e dependendo do vento iriam por dentro ou por fora. (CARDOSO, 1998, p. 300). Mas depois a nau chocou-se com baixo da Judia, à noite. Fiz estas considerações sobre o roteiro no Índico, também, porque em ambas as rotas havia grande possibilidade de os navegantes serem acometidos por enfermidades. O clima insalubre do Canal de Moçambique era um fator a mais para as doenças. A situação piorava quando os navios aportavam na ilha de Moçambique. Entre os vários casos, o autor anônimo da Crônica do descobrimento e primeiras conquistas da Índia pelos portugueses nos diz que da armada de Tristão da Cunha, que partiu de Lisboa em 1506, adoeceram e morreram várias pessoas, por ocasião da escala que os navios fizeram em Moçambique: “Enquanto estiveram em Moçambique adoeceu e morreu muita gente...” (1987, p. 282). As enfermidades que atacavam os passageiros depois do desembarque em Moçambique eram principalmente “a malária e febres biliosas” (BOXER, 2002, p. 233), como hoje se sabe. Em se tratando da viagem por fora, o narrador Cardoso enfatiza a existência de enfermidades nela: Há ordinariamente nesta viagem, que chamam por fora, muitas doenças, inchações de pernas e gengivas e tantas mortes que dizem os homens da carreira que em cada ano que a cometem, além da grande fome e sede que os pobres padecem, morrem mais de cem pessoas. (Ibid., p. 300). É de notar o fato de que na nau Santiago, por interesses econômicos, mercadores receavam que a viagem fosse feita por dentro, para não correrem o risco de invernar em Moçambique, pois uma invernada ali lhes seria prejudicial financeiramente. Por isso, incentivavam que a viagem fosse por fora. Como deixou claro Manuel Godinho Cardoso: “Algumas pessoas da nau, que levavam mercadorias para vender, receavam que, como era já tarde, indo por dentro, invernassem em Moçambique, e por isso persuadiam, quando nisso falavam em conversação, a ida por fora, antepondo o que haviam de ganhar, indo à Índia aquele ano...”. (1998, p. 301). Na própria ilha de São Lourenço havia grande possibilidade de enfermidade, caso se fizesse escala nela. O viajante francês Francisco Pyrard, de Laval nos conta que em sua viagem de 1602 à Índia, os navegantes resolveram ir à ilha de São Lourenço a fim de reparar o navio (que estava com infiltração) e tratar os enfermos. Porém, depois do desembarque, os doentes de escorbuto pioraram e os homens sãos foram acometidos por febres, sendo que vários dos viajantes morreram ali (1944, vol. I, p. 36). É de supor que foram atacados também pela malária, uma vez que o autor menciona que na ilha havia muitos mosquitos e insuportáveis, sobretudo à noite. Em naus da Carreira da Índia viajavam em torno de duzentos a duzentos e cinqüenta “soldados” (MATOS, 1994, p. 124). Assim, como uma parcela considerável dos que viajavam à Índia era composta de homens para atuarem no serviço militar ali, vários morriam de enfermidades durante o percurso ou nos hospitais da Índia. Nessas circunstâncias, em fontes do século XVI, menciona-se, com lamentação, o estado de enfermidade em que se encontravam os “homens de armas” a bordo de navios da Carreira da Índia. Não se precisa ir muito longe, na narrativa sobre a nau São Paulo pode-se observar isso: “Era cousa lastimosa e de compaixão ver os pobres soldados, sangrando quatro e cinco vezes, deitados no convés da nau ao sol e à chuva...” (DIAS, 1998, p. 196). Em vista da mortandade de muitos homens que atuariam no serviço militar na Índia, houve pessoas que fizeram requerimento ao rei para que ele tomasse medidas a fim de evitar tantas mortes. Em dois documentos que disponho sobre este assunto, primeiramente, apresentase a justificativa de que a mortandade da gente de arma era prejudicial ao rei de Portugal porque os homens seriam para defender as possessões dele, ou seja, em primeiro lugar recorre-se ao argumento de que a mortalidade era danosa aos interesses econômicos, políticos e militares do rei. Vejamos dois desses documentos, os quais são separados por um tempo aproximado de cem anos, o que demonstra que as mudanças eram muito lentas. O primeiro trata-se do relatório do Bispo de Dume, de 1522. Escrevendo na Índia, o bispo nos diz que várias naus chegavam à região, com uma grande quantidade de homens doentes, de tal modo que lotavam os hospitais e vários acabavam morrendo. Além disso, ele cita o exemplo da nau Burgalesa, que chegou à Índia em 1521, em cuja viagem morreram de enfermidade quase cem homens. Ele especifica quem eram as pessoas que mais padeciam durante as viagens: os pobres, especificamente marinheiros e homens de armas. A causa única que o religioso apresenta para as doenças é a escassez de alimentos e de água de boa qualidade. Para ele, os capitães dos navios eram os principais responsáveis por tal, uma vez que recebiam os mantimentos (“arroz, manteiga, carne, biscoito”) e guardavam para si e também os distribuíam para seus parentes e amigos, ficando os pobres à míngua, com a menor parte, e de ruim qualidade. O padre, então, faz uma advertência ao rei para que ele tome medidas em prol de evitar isso, pois era prejudicial ao próprio monarca, porque, além de tudo, os homens de armas passavam a vender armamentos aos mouros, para conseguirem comida. E o bispo termina: Veja Vossa Alteza isto, e pois sabe quão necessária cá é gente, porque é causa de se perder por os oficiais de Vossa Alteza lhe não darem mantimentos; proveja Vossa Alteza isto, se bem lhe parecer por serviço de Deus, e não pereça tanta gente, da qual Vossa Alteza tem cá muita necessidade. 15. Aliás, críticas semelhantes as do padre foram feitas em fins do século XVI (1599) pelo soldado Francisco Rodrigues Silveira, em seu texto Reformação da milícia e governo do Estado da Índia Oriental. Este especifica algumas das enfermidades que atacavam os soldados: “... Corrupção das gengivas, febres pestilentas, fluxos de ventre e outra grande copia de enfermidade...”. (COSTA LOBO, 1987, p. 16). O segundo documento refere-se a um despacho do Conselho da Fazenda em Lisboa, acerca de uma petição do capitão-mor Luís Mendes de Vasconcelos, o qual solicitava a presença de médicos (“físicos”, como também se dizia na época) na armada que estava prestes a seguir para a Índia naquele ano de 1610. O capitão solicitava ao Conselho da Fazenda pelo menos um médico para atuar na nau capitânia. _______________ 15 Cf. “Relatório do bispo de Dume a El-Rei”. In: António da Silva REGO. Documentação para a história das missões do padroado português no Oriente, Índia (1499-1522). Lisboa: Fundação Oriente e Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1991, Vol. I, p. 449-452. Este trecho está com a ortografia e acentuação atualizadas por mim. Não introduzi nenhuma palavra. Para o capitão Vasconcelos, o principal fator de mortes a bordo era a falta de médicos para cuidar dos doentes. Ele deixa claro que tal mortandade era prejudicial ao rei. O Conselho diz assim a argumentação do capitão: Que sempre na dita Armada há muitas doenças de que morre muita gente, o que é em muito dano da fazenda e serviço de V. Mg. e pois se perde o custo que se faz com os soldados que se embarcam e não chegam à Índia os que se mandam para defença dela, o que se poderá remediar indo nas naus físicos que curem aos soldados...16 O Conselho decidiu enviar um médico na nau capitânia, para impedir tantas mortes. Os motivos levantados referem-se aos interesses do rei e menciona-se também “per Christandade”. Pode-se ainda inferir que a menção ao interesse Real feita pelos dois documentos constitui estratégia retórica levantada para viabilizar o que se estava solicitando, principalmente no último. Os dois documentos ainda nos dizem dois problemas enfrentados a bordo de naus da Carreira da Índia durante o século XVI: a falta de alimento de boa qualidade, sobretudo para os pobres e a escassez de médico. Em se tratando da viagem de ida à Ásia, o Armazém da Índia em Lisboa era o responsável pelo provimento de alimento à tropa e à tripulação (GODINHO, 1982, vol., III, p. 57). Porém havia casos, como disse no final do XVI o soldado Francisco Rodrigues Silveira, em que os ministros do provimento abasteciam o navio com alimentos para cinco meses, em vez de para sete meses, como mandava o rei (COSTA LOBO, 1987, p.16). Tal quantidade tornava-se insuficiente porque na maior parte das vezes havia dificuldades durante a viagem que retardavam a chegada à Índia, e por conseqüência os alimentos diminuíam. Devido também às péssimas condições de higiene a bordo, havia grande possibilidade de os alimentos ficarem deteriorados ou mesmo em estado impróprio para o consumo. Mas o peixe ou a carne, por exemplo, para que não se deteriorassem, às vezes eram salgados. Como já referi, o pescado, quando não fresco, era conservado em salmoura ou então salgado e seco ao Sol. Porém, o ato de consumir, por exemplo, peixe salgado – pobre em vitamina C – era danoso porque favorecia o importuno escorbuto, causava sede e água a bordo, normalmente, era pouca. _______________ 16 Cf. Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, pp. 22-23. Este trecho está com a ortografia e acentuação atualizadas por mim. Não introduzi nenhuma palavra. Os viajantes que dispunham de mais condição levavam animais vivos para o consumo, os mais comuns eram galinhas, que iam confinadas em alojamentos chamados capoeiras. As galinhas eram consideradas o alimento mais próprio para os convalescentes, assim como o peixe fresco. Já a carne e peixe salgados, bem como o vinho eram vistos como venenos. Como quase todos os homens de armas eram os desfavorecidos a bordo, que estavam incluídos na categoria de pobres, não é raro encontrar em fontes portuguesas do século XVI (sobre a Carreira da Índia) menção a soldados passando fome ou consumindo alimentos em péssimas condições durante as viagens à Índia. Na nau São Paulo, depois de sair do Brasil (1560), navegando em direção ao Cabo da Boa Esperança, o alimento começou a escassear e o pouco que havia estava de má qualidade. Nessas circunstâncias, os soldados tiveram que consumi-lo. Henrique Dias afirma que os soldados estavam “comendo o biscoito da regra todo podre das baratas e com bolor mui fedorento, sem haver outro, nem quem o tivesse para si, senão muito poucos, nem carne, nem vinho, nem pescado...” (1998, p. 213). A existência de insetos a bordo, como barata, era outro problema que dificultava manterem-se os alimentos conservados, ao mesmo tempo favorecia às péssimas condições higiênicas a bordo. O francês Francisco Pyrard, de Laval, retornando da Índia, em 1610, na nau da Carreira Nossa Senhora de Jesus, ressalta a grande quantidade de barata que havia nela, e diz que estes insetos abundavam na Índia. “A nossa nau estava toda cheia deles e furam todos os cofres, pipas e outros vasos de pau; o que muitas vezes é causa de se derramar o vinho e água. Este bicho come também o biscoito e faz nele grande estrago”. (1944, vol. II, p. 209-210). A escassez de médico competente (para os padrões da época) a bordo foi outra característica da Carreira da Índia. Normalmente, o navio levava um barbeiro-cirurgião, o qual recebia remuneração e uma das práticas mais usada a bordo para o tratamento dos doentes era a sangria, mas quase sempre este método deixava o doente ainda mais debilitado, com a perda de sangue. Para a nau São Paulo, o narrador Henrique Dias destaca a grande quantidade de sangria realizada a bordo. O autor menciona a presença de um barbeiro no navio, porém as sangrias, segundo o narrador, foram realizadas também por pessoas não qualificadas para tal ofício, como pelo próprio Henrique Dias, que era boticário e ia servir no Hospital e Misericórdia de Goa, pelo piloto, sota-piloto (= piloto auxiliar) e por um grumete. (DIAS, Ibid., p. 199). E dentre os embarcados que passaram pelas sangrias aparecem os soldados, como já mencionei atrás. O Armazém da Índia em Lisboa provia os navios com caixa de remédios – botica. Os remédios comumente usados (feitos basicamente com ervas e raízes) recebiam a denominação genérica mezinhas, como ungüento, xarope, catholicam (usado como purgante), etc. Conforme o historiador Charles Boxer, a Coroa provia generosamente os navios com caixas de remédios para os doentes, porém havia algumas irregularidades: “... Na maioria das vezes, o conteúdo era levado por pessoas não autorizadas para o uso próprio, ou então os medicamentos eram vendidos no mercado negro do navio em vez de distribuídos de graça aos doentes”. (2002, p. 232). 1.3 A mulher nas narrativas de naufrágio No século XVI, na Carreira da Índia, o número de mulher que se embarcou, tanto na ida à Índia quanto no regresso ao Reino foi muito menor se comparado ao dos homens. As viagens para a Índia constituíam um empreendimento masculino. Uma das razões para o reduzido número de mulher em navios da Carreira da Índia, no século XVI, está ligada ao cunho militar que também apresentou as viagens portuguesas pela Rota do Cabo, ou mesmo, a presença portuguesa na Índia e em outras regiões asiáticas. Como dezenas de homens partiam sem suas mulheres, várias delas ficavam viúvas, uma vez que havia mortes durante as viagens, por doenças, por ocasião de desastres como naufrágio, ataque de corsários, ou mesmo na própria Índia (Ásia). Em viagens do século XVI, dentre as poucas mulheres que se embarcaram à Índia, e que são explicitamente mencionadas em fontes, aparecem as “órfãs do rei”. O historiador Charles Ralph Boxer dá uma conceituação precisa acerca delas: Como o nome indica, eram moças órfãs, em idade de casar, que dos orfanatos de Lisboa e do Porto eram enviadas em grupos, à custa da Coroa, portadoras de dotes constituídos de postos governamentais de pequena importância para aqueles que quisessem casar com elas após chegarem a Goa. O primeiro contingente partiu de Lisboa em 1546 e o sistema parece ter continuado até o início do século XVIII. (Ibid., p.142). Assim, em sua viagem realizada à Índia provavelmente em 1545, D. João de Castro menciona a presença de órfãs do rei a bordo da nau em que ele viajava. Mas a menção é feita devido à morte (na costa da Guiné, por doença, “prióris”) de Francisco Maris, que ia como vedor da fazenda em Goa e acompanhava as órfãs. Como diz Castro, em carta enviada ao rei D. João III: Quando isto soube mandei prover sobre as órfãs que vinham em sua companhia e lhes mandei dar todas as coisas necessárias, entregando a guarda e recado destas órfãs ao doutor Francisco Toscano, chanceler da Índia, porque jamais se apartava delas e não consentia nenhuma gente estar derredor de seus agasalhados, de que se lhes pudesse recrescer algum nojo (1989, p. 39). Nas narrativas de naufrágio, as mulheres são pouco mencionadas. Dos 11 relatos, apenas em 3 as mulheres são referidas de maneira mais direta: para as naus São Tomé, Santo Alberto e Chagas. Estes navios regressavam a Portugal. Nas narrativas sobre estas três naus é mencionado o nome de fidalgas. Na nau São Tomé, por exemplo, havia “a mulher de D. Paulo de Lima [D. Beatriz], D. Mariana, mulher de Guterre de Monroy, e D. Joana de Mendonça, mulher que fora de Gonçalo Gomes de Azevedo”. Esta última “ia para o Reino meter-se em um mosteiro, desenganada do mundo, sendo ainda moça” e levava consigo sua filha, mas no momento de maior infiltração, para sair da nau e embarcar no barco salva-vidas, o batel17, teve que deixar a menina no navio com uma ama sua. Esta ama depois não entregou a menina, porque não quiseram levá-la também no barco salva-vida. A ama só entregaria a menina, se os oficiais permitissem que ela também fosse no batel. No fim, a nau São Tomé naufragou com as duas. (COUTO, 1998, p. 346-350). Em prol da salvação de alguns, recorreu-se ao barco salva-vidas (batel) para ir a terra mais próxima. Nesse momento, deu-se preferência às mulheres, sobretudo às fidalgas, ficando D. Paulo de Lima dentro do batel, com uma espada na mão impedindo a entrada de marinheiros e de outros. Com receio de que os balanços da nau afundassem o batel, decidiu-se afastá-lo um pouco dela, e recolheram-se algumas mulheres. Como diz Couto: Afastou-se um pouco para fora, e dali se deu ordem para que as mulheres se amarrassem em peças de cassa [pano da Índia], pelas quais dependuradas as calavam abaixo; e o batel chegava a tomá-las mergulhadas muitas vezes, com muito trabalho, lástima e mágoa de todos (Ibid., p. 346). _________ 17 O batel e o esquife, no momento do naufrágio, passaram a funcionar como barcos salva-vidas, porém, na realidade, eles eram barcos levados em naus ou em galeões, principalmente para a navegação pela costa, pois estes últimos por serem navios de grande porte navegavam em águas profundas. Um caso famoso de navegação pela costa usando batel e esquife é o da estadia de Cabral no Brasil, em 1500. Conforme Pero Vaz de Caminha, inicialmente, os portugueses chegaram a terra usando os batéis e os esquifes: “Aly lançamos os batees e esquifes fora e vieram logo todolos capitaães das naaos a esta naao do capitam moor e aly falaram. e o capitam mandou no batel em terra Njcolaao Coelho pera veer aqle rrio...” (CASTRO, 2003, p. 43-44). Na nau Santo Alberto, segundo o narrador João Batista Lavanha: “vinha para o Reino D. Isabel Pereira, filha de Francisco Pereira, capitão e tanador-mor da ilha de Goa, dona viúva, mulher que foi de Diogo de Melo Coutinho, capitão de Ceilão, e trazia D. Luísa, sua filha, donzela fermosa, de dezesseis anos”. (1998, p. 375). O outro caso está no texto de Melchior Estácio do Amaral, que narra o corso feito por três navios ingleses à nau portuguesa Chagas, nos Açores, especificamente nas proximidades da ilha do Faial. A nau Chagas foi incendiada por ingleses. É precisamente para esse momento que o autor menciona as reações das mulheres fidalgas diante da morte. A situação perigosa em que se encontravam também as fidalgas chamou a atenção de Amaral, de maneira a reservar um espaço em sua narrativa para mencioná-la. O narrador se apresenta comovido com o fato descrito e deseja que o leitor também o fique. Conforme Amaral, as mulheres ficaram no dilema entre lançar-se ao mar ou ficar no navio com fogo. A dificuldade de D. Leonor de Sá para ficar despida em público (como se verá adiante) é também referida para as fidalgas da nau Chagas (como em D. Luisa de Melo): “... E começando a entrar que lhes convinha despirem-se para se lançarem ao mar e esperarem a misericórdia dos ingleses, estiveram em termos de se deixarem antes queimar que despirem-se.”. (AMARAL, 1998, p. 534). O autor destaca que, na visão das mulheres, essa situação foi extremamente constrangedora, sobretudo pelo fator óbvio de estar-se em meio à morte, como também pelo fato de elas terem que ficar nuas. Assim, ele coloca um discurso que atribui a D. Luísa de Melo, no qual se pode perceber uma concepção que encara a vida com pessimismo, sendo esta marcada por sofrimento, e por isso merecedora de ser renegada. Esta fidalga e sua mãe jogaram-se no mar, porém morreram afogadas, sendo enterradas na ilha do Faial, segundo Amaral (Ibid., p. 534). Perestrelo não menciona a presença de mulher no galeão São Bento. No naufrágio da nau Conceição, de acordo com Manuel Rangel, das 166 pessoas que chegaram a terra (no Baixio Pêro dos Banhos) havia apenas duas mulheres (1998, p. 109). Na narrativa sobre o naufrágio das naus Águia e Garça menciona-se a existência de mulher, mas apenas no momento de mais dificuldade, isto é, na ocasião em que, devido ao excesso de infiltração, a nau Garça ficou impossibilitada de prosseguir a viagem. Com isso, as pessoas que nela estavam foram recolhidas na nau Águia, sendo que o capitão desta última, Francisco Barreto, priorizou a entrada das “mulheres, meninos e toda a mais gente que não fosse para poder trabalhar” (ANÔNIMO, 1998, p. 131). O autor anônimo da narrativa sobre a nau Santa Maria da Barca não menciona a presença de mulher neste navio. Existe outra narrativa anônima sobre a viagem e naufrágio desta mesma nau. Foi publicada em 1566. Ela também não faz referência à presença feminina na viagem da nau Santa Maria da Barca (LANCIANI, 1983, p. 45-68). No relato sobre o naufrágio da nau São Paulo, o narrador Henrique Dias afirma a presença de mulher, mas apenas nos momentos de tensão, em que elas estavam envolvidas. Por exemplo, diz que as calmarias e chuvas da costa da Guiné provocaram doença em quase todas as pessoas que estavam a bordo, incluindo as mulheres (1998, p. 199). Noutro caso, menciona a morte de uma sobrinha de Diogo Pereira de Vasconcelos, “D. Isabel, de idade de catorze até quinze anos, muito fermosa e bem afigurada”, a qual acidentalmente caiu no mar (no Oceano Índico) e não foi possível resgatá-la com vida (Idem, Ibid., p. 223). Já no momento do desastre da nau São Paulo nas proximidades da ilha de Samatra, Henrique Dias menciona a atitude do capitão Rui de Melo da Câmara de deixar primeiramente as mulheres e meninos embarcarem no barco salva-vidas (“esquife”), atitude essa parecida com a de D. Paulo de Lima, na nau São Tomé. Como escreveu Dias: “O capitão a bordo com uma espada nua, defendendo o esquife, que não entrasse ninguém nele, até as mulheres todas (que seriam, com algumas crianças trinta e três) e os meninos fossem em terra postos” (Ibid., p. 232). Para a nau Santiago, depois de ela ter se chocado com o baixo da Judia, o narrador Manuel Godinho Cardoso limita-se apenas a, de passagem, mencionar que havia mulheres a bordo, mais especificamente em se tratando do momento em que elas tentavam entrar no barco salva-vidas (batel). Desta vez alguns homens ficaram no batel e com a espada tentaram impedir a entrada de outras pessoas, incluindo as mulheres: “Algumas mulheres que na nau iam se ferravam ao batel, as quais os que nele estavam feriam, como aos homens que o intentavam”. Mais embaixo, Cardoso menciona que duas mulheres morreram afogadas tentando alcançar as jangadas e afirma que nestas já havia várias outras, porém ele não diz o nome de nenhuma delas (1998, p. 311). Mas cita o nome dos 57 homens que estavam no batel, saindo do baixo da Judia para a terra mais próxima. Assim, os narradores possuem pouca preocupação de comentar sobre as mulheres que estavam a bordo. Quase todos quando o fazem é apenas em ocasiões acidentais ou dificultosas nas quais elas estavam envolvidas. O discurso deles é mais masculino. Em quase todas as narrativas existe um personagem em torno do qual a trama corre. Este é homem: quase sempre é o capitão do navio ou algum fidalgo, como, por exemplo, D. Paulo de Lima, no relato sobre a nau São Tomé. Perestrelo, autor da narrativa referente ao galeão São Bento, logo de início deixa claro que vai comentar sobre a “viagem, naufrágio, desterro e fim” do capitão Fernão d’Álvares. (1998, p. 28). Outro fator que denuncia o cunho masculino das narrativas é a autoria exclusiva de homens. Todos os autores das narrativas são homens. Isto serve, sem dúvida alguma, para os autores anônimos dos relatos sobre o galeão São João e a nau Santa Maria da Barca. Nestas narrativas existem indícios que apontam a autoria masculina. Por exemplo, na referente à nau Santa Maria da Barca, o autor (viajante deste navio) em alguns momentos menciona que realizou serviços que na época eram de marinheiro, como trabalhar com as bombas, para expulsar a água. Noutra passagem, diz que tirou muitos sacos de mercadorias do compartimento inferior do navio para o superior: “E tiramos muitos sacos de gengibre e lacre para cima...” (ANÔNIMO, 1998, p. 172). Estes serviços dificilmente seriam realizados por uma mulher. E o autor (como já mencionei) não faz referência à presença de mulher nessa viagem da referida nau. O autor Paulo Miceli nos diz que referências à presença feminina a bordo são, em geral, raras e breves (nas fontes onde há menção), e ainda acrescenta um dos motivos para tal: “Masculino por excelência, o mundo das viagens da expansão e da conquista esconde avaramente das narrativas sobre a vida cotidiana a bordo dos navios as mulheres que adentravam as esquadras da carreira da Índia.” (1998b, p. 238). Por fim, a tendência de mencionar sobre as mulheres a bordo de navios da Carreira da Índia, principalmente em episódios trágicos em que elas se encontravam, não se verifica apenas nas narrativas de naufrágio, mas em outros relatos de viagem. Por exemplo, o francês Pyrard, de Laval nos diz que depois de a nau da Carreira da Índia (de regresso) Nossa Senhora de Jesus ter recebido uma forte tormenta nas proximidades da ilha de Diogo Rodrigues, houve um “piedoso espectáculo” com uma mulher grávida: “Alguns dias depois desta tormenta houve uma dama mestiça da Índia, mulher de um fidalgo português, mui bela e de idade de quase trinta anos, que foi acometida de dores de parto, e morreu com a criança e não tiveram outra sepultura senão o mar”. (1944, vol. II, p. 212). Entretanto, nas narrativas de naufrágio onde há espaço para dizer sobre as mulheres a bordo, estas são majoritariamente fidalgas, ou seja, mulheres que tinham prestígio social, principalmente por estarem ligadas a algum homem nobre. Nas narrativas de naufrágio as mulheres fidalgas, as realmente dignas de considerações (em alguns momentos) pelos relatores, são mencionadas sempre em ligação com algum homem fidalgo. Elas são esposas, filhas, irmãs ou sobrinhas de algum homem de prestígio. Estão na sombra de algum nobre. Todos os narradores não fazem referências a elas sem deixar de mencionar a ligação afetiva ou de parentesco delas com algum fidalgo. É claro que, embora haja a preferência dos narradores de privilegiar a menção a fidalgas, havia a bordo mulheres de um nível social mais baixo. Aliás, em certos momentos e de passagem, escravas são mencionadas por alguns narradores, como o anônimo (1998, p. 21) e Diogo do Couto (1998, p. 349); os dois navios – galeão São João e nau São Tomé, respectivamente –, inclusive eram de regresso da Índia, por isso transportavam um número considerável de escravos. Embora os narradores silenciem a presença de todas as mulheres que iam a bordo, preferindo privilegiar as fidalgas, sabe-se que havia clandestinos, o que incluíam também mulheres (mas nem sempre). Assim, no relato sobre o naufrágio da nau São Paulo, o narrador Henrique Dias priva-se de mencionar a existência de clandestinos, incluindo-se mulheres. Mas o padre Manuel Álvares, que se encontrava a bordo da mesma nau, em carta escrita do Colégio da Bahia, afirma que logo no início da partida de Lisboa se descobriu um homem que estava viajando clandestinamente com a mulher e filhas, levando também mulheres solteiras e um negro (MADEIRA, 2005, p. 89). Desde o início das navegações portuguesas pela Rota do Cabo, a existência de clandestinos a bordo foi freqüente. Para viajar legalmente era preciso ao menos ser registrado nos livros da Casa da Índia em Lisboa ou ter licença do vice-rei da Índia (no retorno) e pagar a passagem. Normalmente, antes de uma nau partir fazia-se o alardo, isto é, a verificação dos que seguiriam viagem para também ver se os seus nomes estavam registrados no rol dos embarcados. Em sua viagem à Índia, realizada por volta de 1545, D. João de Castro constatou o grande número de clandestinos a bordo, possivelmente havendo também alguma mulher. Eles estavam escondidos e no decorrer da viagem foram aparecendo. Isto mais ainda nas proximidades das ilhas Canárias: Neste lugar começou a aparecer muita gente que ia escondida, parecendo-lhes que já estavam seguros de os não lançarem fora; e foi tanta e tão demasiada que me pôs em muito cuidado e estive mui perto de tomar as ilhas de Cabo Verde para deixar aí toda a que se não podia levar sem grande risco (1989, p. 38). Outro aspecto acerca de mulher em naus da Carreira da Índia, refere-se a prostitutas ou a práticas sexuais a bordo. Nas narrativas de naufrágio este fato não é mencionado por nenhum dos narradores. Mas sabe-se que, em navios da Carreira da Índia, marinheiros ou oficiais levavam (mas nem sempre) mulheres solteiras ou meretrizes em sua companhia. D. João de Castro, em uma carta com data 16 de dezembro de 1546 e endereçada ao rei D. João III, menciona este assunto. Conforme ele, a nau Santo Espírito chegou a Goa nesse mesmo ano e os oficiais dela estavam amancebados com mulheres e inimizados com o capitão. Castro aproveita para recomendar ao rei que proíba o embarque de manceba por parte de mestre, piloto ou outros oficiais de naus, embora ele não deixe de exagerar ao escrever que viajar com mancebas é a causa de todos os desastres ocorridos durante a viagem. Como ele diz: “E assim deve mandar que todo mestre e piloto ou oficial de naus que trouxer manceba ou a tomar no caminho, morra por isso, porque por esta causa se acontecem todos os desastres e revoltas das naus” (1989, p. 70). O padre Manuel Álvares apresenta uma postura parecida com a de D. João de Castro. O referido padre afirma que na nau São Paulo havia um número considerável de mulheres a bordo, e aproveita para recomendar: “Em estremo se devia deffender [proibir] de virem molheres em naos da india. Specialmete molheres solteiras”. (Apud MICELI, 1998b, p. 238, a palavra entre colchetes é minha). Além disso, o estupro a mulheres era praticado a bordo. As órfãs do rei eram as mulheres que estavam mais sujeitas a este tipo de ato (RAMOS, 2004, p. 163). Assim, quando D. João de Castro afirma (na citação atrás) que, por ocasião da morte de Francisco Maris, entregou a “guarda e recado” das órfãs do rei ao doutor Francisco Toscano, o qual não deixava os homens se aproximarem do espaço (“agasalhado”) onde estavam alojadas (1989, p. 39), pode-se observar implicitamente uma referência à preocupação de não dar oportunidade para assédio sexual. Por fim, aqui não se está afirmando inexistência de mulher em naus da rota da Índia, mas uma das pretensões é destacar a inferioridade numérica de mulheres que se embarcavam, em comparação com os homens. E ao mesmo tempo, acentuar a escassez de referências, em fontes, acerca de mulheres a bordo. O soldado Francisco Rodrigues Silveira estava exagerando ao dizer em fins do século XVI: “E na verdade é notável descuido mandarem todos os anos quatro ou cinco naus à Índia, carregadas de homens, sem nenhuma mulher...” (COSTA LOBO, 1987, p. 244). Entretanto, suas palavras são importantes porque insinuam a inferioridade numérica de mulheres a bordo de navios da Carreira da Índia, em comparação com os homens. Das narrativas de naufrágio, a referente ao galeão São João é a que mais ressalta sofrimento e situação lastimável e compassiva a fidalga, especifica e unicamente a D. Leonor de Sá. Esta narrativa como várias outras possui características retóricas que lembram o modelo de tragédia proposto por Aristóteles em sua Poética, especificamente no que diz respeito ao ideal de causar no espectador pena e temor, a partir de episódios trágicos apresentados. Mas é claro que não se trata aqui de cometer anacronismos. Sabe-se que Aristóteles escreveu num contexto histórico específico e seria um grande erro jogar para as narrativas de naufrágio do século XVI o que ele propõe em sua obra. O que Aristóteles sugere refere-se ao teatro, à tragédia e esta, no sentido literal, constituía “um gênero dramático específico de literatura que floresceu [...] na Grécia antiga, sobretudo em Atenas no século V. a. C...”. (MOST, 2001, p. 20). Já as narrativas de naufrágio ligam-se ao “trágico”. Elas são narrativas trágicas do século XVI. E podem ser inseridas em um dos conceitos de “trágico”, do autor Glenn Most: “... Uma descrição de certos tipos de experiência ou de traços básicos da existência humana”. (Ibid. p. 24). Além disso, os personagens principais das narrativas de naufrágio não podem ser considerados heróis trágicos, na perspectiva da tragédia grega, pois além de tudo no contexto histórico em que os relatos se situam existe um elemento que mais impossibilita, isto é, a presença do Cristianismo. O autor José Alves de Freitas Neto, ao analisar, principalmente, um trabalho de Hans Ulrich Gumbrecht18 nos diz: “Se a tragédia requer a impossibilidade de redenção de seus personagens, dadas por suas próprias limitações, torna-se impossível aproximar o gênero teatral grego do Cristianismo ou, ainda, derivar do modelo grego um modelo cristão para a tragédia”. (2003, p. 71). Diante disso, para analisar a narrativa sobre o galeão São João, considerando alguns conceitos propostos por Aristóteles para a tragédia, é preciso trabalhar com a noção de analogia. Assim, aqui não se diz que a narrativa é influenciada pela Poética, mas sim que existem no relato elementos retóricos análogos à obra referida. _______________ 18 Como diz Gumbrecht: “A tragédia só pode existir se o herói trágico não possuir a possibilidade de desculpar-se pelo seu erro (ou pelo seu diferendo com as demandas da ordem objetiva), mediante a alegação de que seu erro não correspondeu a suas intenções.[...] Em outras palavras: não será permitido ao herói trágico tornar-se a perfeita incorporação de algum valor positivo (ou seja, ele não aparecerá como vítima inteiramente inocente), nem ele pode tornar-se um salvador. (2001, p. 11). Na viagem de 1552 do galeão São João, iam para o Reino o capitão Manuel de Sousa Sepúlveda, sua mulher D. Leonor de Sá, juntamente com seus filhos, é esta família a protagonista do relato. A cena gira em torno de Manuel de Sousa Sepúlveda, com ênfase também à morte de sua mulher, na Terra do Natal. Resumidamente e conforme a versão do narrador anônimo, o galeão São João, sobrecarregado, parte tarde de Cochim, a 3 de fevereiro de 1552. Na costa da Cafraria, enfrentando ventos cruzados, fica com problemas nas velas, no mastro e no leme, o que aliado à infiltração, é obrigado a seguir para a Terra do Natal, na Cafraria (sudeste da África Oriental). Porém, à semelhança dos demais relatos, a Cafraria é considerada tão perigosa quanto o mar, devido aos problemas enfrentados nela (fome, sede, doenças...) e mais enfaticamente em virtude de seus hostis habitantes – os “cafres”. É esta uma das imagens que o narrador perpetua sobre a região e seus habitantes. Verdadeiramente que cuidarem os homens bem nisto faz grande espanto! Vêm (sic) com este galeão varar em terra de cafres, havendo-o por melhor remédio para suas vidas, sendo este tão perigoso; e por aqui verão para quantos trabalhos estavam guardados Manuel de Sousa, sua mulher e filhos (ANÔNIMO, 1998, p. 9). Em terra, os náufragos não conseguiram construir um barco para mandar recado à Sofala. Em virtude disso, eles procuraram o local mais próximo aonde iam anualmente navios de portugueses residentes em Moçambique realizar o comércio, principalmente de marfim, com os negros. O lugar mais acessível é o rio Lourenço Marques. Assim, em terra, Sepúlveda e as demais pessoas decidem caminhar em ordem pela costa da praia até o rio Lourenço Marques. No início da caminhada, D. Leonor de Sá foi levada em andor por escravos, porém depois teve que caminhar. Nesse momento, ela é assim caracterizada pelo narrador: D. Leonor era uma das que caminhavam a pé, e sendo uma mulher fidalga, delicada e moça, vinha por aqueles ásperos caminhos tão trabalhosos como qualquer robusto homem do campo, e muitas vezes consolava as da sua companhia e ajudava a trazer seus filhos. Isto foi depois que não houve escravos para o andor em que vinha. (Ibid., p. 17). Fica evidenciado um contraste entre a condição de “mulher delicada” de D. Leonor de Sá e o seu desterro na Cafraria. É uma situação incompatível com as características da fidalga. Cafraria é assim o local indigno para a permanência e convívio da fidalga. Por ser uma “mulher delicada e moça”, causa surpresa e admiração no autor ela conseguir suportar os trabalhos na caminhada pela terra hostil. A única compreensão que o narrador anônimo tem para esse fato diz respeito à ajuda divina. D. Leonor de Sá só conseguiu conviver com as dificuldades durante a longa caminhada, porque a graça de Deus se manifestou nela: Parece verdadeiramente que a graça de Nosso Senhor supria aqui, porque sem ela não pudera uma mulher tão fraca e tão pouco costumada a trabalhos andar tão compridos e ásperos caminhos, e sempre com tantas fomes e sedes, que já então passavam de trezentas léguas as que tinham andado, por causa dos grandes rodeios (ANÔNIMO, 1998, p. 17). Conforme o narrador, durante a caminhada, a perdição de Manuel de Sousa Sepúlveda e demais pessoas esteve ligada à insana atitude deste de entregar as armas aos negros. “E já então o parecer de Manuel de Sousa e dos que com ele consentiram não era de pessoas que estavam em si, porque se bem olharam, enquanto tiveram suas armas consigo nunca os negros chegaram a eles” (Idem, Ibid., p.19). Diante dessa atitude de Sepúlveda, o narrador dá um espaço no relato para mostrar um discurso que atribui à mulher de Sepúlveda. Assim, conforme o narrador anônimo, D. Leonor de Sá, em tom de desesperança, diz a Sepúlveda: “Vós entregais as armas, agora me dou por perdida com toda esta gente” (Ibid., p. 19). É a partir desse episódio que o autor começa a enfatizar um ideal de causar compaixão e tristeza no leitor. Os sofrimentos de Sepúlveda e de sua mulher, na visão do narrador, devem ser assim encarados: “... Que cuidar bem nisto é cousa para quebrar os corações!” (Ibid., p. 20). O discurso lastimoso passa a se intensificar quando o narrador comenta sobre a indisposição de D. Leonor de Sá para ficar nua em público. Isso porque os “cafres” apreciavam objetos dos portugueses, como roupas, e desejaram ficar com as dela. Vejamos como o autor anônimo descreve isto: Aqui dizem que D. Leonor se não deixava despir, e que às punhadas e às bofetadas se defendia, porque era tal que queria antes que a matassem os cafres que ver-se nua diante da gente, e não há dúvida que logo ali acabara a sua vida se não fora Manuel de Sousa, que lhe rogou se deixasse despir, que lhe lembrava que nasceram nus, e, pois Deus daquilo era servido, que o fosse ela. Um dos grandes trabalhos que sentiam era verem dous meninos pequenos, seus filhos, diante de si chorando, pedindo de comer, sem lhes poderem valer. E vendo-se D. Leonor despida, lançou-se logo no chão, e cobriu-se toda com os seus cabelos, que eram muito compridos, fazendo uma cova na areia, onde se meteu até a cintura, sem mais se erguer dali. Manuel de Sousa foi então a uma velha sua aia, que lhe ficara ainda uma mantilha rota, e lha pediu para cobrir D. Leonor, e lha deu; mas contudo nunca mais se quis erguer daquele lugar, onde se deixou cair quando se viu nua. (Ibid., p. 20-21). Num contexto histórico em que os portugueses consideravam os negros (“cafres”) “bárbaros”, também no sentido de violência física, a cena descrita provocava injúria no leitor ou ouvinte, principalmente em portugueses, dando maior oportunidade para repugnar e odiar os “cafres”. A situação é descrita de tal maneira que dê espaço para concluir-se facilmente que havia os agressores e os malignos – “cafres”, de um lado; e de outro as vítimas, os portugueses (fidalgos, sobretudo), que obviamente sofreram ações maléficas de “selvagens”. O efeito de comoção, pena e tristeza que o sofrimento de D. Leonor de Sá podia causar no leitor (ou ouvinte), sobretudo da época, é incentivado pelo narrador: “Em verdade não sei quem por isto passe sem grande lástima e tristeza. Ver uma mulher tão nobre, filha e mulher de fidalgos tão honrados, tão maltratada, e com tão pouca cortesia!” (ANÔNIMO, 1998, p. 21). O ideal de que o leitor ou ouvinte (sobretudo da época do narrador) fique triste, comovido por causa de sofrimento e morte de fidalgos, pode está ligado à própria característica da narrativa (também das demais) como elitista por excelência e à mentalidade do narrador, que percebia a nobreza como digna de reverência e consideração, e assim mais merecedora de atenção em momentos trágicos. Para terminar, o discurso lastimoso pode atingir o ápice na passagem em que o narrador menciona sobre a morte de D. Leonor e Sepúlveda. Após ir ao mato em busca de frutas, Sepúlveda encontra sua mulher em pior situação: Quando tornou achou D. Leonor muito fraca, assim de fome, como de chorar, que depois que os cafres a despiram nunca mais dali se ergueu nem deixou de chorar; e achou um dos meninos morto e por sua mão o enterrou na areia. Ao outro dia tornou Manuel de Sousa ao mato a buscar alguma fruta, e quando tornou achou D. Leonor falecida e o outro menino, e sobre ela estavam chorando cinco escravas, com grandíssimos gritos. Dizem que ele não fez mais, quando a viu falecida, que apartar as escravas dali e assentar-se perto dela, com o rosto posto sobre uma mão, por espaço de meia hora, sem chorar nem dizer cousa alguma, estando assim com os olhos postos nela, e no menino fez pouca conta. E acabado este espaço se ergueu e começou a fazer uma cova na areia com a ajuda das escravas, e sempre sem se falar palavra a enterrou, e o filho com ela, e acabando isto, tornou a tomar o caminho que fazia quando ia a buscar as frutas, sem dizer nada às escravas, e se meteu pelo mato, e nunca mais o viram. (Idem, Ibid., p. 21) Nesta narrativa de naufrágio, podem-se observar características análogas à “tragédia” de Aristóteles. Este diz que uma tragédia “deve consistir na imitação de fatos inspiradores de temor e pena.”. (2005, p. 31-32). A partir da narrativa, as mazelas do naufrágio, sem dúvida alguma, podiam causar nos portugueses da época temor e pena, ainda mais da forma como ela está estruturada, sendo que o autor, como vimos, convida o leitor a sentir pena dos náufragos, principalmente do capitão Manuel de Sousa Sepúlveda e de D. Leonor de Sá. Em seus estudos sobre tragédia, Gotthold Lessing salienta dois tipos de compaixão para o modelo aristoteliano de tragédia, a saber, a filantropia e a compaixão propriamente dita. A primeira é “dos sentimentos compassivos, sem temor por nós mesmos”. Ou seja, o espectador podia sentir compaixão do ator sofrendo, por causa de um próprio sentimento humanitário. Mas a compaixão é mais facilmente despertada quando o espectador teme que as mazelas sofridas pelo herói possam ser sentidas futuramente pelo próprio espectador. Quando ele se imagina no lugar do herói sofredor ocorre temor e, por conseqüência, compaixão. Como diz o autor: “Dessa similitude, origina-se, segundo Aristóteles, o temor de que o nosso destino possa vir a ser facilmente tão similar ao do infeliz quanto nós mesmos [sic] nos sentimos semelhantes a ele: e seria esse temor que leva à compaixão, por assim dizer, ao amadurecimento” (LESSING, Apud. MACHADO, 2006, p. 40). Assim, por analogia, a narrativa de naufrágio é criada de tal modo a dar espaço para esses dois tipos de compaixão. O temor de que o destino possa vir a ser igual ao dos náufragos do galeão São João, é um dos efeitos que a narrativa podia despertar nas pessoas da época. Num primeiro momento, sem dúvida, o relato podia sim causar nos leitores ou ouvintes temor em relação aos trabalhos enfrentados pelos náufragos na Cafraria. Mais ainda entre os portugueses que viajavam de Portugal para a Índia e vice-versa. O temor podia se intensificar quando se sabia que o roteiro seguido pelos barcos no Oceano Índico, na viagem de regresso, implicava passar pela costa da Terra do Natal e que os navios, sobrecarregados, sentiam dificuldades de navegar por ela e dobrar o Cabo da Boa Esperança, principalmente no mês de abril em diante – época da monção do vento contrário e do período chuvoso. Dessa forma, os navios sobrecarregados tinham que suportar o mar revolto e as tempestades da costa da Terra do Natal. Além disso, o temor podia ficar maior, quando se passava a considerar que havia dificuldades (como se observará no capítulo II) de partir da Índia o mais tardar em dezembro, para tentar dobrar o Cabo da Boa Esperança em março. É claro que, sem dúvida alguma, não impedia de realizar viagens marítimas. No século XVI, “para a maioria dos portugueses o mar é a terra prometida” (BARRETO, 2000, p. 59). Em outras narrativas de naufrágio, a morte de Manuel de Sousa Sepúlveda e de sua mulher e demais pessoas é lembrada pelos narradores (Perestrelo, Couto e Lavanha) que comentam sobre navios que naufragaram na costa da Cafraria. O mais enfático é Perestrelo, que naufragou no galeão São Bento dois anos depois de Sepúlveda, isto é, em 1554, na costa da Cafraria. É com um tom de terror que ele faz menção ao fato de o naufrágio de Sepúlveda está “fresco na memória”. Depois de o galeão São Bento ter se destroçado na costa, os sobreviventes conseguem chegar a terra. Como diz Perestrelo: Tanto que esclareceu o dia e nos vimos perto das íngremes serras e bravas penedias daquela tão estranha e bárbara terra, nenhum houve que o perigo presente por uma parte fizesse folgar com sua vizinhança, por outra o não acometesse com grande receio, tendo por mui fresco na memória quão cobertos deviam ainda estar os seus espaçosos e desaproveitados matos de ossadas portuguesas das que vinham o ano de 52 no galeão S. João com Manuel de Sousa Sepúlveda, que se naquela paragem perdera, dos quais, sendo tantos, sabíamos que quase nenhum escapara...(1998, p. 35). Assim, reforça-se o caráter perigoso das viagens marítimas à Índia, o que podia gerar receio de fazê-las, ainda mais se sabendo da possibilidade de naufrágio ou arribada à Cafraria e as conseqüências que surgiriam disso, caindo-se nas mãos de “cafres” hostis aos portugueses e passando fome, sede, doenças... Embora o personagem central da trama seja Sepúlveda, há consideravelmente a presença de D. Leonor de Sá, sofrendo. E também por isso a narrativa podia causar pena e temor em mulheres. O efeito que a morte de D. Leonor de Sá e dos demais causava nas pessoas se inseria no temor de que o mesmo poderia acontecer com elas (e também na indignação e na pena), o que gerava, sem dúvida, mais medo de fazer viagem pela Rota do Cabo, sobretudo em se tratando da viagem de regresso a Portugal. A morte no naufrágio, principalmente de Sepúlveda – que fora capitão da fortaleza portuguesa no norte da Índia, em Diu, na década de 40 do século XVI –, foi considerada singular pelos contemporâneos e teve repercussão na Europa (dando origem nesta a peças teatrais) e entre os portugueses na Índia. Ela é mencionada em outros relatos de naufrágio da coletânea, como, por exemplo, no referente ao galeão São Bento (que já mencionei), às naus São Tomé e Santo Alberto. Em fontes contemporâneas e posteriores. O próprio Camões imortalizou este fato em Os Lusíadas (2006, p. 149, Canto V, 46-48). E também para o Maranhão – Diogo de Campos Moreno, em sua Jornada do Maranhão [...], compara Pero Coelho de Sousa (por ocasião, sobretudo da caminhada deste em terras maranhenses) com Manuel de Sousa Sepúlveda: “... Pero Coelho de Sousa [...], se veio deixando tudo miseramente a pé com sua mulher e filhos pequenos, parte dos quais pereceram de fome, fazendo tão lastimoso este seu [sic] passagem como o de Manuel de Sousa na terra dos cafres” (2001, p. 29). À maneira de conclusão, pode-se afirmar que a morte do fidalgo Manuel de Sousa Sepúlveda, assim como de sua esposa, em certa medida, contribuiu para fortalecer no imaginário português um cunho trágico (no sentido de ocorrência de sofrimento e de morte) para as viagens portuguesas pela Rota do Cabo, mais especificamente à navegação pela costa da Terra do Natal. E também a Cafraria como lugar perigoso e os “cafres” como violentos e repugnáveis. CAPÍTULO II 2. ALGUNS ELEMENTOS CONDUCENTES A NAUFRÁGIO EM NAVIOS DA CARREIRA DA ÍNDIA 2.1 Infiltração Os navios mencionados na História Trágico-Marítima que naufragaram, sobretudo no sudeste da costa da África Oriental, tiveram como causa agravante para o naufrágio o excesso de infiltração que dificultou o prosseguimento da viagem, fazendo com que os oficiais e outros, em prol da salvação de alguns, procurassem a terra mais próxima. Em vários casos, chegaram a ela, usando batel e esquife. Eis os navios de regresso da Índia, referidos no compêndio, que sofreram infiltração: os galeões São João e São Bento e as naus Águia (Patifa), Garça, Santa Maria da Barca, São Tomé, Santo Alberto, Nossa Senhora de Nazaré. Mas com exceção dos dois primeiros navios, a infiltração foi mais agravante nos demais. É muito de notar o caso das naus Garça e Águia, devido à gravidade que a infiltração assumiu nelas, de tal maneira que, mesmo tendo sido reparadas, não ficaram livres do naufrágio. É de notar ainda que as duas fizeram mais de uma tentativa de regressar ao Reino, principalmente a nau Águia, porém não conseguiram dobrar o Cabo da Boa Esperança, devido também a infiltrações, e foram obrigadas a retornar e seguir para Moçambique, onde os portugueses possuíam fortaleza. Na segunda tentativa realizada, em 1559, a nau Garça teve um destino mais infeliz, pois, devido ao excesso de infiltração, não pôde sequer retornar e ir a Moçambique e “foi-se ao fundo”. Como ela estava navegando em proximidade da nau Águia, houve oportunidade de recolherem-se nesta última as pessoas e cargas, antes do naufrágio. O pior é que a nau Águia também estava sofrendo infiltração, entretanto, conseguiu voltar e chegar a Moçambique. Pode-se imaginar o desconforto em que se acharam as pessoas deste navio, porque, além do excesso de gente (“fidalgos, soldados, gente do mar, escravos, mulheres e meninos”), havia também cargas. A nau Águia, por sua vez, também não conseguiu dobrar o Cabo e chegar a Lisboa. Em duas tentativas de seguir viagem ao Reino, no ano de 1559, ela sofreu excesso de infiltração, ficando impossibilitada de prosseguir, e assim foi obrigada a retornar (“arribar”) a Moçambique, a fim de receber reparos no casco. Na terceira tentativa, igualmente houve infiltração, mas desta vez ela não pôde retornar a Moçambique e teve que “demandar a barra de Mombaça, onde varou em terra e se desfez, salvando-se tudo o que levava, assim de El-Rei como de partes” (ANÔNIMO, 1998, p. 138). Pode-se deduzir o estado precário deste navio, pois nas duas vezes em que fora reparada em Moçambique, após a arribada, ainda assim houve infiltração pelo casco. Com efeito, o próprio narrador menciona o estado deplorável dela. Na primeira tentativa de ir ao Reino, a nau Águia sofreu tormenta, recebendo dano em várias peças. ... Que junto tudo isto à velhice e podridão da nau, a fez abrir por tantas partes que se fora muito facilmente ao fundo se faltara o valor e diligência com que Francisco Barreto fazia acudir às bombas e lançar fora a água, que entrava nela por muitas partes que estavam abertas (Idem, Ibid., p. 124). Mas é de considerar o fato de que a referida nau, conforme o narrador, não foi “a monte” em Moçambique (Idem, Ibid., p. 128), ou seja, ela recebeu reparos estando ainda n’água. Para um reparo eficiente e completo, dever-se-ia virarem-na e deixá-la secar. De qualquer forma, deduz-se sem dúvida alguma que tanto a nau Garça quanto a nau Águia, não estavam em condições adequadas para seguir viagem pela Rota do Cabo. O estado de conservação delas não permitia fazer viagem, mas nem por isso escusou-se de tentar. Durante a viagem das naus referidas na História Trágico-Marítima em alguns casos, na ocasião em que houve infiltração, uma das dificuldades mais sentidas pelos oficiais e passageiros foi a de encontrar o local por onde a água entrava a fim de o mais rápido possível improvisar um reparo. Esta dificuldade fica claro também na nau Santa Maria da Barca: “No próprio dia fomos à arca da bomba para vermos donde vinha a água, e nunca o pudemos julgar que com verdade fosse, porque nunca as bombas puderam ser sem água”. (ANÔNIMO, 1998, p. 172). Mas, ao se descobrir o local do vazamento, para infelicidade dos viajantes, ele era de difícil solução, pelo menos enquanto o navio estivesse n’água. O local mais mencionado ficava abaixo da popa do navio, especificamente no delgado da popa, era chamado “picas” – “lugar irremediável”, como se diz no relato da nau Águia (ANÔNIMO, 1998, p. 131). Este problema é mencionado explicitamente para cinco naus de regresso da Índia, a saber, Garça, Santa Maria da Barca, São Tomé, Santo Alberto e Nossa Senhora de Nazaré, o que remete a uma inevitabilidade do naufrágio, que se deseja transmitir. E nenhuma destas conseguiu dobrar o Cabo, pelo menos na viagem comentada nas narrativas de naufrágio. Este problema esclarece também um dos motivos que fez a nau Garça naufragar sem conseguir retornar a Moçambique, pois havia excesso de água que entrava pelo delgado da popa. Para a nau Santa Maria da Barca, o narrador realça o engano dos que não sabiam a gravidade que era entrar água pela popa: Ao domingo pela manhã quis Nosso Senhor, com darmos toda a noite às bombas e nunca levarmos mão delas, esgotar a água de maneira que pudemos julgar vir da popa; e com isto foi o alvoroço tamanho na nau, que lhes parecia que já tínhamos acabados nossos trabalhos, ao menos a quem não entendia que mal era fazer água por popa. (ANÔNIMO, 1998, p. 172) Nesta mesma nau, a penetração de água pela popa foi tão perigosa que os oficiais, não conseguindo improvisar um reparo satisfatório (o que fez crescer a quantidade de água), ficaram desesperados. Nesse momento, o guardião e o carpinteiro foram informar ao capitão sobre o estado da água no porão. A atitude do capitão D. Luís Fernandes de Vasconcelos foi, a fim de evitar pânico e desespero nas pessoas que estavam no compartimento superior, recomendar-lhes que continuassem tentando improvisar reparos, fazendo segredo acerca da situação da água. (Idem, Ibid., p. 173). Com a penetração de água no navio, uma das opções para expulsá-la e impedir logicamente que ela crescesse de tal modo que o barco fosse ao fundo de imediato, era usar a bomba ou as bombas manuais, quando se dispunha de duas. No momento de muita infiltração, com a água entrando por lugar de difícil reparo – “picas” –, a função da bomba era, pois, garantir a flutuação do navio, até que se encontrasse a terra mais próxima. Nessas circunstâncias, o trabalho com a bomba é enfatizado como cansativo, penoso. Quase todos não estavam isentos de fazê-lo. Neste caso, ressalta-se também a atuação de fidalgos se esforçando para impedir o afundamento imediato da nau, atuando nas bombas dia e noite. Mas em muitos casos, obviamente, por não se conseguir reparar satisfatoriamente o local por onde havia infiltração e haver um reduzido número de pessoas trabalhando, as bombas não eram suficientes para garantir uma redução conveniente da água no navio, como se menciona para a nau Águia: “... Não podiam acabar de vedar e secar, antes, era tanta a água que entrava pelas abertas da nau, que um muito pequeno espaço que deixavam de dar à bomba, achavam nela mais de três e quatro palmos de água de vantagem da costumada.”. (ANÔNIMO, 1998, p. 125). Ainda para esta nau, o capitão dela, Francisco Barreto, para aliviar o serviço dos fidalgos, mandou os negros (“cafres”) trabalharem nas bombas, o que, segundo diz o narrador, reduziu a quantidade de água, possibilitando que o navio chegasse a Moçambique. (Idem, Ibid., p. 127). Contudo, a situação se complicava mais quando, devido aos balanços da nau e à força da água, o paiol das drogas rompia-se, fazendo com que a pimenta entupisse a(s) bomba(s), tornando assim o serviço um tanto paralisado, como se menciona para as naus São Tomé e Santo Alberto. Para complementar o serviço com as bombas, utilizavam-se ainda barris. Usar os barris para expulsar a água era uma tarefa cansativa, isso pelo fato de haver considerável infiltração no navio. (LAVANHA, 1998, p. 377). Como uma das características de quase todas as narrativas de naufrágio é a pretensão de emocionar, despertar piedade e tristeza no leitor, na ocasião em que se comenta sobre o excesso de infiltração, também se pode verificar isso, da parte do autor Manuel de Mesquita Perestrelo. Ao mencionar que o porão do galeão São Bento estava com grande quantidade de água, ele escreve o parecer que os oficiais e marinheiros deram aos passageiros, após verificarem o estado da água no compartimento inferir do navio: Os quais chegados arriba, nos acabaram de desenganar de todo, porque até então não cuidávamos que o mal era tanto, dizendo-nos que a cousa era acabada, porque assim entrava o mar pelo costado da nau como poderia entrar por uma canastra, e que tudo por baixo estava aberto e alagado; portanto cada um tratasse de se encomendar a Deus, porque sem dúvida aquele seria o derradeiro dia que o poderia fazer; a qual nova foi para nós de tanta tristeza e recebida com tanto sobressalto que não houve nenhum em cujo rosto manifestamente se não enxergasse o abalo que recebia de um tão cru desengano, pelo receio que perante tão justo Juiz cada um levava de suas injustas obras. (1998, p. 33). As circunstâncias enfatizadas são trágicas para os viajantes e remetem a uma inevitabilidade do naufrágio. Por isso causam mais tristeza nos embarcados. Perestrelo tenta descrever a reação das pessoas frente à notícia trágica. Observa-se que ele faz questão de dizer como a notícia foi encarada pelos passageiros, que o incluía também, e a expressão que ela causou no rosto das pessoas. Isso podia causar tristeza e piedade no leitor da época do autor. A versão apresentada por alguns narradores acerca dos motivos para infiltração refere-se à negligência dos contratadores, assim como dos responsáveis pelos serviços na estrutura do navio, que incluem, neste último caso, calafate e carpinteiro. Melchior Estácio do Amaral e João Batista Lavanha são unânimes em afirmar que a razão imediata mais agravante para as infiltrações em navios da Carreira da Índia liga-se à técnica usada no reparo da querena (a parte do navio que ficavam submersa) – a “querena italiana”. Isso especificamente para o último quartel do século XVI e princípio do XVII. Os navios sofreram infiltração, porque em vários casos estavam mal calafetados. A técnica usada na querena dos navios, que é criticada asperamente pelos narradores citados, correspondia à mesma usada em barcos italianos que seguiam viagem pela rota do Levante. A técnica consistia basicamente em fazer reparos no casco dos navios sem tirá-los d’água (sem levá-los “a monte”, como se dizia na época). Era considerada nitidamente incompatível para os navios mercantes da Rota do Cabo. As razões apresentadas para tal incompatibilidade referem-se ao fato de na rota do Levante, seguida por barcos italianos, haver inferioridade de tormenta, comparada à Rota do Cabo, ao fato de naquela tomar-se porto em poucos dias de viagem e à carga, considerada mais leve. Ao passo que na Rota do Cabo, segundo Amaral, “as naus da Índia atravessam o mar oceano de pólo a pólo, e passam o cabo de Boa Esperança, não carregadas de vidro, senão sobrecarregadas de grandes máquinas de caixões e fardos e drogas pesadíssimos...” (1998, p. 540). Além disso, com essa técnica havia impossibilidade de reparar alguns locais do casco. Com tal forma de reparar, o calafeto saía-se em condição inadequada para a viagem. Os barcos ficavam, pois, mal calafetados. Estando eles n’água, a umidade dificultava a fixação satisfatória da estopa nas juntas do casco, bem como das pastas de chumbo que se colocavam por cima da estopa e do breu. No contato intenso com as ondas do mar, acabavam desgrudando-se, como aconteceu com a nau São Tomé. O calafeto dela estava em condições inapropriadas para a viagem, de tal maneira que ao sair da Índia, em 1589, navegando nas proximidades da ilha de Diogo Rodrigues, a estopa deslocou-se, mas houve resolução. Porém ao chegar à ilha de São Lourenço, a estopa e as pastas de chumbo se desgrudaram. Isto fez o crítico Diogo do Couto desabafar contra os oficiais responsáveis pela calafetação da nau (sobretudo, calafates). Afirma ele que este problema deveu-se à má calafetação no navio, “por cuja causa se perdem muitas naus, no que se tem muito pouco resguardo e os oficiais muito pouco escrúpulo, como se não ficassem à sua conta tantas vidas e tantas fazendas como se metem nestas naus”. (COUTO, 1998, p. 343). Essa maneira de reparar o navio é vista como a grande responsável pelas infiltrações, que, conseqüentemente, provocavam naufrágio. João Batista Lavanha faz questão de acentuar que a penetração de água na nau Santo Alberto aconteceu sem haver tormenta: “Sem vento nem mar que a causassem, começou a nau a fazer muita água” (1998, p. 376). A técnica adotada dos italianos era, pois, vista como extremamente danosa à navegação na Carreira da Índia. Tinha-se consciência disso, mas ainda assim a usavam. O principal motivo para tal repousava no fator econômico e na negligência por parte de contratadores e oficiais. A adoção de tal técnica, como diz Amaral, foi feita “não por melhor fim, mas por se poupar parte no custo que fazem pondo-se [o navio] a monte”. Ou seja, conforme as críticas dos narradores (Lavanha e Amaral), para os contratadores era menos dispendioso tanto em dinheiro como em tempo que os reparos fossem realizados com os navios ainda n’água, do que levá-los a seco, esperar que secassem, para só depois proceder com os consertos. Aliado a isto havia o serviço por “empreitada”, em que calafates eram pagos por tarefa e em alguns casos, apressadamente, faziam o serviço de forma incompleta, deixando imperfeições. João Batista Lavanha afirma que por pressa e negligência alguns calafates, reparando o casco de um navio, ao encontrar velhas rachaduras, “dissimulam com elas e enfeitam o dano de maneira que pareça bem consertado, e debaixo dele fica a perdição escondida e certa.”. (Ibid., p. 380). Com efeito, em certos momentos, o descuido de alguns calafates assumiu uma dimensão, a ponto de a nau Santa Maria da Barca, estando ainda no porto de Lisboa e prestes a partir à Índia em 1557, ter sido acometida por uma infiltração considerável, de tal maneira que se necessitou tirar-lhe a carga. Depois de algum tempo à procura do local por onde a água penetrava, achou-se que era por “um furo de um prego na quilha”, que os calafates haviam se esquecido de pôr prego. O narrador termina por concluir: “E permitiu Deus Nosso Senhor que acontecesse isto a esta nau estando no porto, por que se não perdesse a ida, que se fora no mar nenhum remédio tinha.” (ANÔNIMO, 1998, p. 171). Além disso, houve casos, como é verificado para a nau Nossa Senhora de Belém, em que, devido ao interesse econômico e à pressa no embarque em Goa para a partida ao Reino, o calafate tratou de embarcar sacos de canela, em vez de levar peças de reposição para as bombas (LANCIANI, 1992, p. 74-75). Diga-se de passagem, as bombas estavam em estado ruim de conservação e a referida nau sofreu infiltração. Outro motivo apontado é o tipo de madeira usado nos estaleiros para o reparo e conserto dos navios, até mesmo para a construção. As madeiras não poderiam ser cortadas fora de sua sazão, que era na Lua minguante de janeiro, pois neste período estariam maduras e aptas para ser usadas eficientemente nos navios. Elas, assim, apresentavam outras vantagens, como leveza, facilidade de secar, durabilidade, menor tendência a empenar e possibilitavam a fixação satisfatória da pregadura e do calafeto (AMARAL, 1998, p. 542). Mas as madeiras colhidas fora do tempo e postas em navio causavam vários inconvenientes. Como escreveu João Batista Lavanha: As madeiras fora de seu tempo e sezão [...] são pesadas, verdes e dessazonadas, como tais torcem, encolhem e fendem, e desencaixam-se do seu lugar, com que, despedindo a pregadura e estopa, abrem, e com a umidade da água de fora e grande quentura da pimenta e drogas de dentro, logo se apodrecem e corrompem na primeira viagem. (1998, p. 380). Amaral, por sua vez, dá algumas sugestões que ele considera adequadas para o reparo dos navios, sobretudo no casco, a fim de evitarem-se naufrágios: Para ser bem consertada [uma nau], há de ser pondo-se a monte e secando-se primeiro muito bem, porque não cuspa o calafeto, começando-se a ver pela quilha, o que não se pode fazer da querena; e em tais adereços se há de proibir toda a empreitada e advertir com grande tento que se lhe não mete pau nem tábua, senão muito seca, enxuta e colhida de vez, qual é a lua de janeiro. (Ibid., p. 540) Daí se observa a complexidade que envolvia o empreendimento de uma viagem com segurança pela Rota do Cabo. Pelo que foi dito e pela ocorrência de naufrágio de várias naus, causado em grande medida por excesso de infiltração, percebe-se ainda que, embora fosse uma questão vital o adequado preparo dos navios, fica implícito que às vezes não era fator de muita preocupação, de maneira a dar prioridade à conservação dos barcos adequadamente para viagens pela Rota do Cabo, sem terem que sofrer infiltração, causada simplesmente por má calafetação. A não preocupação adequada, concernente à conservação dos navios, verificada em certos momentos, estava ligada ao fato de que, para a realização dos reparos de maneira eficiente, teria que se dispor obviamente de recursos financeiros. As infiltrações nos navios de regresso a Portugal, que são mencionados nas narrativas, foram motivos agravantes para o naufrágio, mas se deve deixar claro que elas não constituíram o único fator. Na realidade, as infiltrações fizeram parte de um conjunto de fatores, aparecendo logo de imediato, a velhice e inaptidão de alguns navios para realizar viagens pela Rota do Cabo. Isso fica mais claro quanto se sabe que não era a primeira vez que eles faziam viagem, enfim, que anteriormente ao naufrágio, já estavam navegando pela Rota do Cabo. Em relação às posturas inconvenientes na navegação, as críticas são muitas. A ganância de pessoas, notadamente das responsáveis pela viagem, é criticada e apresentada como um fator considerável para o naufrágio. Em alguns casos, navios apresentaram infiltração, chegando depois a naufragar (ocasionando a morte de muitas pessoas), porque não levavam peças de reposição ou elementos para proceder com reparos, como é dito para a nau São Tomé, em que no momento de muita infiltração os oficiais saíram à procura de pregadura e não encontraram. O navio não levava pregos suficientes, o que impediu um reparo satisfatório. Isso fez o crítico Diogo do Couto afirmar que muitas naus da Carreira da Índia “andam a Deus misericórdia, por pouparem [-se] quatro cruzados” (1998, p. 344). Caso parecido é o do galeão São João (mas respeitante ao velame), em que um dos problemas mais agravantes que sentiu na viagem foi o estado ruim das velas. Embora houvesse conhecimento acerca do estado precário em que se encontrava o velame, nem por isso o galeão deixou de seguir viagem, e o pior sem levar velas sobressalentes (reservas). É de notar a afirmação do narrador de que os navegadores perderam tempo retirando as velas para costurá-las: “E uma das causas por que não tinham dobrado o Cabo a este tempo, foi pelo tempo que gastaram em as amainar para coserem” (1998, p. 6). A precariedade das velas também é mencionada para a nau São Tomé (Idem, Ibid., p. 345). A nau Nossa Senhora de Nazaré é outro caso de navio em estado ruim. Ao sair de Goa em 1593, com excesso de carga, sofreu infiltração pela popa, mas conseguiu chegar a Moçambique, onde foi encalhada para ser reparada, e viu-se o estrago no seu casco. Como escreveu Amaral: “... E se viu as grandes aberturas e muitas costuras, de modo que estavam nelas recolhida grande soma de caranguejos; e isto de costuras nasce das madeiras serem verdes e de as não cortarem na lua velha de janeiro, que é sua verdadeira sezão, e na minguante.”. (1998, p. 528). Enfim, são muitos os casos. Termino este tópico analisando um assunto que constituiu preocupação e problema em navegação durante a época moderna, ou seja, a ação do gusano na madeira das embarcações. Embora nas narrativas de naufrágio não haja referências ao gusano, preferindo alguns narradores responsabilizarem, sobretudo a má calafetação dos navios pela ocorrência de infiltração, sabe-se que ele causou preocupação em navegadores, durante séculos, e foi em vários casos responsável por deterioração de navios, que favoreceu penetração de água pelo casco. O gusano era um molusco que se fixava no casco dos navios, provocando corrosão na madeira. Ele era conhecido como “busano” ou “bicho”. A sua fixação, aliada à contínua presença dos navios n’água, causava considerável dano no costado dos barcos. Entretanto, os portugueses possuíam uma fórmula para tentar impedir a ação do gusano, embora nem sempre funcionasse satisfatoriamente. Tratava-se, principalmente, da galagala, usada no costado dos navios19. Ela era uma “espécie de betume sobre que assenta o ferro e o cobre no fundo das embarcações, feita com cifa, ou seja, untura que se dava aos navios, com gordura ou com azeite de peixe e, ainda, cal” (IRIA,1963, p. 68). Para a Índia Portuguesa, especificamente à Goa, por meio de uma carta do governador D. João de Castro, sabemos que o rio daquela região (provavelmente o rio Mandovi, Castro não cita o nome) era infestado de gusano. Ao escrever ao rei D. João III em 1546, o governador informa-o acerca do estado em que se encontrava a armada real usada para ataque aos considerados inimigos, bem como para defesa dos portugueses. Castro afirma que vários barcos se encontravam em precário estado de conservação e responsabiliza exclusivamente a ação do gusano, sobretudo no costado dos navios. Afirma também que se a referida armada permanecesse mais três meses sem reparação, acabaria ela toda naufragando. Esta afirmação é ilustrativa quanto ao poder do gusano em deteriorar o casco de navios, depois de algum tempo fixo e estando ele numeroso. Em prol de tornar os navios aptos para navegação, Castro iniciou os reparos à armada real. É de notarem as ordens que o governador deu aos carpinteiros e calafates da ribeira de Goa para serem postas em prática, especificamente nos galeões, para que resistissem mais à ação do gusano. Vejamos as palavras de Castro: ________________ 19 Por meio de uma carta da princesa Margarida, escrita no ano de 1636 e endereçada ao vice-rei da Índia Pedro da Silva, podemos saber outro método que ingleses e holandeses usavam no combate ao gusano, principalmente para a navegação pela costa da Guiné. Como reza o documento: “E advertindo que os holandeses previnem os seus navios do gusano com darem ao costado das naus pêlo de cabra com betume sobre que caia, e logo forram o costado com tábuas de dois dedos de grossura, e quase a tábua do costado como a do forro se deve queimar de maneira que faça carvão porque esta é a maior defensa para o bicho.”. A princesa escreveu incentivando o vice-rei a também adotar, na Índia, este método usado por europeus. Entretanto, o referido vice-rei responde à princesa, dizendo que o meio mais eficiente para o combate ao gusano continuava sendo a galagala. Cf. Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, pp. 66-68. (atualizei a ortografia e a acentuação, sem introduzir palavaras). Pelo que, com parecer dos oficiais da ribeira, ordenei que [a] estes galeões lhes fosse posta uma galagala desde a quilha até a primeira cima, e por cima desta galagala se lhe lançasse um ferro, e em cima do ferro lhe tornassem a pôr outra galagala, de maneira que tivesse o busano estas 3 muralhas de passar primeiro que chegasse ao costado... (1989, p. 101). Os navios menores foram restaurados aos poucos, mas com um reforço menor no costado. Precisou-se dar prioridade aos galeões, porque também nessa época turcos de Cambaia estavam penetrando em fortalezas portuguesas no norte da Índia, como em Diu, assim os referidos navios seriam úteis para a guerra ali. Por fim, a ação do gusano na madeira dos navios não constituía preocupação apenas porque era prejudicial à navegação, mas também porque implicava reparos muitas vezes dispendiosos financeiramente. Também por causa disso, a Coroa recomendava cuidados, a fim de impedir a ação do referido molusco. 2.2 A questão da carga No século XVI, as principais regiões indianas abastecedoras de carga para navios da Carreira da Índia foram Cochim, Cananor e Coulão, com ênfase à primeira. Para uma compreensão mais ampla, vejamos de maneira simples e resumida alguns aspectos sobre a armada cabralina na Índia. Em se tratando do fator comercial, a razão que leva a viagem de Cabral a ser a inauguradora da Carreira da Índia é o fato de que foi a partir dela que começou haver acordos comerciais entre os rajás das duas primeiras regiões e os portugueses. Tanto que depois de partir de Calicute, Cabral comprou pimenta e deixou feitores em Cochim e depois foi a Cananor, onde adquiriu gengibre20. Além disso, ele levou a Portugal, representantes dos rajás das duas últimas regiões (Cochim e Cananor), a fim de, também, deliberar sobre questões comerciais. Na realidade, o capitão-mor Pedro Álvares de Gouveia Cabral levou em seu regimento, dado por D. Manuel I, ordens para montar feitoria, principalmente em Calicute, porém devido à atuação frente ao Samorim, por parte, sobretudo de mercadores muçulmanos que viviam na região e de outros que ali iam comercializar, não foi possível manter uma feitoria pacificamente. A penetração portuguesa na região foi vista pelos mulçumanos comerciantes e pelo próprio Samorim como uma ameaça aos seus negócios. Calicute era a região mais desenvolvida do Malabar, devido ao intenso comércio que se realizava ali há séculos, sendo que os mercadores de Meca eram um dos agentes principais. Eles levavam produtos asiáticos, como especiarias, para o Cairo e Alexandria... Nesta última região, genoveses e venezianos os compravam e vendiam na Europa. A presença portuguesa na Índia foi vista pelos “mouros de Meca” como uma ameaça, porque além da intolerância religiosa que havia entre eles e os portugueses, a concorrência comercial passou a ficar mais nítida. Os portugueses, como se sabe, tinham o projeto de fechar a Rota do Mar Roxo, sobretudo para as mercadorias exportadas da Índia, transportadas por “mouros de Meca”. Os produtos asiáticos, na lógica dos portugueses, deveriam chegar à Europa apenas pela Rota do Cabo da Boa Esperança, obviamente, em navios portugueses, significando assim que desejavam ser os únicos vendedores __________ 20 Cf. João de BARROS. Décadas. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1945, vol. I, p. 158 e p. 167; Luís de ALBUQUERQUE. (ed.) Crônica do descobrimento e primeiras conquistas da Índia pelos portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986, pp. 160-161; e vários dos documentos presentes na obra: Janaína AMADO e Luís Carlos FIGUEIREDO (Orgs.). Brasil 1500: quarenta documentos. Brasília: Editora Universidade Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001. dos produtos asiáticos no continente europeu. Dessa forma, as duas razões, concorrência comercial e intolerância religiosa recíproca, foram motivos mais que suficientes para aumentar as hostilidades entre ambos. As rivalidades se acentuaram ainda mais quando os muçulmanos investiram contra a feitoria portuguesa em Calicute. O estopim para o ataque muçulmano aos portugueses e à sua feitoria deveu-se ao apresamento feito por Cabral a um navio de mercadores “mouros”, que havia saído de Calicute, com especiarias. Na lógica dos portugueses, do porto de Calicute só poderiam sair barcos mercantes de “mouros de Meca” depois que as naus de Cabral estivessem suficientemente carregadas de mercadorias. Como o Samorim de Calicute não quis acolher satisfatoriamente os portugueses, em detrimento dos comerciantes muçulmanos e depois de a feitoria portuguesa ser destruída, com a morte de meia centena de portugueses, Cabral deixou a região, mas antes de partir, queimou quinze navios que estavam na costa e bombardeou a cidade. Dos vários documentos que disponho sobre este último episódio, a Crônica do descobrimento e primeiras conquistas da Índia pelos portugueses é bem precisa. Afirma-se nela que, depois de a feitoria portuguesa ser atacada, com a morte de portugueses, Cabral respondeu: “Vendo tal caso, [Cabral] tomou quinze naus que estavam no porto, e, à vista da cidade, mandou matar os mouros e queimar as naus. Então fez chegar as naus a terra quanto pôde e bombardear a cidade, derrubando muitas casas e matando e ferindo muitos, por espaço de três dias...” (ANÔNIMO, 1986, p. 59). As hostilidades não pararam por aí, imediatamente, D. Manuel I, sabendo por meio de Cabral a situação em Calicute, reuniu uma poderosa armada e concedeu o cargo de capitão-mor dela a Vasco da Gama, o qual saiu de Lisboa em 1502, com o objetivo de impor domínio ao Samorim e aos muçulmanos. Os portugueses dessa armada cometeram várias atrocidades aos naturais da Índia e também bombardearam Calicute. E as atrocidades continuaram com a ida das armadas seguintes. É então a partir dessas circunstâncias hostis entre portugueses e o Samorim que entraram em cena Cochim e Cananor, regiões menos desenvolvidas do que Calicute porque comercializavam menos (nas quais havia menor número de mulçumano comerciando), cujos rajás eram inimizados com o Samorim. A lógica, da parte de Cochim ou Cananor, era fazer amizade com os portugueses, para conseguirem lucros com a venda das especiarias e proteção militar contra o “exército” do Samorim. João de Barros expressou claramente as razões para a aliança do rajá de Cochim com os portugueses: Porque com isto fazia duas cousas, ganhar nossa amizade para nos ter contra o Çamori, quando lhe comprisse, e a segunda que haveria das nossas mãos muitas e boas mercadorias e dinheiro em ouro (segundo lhe contava Miguel), que é o nervo que sustem os estados no tempo de sua necessidade. (1945, vol. I p. 155). Com efeito, devido sobretudo ao acolhimento que o rajá de Cochim deu aos portugueses, o Samorim de Calicute reuniu seu “exército” e investiu mais de uma vez contra Cochim. As circunstâncias evidenciadas em Calicute, pois, foram aproveitadas tanto pelos rajás das regiões menos desenvolvidas, sujeitas ao domínio do Samorim, como pelos portugueses. Com a aliança que se fez na época de Cabral e outras posteriores (como, por exemplo, a de D. Francisco de Almeida), Cochim tornou-se durante todo o século XVI a principal região indiana abastecedora de carga para navios da Carreira da Índia, com ênfase à pimenta. Na região foram construídas feitoria e fortaleza portuguesas, bem como nos demais lugares, como já mencionei. A aliança com os portugueses trouxe vantagem para Cochim. Como bem disse Vitorino Magalhães Godinho: “... O Estado de Cochim é um protegido de Portugal; foram as armas lusitanas que obstaram a que fosse esmagado pelo Samorim, e foi a freqüência do seu porto pelas ‘naus do Reino’ que estimulou o seu crescimento econômico” (1982, vol. III, p. 37). Diante do que foi exposto sobre Cochim, fica esclarecido o fato de que quase todos os navios de regresso da Índia, mencionados na História Trágico-Marítima, partiram de Cochim para o Reino, depois de receberem carga. Os navios que partiram do porto dessa região indiana são os seguintes: São João, São Bento, Águia, Garça, Santa Maria da Barca, São Tomé e Santo Alberto. Apenas dois não partiram de Cochim, mas de Goa – galeão Santiago e nau Chagas, conforme os relatos de naufrágio. Entre os produtos que se levavam de Portugal para a realização das compras na Índia aparecem em sua maioria metais, como cobre, chumbo, azougue, mercúrio, estanho, etc. (GODINHO, Ibid., p. 69). Na segunda metade do século XVI, à frente destes, aparece a prata, a qual era transportada pelas naus em barras ou mais comumente na forma de moedas de oito reais espanhola (BOXER, 2002, p. 230; DISNEY, 1981, p.130), já o ouro era em menor quantidade. Inclusive, na narrativa do naufrágio da nau Santiago, a qual seguiu viagem à Índia em 1585, é mencionada a presença destas moedas de prata, no momento do naufrágio. Conforme o autor Cardoso: “Estava o chapitel [da nau] alastrado de moedas de oito reales em grande quantidade” (1998, p. 309). Mas a menção é feita pelo narrador para que, do ponto de vista econômico, seja maior a lamentação à perda da referida nau, considerada “rica e próspera”. Além destes produtos, segundo Francisco Pyrard, de Laval, em se tratando do início do século XVII, os particulares levavam para trocar na Índia, por especiarias e drogas – mercadorias “ali mui procuradas”, entre outras, panos de lã, ferro, alimentos, como vinho, azeite, peixe salgado, queijo. (1944, vol. II, p. 160). Segundo o historiador Anthony Disney, os reais de prata não eram utilizados diretamente na compra da pimenta em Kanara e no Malabar, mas “normalmente os portugueses pagavam a pimenta, ou em moeda local, como estatuíam os tratados celebrados com os senhores locais, ou em ouro” (1981, p. 131). Na Casa da Moeda de Goa, a partir de fins da década de 40 do século XVI, iniciou-se a cunhagem da moeda de ouro, o São Tomé, que passou a ser usada nas transações mercantis entre portugueses e comerciantes no Malabar (DISNEY, Ibid., p. 131; BOXER, 2002, p. 75). Em Lisboa, o órgão administrativo para a importação e exportação de produtos asiáticos era a Casa da Índia, criada no início do século XVI. Ela era responsável pela venda de alguns dos produtos levados da Ásia para Portugal pelos navios da Rota do Cabo, como a pimenta. Disney diz as principais atividades deste órgão: “Os seus funcionários encarregavam-se também da venda de pimenta e outros produtos do Oriente por conta da coroa, fiscalizavam o carregamento e o descarregamento de navios, inspeccionavam-nos em busca de contrabando e pagavam à tripulação” (Ibid., p. 110). Os produtos asiáticos transportados por navios da Carreira da Índia, no século XVI, eram distribuídos principalmente na Europa. Dentre as regiões européias receptoras de especiarias levadas, principalmente de Cochim para Lisboa, estão Antuérpia, Sevilha, Florença, Gênova e Londres (BARRETO, 2000, p. 51). Aspectos meteorológicos no Atlântico e no Índico determinavam um calendário para a partida dos navios da Carreira da Índia. Para seguir à Índia, o mês de março era o apropriado. Já para retornar a Portugal, o mês de dezembro era o que deveria ser cumprido. Como neste tópico interessa-nos a viagem de retorno ao Reino, comenta-se sobre ela. Era conveniente partir da Índia o mais tardar no mês de dezembro, porque, se não acontecesse qualquer problema durante a viagem, as naus poderiam contornar o Cabo da Boa Esperança em março e chegar a Lisboa no mês de junho ou princípio de julho. Os navios aproveitariam a monção favorável do Índico, ou seja, os “ventos de nordeste que sopram no Índico de outubro a março” (GUERREIRO, 1998, p. 416). Além disso, convinha partir da Índia em dezembro, para que as naus passassem pelo Cabo da Boa Esperança ainda no verão (AMARAL, 1998, p. 542). Mas, do contrário, se os navios saíssem da Índia em fins de janeiro, fevereiro ou até mesmo em março, quando se aproximassem do Cabo da Boa Esperança, receberiam o vento ponente pela proa, nos meses de abril, maio ou junho21, o que evidentemente não convinha para a navegação, uma vez que haveria grande possibilidade de naufrágio. Assim, os navios estariam atrasados em relação à monção do Índico, e, se não conseguissem ultrapassar o Cabo, teriam que retornar e seguir para Moçambique ou para a terra mais próxima, no caso a costa da Cafraria, conforme a gravidade da situação. Com isso, ficam colocadas as diretrizes para uma viagem de retorno da Índia menos perigosa, em se tratando de fatores meteorológicos: partir da Índia o mais tardar em dezembro, a fim de sair dentro da monção; para não receber muitos ventos contrários nas proximidades do Cabo da Boa Esperança; e evitar o período chuvoso ali. Com isso, afirma-se que o Cabo era muito perigoso para a navegação apenas em algumas épocas do ano. É claro que partindo da Índia no mês de dezembro os navios não ficariam completamente isentos de tormenta, ondas impetuosas ou chuvas fortes. Havia sim a possibilidade de esses fenômenos acontecerem repentinamente (como, de fato, houve). Assim, não deixa de possuir lógica, para a navegação à vela e principalmente para um percurso tão longo quanto o da Carreira da Índia, o que disse, no século XVII, Francisco Leitão, segundo o qual as coisas do mar estão sujeitas a incertezas e variedades22. Entretanto, partindo-se na época apropriada a viagem seria sem dúvida menos perigosa. ______________ 21 Cf. Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, pp. 56-57. 22 Cf. Alberto IRIA. Op. Cit. p. 60. Ademais, a data para a partida devia ser cumprida, principalmente pelos grandes navios mercantes que anualmente faziam o percurso da Rota do Cabo. Barcos menores, como patacho, fragata, caravela, etc. podiam fazer a viagem à Índia ou vice-versa fora da data recomendada para a partida, sem passarem por muitos problemas, mas isso mediante algumas condições. Como bem lembrou Vitorino Magalhães Godinho: “É certo que pequenos veleiros de boa traça e feitura, capitaneados e pilotados por homens de excepcional competência, conseguem fazer a viagem fora de época sem alongamentos excessivos da duração” (1982, vol. III, p. 44). Sobretudo para a viagem de regresso a Portugal, na prática, nem sempre foi possível cumprir rigorosamente o calendário. A fim de evitar mais naufrágios, Melchior Estácio do Amaral recomenda enfaticamente que os navios passem a partir da Índia, impreterivelmente, no mês de dezembro (1998, p. 542). Os navegadores e os responsáveis pela viagem sabiam bem a data da partida, porém havia imperativos, sobretudo de ordem monetária, que impedia o cumprimento ao calendário. Como as naus iam à Índia para retornar com carga, que incluía produtos de vários gêneros, com ênfase às especiarias, especialmente à pimenta, teria que se dispor, nas feitorias portuguesas, principalmente em Cochim, de cabedal suficiente para fazer as compras, com a devida antecedência. Porém, na prática, este fato tornou-se uma dificuldade para os funcionários portugueses na Índia. Nesse sentido, são significativas as palavras do historiador Vitorino Magalhães Godinho: “A razão do adiamento da partida de dezembro para finais de janeiro é [...] a dificuldade financeira de dispor de dinheiro de ante-mão para realizar as compras com a devida antecedência” (Ibid., p. 45). Esse problema constituiu uma das queixas presentes em missivas de administradores portugueses da Índia enviadas às autoridades de Portugal. Em se tratando de meados do século XVI, uma carta do governador da Índia D. João de Castro ao rei de Portugal D. João III, revela bem esta questão: Grande serviço de Deus e bem universal de todo seu reino e acrescentamento de seu estado seria buscar-se algum remédio para se mercar [comprar] a pimenta de um ano para o outro, porque em ser verde ou seca releva muito, e as naus carregariam cedo e fariam seu caminho em tempos prósperos, sem sentimento de tormentas nem pairos do cabo da Boa Esperança, que é a maior fortuna e atribulação que se pode imaginar; nem arribariam a Moçambique, que é grande perda de sua fazenda e prejuízo da negociação do trato de Moçambique e Sofala, nem se perderiam senão por grande desastre; porque eu tenho por opinião que as naus que se perdem nesta carreira é por sofrerem estes pairos e no dobrar do cabo, o que tudo nasce de partirem tarde de Cochim, esperando a carga. (1989, p. 12-13). Os “pairos” referem-se a navegar com ventos contrários. As palavras acima de Castro são significativas, principalmente, porque associam de maneira precisa a partida tarde da Índia pelos navios da Carreira (e, por conseqüência, sentirem dificuldades no dobrar o Cabo da Boa Esperança) com a inconveniência de não se dispor de dinheiro antecipado, suficiente para efetuarem-se as compras consideradas satisfatórias às naus, para elas partirem em dezembro. O rei de Portugal e seus conselheiros sabiam deste problema, porém a não solução definitiva podia estar ligada ao fato de Portugal ser um Estado pobre, ou a Coroa não querer mandar para a Ásia um montante financeiro elevado, já que, na Índia, vários administradores portugueses não viam problema em se apoderar do tesouro Real. O próprio D. João de Castro faz várias referências ao assunto. No século XVII, o capitão português João Ribeiro foi bem expressivo ao enfatizar roubo ao tesouro Real, afirmando que tanto no século XVI quanto no XVII muitos portugueses na Índia e na ilha de Ceilão (atual Sri Lanka, no sul da Índia) consideravam a Fazenda Real uma coruja, da qual todos os pássaros tiravam uma pena (1989, p. 28). A pimenta, no século XVI, foi monopólio régio e uma das principais mercadorias transportada em naus portuguesas da Rota do Cabo, na viagem de regresso. Do ponto de vista da Coroa portuguesa, a compra da pimenta na Índia para a posterior venda constituía um elemento legitimador da Carreira da Índia. Enquanto o comércio da pimenta fosse proveitoso para a Coroa, a Carreira da Índia fazia sentido existir, embora interesses comerciais de particulares também estivessem envolvidos com as navegações pela Rota do Cabo. Embora a Coroa proibisse o transporte e comércio de pimenta por particulares, sabe-se que a desobediência não raro foi praticada. Em um documento da década de 90 do século XVI, fica claro que ela era transportada e vendida clandestinamente em naus da Carreira da Índia. E ainda se mencionam nele algumas das artimanhas adotadas, como trazer escondida a pimenta em fardos ao modo de arroz e de outros produtos ou misturada em sacos com mantimentos23. A pimenta adquirida pelos portugueses na Índia era cultivada no Malabar e no Kanara. Mas a sua obtenção esteve ligada a alguns problemas. ______________ 23 Cf. Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, p. 13. O primeiro deles ligava-se à colheita, que era realizada em dezembro e janeiro, sendo que depois era posta para secar por um mês a fim de que não houvesse excesso de quebra (GODINHO, 1982, vol. III, p. 18). Assim, “normalmente, as compras [da pimenta] realizavam-se a partir de março, em dois ou três meses, e deviam terminar em fins de maio, quando a oferta começava a diminuir” (DISNEY, 1981, p. 53). Dessa forma, o mês de março era o tempo apropriado para a obtenção da pimenta, uma vez que ela estava bem madura e em condição adequada para o consumo, sem falar que nessa época era mais barata do que nos meses seguintes, quando a sua oferta diminuía. Com isso, já se pode ter uma compreensão acerca das palavras de D. João de Castro, quando diz que “mercar a pimenta de um ano para o outro, porque em ser verde ou seca releva muito”. Ao aludir sobre a pimenta verde e madura, Castro está referindo-se ao fato de que os portugueses a compravam na época em que ela ainda estava verde, portanto, não completamente de boa qualidade. Adquiri-la assim era prejudicial, pois “além de provocar quebras no peso facilitava a sua deterioração pelo caminho” (THOMAZ, 1998, p. 122). A dificuldade residia no fato de que os navios portugueses para o transporte da pimenta e de outras mercadorias só podiam chegar à Índia em agosto ou setembro, março era o mês em que eles saíam de Lisboa. Além disso, eles levavam o cabedal para completar as compras. Assim, os inconvenientes monetários e de ordem meteorológica obrigaram muitas vezes os portugueses a adquirirem parte da pimenta em novembro ou dezembro, quando ela ainda não estava completamente madura (DISNEY, Ibid., p. 54). Isso para completarem a carga das naus e partirem o mais tardar em janeiro. Diante disso, em prol da obtenção da carga satisfatória e da partida dos navios no mês de dezembro, era fundamental dispor-se de dinheiro suficiente nas feitorias portuguesas, uma vez que assim poder-se-ia comprar a pimenta em março e seguir devagar comprando a pimenta velha por todos os meses seguintes, até a chegada das naus (GODINHO, Ibid., p. 18). Por fim, devia ter-se dinheiro, porque as especiarias e os outros produtos eram vendidos preferencialmente à vista pelos senhores da Índia. Pelo que foi exposto até aqui já se compreende que um dos motivos que levava os navios portugueses a partirem tarde da Índia ligava-se à espera para a obtenção da quantidade de carga desejada. Essa perda de tempo era agravada, porque no tempo em que as naus chegavam à Índia (agosto ou setembro), as mercadorias, como a pimenta madura, já estavam em pequena proporção à venda. A pimenta e outros produtos eram vendidos em grande parte na própria Ásia. Sem falar que os próprios portugueses residentes na Índia também a vendiam, clandestinamente, para regiões asiáticas, como Balagate, Bengala, Pegu, Ormuz, China, etc., mesmo sabendo que era contra a ordem régia. Conforme o rei de Portugal (por ser seu monopólio), a pimenta conseguida pelas feitorias portuguesas na Índia deveria ser reservada tão-somente para as naus da Rota do Cabo, que a levariam ao Reino, e não ser vendida em qualquer região. Na narrativa sobre o naufrágio do galeão São João, a ida deste navio à feitoria de Coulão, a fim de completar a carga de pimenta, é apontada como a razão principal para sua partida tarde da Índia (em fevereiro). Mas lá havia pouca e o navio partiu com uma quantidade de pimenta inferior à que se costumava levar. (ANÔNIMO, 1998, p. 6). O narrador não explica os motivos da insuficiência de pimenta em Coulão ou Cochim para abastecer o galeão São João, o qual saiu sem a quantidade desejada. Contudo, diante do que foi comentado até aqui, já se pode ter uma noção acerca de algumas das razões. O comentário sobre a partida tarde da Índia foi feito, também, para uma maior compreensão acerca do naufrágio de alguns dos navios mencionados na História TrágicoMarítima. Então, veja-se, de maneira resumida. A partida tarde da Índia, ou seja, depois do mês de dezembro, é apontada por alguns narradores como uma das causas que contribuíram para o naufrágio dos navios mencionados na História Trágico-Marítima, principalmente para os galeões São João, São Bento e naus Águia e Garça. Aos demais navios de regresso da Índia – nau Santa Maria da Barca, nau São Tomé e nau Santo Alberto –, o excesso de infiltração é apontado como motivo forte para o naufrágio, como já vimos. Porém, nenhum destes navios conseguiu partir de Cochim no mês de dezembro. A partida deu-se nos meses de janeiro e fevereiro. E, na referida viagem, eles não conseguiram dobrar o Cabo da Boa Esperança. O problema de partir tarde da Índia e depois sentir, conseqüentemente, dificuldades no dobrar o Cabo da Boa Esperança, fica claro no caso do galeão São João. Ele partiu tarde de Cochim, em fevereiro de 1552. Ao chegar à costa da Terra do Natal, em abril, recebeu o vento ponente pela proa, que o impediu de dobrar o Cabo da Boa Esperança. Tal fato foi uma das razões que o obrigou a procurar a terra mais próxima. Nas circunstâncias inconvenientes, arribar foi obviamente visto pelos oficiais como melhor opção: “E sendo perto da noite o capitão chamou o mestre e o piloto e lhes perguntou que deviam fazer com aquele tempo, pois lhe era pela proa, e todos responderam que era bom conselho arribar.”. (ANÔNIMO, 1998, p. 6, grifo meu). O galeão São Bento partiu tarde da Índia, no início de fevereiro de 1554. Na costa da Cafraria, recebeu ventos contrários. Como havia infiltração, os oficiais decidiram voltar e ir a Moçambique, porém a quantidade de água diminuiu. Diante disso, o navio retomou viagem, em demanda do Cabo da Boa Esperança. (PERESTRELO, 1998, p. 29-31). Entretanto, ao chegar às proximidades do Cabo, em abril, o galeão São Bento sofreu forte vento contrário e ondas bravas. Em momentos de muita ventania, sobretudo pela proa, uma das manobras que se fazia era navegar em árvore-seca, ou seja, com todas as velas encolhidas, ficando os mastros nus. Os marinheiros do galeão fizeram esta manobra, porém não surtiu o efeito esperado e o navio acabou se chocando na costa. Problema da partida tarde é também referenciado para as naus Águia, Garça e demais da armada de D. Luís de Vasconcelos, a qual partiu de Cochim no final de janeiro de 1559. Ao chegar à Terra do Natal, os navios receberam tormentas consideráveis. Como diz o narrador anônimo: “Ficaram desta tempestade os ventos tão rijos e contrários e os mares tão grossos, empolados e cruzados, que as fez andar às voltas com grande trabalho e perigo.”. (ANÔNIMO, 1998, pp. 123-124). Das naus da armada, apenas três conseguiram dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar a Portugal, as naus Tigre, Castelo e Rainha (a nau Framenga dobrou o Cabo, mas naufragou em S. Tomé). O narrador fica surpreso pelo fato das três naus terem conseguido fazer a viagem de retorno a Portugal. A sua surpresa liga-se às evidencias de as outras haverem se perdido. A hipótese que o narrador admite para o sucesso das três referidas naus diz respeito à competência dos pilotos e à ajuda de Deus. (Idem, Ibid., p. 124). Outro problema para os naufrágios liga-se em certa medida à má arrumação das mercadorias nas naus. João Batista Lavanha e Melchior Estácio do Amaral afirmam que os navios partiam da Índia, com a carga arrumada de maneira inadequada. E apontam como principais responsáveis os navegadores e por isso os repreendem. João Batista Lavanha diz que os navegantes “carregam [as naus] sem a necessária distribuição das mercadorias, arrumando as leves na parte inferior e as pesadas na superior, devendo ser ao contrário”. (1998, p. 380). Amaral, por sua vez, deixa claro um dos inconvenientes desse procedimento: “... O que não só descompassa as naus, mas basta qualquer ocasião para abrirem e se perderem tantas, como temos visto, abertas todas, indo-se ao fundo” (1998, p. 540). É possível que os dois autores estejam generalizando, mas suas palavras insinuam sem dúvida alguma que tal procedimento era aplicado em determinados navios da Carreira da Índia e contribuiu para dificuldade na navegação. Os dois narradores não mencionam os motivos que levavam marinheiros e outros a arrumarem a carga de maneira imprópria, apenas dizem que isso é fruto da cobiça. Porém, sabemos que uma das causas desse procedimento, senão a principal, estava ligada à época da partida e à dificuldade de obter antecipadamente a quantidade de carga desejada. O historiador Anthony Disney nos afirma que esta dificuldade “podia implicar o carregamento dos navios à última hora, à pressa e em condições perigosas, para a viagem de retorno”. (1981, p. 134). Disponho de um documento do primeiro quartel do século XVII, no qual se menciona que devido à pressa para partir o mais cedo possível, havia produtos de particulares que saíam da Índia sem terem sido registrados no livro do escrivão de bordo, no qual se colocavam os nomes das mercadorias embarcadas, assim como dos seus respectivos proprietários. 24 Assim, pode-se admitir que, na Índia, a obtenção em última hora da quantidade de carga desejada favorecia a má arrumação das mercadorias, uma vez que nos navios os carregamentos eram feitos às pressas para partir-se o mais cedo possível e não perder a viagem, já que do contrário teria que se esperar um ano na Índia. Em suma, objetivava-se evitar mais demora, a fim de acompanhar a monção do Índico, bem como para não sofrer muito os inconvenientes da costa da Terra do Natal, como tempestades e ventos contrários. Porém, essa ânsia de partir o mais rápido possível, arrumando de qualquer forma as mercadorias nos navios, apenas aumentava os problemas na navegação. A indevida arrumação das mercadorias não se verifica apenas para as viagens de regresso a Portugal, mas também na ida à Índia. Este último caso é mencionado pelo padre Gaspar Afonso para viagem da nau São Francisco, que partiu rumo à Índia, em abril de 1596, depois, portanto, do mês apropriado – março. Como fatores para a má arrumação das mercadorias o padre não menciona a pressa para partir o mais rápido possível e a imprudência no embarque das mercadorias. Ele aponta o interesse de particulares, os quais privilegiaram determinado espaço do navio (“gasalhado”) para alojarem os produtos. Como diz o padre, mas não sem uma dose de exagero: Saiu, enfim, a nau como pôde, tão carregada de uma banda e tão pouco da outra, que, junta esta com outras desordens, se foi fazendo cada dia mais, tão boiante de uma, que chegamos a tempo em que o costado, com pouco encarecimento, servia de quilha, e a __________ 24 Cf. Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, p. 47-48. quilha de costado, por particulares interesses de quem as carrega; porque a estes nestes tempos, assim no mar como na terra, se busca e dá melhor gasalhado. (1998, p. 428) Na viagem de ida à Índia, normalmente os navios não seguiam sobrecarregados de mercadorias, mas de pessoas. Era exatamente na viagem de regresso que eles transportavam grande quantidade de mercadorias, às vezes acima da capacidade que podiam suportar. Esse procedimento gerou críticas de portugueses contemporâneos e mesmo de estrangeiros. Nas narrativas de naufrágio, tal fato não ficou de fora. Com efeito, um dos problemas enfatizado e asperamente criticado por vários narradores como causador de dificuldade na navegação e, sobretudo, responsável em grande medida pelo naufrágio, é o excesso de carga nos navios de retorno da Índia. A ânsia de ganho era tal que se colocavam as fazendas não apenas no interior dos navios, mas também “sobre as cobertas e por fora do costado” (AMARAL, 1998, p. 541). Deve-se estar em mente que, embora houvesse demora na Índia para a obtenção das mercadorias, como a pimenta, e às vezes não estivessem em quantidade desejada pelos representantes da Coroa e contratadores, nem por isso as naus mencionadas na Historia Trágico-Marítima e outras deixaram de sair sobrecarregadas do porto de Cochim. Todas as fazendas transportadas não eram de propriedade exclusiva da Coroa, mas uma grande parcela pertencia a particulares, sem falar nas mercadorias trazidas pela tripulação. É importante lembrar que o empreendimento Carreira da Índia não esteve vinculado somente à Coroa, mas houve sim participação de particulares. Como deixou bem claro o historiador Vitorino Magalhães Godinho: “Esta é a associação essencial para compreendermos a Rota do Cabo: a coroa, a nobreza e a classe mercantil” (1982, vol. III, p. 54). Os particulares estiveram envolvidos desde o início da Carreira da Índia, ainda que num grau menor se comparado à segunda metade do século XVI em diante. E nem todos os navios que faziam viagem pela Rota do Cabo eram de propriedade da Coroa, mas alguns pertenciam a particulares. O excesso de carga nos navios é encarado negativamente logo no primeiro dos relatos de naufrágio, ou seja, no referente ao galeão São João. O narrador anônimo nos diz que havia, na Índia, falta de pimenta e o navio partiu com pouca quantidade dela. Entretanto, nem por isso o galeão deixou de sair do porto de Cochim, sobrecarregado de “caixaria e outras fazendas”. Tal fato foi uma das razões de sua arribada à Cafraria. Em vista disso, o narrador aproveita para advertir: “No que se havia de ter muito cuidado pelo grande risco que correm as naus muito carregadas” (1998, p. 6). O caso seguinte é o do galeão São Bento: “... Além de vir por baixo das cobertas toda mociça com fazendas, trazia no convés setenta e duas caixas de marca e cinco pipas de água a cavalete, e se tirou tanta multidão de caixões e fardagem que a altura destas cousas igualava o convés com os castelos e chapitéu...” (PERESTRELO, 1998, p. 29). O terceiro que enfatiza o excesso de carga nos navios da Carreira da Índia é Melchior Estácio do Amaral. Desta vez para o galeão Santiago, o qual, segundo o autor, não era navio para carga, mas para “Armadas do Reino”, por ser “franzino”. Porém, não foi isentado de excesso de carga. Vejamos as palavras de Amaral: Trazia este galeão, só no porão, quatro mil quintais de pimenta; e no corpo da nau e debaixo da ponte e em cima dela, na tolda, no chapitéu, sobre o batel, no sítio do cabrestante e no convés eram tantos os caixões de fazenda e fardos ao cavalete, que não cabia uma pessoa nele. E até por fora do costado, pelas postiças, e mesas de guarnição, vinham fardos, e camarotes formados, como todas estas naus costumam, de tal maneira, que se não podiam nela marear as velas, e dezoito dias se não pôde andar com o cabrestante. E sobretudo se embarcaram nele perto de trezentas almas, entre nautas, oficiais e alguns soldados ordinários e escravos e com trinta pessoas fidalgos e nobres (1998, p. 493) O historiador Vitorino Magalhães Godinho fez cálculos sobre a quantidade de mercadorias que uma nau da Carreira da Índia podia transportar e afirma que as naus levavam “em geral 6.000 a 8.000 quintais de especiarias e drogas...” (um quintal = 58,7kg). E ainda acrescenta: Para conhecer porém com exactidão o porte ou capacidade das naus, haveria que acrescentar à carga grossa, única conhecida, as quintaladas, câmaras, gasalhados e liberdades, isto é, tudo quanto a tripulação, a tropa, os oficiais e funcionários e todas as categorias de passageiros levam de objetos de uso pessoal, mercadorias autorizadas ou clandestinas (1982, vol. III, p. 52) Além disso, um dado a ser ressaltado é que as naus de regresso, como as citadas na História Trágico-Marítima, transportavam também um número considerável de escravos, que, como se sabe, eram considerados mercadorias. Os escravos não eram exclusivamente negros da África, mas também provenientes de regiões asiáticas. João Batista Lavanha, na ocasião em que descreve a caminhada dos náufragos da nau Santo Alberto pela Cafraria, menciona a existência de escravos (que foram transportados na referida nau) naturais do Malabar, da própria Cafraria, um do Japão e outro da ilha de Java. Neste último caso, a menção é feita de passagem, para o momento em que estes escravos ficaram em uma povoação de negros da Cafraria (LAVANHA, 1998, p. 402). Mas é de supor que havia mais destes escravos. Pelas narrativas de naufrágio é difícil saber exatamente o número de cativo transportado nas naus da Carreira da Índia, no retorno. Os narradores que mencionam a presença de escravos nos navios de regresso a Portugal, são unânimes em afirmar que eles eram numericamente superiores aos próprios portugueses. Enumerando os sobreviventes, os autores fazem questão de citar o número de escravos e portugueses, principalmente, para o momento da caminhada pela Cafraria. Neste caso, entre outros, depois de o galeão São Bento ter-se chocado na costa, contaram-se os sobreviventes e “achamos sermos 322 pessoas, a saber, 224 escravos e 98 portugueses” (PERESTRELO, 1998, p. 43). É claro que não se deve dar crédito rigorosamente ao número fornecido pelos narradores. Mas nas narrativas onde se menciona a existência de escravos, os autores são unânimes em afirmar um número maior que cem para estes. É esse número de escravo, superior a cem, que se deve considerar. O historiador Artur Teodoro de Matos, analisando os livros de bordo das naus São Roque e Nossa Senhora da Conceição, as quais eram da armada de 1602, nos diz sobre os cativos que elas transportavam na viagem de regresso a Portugal. À semelhança das naus mencionadas nas narrativas de naufrágio, os dois navios transportavam um número de escravos superior a cem e diversificados: “cafres, bengaleses, canarins [...], jaus, chinas”. O historiador ainda nos diz que tripulantes e passageiros (nobres, clérigos ou populares) traziam escravos. Sobre a tripulação: “Na tripulação, do capitão ao marinheiro, ou do capelão ao sangrador, quase todos traziam escravos”. (MATOS, 1994, p. 247). Nas narrativas de naufrágio isto também pode ser observado. Mais comentário sobre escravos se verá no capítulo IV. A versão de que os navios mercantes portugueses da Rota do Cabo partiam sobrecarregados da Índia, principalmente de fazendas, não é apresentada exclusivamente por portugueses, mas também por europeus que viajaram em naus portuguesas de regresso ao Reino. A exemplo, o viajante francês François Pyrard, de Laval, que partiu da Índia à Europa, em 1610, a bordo da nau portuguesa Nossa Senhora de Jesus. Logo ao embarcar, o francês ficou admirado com a grande quantidade de mercadorias e de gente a bordo do navio. Sobre a carga, ele diz: A nossa levava tal carga sobre o convés, que as mercadorias chegavam a meia altura do mastro; e por fora sobre os porta-ovéns, que são o ressalto de uma e outra banda, não se via senão mercadorias, mantimentos [...]; em suma, tudo estava tão empachado, que apenas se podia ali dar um passo. (1944, vol. II, p. 207). Com o navio sobrecarregado e, por conseqüência pesado, era natural que sentisse dificuldade de navegar pelo canal de Moçambique, pela costa da Terra do Natal e dobrar o Cabo da Boa Esperança, principalmente se partisse tarde da Índia. Tal sobrecarregamento era favorável às comuns infiltrações. Nessas circunstâncias, tornava-se difícil para o navio enfrentar o ímpeto das ondas bravas e os ventos contrários. Depois de o galeão São Bento receber uma onda forte, Perestrelo diz como ficou o que estava a bordo: “E como o pendor que a nau fez deitou ao mar muitas caixas e fato do que vinha no convés, e juntamente o carpinteiro e outras pessoas, que nunca mais apareceram...” (1998, p. 32). Devido às fortes tormentas, com ondas bravas, ficava dificultoso governar o navio. Isso podia favorecer a danificação do leme, como é referido para o galeão São João. Sobre este assunto a autora Giulia Lanciani foi precisa: A carga excessiva – e, além disso, quase sempre mal distribuída – provocava a imersão dos cascos acima da linha de flutuação, de modo que o timão, submetido a um esforço maior do que aquele para o qual fora planejado, não respondia mais aos comandos, deixando o barco sem governo, no momento em que era mais necessário controlar-lhe [sic] os movimentos (1992, p. 73). Entretanto, é importante deixar claro que nem todos os navios que saíram sobrecarregados dos portos da Índia naufragaram. A análise que aqui se faz, refere-se mais aos navios mencionados na História Trágico-Marítima. E ao mesmo tempo é enfatizado o risco de acontecer desastres marítimos, bem como dificuldade na navegação, caso o navio estivesse com grande quantidade de carga. Melchior Estácio do Amaral é o narrador mais crítico sobre a questão do sobrecarregamento dos navios na Índia. E seu discurso também é pedagógico quanto ao assunto. O autor mostra uma soma de naufrágios de navios da Carreira da Índia situados no recorte temporal de 1582-1602, para deixar claro que em 20 anos naufragaram 38 naus portuguesas, “algumas por desastre, e as mais delas por cobiça de sobrecarregarem na Índia” (1998, p. 542). Com efeito, a ânsia de ganho assumiu tal dimensão a ponto de a nau Relíquias, sobrecarregada, naufragar em 1586, estando ela ainda na barra de Cochim25 (AMARAL, 1998, p. 541). ______________ 25 Ver também: Luís de ALBUQUERQUE. Relações da Carreira da Índia. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. Mas é importante lembrar que nem todas as naus partiram sobrecarregadas da Índia, houve exceções. O próprio Amaral o sabia: no ano em que escreve (1604) chegaram naus da Índia, com reduzida quantidade de carga, por não haver muita nessa região. Mas o narrador menciona este fato para esclarecer que navios não sobrecarregados têm mais chance de chegar a salvamento no Reino (1998, p. 542), O excesso de carga nos navios de retorno a Lisboa, como já disse, causava estorvo à navegação. Nos momentos de muita dificuldade, sobretudo quando houve tormenta e excesso de infiltração, a alternativa encontrada consistiu em lançar parte das mercadorias ao mar. Isso para também reduzir o peso no navio. Esta prática era denominada “alijar a fazenda”. Perestrelo é o narrador que dá mais ênfase ao alijamento da fazenda. Com o navio sobrecarregado e sofrendo forte temporal, a opção escolhida foi alijar parte das mercadorias. Os viajantes começaram a jogar as fazendas ao mar, que ficou Todo coberto de infinitas riquezas lançadas as mais delas por seus próprios donos, de quem eram em aquele tempo tão aborrecidas como já em outro tão amadas; e assim alijamos a maior parte da água que vinha em cima e todas as outras coisas que mais achávamos à mão e mais estorvo faziam à mareação da nau (1998, p. 29). Nesta prática, a hierarquia social também se conservava: as mercadorias eram lançadas em ordem de posição social. As primeiras a serem alijadas ao mar eram as fazendas dos pobres e, por último, as da Coroa. Este tópico é mencionado mais explicitamente em duas narrativas: uma referente à nau Santa Maria da Barca e a outra sobre o galeão Santiago. Os oficiais dos navios decidiram que as fazendas dos pobres seriam as primeiras a serem jogadas ao mar. Aqui, os oficiais eram alguns dos que trabalhavam nos navios. No título oficial de nau, podia-se incluir piloto, sota-piloto, mestre, contramestre, guardião, calafate, etc. No primeiro navio, devido ao excesso de infiltração, os oficiais e marinheiros decidiram tirar as mercadorias do compartimento inferir e colocá-las no superior, para depois alijarem-nas. Primeiramente, foram as dos pobres: “E o primeiro que se havia de botar, havia de ser dos homens pobres, como se botou, ou eles o botaram.” (ANÔNIMO, 1998, p. 172). Mas alguns proprietários fizeram requerimento ao capitão e ao mestre, para “que não bulissem com a fazenda”. O cargo capitão de navio incluía a função de representar o rei de Portugal e ao mesmo tempo de cuidar de sua fazenda, transportada nos navios da Carreira da Índia. O capitão da mesma nau (Santa Maria da Barca), D. Luís Fernandes de Vasconcelos, não se furtou a esta última função. Conforme a narrativa, ele tentou impedir que se lançasse parte da pimenta ao mar, afirmando que era do rei. Ele permitiu depois que mandou o escrivão registrar em seu livro as circunstâncias em que se encontrava o navio. (ANÔNIMO, 1998, p. 173). Por fim, para o galeão Santiago fica mais claro o alijamento, primeiramente, da fazenda dos pobres. Amaral afirma que, como o navio estava muito carregado, houve dificuldade na navegação. O navio estava lento. O capitão e os oficiais decidiram, logo em tempo de bonança, alijar algumas fazendas, que foram de pessoas pobres: “E assim se fez, obrigando-se todos às avarias do alijado, porque era de marinheiros e grumetes pobres” (AMARAL, 1998, p. 493). Para terminar, é conveniente conhecer, além da pimenta, as demais mercadorias que os navios da Carreira da Índia transportavam na viagem de retorno, principalmente os da História Trágico-Marítima. Quase todas as narrativas que tratam da viagem de regresso a Portugal não deixam explícitas as demais mercadorias que os navios levavam, além da pimenta. Esta última, como já disse, era uma das principais transportada no retorno a Lisboa. Das sete narrativas referentes aos nove navios de regresso da Índia, apenas para um não há menção à pimenta, isto é, para a nau Chagas. Aos demais navios, afirma-se a presença dela, ainda que para alguns, apenas em casos de acidente, como, por exemplo, no momento em que o paiol das drogas rompeu-se e a pimenta empachou as bombas. No que diz respeito às demais mercadorias, algumas narrativas fornecem expressões não esclarecedoras para nós, como, entre outras, “infinitas riquezas”, “louçainhas”, que as naus transportavam. Nas narrativas não se fornece um rol com o nome dos produtos levados a Lisboa pelos navios. Para as naus Águia e Santa Maria da Barca, contudo, já ficam mais explícitas as suas mercadorias (além da pimenta), embora para este último navio a menção seja feita de passagem, devido ao alijamento da fazenda. A primeira nau levava também beijoim, anil, sedas, “cousas da China muito ricas” e “dois mil quintais de pau-preto, com que vinha assaz carregada de Moçambique” (ANÔNIMO, 1998, pp. 125-131); a segunda, por sua vez, transportava, entre outras, gengibre, lacre e roupas. Já para a nau Santo Alberto, João Batista Lavanha cita algumas das mercadorias, principalmente tecidos. Depois do naufrágio, as pessoas sobreviventes improvisaram tendas na praia: “E para se agasalharem fizeram tendas de boas alcatifas de Cambaia e Odiaz, de ricas colchas, de gunjoen [tecido de algodão riscado], caixas e esteiras de Maldiva, que se embarcaram para bem diferente usos, nas quais se recolhiam do frio da noite e do sol de dia.” (1998, p. 381). Por fim, o historiador Charles Boxer resumiu as principais mercadorias transportadas por navios da Carreira da Índia, sobretudo no século XVI: “... Na volta havia grandes carregamentos de pimenta, especiarias, salitre, anil, madeiras duras, mobílias, porcelana chinesa, sedas e peças de algodão indiano. Os três primeiros itens abarrotavam os porões...” (2002, p. 230). 2.3 Corso a navios portugueses da Carreira da Índia por ingleses e holandeses A escrita de Melchior Estácio do Amaral (de 1604), membro do Conselho e desembargo do Paço, está inserida no contexto histórico de expansão marítima de nações européias, como França, Inglaterra e principalmente Holanda. Os ataques de ingleses e holandeses aos navios portugueses Chagas e Santiago levaram Amaral a produzir o seu tratado de batalha, aproveitando para criar também um discurso de legitimação à posse portuguesa de regiões ultramarinas. O seu Tratado das batalhas e sucessos do galeão Santiago com os holandeses na ilha de Santa Helena e da nau Chagas, com os ingleses entre as ilhas dos Açores... é fruto do contexto histórico de intensificação do corso realizado por europeus a navios da Carreira da Índia. A fonte trata do ataque de ingleses e de holandeses a navios da Carreira, em locais de escala, na viagem de regresso a Portugal: Açores e ilha de Santa Helena. Essas batalhas marítimas foram consideradas singulares por Amaral, sendo que produziu sua narração para também conservar a memória. O seu tratado é ainda revestido de um cunho didático, de maneira a tentar avisar os portugueses coevos a maneira como deverão navegar, em prol de evitar outras derrotas infligidas por europeus. No tratado, pode-se perceber também a intolerância religiosa intra-européia, ou seja, entre católicos e protestantes. O comentário seguinte será uma análise sobre o corso a navios da Carreira da Índia por europeus (ingleses e holandeses). Tentarei fornecer alguns subsídios teóricos para a compreensão sobre o contexto histórico em que se inserem os ataques de ingleses e de holandeses aos referidos navios portugueses, bem como a própria narrativa de Amaral. O corso realizado nos Açores será mais desenvolvido; mas o caso da ilha de Santa Helena estará menos comentado, porque também não analisarei aqui a importância desta ilha para os navios de retorno da Ásia, pois no primeiro capítulo deste trabalho já o fiz. A subida de Felipe II ao trono português, em 1580, realizando a famosa União Ibérica, período de 60 anos (1580-1640) em que Portugal foi regido por três monarcas da dinastia Habsburgo (três filipes, Felipe I, Felipe II e Felipe III), contribuiu para aumentar a penetração de ingleses e holandeses em regiões dominadas pelos portugueses na Ásia, na América e na África, principalmente pela Holanda. Devido às rivalidades entre o monarca espanhol e a Holanda, Portugal teve que arcar com as conseqüências de ver suas possessões (no Ocidente e no Oriente) “invadidas” por holandeses chefiados pelas Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e Companhia Holandesa das Índias Orientais (BOXER, 2002, p.123). Além disso, a União Ibérica arrastou consigo os inimigos políticos da coroa espanhola, avolumando os ataques de corsários ingleses e holandeses a barcos portugueses (MONIZ, 2001, p. 87). Evidentemente que não se trata de responsabilizar exclusivamente a ocorrência da União Ibérica pelas investidas, principalmente de ingleses e holandeses a regiões do ultramar português e a navios portugueses. Segundo Boxer, já em meados do século XVI ingleses contestaram a pretensão dos portugueses de monopolizarem o comércio na Guiné. Ele ainda diz: “E não há dúvida de que as duas nações marítimas protestantes [Holanda e Inglaterra] teriam, de qualquer maneira, entrado em conflito com Portugal por causa da ambição deste de ser o único senhor dos mares a leste do cabo da Boa Esperança”. (Ibid., p.122). Assim, pode-se considerar que a união das duas coroas e principalmente as atitudes de Felipe II frente ao comércio holandês na Península Ibérica e no ultramar português, bem como as rivalidades dele com a Inglaterra agravaram a situação, sistematizando ataques holandeses e ingleses a navios portugueses e “invasões” a regiões ultramarinas que os portugueses consideravam monopólio seu. A finalidade imediata da prática do corso era exatamente aumentar a fazenda (seja do Estado patrocinador, seja dos próprios corsários), apoderando-se das riquezas que houvesse nos navios. E também se aproveitavam os alimentos e a água. Os corsários consideravam conveniente aprisionar alguma pessoa de alto prestígio que houvesse no navio capturado, para depois exigirem um valor elevado pelo resgate dela. Por fim, se o barco apresado estivesse em boas condições de conservação, poderia ser levado ao país de origem dos corsários; mas, do contrário, seria incendiado ou abandonado. Os corsários normalmente navegavam bem equipados militarmente para facilitar a captura de presas. Jean de Léry, francês que viajou ao Brasil em 1555, faz referência a vários atos de pirataria realizados por seus companheiros. Ele e os demais franceses de sua armada viajaram ao Brasil a fim de fundar a França Antártica e fugiam de perseguições religiosas na França. Eram convertidos ao “evangelho reformado”; enfim, eram “cristãos heterodoxos” (BETHENCOURT, 2000, p. 345). Durante a viagem, eles abordaram embarcações de várias “nacionalidades”, entre elas uma caravela portuguesa. O referido francês dá uma justificativa para o fato de os navios franceses da frota navegarem bem “artilhados e municiados”. Ela, a justificativa, é válida para o caso dos ingleses e holandeses que apresaram a nau Chagas e o galeão Santiago, respectivamente: Como já disse, nossos navios estavam bem artilhados e municiados, o que tornava os nossos marinheiros arrogantes e ousados quando se nos deparavam navios mais fracos e incapazes de se defenderem. E seja dito, uma vez que a ocasião se apresenta, que assim se pratica no mar como na terra, pois quem tem armas e é mais forte domina e dita leis aos mais fracos. (LÉRY, 1980, p. 60). Os Açores constituíam o penúltimo percurso do roteiro da Carreira da Índia, na viagem de retorno a Portugal. Uma das razões para tal, sobretudo para os navios da Carreira da Índia, referese ao roteiro seguido por eles na viagem de regresso a Lisboa. Ao chegarem à costa da Guiné, os navios recebiam pela proa os alísios de nordeste, sendo por isso obrigados a fazer a “volta da Guiné” – manobra que os levava a descrever um arco, possibilitando o desvio dos ventos contrários. Com isso, os barcos seguiam em direção aos Açores. Os navios, pois, para chegarem a Portugal, normalmente contornavam o arquipélago açoriano, “aproveitando agora factores geofísicos favoráveis, que só se encontravam pela latitude dos Açores” (ALBUQUERQUE, 1991, p. 36). Além disso, esta região foi um local de escala. Aportava-se nos Açores para a reparação nos navios, reabastecimento de água doce e de alimentos frescos ou para esperar os demais navios da armada, caso se tivesse partido da Índia em companhia, enfim, ali se faziam as práticas ordinárias de escala. Por ser um local de escala tanto por parte de navios portugueses mercantes de retorno da Ásia, Brasil e África Ocidental, como também por barcos espanhóis provenientes, sobretudo da América Espanhola, os Açores foram considerados por corsários europeus um local estratégico para o corso. E desde a primeira metade do século XVI houve corsários europeus esperando ali navios para pilhá-los. Em vista disso, os portugueses enviavam armada para navegar pela costa açoriana e escoltar os seus navios mercantes até Portugal. Vitorino Magalhães Godinho diz que essa prática era regular: “Naus de especiarias, caravelas do ouro ou da malagueta, navios do açúcar têm encontro aprazado para aí [Açores] e regressam ao Tejo devidamente escoltados.” (1982, vol., III, p. 47). A Espanha também mandava anualmente armada para os Açores, a fim de escoltar os navios espanhóis que retornavam da América Espanhola (CASTELO BRANCO, 1998, p. 754). Após a ocorrência da União Ibérica recrudesceram, no arquipélago açoriano, os ataques principalmente de corsários ingleses a navios da Carreira da Índia. O historiador Avelino de Freitas de Meneses nos diz uma das razões para os ataques ingleses: “... A dianteira inglesa deriva sobretudo da guerra entre Espanha e a Inglaterra, que sucede em meados da década de oitenta e confere maior legitimidade e arrojo ao corso e à pirataria” (1998, p. 725). Mas não desconsidero aqui a hipótese de que houve barcos ingleses ou holandeses que por iniciativa própria praticaram o corso ou pirataria. As águas açorianas, pois, foram privilegiadas por corsários ingleses para a prática do corso a navios mercantes, sobretudo a partir da União Ibérica. Comparando o texto de Amaral como as fontes da obra Relações da Carreira da Índia, podemos saber vários casos de corso inglês a navios lusos da Rota do Cabo, ocorridos nas proximidades dos Açores e situados no recorte temporal de 1580 até 1604 (ano da escrita de Amaral). Entre outros: A nau São Filipe, tomada por Francis Drake, em 1587; a nau Madre de Deus, tomada em 1592. No mesmo ano ao se aproximarem do arquipélago, navegadores da nau Santa Cruz, percebendo que não poderiam lutar em igualdade com ingleses que ali estavam, deram com ela na costa da ilha das Flores e puseram-lhe fogo para que os corsários não se apoderassem dela. Estes são três dos vários casos em que navios da Carreira da Índia de regresso a Portugal foram alvos de corsários ingleses. Mas houve também na ida à Índia. Conforme o códice anônimo da British Library, que disponho com o nome Navios da Carreira da Índia (1497-1653), o navio Santo Espírito ao sair de Lisboa foi atacado por ingleses: “A naveta de Diogo Pereira tomaram dois navios ingleses ao terceiro dia que partiu de Lisboa, e a gente foi levada a Inglaterra, e depois veio ter a esta cidade de Lisboa.” (1989, p. 48). Além disso, no ano de 1598, não foi armada à Índia devido ao impedimento feito por ingleses. Estas naus se fizeram à vela a quatro de Abril e surgiram em Belém, e depois em Santa Catarina, e não saíram a barra por a ter tomada uma armada inglesa de que era capitão o conde Cumberland; e a catorze de Maio tornaram para cima e se desarmaram, e não foram este ano naus à Índia. (1989, p. 53). Como se pode observar, exatamente cem anos depois de Vasco da Gama ter chegado a Calicute, em sua viagem pioneira, não foi armada à Índia. O ano de 1598 é o único do século XVI em que se verifica tal fato, em todos os demais anos foi armada à Índia, conforme as relações de armadas da Índia, presentes na obra Relações da Carreira da Índia. Como já foi dito atrás, o governo português sabendo que nos Açores ficavam corsários esperando navios portugueses para apresá-los tratou de organizar armada para navegar pela costa açoriana e escoltar os barcos até Portugal. Ela era chamada de “armada das ilhas”, sendo criada também a Provedoria das Armadas da Ilha Terceira. (MENESES, 1998, p. 729). Mas depois da década de 1580, houve deficiência no devido escoltamento aos navios da Carreira da Índia. A partir de Saturnino Monteiro, Fernando Castelo Branco nos diz uma das razões para tal deficiência. Ela liga-se ao fato de Filipe II querer fundir as duas armadas para irem aos Açores (já disse que a Espanha também enviava frota para escoltar navios espanhóis que regressavam, sobretudo da América Espanhola). Mas esse procedimento acarretava alguns problemas: Só que esta [a armada fundida] se tornou de tal forma numerosa que o seu aprontamento a tempo e horas era muito difícil, do que resultava, quase sempre, fazerse ao mar depois de as armadas dos corsários ingleses irem a caminho dos Açores ou mesmo já lá terem chegado (CASTELO BRANCO, 1998, p. 754). Além disso, como em condições favoráveis as naus chegavam a Portugal em junho ou julho, dever-se-ia enviar navios de escolta para os Açores antes desses meses, o que era feito no período anterior à administração filipina. O governo português enviava armada de escolta para as águas açorianas normalmente entre os meses março e maio (CASTELO BRANCO, Ibid., p. 753). Porém, depois de 1580, houve deficiência em cumprir esta prática e data. A administração filipina em várias ocasiões mandou armada aos Açores em junho ou julho, já tarde, portanto, dava tempo suficiente para os corsários apresarem navios portugueses de retorno da Índia. O apresamento de várias naus da Carreira da Índia, depois de 1580, principalmente por ingleses, teve como causa mais notória a deficiência na proteção. A nau São Filipe, apresada por Francis Drake, em 1587, por exemplo, foi uma das vítimas, uma vez que a armada para escoltá-la partiu de Lisboa em 12 de julho, já bem tarde, o que deu ensejo para Drake atuar. (CASTELO BRANCO, Ibid., p. 753). É precisamente nesse contexto histórico em que está inserido o ataque de ingleses à nau Chagas, em 1594, a qual regressava ao Reino e cuja batalha é narrada por Amaral. Em 1593, partiu de Goa a nau Chagas, cujo capitão era Francisco de Melo. Por receber tormentas nas proximidades do Cabo da Boa Esperança, foi obrigada a retornar e seguir para Moçambique. Nesta região, ela recebeu reparos e invernou26. Em Moçambique, a nau Chagas encontrou sobreviventes do naufrágio da nau Santo Alberto e também pessoas da nau Nossa Senhora de Nazaré, que estava impossibilitada de seguir viagem, devido ao seu estado deplorável. Estas duas naus são as mesmas a que já referi em outra parte deste trabalho. A nau Chagas recebeu a carga e pessoas da nau Nossa Senhora de Nazaré e também os sobreviventes do naufrágio da nau Santo Alberto, bem como parte da pedraria e partiu para o Reino. Amaral diz sobre a nau Chagas: “... E chegando o tempo fez vela para este Reino aquela famosa nau, não só no nome mas no corpo e riquezas e toda a pedraria de três naus...”. E ainda acrescenta que ela saiu com 400 pessoas, 270 escravos e 130 portugueses, “em que entravam alguns fidalgos e soldados”. (1998, p. 528). O capitão Francisco de Melo levou em seu regimento ordens para não aportar na ilha de Santa Helena e menos ainda no Brasil, e, se precisasse, poderia reabastecer-se de mantimentos e de água no porto de São Paulo de Luanda. Ele o fez e ainda recolheu negros para a escravidão. Ao chegar às proximidades dos Açores, o capitão, receando a presença de corsários, tentou não escalar ali, especificamente na ilha do Corvo, ainda que contra a ordem do rei, uma vez que “Sua Majestade mandava em seu regimento que a buscassem, e achariam nela sua armada” (AMARAL, Ibid., p. 529). O capitão duvidou da eficiência da armada de proteção no arquipélago, “e por isso tentou chegar a Lisboa sem passar pelos Açores. Mas a falta de água e de mantimentos impediu esse intento” (CASTELO BRANCO, 1998, p. 757). ____________________ 26 Este comentário é feito com base em três materiais: O texto de Amaral; Fernando CASTELO BRANCO. “O percurso Açores-Lisboa na Carreira da Índia”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 751-765; e “Navios da Carreira da Índia (1497-1653), códice anônimo da British Library.” In: Luís de ALBUQUERQUE. Relações da Carreira da Índia. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. De fato, Amaral nos diz que houve protesto de marinheiros e soldados para que a nau Chagas escalasse a ilha do Corvo, a fim de conseguir mantimentos, “água fresca e frutas das ilhas”. Diante das circunstâncias, o capitão não teve saída: “Isto, junto ao motim e ao regimento não pôde o capitão-mor fazer outra cousa senão pôr a proa no Corvo” (1998, p. 530). Porém, chegando às proximidades da ilha do Faial, no mês de junho de 1594, a nau Chagas deparou com três barcos ingleses da armada do conde Cumberland, o mesmo conde que impedirá de ir à Índia a armada portuguesa de 1598. As três naus inglesas estavam satisfatoriamente artilhadas: Estavam guarnecidas de muita gente de guerra e muita artilharia grossa de bronze, de que cada nau tinha duas andainas em que entravam canhões reforçados de bater, e de muitas armas e petrechos de guerra, e eram naus de sorte que podia cada uma só por si combater a nossa nau Chagas... (AMARAL, Ibid., p. 530-531). Observa-se menção a superioridade militar dos ingleses, em detrimento dos portugueses da nau Chagas, chegando-se mesmo a afirmar que uma só nau inglesa poderia combater em vantagem militar com o navio português. Semelhantemente às narrativas de naufrágio, destaca-se uma inevitabilidade ao destino infeliz. As naus inglesas cercaram a nau Chagas e disparam sua artilharia nela. A nau portuguesa, por sua vez, também não deixou de responder; mas combatendo em desvantagem militar ficou muito debilitada. Ela resistiu até o momento em que o fogo, provocado pelos “inimigos”, atingiu o cochim e se alastrou: ...Foi tal a fúria do fogo no cochim, por estar mui seco do sol e guarnecido e cercado de alcatroados, e foram tal altas as chamas que se atearam na vela e por ela acima até à gávea como estopas, abrasando vela, enxárcia e gávea com tanto ímpeto e brevidade que se lhe não pôde atalhar...(AMARAL., Ibid., p. 533). Amaral destaca os comportamentos dos viajantes diante da morte, após a nau Chagas ser incendiada. Para ele houve duas opções de morte, sendo que cada uma estava ligada a elementos opostos: água e fogo. Morrer afogado ou queimado. Desesperados, alguns tripulantes lançaram-se n’água correndo o risco de morrerem afogados, principalmente quem não sabia nadar (uma vez que a ilha do Faial ainda estava numa distância considerável); e outros ficaram indecisos entre a duas opções: Desenganados os nossos, que ardia a nau, absoluta e irremissivelmente, começaram muitos de se lançar ao mar em jangadas e paus; e os que não sabiam nadar a entrar em desesperado temor da morte; outros, especialmente a escravaria, abraçando o lugar em que estavam com suspiros e gemidos arrancados d’alma [...]; e, ora correndo a um bordo, ora a outro, não sabiam se se lançassem ao mar ou se se deixassem abrasar do fogo. (AMARAL, 1998, p. 534). Assim, a nau Chagas naufragou. Em Portugal chegou a notícia de que apenas treze pessoas conseguiram sobreviver. A razão mais notória para a perda da referida nau foi a deficiente proteção que então se dedicava às naus de regresso da Índia, especificamente em se tratando dos Açores. De fato, Castelo Branco, apoiando-se no Memorial de Pero Roiz Soares, nos diz que no tempo (junho) em que a nau Chagas avistou os ingleses na ilha do Faial ainda não havia saído de Lisboa a armada (composta de dois barcos) para navegar pelos Açores e escoltar os navios de retorno da Índia (1998, p. 757). Tal atraso deu tempo suficiente para os ingleses atacarem a referida nau. O mesmo historiador conclui: “É evidente que se dois galeões tivessem apoiado a Chagas, o resultado teria sido provavelmente diferente” (CASTELO BRANCO, Ibid., p. 758). Isso porque chegou até nós a notícia de que apenas dois galeões saíram de Lisboa para os Açores, a fim de escoltar a nau Chagas até Portugal. Porém, chegando tarde ao arquipélago açoriano, eles não encontraram os ingleses e menos ainda a nau portuguesa. Melchior Estácio do Amaral revela-se indignado com os ingleses por terem atacado a nau portuguesa. Na visão dele, os corsários foram os únicos responsáveis pela perda da nau Chagas. Se os ingleses não interferissem, ela chegaria sã e salva em Portugal. Tal fato contribuiu para acentuar a intolerância religiosa. As circunstâncias fizeram com que Amaral considerasse legítimo taxar os ingleses de “cruéis luteranos” e “hereges inimigos”. Do ponto de vista do autor, o ataque que os ingleses fizeram à nau Chagas foi uma “injusta guerra”. Somado isto com a intolerância religiosa, houve mais ensejo para o ódio aos ingleses, por parte do autor, e, presumivelmente, pelos demais portugueses. Neste último caso, sobretudo por aqueles que possuíam vínculo com a nau portuguesa, quer no aspecto econômico, quer na relação de parentesco com as pessoas que morreram no combate. Os ingleses, devido à guerra que fizeram ao navio português e à sua condição religiosa (protestantes), são detestáveis, desprezíveis. É o que Amaral também pregou e perpetua em seu texto. Por fim, o autor destaca a identidade religiosa dos portugueses da nau Chagas: “... De maneira que, abrasada a nossa nau em chamas vivas, cercada de sangue católico, e perto de quinhentos corpos de católicos chagados...”. (1998, p. 535). O assunto seguinte refere-se à batalha do galeão Santiago com holandeses na ilha de Santa Helena. O comentário é feito para destacar o fato de a referida ilha ter se tornado, a partir do terceiro quartel do século XVI, um local estratégico para nações européias (como a Holanda) que desejavam se apoderar das riquezas transportadas por navios da Carreira da Índia. Isso porque, como já analisei em outra parte, a referida ilha era um porto de escala quase obrigatório para navios portugueses de regresso da Ásia. Eles a buscavam, principalmente, para o reabastecimento de água doce. Amaral, contemporâneo do assunto, escreveu o seu tratado da batalha do galeão Santiago com os holandeses, a partir de informações que obteve de pessoas que vivenciaram o ocorrido e de uma certidão de D. Pedro de Manuel. Para socorrer com munição, gente e dinheiro os portugueses na Índia, o galeão Santiago saiu de Portugal no dia 11 de abril de 1601, na companhia de outros quatro, cujo capitão-mor era António de Melo de Castro. Após ser abarrotado de mercadorias e pessoas, majoritariamente escravos (como já disse), o galeão Santiago partiu da Índia para Portugal, no Natal de 1601. O capitão-mor António de Castro levava no regimento, dado pelo vice-rei da Índia Aires de Saldanha, entre outras ordens, que escalasse a ilha de Santa Helena a fim de esperar outros dois galeões de sua companhia, para juntos irem a Portugal. Caso fosse encontrado algum barco de “inimigos” na ilha, havendo conveniência, o capitão poderia guerrear com ele (AMARAL, 1998, p. 493-494). Era conveniente para os navios seguirem juntos, em companhia ou, como se dizia na época, “em conserva”, porque assim eles passavam a ter maior possibilidade de resistir mais eficientemente a possíveis investidas de corsários. Mas normalmente os navios não navegavam em grupo durante toda a viagem à Índia ou no regresso a Portugal. Na ida à Índia, os navios saíam do porto de Lisboa, em companhia, formando uma armada, mas no decorrer da viagem havia separação, por vários motivos. Em uma das narrativas da História Trágico-Marítima, ou seja, a referente à viagem da nau São Francisco, existe uma versão para tal. O autor dela, o padre Gaspar Afonso, nos diz que esta nau partiu de Portugal, juntamente com outros navios, porém nas proximidades das costas brasileiras houve separação. A justificativa que o autor dá repousa no fator econômico: “... Por razão do mesmo interesse para chegar primeiro à Índia e vender mais caro, que foi causa de ficarmos sós e sem quem nos desse a mão...” (1998, p. 430). Na viagem de regresso a Portugal havia navio que partia primeiro do que outros. Uma das razões para isso também se relaciona ao aspecto mercantil: os navios saíam mais tarde da Índia, porque haviam chegado atrasados e assim ficavam sujeitos à perda de tempo, esperando a quantidade de carga que se considerava suficiente. Além disso, as tempestades, os ventos e a noite, constituíam elementos que, por determinado tempo, causavam a separação dos navios. Na ilha de Santa Helena, o galeão Santiago encontrou ancorados (“surtos”) três barcos de holandeses. Amaral reserva um espaço em seu texto para informar sobre os holandeses que penetraram na referida ilha. A crer nele, os holandeses eram vindos de Sunda. A mando de Maurício de Nassau e do Conselho do Estado da Holanda, três barcos holandeses partiram em 1601 para Sunda, a fim de firmar relações comerciais com o “El-Rei” daquela região e conseguir pimenta, sendo que deveriam voltar o mais cedo possível para, em fevereiro do ano seguinte, esperar, na ilha de Santa Helena, navios da Carreira da Índia e apresá-los. (AMARAL, 1998, p. 495). Melchior Estácio do Amaral aproveita para ressaltar o descompasso, no que diz respeito ao aspecto militar, entre os navios dos dois rivais, com vantagem para os holandeses, que estavam mais equipados militarmente. E acrescenta: Apontei isto para que se veja com quanta vantagem estes holandeses se encontraram com este galeão, e o recato e aparelho com que convém aos nossos, e naus da Índia, andar, pois se pode esperar encontrarem-se outras vezes com eles e saibam a grande vantagem com que os buscam. (Idem, Ibid., p. 496). Observa-se uma característica da narrativa de Amaral, ou seja, a didática, sobretudo em se tratando da pretensão de evitar destino infeliz para navios portugueses da Carreira da Índia. Os portugueses não quiseram se render. Assim, o galeão Santiago pelejou com os holandeses, entretanto, por está em desvantagem militar, recebeu muitos danos da artilharia dos rivais, que o deixou em péssimas condições, dificultando a navegação. Além da fazenda do galeão, os holandeses desejaram também “o livro da carregação e as vias, regimento e mais papéis que trazia, com toda a pedraria” (AMARAL, Ibid., p. 511). Esteve em questão, ainda, a intolerância religiosa de ambas as partes. À semelhança dos ingleses que atacaram a nau Chagas, os holandeses, por sua condição religiosa de protestantes, são depreciativamente taxados por Amaral como “inimigos hereges”. Na questão religiosa, os holandeses são mais ainda desprezados por Amaral, devido aos seus procedimentos com objetos sagrados dos portugueses do galeão Santiago, já na ilha Fernando de Noronha: E o que os nossos mais que tudo sentiram (e com razão) foi o estrago que estes hereges fizeram em algumas imagens que alcançaram à mão, e vestiram-se por um ludíbrio em uma casula sagrada, que no galeão vinha, fazendo farsa do traje, procurando com grande gosto que até este opróbrio os portugueses tivessem para mais os magoar (AMARAL, 1998, p. 518). O confronto dos dois rivais durou alguns dias, com a rendição dos portugueses, pois não dispunham de outra opção. Os sobreviventes lusos foram abandonados pelos holandeses na ilha de Fernando de Noronha. Antes de partir desta ilha, eles fizeram uma revista aos portugueses à procura de pedraria ou peça de ouro. (Idem, Ibid., p. 518). Do que foi comentado até aqui, é preciso fazer duas considerações. Primeiramente, não pretendo dizer que todos os navios portugueses da Carreira da Índia eram presas fáceis de corsários europeus. Os corsários europeus (ou de outros lugares, como da Ásia) na maior parte das vezes saíam-se em vantagem, quando, satisfatoriamente artilhados, encontravam um navio português navegando sem escolta ou companhia, como no caso aqui mencionado da nau Chagas e do galeão Santiago. Mas mesmo estando em desvantagem numérica, houve navio português que não se entregou sem antes pelejar e até mesmo causar dano no inimigo. A nau Chagas é um exemplo. Entre outros, pode-se mencionar também a nau São Filipe, que ao regressar a Portugal, em 1594, mesmo estando em desvantagem militar, não deixou de pelejar com navios ingleses na costa dos Açores. Como está no códice anônimo da British Library: “... E das ilhas [Açores] para terra pelejou muitos dias com cinco navios ingleses, e veio a salvamento”. (1989, p. 50). Castelo Branco diz sobre esta nau: “É evidente que ela e só ela pelejou” (1998, p. 760), dando a entender que ela não recebeu ajuda de outros navios, sobretudo dos barcos para escolta. A segunda questão é que Amaral realça uma condição de vítima aos referidos navios portugueses e destaca a cruelmente dos “hereges inimigos” – ingleses e holandeses. Tal condição de inimigos cruéis atribuída a estes, pode-se dizer que é a representação que Amaral faz deles. É importante lembrar que muitos dos portugueses navegantes eram cruéis, quando encontravam barcos de considerados inimigos, sobretudo de mouros, navegando em desvantagem militar. Agir com crueldade, nessa circunstância, era característico daquele tempo (século XVI). Navios portugueses obviamente também apresaram barcos de considerados inimigos, desde o início da Carreira da Índia. Em se tratando da viagem inauguradora da Carreira da Índia, Cabral apresou, no Índico, barcos de naturais do Malabar. No rascunho do regimento Real de Cabral há recomendações ao capitão-mor Pedro Álvares de Gouveia Cabral para que apresasse navios de mercadores “mouros de Meca”, conforme se pode observar no referido documento: ...Se com as naus dos ditos mouros de Meca topardes no mar, haveis de trabalhar, quanto puderdes, para tomá-las, e suas mercadorias e coisas, e assim os mouros que nelas vierem; e vos aproveitar, como melhor puderdes, e lhe fazerdes toda a guerra e dano que possais, como a pessoas com quem tanta inimizade, e tão antiga, temos. 27 Embora o propósito não seja discutir este tema, abrindo um parêntese, pode-se afirmar que no início da penetração portuguesa na Ásia, especificamente na Índia, os portugueses realizaram uma sistemática prática de corso a barcos de “mouros de Meca” e de naturais do Malabar, ainda que neste último caso seja em menor proporção se comparado com primeiro. O ataque a barcos de mouros e outros, sobretudo que estivessem transportando especiarias, foi uma atividade lucrativa para os portugueses residentes na Índia, principalmente no início do século XVI; constituiu um dos principais meios de obtenção de riqueza e de sustentação financeira para eles ali. (ALBUQUERQUE, 1942; COUTO, 1988, p. 100). No tempo de Amaral, evidentemente, ainda continuava havendo tal prática, embora num grau menor, comparado ao tempo de Afonso de Albuquerque na Índia (1509-1515), ou mesmo às primeiras décadas do século XVI, quando havia mais enfaticamente o projeto de fechar a rota do Mar Roxo para navios mercantes de “mouros”, que transportassem sobretudo especiarias. No século XVI, os portugueses, na Índia, se sentiam legitimados a apresar, principalmente, navios mercantes que estivessem navegando pelo Índico sem portarem cartazes portugueses. Os cartazes eram documentos para a “livre” navegação pelo Oceano Índico que os portugueses vendiam (especificamente o vice-rei da Índia ou capitão de fortaleza), principalmente a mouros que faziam viagem para o Estreito do Mar Roxo. _______________ 27 Cf. “Rascunho do regimento Real de Cabral”. In: Janaína AMADO; Luiz Carlos FIGUEIREDO. Brasil 1500: quarenta documentos. Brasília: Editora da Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001, p. 46. Mas tais documentos determinavam várias limitações para os mercadores. Entre outras: proibição para o transporte de pimenta (e de outras especiarias), madeira, ferro, armas, cavalos. Estes quatro últimos itens eram vistos como instrumentos de guerra, daí a proibição, para não fortalecer os “inimigos” dos portugueses. Nos cartazes ficava determinada também a rota que o barco mercante deveria seguir, a quantidade de mercadoria que se transportaria e o pagamento de direitos a ser efetuado nas alfândegas portuguesas, antes de o navio partir. (PEREIRA, 1987, p. 164-167, LAVAL, 1944, vol. II, p. 157). É escusado comentar que, se tais determinações não fossem cumpridas pelos mercadores “mouros” ou “gentios”, os portugueses achavam legítimo apresar os seus navios. O soldado português Francisco Rodrigues Silveira, que serviu na Índia de 1585 a 1598 (contemporâneo, portanto, de Amaral), faz comentários sobre esta questão. Afirma ele que depois de alguns meses de sua chegada à Índia foi organizada uma armada para apresar barcos de mouros que estivessem navegando para o Mar Vermelho, sem portarem cartaz português ou “licença”. Silveira esteve na armada acompanhado de centenas de outros soldados, evidentemente que não apenas portugueses. Tanto ele quanto os demais saíram motivados pela esperança de conseguir muitas presas em naus de “mouros de Meca”. Estas eram as que mais navegavam sem “licença” dos portugueses. Conforme ele diz: “E para Meca são mais as que se vão sem licença que com ela, por causa de lh’as venderem os viso-reis por tão excessivo preço, que se querem antes arriscar que comprá-las por tanto custo.”. (COSTA LOBO, 1987, p. 25). Além disso, Silveira deixa claro que era lucrativo apresar um barco mercante de “mouros de Meca”: Estas naus são de grandíssima importância porque vão carregadas de especiaria, roupas de algodão, ferro, aceiro, armas e outras muitas cousas que n’aquellas partes [Meca], onde ha falta dellas, são de muito valor; e por retorno trazem muito ouro amoedado, prata em reales castelhanos, brocados, sedas, coraes, opio a que os arabios chamam amphio, e outras fazendas e mercadorias ricas.28 O sistema de cartaz denuncia a pretensão dos portugueses à condição de senhores exclusivos da navegação pelo Índico e ao mesmo tempo de detentores do domínio ali. _____________ 28 Cf. A. de S. COSTA LOBO (compilação.). Memórias de um soldado da Índia. Compiladas de um manuscrito português do Museu Britânico. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. Fac-símile da edição de 1877, p. 25. Feitas estas considerações, vejamos outro aspecto do discurso de Amaral, ligado evidentemente ao corso por ingleses e holandeses a navios lusos e “invasão” a possessões que os portugueses consideravam suas. Embora o leitor possa considerar que o comentário seguinte é desconexo com o assunto, ou seja, corso a navios portugueses da Rota do Cabo por nações européias, não o é. Na realidade, o discurso de legitimação aos portugueses que Amaral produziu tem muito a ver com o tema, uma vez que um dos objetivos deste autor é reivindicar a livre navegação dos portugueses às regiões que eles consideravam suas por direito, sem receberem intervenções dos “inimigos” da Europa, principalmente de holandeses e ingleses. Havendo a não intervenção de nações européias rivais, a possibilidade de ataque a navios portugueses por barcos europeus seria quase completamente nula, na lógica do autor. Mas a realidade foi bem diferente. Na narração sobre a batalha do galeão Santiago, Amaral faz uma digressão e apresenta um subtítulo com justificativas para desautorizar os holandeses e qualquer outra nação a apossaremse de regiões consideradas dos portugueses, especificamente a Guiné, Brasil e Oriente, bem como no que diz respeito a ataques a navios lusos. Para fundamentar suas pretensões de deixar claro uma legitimidade à dominação e à exploração portuguesa a regiões como África, Oriente e Brasil, Amaral apresenta alguns recursos, como principalmente: a) Portugal como nação eleita por Deus para espalhar o evangelho pelo mundo (p. 502); b) Apoio de bulas papais29 que autorizaram e legitimaram a exploração portuguesa na costa ocidental da África, nas ilhas do Atlântico e em futuras terras descobertas, ao sul do continente africano, bem como ao Oriente (p. 503); c) O direito de posse portuguesa às regiões ultramarinas, em virtude do descobrimento, com o investimento de dinheiro, armas e da ocorrência de derramamento de sangue português. (pp. 503-504). ______________ 29 Uma das bulas mais importante para a expansão portuguesa é a Romanus Pontifex, divulgada pelo papa Nicolau V, em janeiro de 1454, depois de o rei Afonso V e do Infante D. Henrique solicitarem. Tanto que Boxer afirmou que “ela foi muito justamente denominada a carta do imperialismo português” (2002, p. 37). Esta bula, de fato, entre outras coisas, reafirma o direito de Portugal explorar regiões já conquistadas, como Ceuta; proíbe outras nações de navegar, comercializar ou pescar nas províncias, portos, ilhas e mares adquiridos pelos portugueses; concede aos portugueses (deixando claro, apenas a rei de Portugal “e não a qualquer outro”), especificamente ao rei Afonso V e seus sucessores e ao infante D. Henrique, o monopólio sobre as regiões já conquistadas, bem como as estendidas do Cabo Bojador ao Cabo Não, e as que forem descobertas futuramente, até a Índia. A bula apresenta outros pormenores, mas selecionei estes que considero mais importantes para a análise do discurso de Amaral. Cf. “Romanus Pontifex, de Nicolau V (1447-1455), concede aos reis de Portugal as terras desde o Cabo Bojador e Num até a Índia” In: Paulo SUESS (Org.). A conquista espiritual da América Espanhola: 200 documentos – século XVI. Petrópolis, RJ: Vozes, 1992, p. 225-230. Ademais, há alusão às descobertas no tempo do infante D. Henrique, a D. Manuel I e seu título, à evangelização no Oriente30, etc. Apoiado no que expôs, Amaral conclui tentando convencer que os holandeses não têm direito algum de penetrarem nas regiões que os portugueses consideravam monopólio seu, nem atacarem navios lusos. Assim, na lógica do autor, os holandeses não têm direito para “... irem ao Oriente, nem para tomarem os portos descobertos pelos portugueses, e muito menos para lhes tomarem suas naus, nem para debuxarem e estamparem a ilha de Santa Helena...” (1998, p. 505). Os dois primeiros tópicos com recursos levantados por Amaral são fortes a favor dos portugueses, mas evidentemente na prática não eram obedecidos. A explicação que Melchior Estácio do Amaral dá para este fato liga-se à condição que ele atribui aos holandeses, como “rebeldes” e sem obediência à Igreja Romana. No terceiro elemento, especificamente no direito pelo descobrimento, repousavam as reivindicações portuguesas ao direito exclusivo de explorar determinada região ultramarina. Neste sentido, o historiador Vitorino Magalhães Godinho afirma que é na “descoberta pelos portugueses que o direito de Portugal aos seus proventos se baseia em última instância” (1998, p. 59-60). De fato, os dois elementos do terceiro item (descobrimentos e despesa de dinheiro) já foram desde o início do século XVI recorridos para legitimar o direito de Portugal sobre a exploração econômica de suas descobertas31, etc., isso visto, por exemplo, em Duarte Pacheco Pereira, D. João III, entre outros. É certo que nações concorrentes não estavam dispostas a aceitarem tais alegações, ainda que se referissem mais às “regiões para as quais [os portugueses] haviam descobertos os meios de acesso pelo mar” (SEED, 1999, p. 169-170). Em suma, como se pode observar, o discurso de Amaral está situado no contexto histórico de contestação por parte de nações européias ao fato de Portugal se considerar senhor exclusivo _________ 30 Um resumo das justificativas de legitimadade fica evidente no seguinte trecho: “Do que fica dito procedeu a ação com que a nação portuguesa tem a dita navegação e conquista e os títulos que a Coroa deste Reino tem do senhorio da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, adquiridos com grande despesa de armadas e pelas armas e muito derramamento de sangue português, e principalmente favorecidos por Nosso Senhor Jesus Cristo, e escolhidos para isto por sua Divina Majestade para obreiros da seara de seu Santo Evangelho...” (AMARAL,1998, p. 504). 31 Ademais, sobre o item despesa, a autora Patricia Seed afirma que foi alegado por portugueses para reivindicarem o monopólio ao comércio marítimo com as terras descobertas: “As reivindicações portuguesas, repetidamente verbalizadas em conflitos internacionais, de que eles tinham direito a um monopólio sobre o comércio marítimo com as novas terras era uma alegação explícita de que, por causa de seus grandes gastos no desenvolvimento da ciência e da tecnologia da navegação em alto-mar, eles tinham direito legítimo a uma compensação.” (Ibid., p. 169). da navegação no Atlântico Sul, no Índico e do monopólio comercial com regiões ocidentais e orientais. É nesse contexto histórico que se proliferaram discursos decadentistas para a Índia Portuguesa e, simultaneamente, à Carreira da Índia. Neste caso, um dos expoentes mais famoso é Diogo do Couto, especificamente em sua obra O Soldado prático, de 1612. Nela, Couto chega a criar duas idades para a Índia Portuguesa: a idade do ouro e a idade do ferro (1988, p. 90). A “idade do ouro”, na visão de Couto, refere-se basicamente à primeira metade do século XVI, ou seja, do início do século XVI até o vice-reinado de D. Constantino de Bragança (1558-1561); já a “idade do ferro” corresponde às décadas seguintes. Couto morreu em 1616. No que diz respeito à Ásia Portuguesa, foi o momento em que começou haver penetração, sobretudo holandesa em regiões onde os portugueses exerciam poder. No século XVII, o capitão português João Ribeiro apresentou algumas “razões” para o declínio do domínio português na Ásia. Para terminar, vejamo-las: A primeira razão que se nos oferece é ver que, do cabo da Boa Esperança para dentro, não quisemos deixar coisa alguma fora da nossa sujeição e tudo quisemos abarcar quanto se acha naquele dilatado, de Sofala [na África Oriental] até ao Japão, que, se bem se contam as léguas, passam de cinco mil, e o pior foi que o pusemos em execução sem medirmos nossas forças nem atendermos que esta conquista, ainda com os mesmos naturais, não podia ser permanente, porque de necessidade com eles havíamos de ter dois mil desgostos... (1989, pp. 162-163, grifo meu). Ele afirma que os portugueses, no século XVI, tiveram o projeto ambicioso de apoderarse de muitas regiões da Ásia, sem levar em conta seus recursos financeiros e populacionais, bem como à atuação dos senhores nativos e de nações européias, como a Holanda. Para Ribeiro, os portugueses desnecessariamente estabeleceram praças em diversas partes da Ásia32, e dispersas entre si, o que dificultou manter-se o domínio. Na opinião de Ribeiro, os portugueses deveriam ter-se contentado com o projeto enfatizado por Afonso de Albuquerque no início do século XVI, ou seja, de conquistar as três regiões asiáticas: Goa, Malaca e Ormuz. E, ainda segundo Ribeiro, também com a colonização da ilha de Ceilão (atual Sri Lanka, no sul da Índia). _________ 32 O historiador Luís Filipe Barreto nos dá uma noção sobre ideal de império asiático para os portugueses, no século XVI: “A expansão dos portugueses na Ásia é essencialmente marítima e mercantil, de um mínimo de territorialidade para um máximo de espacialidade. Instalação de portugueses e de luso-orientais através de uma alta dispersão pelos litorais, fraldas do mar, lavrando os diferentes portos e rotas à procura das melhores soluções econômicas para um intermediário entre a Europa e a Ásia e sobretudo e cada vez mais na própria Ásia.”. (2000, p. 51-52). Esta última idéia, aliás, foi defendida também pelo soldado Francisco Rodrigues Silveira (COSTA LOBO, 1987, p. 233) e por Diogo do Couto (1988, p. 129). A ilha de Ceilão era considerada por estes três autores uma região rica em recursos naturais valorizados, como canela fina, rubis, madeiras, etc.; localizava-se num ponto estratégico para o comércio com o Extremo Oriente e ilhas do sueste asiático; e seus habitantes não eram mouros. CAPÍTULO III 3. NAUFRÁGIO: IMPLICAÇÕES DE CUNHO RELIGIOSO 3.1 Padres em navios da rota da Índia Como a expansão portuguesa à Ásia e a instauração do Estado Português na Índia envolveram também o projeto de difundir a religião cristã ortodoxa à região, a presença de padres em navios, indo à Índia ou retornando para Portugal, era um tanto freqüente, os quais viajavam para fazer os mais diversos ofícios religiosos (é claro sem esquecer que vários padres também realizavam o comércio e desejavam receber mercês do rei). O objetivo explícito era garantir a expansão da fé católica entre os nativos da Índia. Este ideal estava ligado ao fervor religioso dos portugueses, à obediência de determinações de bulas papais e à idéia portuguesa de que seria mais fácil manter a aliança com os nativos, se eles passassem a ser cristãos. Os padres saíam, ainda, patrocinados pelo Padroado Real Português, o qual reunia direitos, privilégios e deveres concedidos pelo papado à Coroa Portuguesa, para ela patrocinar missões católicas e estabelecimentos eclesiásticos missioneiros, não somente na Ásia, mas também na África e no Brasil (BOXER, 2007, p. 98). Das ordens religiosas, a Companhia de Jesus foi a que mais se destacou na evangelização e no envio de padres à Índia, a partir de meados do século XVI. Por meio de cartas enviadas ao rei de Portugal por padres e por funcionários do rei (os quais se embarcaram à Índia), podemos saber diversos aspectos sobre o processo de evangelização na Índia. Em várias missivas do início do século XVI endereçadas ao rei D. Manuel I, enfatiza-se que uma das atitudes que se deveria tomar em prol de favorecer a conversão dos nativos (sobretudo de Cochim, Cananor e Goa) ao catolicismo, era fornecer-lhes dádivas, principalmente mantimentos aos mais pobres. De fato, foi realizada a concessão de mantimentos aos pobres destas regiões. Havia ainda a lógica de fornecer mantimentos a alguns que tinham sido batizados, para que outros viessem receber o batismo, em troca de dádivas. O arroz era um dos alimentos que se concedia aos nativos, por parte de padres. Mas o arroz, conforme se depreende nas cartas, era de baixa qualidade. A atitude de alguns indianos de receberem o batismo, em troca de arroz, levou Charles Boxer a denominá-los “cristãos de arroz” (2002, p. 81). Assim, em carta escrita de Cananor por D. Ayres da Gama, em 2 de janeiro de 1519 e enviada ao rei D. Manuel I, fica claro o ato de doar arroz aos convertidos desta região para atrair outros: “Ao domingo se dar a esmola pela mão do vigário na igreja, que são dezoito fardos de arroz baixo por mês, e por esta esmola se fazem muitos cristãos...”33. O bispo de Dume foi diferente, em carta ao rei de Portugal, datada de 12 de janeiro de 1522, pregou a necessidade de destruírem-se os locais sagrados dos indianos, bem como a expulsão, sobretudo da ilha de Goa, daqueles que não aceitassem o Cristianismo. Como o bispo escreveu: Serviço de Deus seria nesta sua ilha de Goa destruírem-se estes pagodes e fazerem neles igrejas com santos, e quem quer que quisesse viver na ilha fosse cristão e teria suas terras e casas, como tem, e não querendo, que se fosse da ilha. Creia Vossa Alteza que não ficaria nenhuma criatura que se não tornasse à fé de Cristo Nosso Senhor, porque não tem outro modo de viver, tirados da ilha, e que estes não fossem bons cristãos, os filhos o seriam, e tirar-se-ia esta má contumácia deles e não haviam de deixar o certo por o incerto e Deus seria servido e Vossa Alteza, por ser coisa de salvação de tanta gente perdida...34 Como se pode observar, a lógica do padre era excluir aqueles que não aceitassem o Cristianismo e deixar viver em Goa apenas os convertidos. Mas ele reconhece que, se estes últimos não se tornassem “bons cristãos”, seus descendentes o seriam. Assim, o padre acredita que, depois da destruição dos pagodes e da expulsão daqueles não convertidos, haverá, num futuro não muito distante, a existência de muitos cristãos fervorosos. De fato, depois de algumas décadas houve um número bem maior de indianos convertidos ao Cristianismo. “Com efeito, foi isso que aconteceu. Depois da destruição maciça dos templos hindus na década de 1540 e das conversões em massa na década de 1560, o cristianismo criou raízes firmes no território português de e à volta de Goa e Baçaim” (BOXER, Ibid., p. 87). _______________ 33 Cf. “Cristandade de Cananor. Carta de D. Ayres da Gama a El-rei de Portugal”. In: António da Silva REGO. Documentação para a história das missões do padroado português no Oriente, Índia (1499-1522). Lisboa: Fundação Oriente e Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1991, Vol. I, p. 372. Este trecho está com a ortografia e acentuação atualizadas por mim, mas sem introduzir palavra. 34 Cf. “Relatório do bispo de Dume a El-Rei”. In: António da Silva REGO. Op. Cit., pp. 452-453. Este trecho está com a ortografia e acentuação atualizadas por mim, mas sem introduzir palavra. . O processo de evangelização na Índia foi marcado em grande medida por intolerância religiosa da parte dos portugueses à religião e às seitas dos naturais, bem como por conversões forçadas e perseguições. Estas recrudesceram com a instauração do tribunal da Inquisição em Goa, em 1560, “que tinha jurisdição sobre os territórios controlados por Portugal na África oriental e na Ásia” (BETHENCOURT, 2000, p. 53). E, diga-se de passagem, a Inquisição de Goa foi a única instaurada no ultramar português; nas outras regiões, como no Brasil, por exemplo, houve visitas inquisitoriais. Em fins do século XVI nas regiões mais notórias da Índia Portuguesa, onde os portugueses possuíam fortalezas e feitorias, como Goa, Cochim e Cananor, já havia um número considerável de edifícios religiosos35 (portugueses), que incluíam igrejas, conventos, mosteiros, etc. Goa, capital do império asiático português, foi a região que mais se notabilizou com edifícios eclesiásticos, destacando-se também o Colégio de São Paulo, presidido pelos clérigos da Companhia de Jesus, sem falar no edifício da Inquisição. Segundo o historiador Anthony Disney, no início do século XVII, o maior edifício eclesiástico de Goa “era a enorme catedral de Santa Catarina, com cerca de 750 metros de comprimento, iniciada em 1562 e ainda em fase de acabamento na década de 1630”. Diz ele ainda acerca desta catedral: “Como sede metropolitana de uma arquidiocese que se estendia do Cabo da Boa Esperança até à China, os seus efetivos de pessoal eram numerosos” (1981, p. 36). Em naus da rota da Índia, os padres, principalmente, quando viajavam em número considerável, tentavam evitar blasfêmias contra Deus, feitas por tripulantes e passageiros. Além disso, os eclesiásticos repreendiam uma das formas de passatempo de alguns dos demais viajantes – o jogo. ______________ 35 O número de construções religiosas estava considerável na Índia Portuguesa, em fins do século XVI, a ponto de o soldado português Francisco Rodrigues Silveira, que serviu na região de 1585 a 1598, propor que se reduzissem os gastos com construção de edifícios eclesiásticos. O objetivo do soldado era mais voltado para a questão militar. Pregava ele que se deveriam diminuir os gastos (que ele afirma que havia) com obras de âmbito religioso e investir mais na questão militar, pois assim a Coroa teria mais chance de manter o domínio na região. Como ele diz em outro trecho: “Pois tantos clérigos, tantos frades, tantos mosteiros e conventos, tantas casas de prazer, quintas e jardins para recreação de religiosos, em partes tão pouco firmes e seguras, de que servem ? Quanto mais acertado fora converterem-se algumas dellas em armazéns de armas”. Cf. A. de S COSTA LOBO (compilação.). Memórias de um soldado da Índia. Compiladas de um manuscrito português do Museu Britânico. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. Fac-símile da edição de 1877, p. 192-195. Sobre as igrejas em Goa, no princípio do século XVII, Ver também François Pyrard, de LAVAL. Viagem de Francisco Pyrard, de Laval [...]. Versão portuguesa de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. Edição revista e atualizada por A. de Magalhães Basto. Porto: Livraria Civilização Editora, 1944, vol. II. Na nau Santiago, que fez viagem à Índia no ano de 1585, segundo o narrador Cardoso, os padres, depois de pregarem contra o jogo realizado por alguns tripulantes, resolveram cobrar uma espécie de imposto, para ajudar primeiramente os doentes. Tal cobrança foi aceita pelos jogadores (1998, p. 297). Inclusive, em naus da Carreira da Índia, os padres cuidavam dos doentes, dividiam seus alimentos com eles ou às vezes com as demais pessoas, por exemplo, a soldados. Mas pode-se dizer que em determinado momento os eclesiásticos atuavam no sentido de tentar estabelecer um controle social a bordo, exortando os demais viajantes às coisas divinas. Como observou Miceli: “Pregações e orações diárias, missas e confissões, ladainhas e procissões transformavam o navio num espaço privilegiado para a militância dos padres” (1998a, p. 157). No século XVI, principalmente depois do Concílio de Trento (1545-1563), a forma de missa mais freqüente a bordo foi a missa seca, ou seja, aquela sem a consagração da hóstia e do vinho (MADEIRA, 2005, p. 74; LOPES, 1998, p. 434). Inclusive, o padre Gaspar Afonso, autor da Relação da viagem e sucesso da nau São Francisco..., a qual partiu para a Índia em 1596, faz referência a este tipo de missa. Na referida nau, uma de suas ocupações, bem como de seus colegas, foi “dizer missa seca aos domingos e dias santos” (1998, p. 431). Considerava-se que o navio não era o local próprio para realizar a consagração da hóstia e do vinho, mas apenas a igreja, daí uma das razões para a missa seca nas naus. Na nau Santiago, havia um número considerável de padres viajando rumo à Índia, conforme Manuel Godinho Cardoso: Iam nesta nau o Padre Frei Tomás Pinto, da Ordem dos Pregadores, que ia por inquisidor à Índia, e seu companheiro o Padre Frei Adrião de S. Jerônimo, e da Companhia de Jesus o Padre Pedro Martins, o Padre Pedro Álvares, o Padre João Gonçalves, o Padre Sapata, o Irmão Manuel Ferreira, o Irmão Manuel Dias. Assentou logo com eles o Padre Pedro Martins que, pois vinham ali tantos religiosos, houvesse missa todos os domingos e dias santos; e assim a houve dali por diante, dizendo também missa todos os sábados a Nossa Senhora (Ibid., p. 296). Como as naus da rota da Índia saíam de Lisboa em março ou em princípios de abril e chegavam a Goa normalmente em setembro, algumas das festas do calendário litúrgico eram comemoradas a bordo com menor ou maior grau de solenidade (LOPES, Ibid., p. 439). Desse modo, a Semana Santa era quase sempre celebrada nos navios. Na nau Santiago, por exemplo, que partiu de Lisboa no início de abril de 1585, os padres celebraram a Semana Santa, festas litúrgicas e outras atividades religiosas antes de acontecer o desastre. Conforme Cardoso, foi realizado na Semana Santa o seguinte: na quinta-feira – missa seca e “procissão com Sermão da Paixão”; na sexta-feira, “ofício com adoração da Cruz”, com dois homens segurando o padre para que ele não caísse, devido aos balanços da nau; no domingo de Páscoa, “festejaram a ressurreição de Cristo Senhor Nosso com maior alegria e solenidade”, procissão e missa seca. Além disso, depois de passarem pela Linha do Equador, no mês de junho, os viajantes, encabeçados pelos padres, celebraram a festa dos santos, como Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo, bem como a de Corpus Christi, já que esta também se comemora nesse mês. Inclusive, é dela que o narrador Cardoso comenta mais. Houve, ainda, representação teatral das tentações de Cristo no deserto. Na terceira tentação, o fogão serviu para simbolizar o inferno, onde se jogou o diabo, “ficando Cristo vencedor”. (CARDOSO, 1998, p. 295-299). Na História Trágico-Marítima alguns dos autores das narrativas de naufrágio (como Couto e Cardoso) dedicam reverência e acatamento aos padres que vão a bordo, sobretudo pelas práticas espirituais realizadas nos momentos perigosos para a vida, como as confissões. Os eclesiásticos são considerados valiosos para aquele momento de aflição espiritual e corporal dos viajantes, isto é, na iminência do naufrágio. De fato, nas narrativas de naufrágio, observa-se menção especial aos padres, tanto que seus nomes estão incluídos no rol das pessoas consideradas de maior prestígio pelos narradores. Quase sempre, quando se nomeia os “principais” indivíduos que vão a bordo, há explícita referência a nomes de padres. Dentre as pessoas tidas como importantes, que desfrutavam de uma posição social privilegiada a bordo, estão o capitão, oficiais, fidalgos, e entre elas há nomes de padres. Na própria sociedade portuguesa o clero gozava de um status social considerável. O historiador Charles Ralph Boxer enfatiza que vários padres tinham uma posição singularmente privilegiada na sociedade portuguesa (2002 p. 356). Além disso, a influência dos religiosos foi ampliada também no domínio da educação considerada superior: O fato de a educação superior estar quase inteiramente concentrada nas mãos da Igreja fortaleceu ainda mais a posição social do clero [...] No topo da escala social, as altas posições da Igreja, concedidas por um papado complacente, estavam garantidas para os filhos e sobrinhos – independentemente de serem legítimas ou ilegítimas – de sucessivos monarcas. (Ibid., p. 356). Pode-se dizer que essa importância socialmente atribuída aos padres, em certa medida, é ratificada por quase todos os narradores da História Trágico-Marítima, independente de o relator ser clérigo. No momento de maior tensão dos passageiros, por realizarem práticas religiosas para conforto espiritual, os padres despertam elogios e mais reverência dos narradores, sendo que por seus atos são vistos como muito frutíferos e esforçados, no sentido de não deixar nenhuma pessoa sem a absolvição dos pecados. Isso causa admiração nos relatores. Diogo do Couto deixa clara sua reverência ao padre Frei Nicolau do Rosário, da Ordem dos Pregadores, principalmente devido à atitude deste de não querer embarcar no barco salvavidas (batel), sem antes confessar todos os que ficaram na nau São Tomé, que apresentava infiltrações, impossibilitada de prosseguir viagem. Estando a nau nessa circunstância, a solução adotada, em prol da salvação de alguns, consistiu em sair da nau e seguir no batel para a terra mais próxima (Terra dos Fumos, no sudeste da costa Oriental da África), deixando os outros se alagarem. Assim, Couto diz: Afastando o batel um pouco, ficaram esperando de largo pelo padre [...], que se não quis embarcar no batel sem confessar quantos ficavam na nau, porque não quis, que pois a tanta gente lhe faltavam todas as consolações do corpo, lhe faltassem as da alma; e assim confessou e consolou a todos com muita caridade, chorando com eles suas misérias, e absolvendo-os, assim em particular como em geral (1998, p. 347). Essas atitudes fazem o narrador elogiar o padre, considerando-o dotado de “virtude e exemplo” e também por causa delas foi “mui amado e reverenciado de todos”. Manuel Godinho Cardoso menciona que os padres “fizeram muito fruto”, amparando espiritualmente os que iam na nau Santiago. O padre Frei Tomás Pinto, por exemplo, ainda que ferido na cabeça por um aparelho da mesma nau, com “a mão posta na ferida, com grandes dores assistia no ofício das confissões” (1998, p. 303). Pode-se dizer que os narradores estimam e reverenciam os padres a bordo, também por considerarem que os eclesiásticos agiram em conformidade com sua condição de homens religiosos, “de Deus”. Prestar serviços espirituais aos que estavam prestes a morrer afogado era a única alternativa que o padre dispunha. Sua função limitava-se, pois, a apenas tentar garantir a salvação da alma dos condenados à morte, bem como consolá-los. Além disso, a atitude de alguns narradores de valorizar a atuação dos padres liga-se em certa medida à compaixão que os próprios relatores sentem dos que estavam mais intensamente sentindo “tragos da morte” (RANGEL, 1998, p. 101). Oferecer serviços espirituais aos condenados era um comportamento louvável. Tinha ligação com a forte crença portuguesa de vida pós-morte, que poderia ser punitiva aos que morressem na condição de pecadores sem penitência ou sem absolvição dos pecados. Na nau São Tomé, no momento em que houve excesso de infiltração, com vários homens tentando dia e noite expulsar a água, os religiosos participaram também deste trabalho. Além disso, “os padres andavam pelo convés com biscoito, conservas e água, consolando a todos, assim corporal como espiritualmente”, especificamente os que estavam trabalhando com as bombas, para expulsar a água do navio (COUTO, 1998, p. 344). Depois que a nau Santa Maria da Barca esteve sem condição de prosseguir viagem, o padre inclinou-se também para repelir algum espírito maligno que poderia haver no batel. Isso antes de as pessoas partirem nele. Como diz o narrador anônimo: “Absolveu o batel, se vinha alguma cousa má nele” (1998, p. 178). Nas circunstâncias perigosas, de desastres, os padres pretendiam, ainda, evitar o desespero maior nos viajantes. Normalmente isto acontecia por meio do convite à resignação, a conformarse com aquela situação encarada e transmitida como proveniente da vontade divina e fruto dos pecados dos tripulantes. “E depois das confissões os religiosos fizeram muitas práticas para animar a todos a se conformarem com a vontade de Nosso Senhor”, como é mencionado para o caso da nau Santiago (CARDOSO, 1998, p. 303). Assim, as pessoas deveriam aceitar a situação de desastre, já que fazia parte da ação de Deus – “tão justo Juiz” (PERESTRELO, 1998, p. 33). Ligado à pretensão de levar o conformismo, sobretudo aos mais desfavorecidos, outro recurso é apelar à lembrança da Paixão de Cristo. Enfatizar que o homem em várias circunstâncias está sujeito a sofrimento. Fazer com que as pessoas se lembrassem de que até o próprio Cristo padeceu diante da morte.36 Para isso, os padres recorriam também ao uso de imagens, como, por exemplo, retábulos e crucifixos, como diz Perestrelo para o caso do galeão São Bento, que estava prestes a naufragar (Ibid., p. 34). As imagens, aliás, possuem também um sentido pedagógico e de memorização.37 _________ 36 Lembrar da Paixão de Cristo em momentos de tensão é uma atitude natural a um branco europeu, principalmente em contexto do século XVI. Assim comportamento parecido é mencionado pelo espanhol Álvar Nuñes Cabeza de Vaca, que em 1527 naufragou no litoral do Texas. Padecendo entre os índios, fome, sede, maus tratos, efeitos do clima em seu corpo, etc., Cabeza de Vaca enfatiza que como consolo pensava na Paixão de Cristo: “Diante de tantas dificuldades não tinha outro consolo que pensar na paixão de nosso redentor Jesus Cristo, no sangue que derramou por mim, e considerar quão mais doloroso seriam os espinhos que lhe perfuraram o corpo” (1999, p .94). 37 Serge Gruzinski, analisando textos quinhentistas de espanhóis, enfatiza acerca das imagens: “Uma imagem da Virgem não é Deus, assim como não deve ser confundida com a própria Virgem. É apenas um instrumento da lembrança e da memória. O Ocidente cristão conhecia havia muito tempo a função pedagógica e mnemotécnica atribuída à imagem, amplamente justificada pelo analfabetismo das massas européias e, mais tarde, dos índios” (2006, p.101). Assim, o crucifixo (com o “corpo” representando Cristo morto) usado pela Igreja Católica possui também a função de fazer com que as pessoas, através da visualização, se lembrem da morte de Cristo. 3.2 Confissões na iminência do naufrágio Embora nas narrativas de naufrágio não haja referência explícita acerca do Além, especificamente no que diz respeito ao inferno e às suas penas a pecadores, as atitudes dos passageiros diante do naufrágio, descritas com ênfase por vários narradores, deixam fortes evidências do grande medo de morrer sem ter as “culpas” perdoadas. Havia a crença, segundo a qual a alma do pecador que morresse sem a expiação ou perdão de seus pecados sofreria vários suplícios no outro mundo, principalmente com fogo. Para compreender-se com mais precisão a relevância atribuída às confissões a bordo, sobretudo em momento de desastre, é necessária uma discussão, ainda que breve, sobre a concepção cristã acerca do Além, especificamente no que respeita ao inferno, uma vez que o medo de que a alma fosse a este lugar sobrepunha o desejo de atingir o paraíso. Na tradição cristã (considerando a Europa como espaço), o Além possui uma divisão binária: o Paraíso e o Inferno. A partir do século XII, apresentou-se um terceiro lugar intermediário, chamado Purgatório, reservado para aqueles que cometessem pecados veniais, os pecados perdoáveis. O primeiro, o Paraíso, era atribuído aos eleitos, aos justos; já o segundo (o inferno), aos condenados – aqueles que cometeram pecados mortais durante a vida. Isso seria decidido na ocasião do julgamento final, presidido por Cristo. O Paraíso tradicionalmente é visto como um lugar de paz e de alegria (LE GOFF, 2002, p. 28); enquanto que o inferno é caracterizado basicamente pela existência de fogo, como elemento de punição. Mas em pregações da “época moderna” também se menciona o frio, entre os suplícios dos condenados (DELUMEAU, 2003, vol. II, p.100). O medo de que sua alma pudesse padecer no fogo do inferno, era presente nos fiéis e mais explorado pela Igreja Católica, a fim de controlá-los. A Bíblia – livro de inspiração e fundamentação ideológica dos cristãos – possui várias referências ao Inferno e às suas penas, sobretudo ao fogo. Entre os seus livros, pode-se observar, também, no Velho Testamento – o Livro de Jeremias (5:14). E no Novo Testamento – o Livro de Apocalipse. Este último, inclusive, é encarado na tradição cristã como uma obra de profecias acerca dos últimos dias. Ele passa a mensagem para os cristãos crerem que, no final, depois do julgamento, os pecadores (covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e “a todos os mentirosos”) receberão a segunda morte, ou seja, serão jogados “no lago que arde com fogo e enxofre” (21: 8). Assim, afirma-se seguramente que a Bíblia pode ser usada e vista como fundamento para pregações que têm como temas principais o Inferno e suas penas. Ao longo de séculos ela foi (e ainda o é) transmitida e vista por muitos, sobretudo pela Igreja, como possuidora da verdade absoluta, que não deveria ser contestada. Era vista como o conhecimento revelado por Deus aos homens, o que significava o principal fator para credibilidade em relação à veracidade atribuída, na tradição cristã, a ela. Na época moderna, segundo Delumeau, havia uma “pedagogia macabra da Igreja” (2003, vol. II., p. 91), com sermões e pregações explorando temas que causavam medo e terror nos fiéis, sendo que na maior parte das vezes referiam-se a suplícios do Inferno. A pretensão era exatamente fazer com que o pecador, através do medo às punições infernais, fizesse penitência e passasse a ter uma vida menos pecaminosa e mais cristã, neste caso seguindo o que a Igreja entendia acerca do que era ser cristão para ela. A Igreja Católica considerava importante que os cristãos se sujeitassem ao controle dela, ficando sob sua autoridade e obedecendo aos seus ditames. No século XVI, os homens e mulheres (aqui mais especificamente portugueses), tendo suas vidas permeadas pela religião e por discurso de cunho religioso, com uma mentalidade que acreditava na idéia de culpa ou pecado como responsável pela perdição no Inferno ou por castigos divinos, não era raro que, em momentos de maior perigo, de proximidade da morte, especificamente a bordo, recorressem a práticas espirituais para tentar garantir a salvação de suas almas. Na ocasião em que determinado navio estava com infiltração, sobretudo à noite, havia também grande possibilidade para a sensibilidade ligada à questão pecaminosa. Em virtude da idéia de o “homem ser culpado por definição” (MADEIRA, 2005, 179), a lógica era buscar práticas espirituais que pudessem impedir ou abreviar a danação da alma no Além (Inferno), conforme se pregava. Nesta perspectiva, destacavam-se também as confissões, com a absolvição dos pecados, por intermédio de padre-confessor. Na História Trágico-Marítima, a prática de confissão é mencionada por alguns narradores (Perestrelo, Rangel e Cardoso, por exemplo), que fazem questão de informar ao leitor um comportamento dos viajantes diante da morte. Na iminência do naufrágio, a finalidade das confissões ligava-se também a um ideal de proporcionar refrigério espiritual aos viajantes. Eles, no momento de maior aflição, achando que iam morrer e acreditando piamente que o ato de confessar as “culpas” garantiria a absolvição de seus pecados, por intermédio dos padres, tão depressa recorriam às confissões. Com efeito, elas eram vistas como um dos principais meios para livrar-se do peso dos pecados ou mesmo uma prática usada para “alijar [lançar fora] as culpas”, como deixou claro o padre Gaspar Afonso (1998, p. 449). Segundo Perestrelo, o galeão São Bento recebeu forte tormenta no sudeste da África Oriental, que fez as ondas entrarem no barco. Aliado à infiltração, a água no navio aumentou. Com isso, ressaltando a situação de desesperança das pessoas quanto à salvação dos corpos, Perestrelo diz: “Pelo que, como homens que esperávamos antes de poucas horas dar conta a Nosso Senhor de nossas bem ou mal gastadas vidas, cada um começou de a ter com sua consciência, confessando-se sumariamente a alguns clérigos que aí iam” (1998, p. 34). Manuel Rangel, por sua vez, diz que na nau Conceição a pressa nas confissões era grande “de maneira que não dávamos lugar uns aos outros, e abraçavam-se com muita irmandade e choros” (1998, p.100). Um caso mais enfático é descrito por Manuel Godinho Cardoso. A nau Santiago, navegando à noite, em direção ao oeste da ilha de São Lourenço (atual Madagáscar, no Oceano Índico), chocou-se com o baixo da Judia, recebendo “três pancadas temerosíssimas”, que desesperou os viajantes. As pessoas, então, correram para os padres, a fim de confessarem-se: Toda a gente não tratando já mais que da salvação das almas, por quão desenganada se viu da dos corpos, pedia confissão aos religiosos que na nau iam, com muitas lágrimas e gemidos, com tão pouco tino e ordem que todos se queriam confessar juntamente e em voz alta que se ouviam uns aos outros, exceto homens fidalgos e outra gente nobre, que se confessavam em segredo. Era a pressa tanta nas confissões que um homem, não podendo esperar, começou a dizer suas culpas em voz alta, tão graves e enormes que foi necessário ir-lhe o religioso com a mão à boca, gritando-lhe que se calasse, que logo o ouviria de confissão; o qual homem depois de confessado, gritava de longe, perguntando ao padre se o absolvera, tão alienado andava com o acidente da morte (1998, p. 303). Essa atitude das pessoas de, na iminência do naufrágio, voltarem-se apressadamente às confissões, é descrita com considerável grau de semelhança pelos narradores que se preocuparam em mencioná-la. Coletivamente, desesperados e desesperançados da salvação dos corpos, com medo da morte, sem ainda ter a absolvição das “culpas” dadas pelos padres, os viajantes quase que ao mesmo tempo querem fazer confissão dos pecados. O narrador Henrique dias, cujo relato sobre o naufrágio da nau São Paulo está presente na História Trágico-Marítima, não dedica espaço para comentar a prática de confissão feita pelos viajantes, tal como é descrita por outros narradores. Mas o padre Manuel Álvares, que estava a bordo da mesma nau, deixou uma carta, e nela comenta sobre as confissões que realizou no momento do desastre, deixando claro a pressa: Destas duas noites a ultima me pus a confessar no camarote de Antonio Dias o Piloto; ay confessei ao capitão E a outros homens fidalgos E a outra muita gente confessei ao Mestre; E ao Piloto sendo necessario acudir elle. Depois deci abaixo do chapiteo a confessar algumas molheres que estavam ja meas defuntas. E erão tantas as confissões que não podia acudir a tantas porque hus me chamavão de hua parte E outra e não sabia a quem acudisse apertandome também a desconsolação de não ter com quem me podesse confessar vendo a morte tão propiqua [próxima] diante dos olhos. (Apud MICELI, 1998b, p. 236, a palavra entre colchetes é minha). Em se tratando da nau São Francisco, o padre Gaspar Afonso afirma que ele e os demais padres estavam doentes na ocasião em que se recorreu às confissões. Ele afirma que mesmo doente, levantou-se da cama e confessou as pessoas. Usando recurso retórico, Afonso diz a finalidade do ato das confissões nos viajantes: “Para os ajudar a afogar os pecados no sangue de Cristo primeiro que o mar nos afogasse os corpos”. (1998, p. 449). Na temática das confissões, a credibilidade que se atribuía aos padres-confessores ligavase à crença mental de que eles eram homens de Deus, com uma condição de agir como intermediários entre o profano e o sagrado. Delumeau nos diz que na época moderna havia pregações que enfatizavam a importância do confessor, como um “um homem enviado por Deus” (2003, vol., II, p. 268). Mas é importante lembrar que na ocasião de maior perigo, os padres também ficavam desesperados; eles eram igualmente náufragos e desejavam ser confessados (como disse o padre Manuel Álvares) e receber ajuda divina. O curioso é que nas narrativas de naufrágio não há muitas referências nomeadamente a capelão de bordo, mas apenas para o galeão São Bento, em que Perestrelo menciona, de passagem, a presença do capelão, contudo na parte que comenta sobre a caminhada pela Cafraria (1998, p. 88). Entretanto, sabe-se que quase sempre nas viagens à Índia (mas não apenas a ela) havia pelo menos um capelão a bordo, para realizar ofícios espirituais aos tripulantes, o qual recebia remuneração. O narrador Cardoso nos diz que antes de acontecer o naufrágio da nau Santiago (em 1585), muitas pessoas, por exortação dos religiosos que estavam a bordo do navio, confessaram- se: “Os religiosos da Companhia [de Jesus] fizeram também neste dia a sua festa, e quinze dias antes encomendaram nas pregações e práticas familiares que se confessassem, o que fizeram quase todos, e a maior parte se confessou geralmente de toda a vida...” (1998, p. 299-300). Percebe-se que a confissão dos pecados não havia sido realizada pelos viajantes, embora ela tenha sido recomendada durante séculos. Em se tratando da mentalidade, a prática de confissão foi recomendada para viagens pela Rota do Cabo, devido à crença portuguesa de que Deus simpatizava com quem realizava confissões, penitência, enfim, com quem se arrependia dos pecados. Como tal prática tinha a finalidade de absolvição das “culpas”, por intermédio do padreconfessor, acreditava-se que sendo realizada a bordo, haveria menos possibilidade de castigos divinos na viagem. Recomendava-se, ainda, para tentar impedir que algum viajante morresse durante a viagem, sem ter os seus pecados absolvidos pelo padre-confessor, principalmente as pessoas que embarcavam doentes. Uma lei régia, promulgada em 16 de março de 1568, declara que os viajantes deveriam fazer confissão e comungar, durante a viagem (MAURO, 1989, p. 120-121). No século XVI, o rei de Portugal recomendava o ato de confissão a bordo, principalmente nos regimentos dados aos capitães de navios, ou seja, nos documentos com ordens régias que deveriam ser cumpridas na viagem pelos capitães dos navios. No regimento para a nau S. Pantalião, cujo capitão era Álvaro Rodrigues de Távora, que foi à Índia em 1592, fica claro recomendação à confissão: Outrosi dareis ordem que em todos os domingos e dias santos se diga missa na nao pello capellão ou religiosos que forem nella, aos quais encomendareis as confisois das pessoas que não mostrarem scripto de como vão confessadas aos quais obrigareis que se confessem e não lhes dará regra [alimento] te que sejão confessados... 38 _________ 38 Cf. “Regimento da nau S. Pantalião”. In Artur Teodoro de MATOS. Na rota da Índia: Estudos de História da Expansão Portuguesa. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1994, p. 167 No século XVII ainda se percebe esse assunto. Uma menção enfática sobre confissões a bordo pode ser lida em um regimento de 1696, dado a Francisco Pereira da Silva, capitão-mor da armada de alto bordo do estreito de Ormuz e Mar Roxo: “Embarcado, e estando aparelhado tudo para fazeres viagem vos fareis logo à vela, e depois de oito dias mandareis confessar toda a gente da vossa armada, para que com esta disposição possam ser ajudados e favorecidos de Deus, em todas suas ações, e procurareis evitar os jogos ilícitos, discórdia, ódios, e blasfêmias, de que Deus nosso senhor tanto se ofende, castigando com severidade os culpados, para que com exemplo do castigo se não cometam semelhantes pecados, e delitos” Cf. “Cópia do regimento que levou Francisco Pereira da Silva Capitão-Mor da armada de alto bordo do Estreito de Ormuz, e Mar Roxo. In: Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, p. 291 (atualizei a ortografia e acentuação, mas sem introduzir palavra). Nesta obra existem outros regimentos, onde também há recomendação para o ato de confissão. Os padres que viajavam à Índia recebiam, previamente, recomendações da Sociedade de Jesus, para incentivarem as outras pessoas viajantes a voltarem-se à confissão e reconciliação durante a viagem (MATOS, 1998, p. 384). De fato, vários padres realizavam a bordo de navios da rota da Índia pregações para aquele fim (LOPES, 1998, p. 436). Manuel Godinho Cardoso é o narrador que mais ressalta a inclinação das pessoas para as confissões. Como vimos, ele diz que antes do desastre, devido à exortação dos padres, muitas pessoas já haviam se confessado. Mas, como se viu, o narrador enfatizou a inclinação das pessoas para as confissões, logo após o choque da nau com o baixo da Judia. Com isso (acreditando no autor), pode-se ainda considerar que, embora já tivessem se confessado, as pessoas da nau Santiago, em estado de desespero, acreditaram que não haviam falado todos os pecados, enfim, que não tinham realizado a confissão de todas as suas “culpas”. Talvez isto possa ser compreendido com o que afirma Delumeau, segundo o qual, na “época moderna”, pregava-se que as confissões deveriam ser completas, pois, no dia do julgamento, Deus irá vasculhar toda a alma, a fim de encontrar pecado (2003, vol. II, p. 268). Por fim, as confissões constituíam uma das atitudes que os viajantes, no momento de maior perigo, lançaram mão para tentar garantir o perdão dos pecados e a salvação de sua alma no Além. Elas integraram o conjunto de comportamentos ligados à religião que os passageiros e tripulantes adotaram, conforme dizem os narradores. Para o ato de confissão a bordo, em certa medida, pode-se considerar o que afirma David Higgs: A conduta religiosa, as crenças, as reacções emotivas são altamente afectadas pelas situações vividas. Nos tempos de perigo ou de doença, cada indivíduo pode fazer gestos ou invocações que numa situação segura ou de boa saúde nem pensaria fazer. Durante o decorrer de uma viagem dilatada entre a Europa e a Ásia, havia incidentes em que todos os passageiros católicos, cultos e analfabetos, enfrentavam situações de ansiedades que os conduziam a uma procura de defesa divina. (1998, p. 447). As circunstâncias do naufrágio39 levaram as pessoas a mais intensamente se inclinarem a práticas espirituais. _________ 39 Circunstâncias perigosas reforçam o apego à proteção divina. E quem o diz é um próprio europeu quinhentista, o alemão Johann Dryander, que escreveu o prefácio do livro de Hans Staden, em 1556: “Sabe-se também como as contrariedades, as tristezas, desgraças e doenças fazem geralmente com que as pessoas se dirijam a Deus e que, na adversidade, nele acreditam mais do que antes...” (2006, p. 30). O livro do alemão Hans Staden foi recentemente publicado no Brasil pela editora Martin Claret e recebeu o nome de Viagem ao Brasil. Staden fez duas viagens ao Brasil em meados do século XVI, sendo que na segunda foi capturado e feito prisioneiro pelos índios Tupinambás e por pouco não foi devorado por eles. Pelo que foi descrito por vários narradores, pode-se ainda deduzir que, embora acreditassem na eficácia do ato da confissão para a absolvição dos pecados, várias pessoas não haviam se confessado antes de embarcarem ou até mesmo não possuíam o hábito de fazê-lo assiduamente em terra. Em se tratando da Índia Portuguesa, especialmente Goa, não faltam denunciadores de que os portugueses ali estavam cometendo diversos pecados considerados graves aos olhos do Senhor. Tanto o governador da Índia, D. João de Castro, como o cronista Diogo do Couto e o soldado Francisco Rodrigues Silveira40 (embora estes três também pecassem), afirmam que na Índia Portuguesa havia, por parte dos portugueses, sobretudo pelos funcionários do rei, pouco temor aos castigos divinos, sendo que não se privavam de pecar, e que estavam se voltando muito à prática do comércio; este último ponto é mais enfatizado pelos dois primeiros autores. Dentre os pecados mais denunciados por eles, aparecem o roubo (sobretudo à Coroa), cobiça, falta de justiça a crimes praticados, mentira, luxúria, etc. Jean Delumeau afirma que na Europa, sobretudo em países católicos, o que incluía Portugal, havia pregações em prol da importância de se realizar a confissão dos pecados, porém muitos não a faziam ou a realizavam de maneira incompleta, por vários motivos, entre eles, vergonha, principalmente em se tratando de questões ligadas a sexo (2003, vol.II, p. 27-278). Diante disso tudo, pode-se concluir que, embora as confissões fossem consideradas importantes pelos portugueses quinhentistas viajantes da rota da Índia, nem todos possuíam o hábito de fazêlas freqüentemente; havia um tanto de desinteresse, por parte de alguns, em realizá-las assiduamente. Daí talvez uma das razões para recorrer-se apressadamente a elas na iminência do naufrágio, tanto por parte dos que regressavam da Índia como pelos que iam a essa região. _______________ 40 Cf. Luís de ALBUQUERQUE (Org.). Cartas de D. João de Castro a D. João III. Lisboa: Publicações Alfa, 1989; Diogo do COUTO. O soldado prático (1612). Portugal: Europa-América, 1988; A. de S. COSTA LOBO (compilação.). Memórias de um soldado da Índia. Compiladas de um manuscrito português do Museu Britânico. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. Fac-símile da edição de 1877. 3.3 Viajantes pecadores Quase todas as narrativas de naufrágio da História Trágico-Marítima são marcadas pelo discurso pecaminoso. A explicação de destaque para a ocorrência do naufrágio e a conseqüente morte de centenas de pessoas repousa nos pecados dos viajantes. Das três partes em que se dividem implicitamente quase todas as narrativas de naufrágio do referido compêndio, o momento do naufrágio é o de maior ocorrência de explicação místico-religiosa. Tal fato tem a ver com a circunstância do naufrágio e com a mentalidade dos homens quinhentistas portugueses, que viam interferência divina em suas vidas. A mentalidade deles era influenciada por discursos de cunho religioso, que tinham como fundamento o texto bíblico, ou este era o principal inspirador. Na questão pecaminosa, algumas das narrativas de naufrágio também apresentam um cunho didático. Um dos elementos que identifica alguns dos relatos da História TrágicoMarítima como pedagógicos é também o ideal de ressaltar um caráter punitivo de Deus a pecadores. Em vista disso, procura-se incentivar que haja ao menos guarda aos mandamentos do Senhor. A partir do acontecimento real e trágico, encarado como fruto da ação de Deus a viajantes pecadores, ou seja, o naufrágio e a conseqüente morte de centenas de homens, pretende-se incentivar que as pessoas devam ser menos pecadoras e passem a temer ainda mais os castigos divinos. No primeiro relato da coletânea, no prólogo, há mais claramente um apelo para as pessoas temerem os castigos de Deus e passarem a ter uma vida mais cristã, com menos pecados: Cousa é esta que se conta neste naufrágio para os homens muito temerem os castigos do Senhor e serem bons cristãos, trazendo o temor de Deus diante dos olhos, para não quebrar seus mandamentos. Porque Manuel de Sousa era um fidalgo mui nobre e bom cavaleiro, e na Índia gastou em seu tempo mais de cinqüenta mil cruzados em dar de comer a muita gente, em boas obras que fez a muitos homens; por derradeiro foi acabar sua vida e de sua mulher e filhos em tanta lástima e necessidade entre os cafres, faltando-lhe o comer e beber e vestir. E passou tantos trabalhos antes de sua morte [...] E por me parecer história que daria aviso e bom exemplo a todos, escrevi os trabalhos e morte deste fidalgo e de toda a sua companhia, para que os homens que andam pelo mar se encomendem continuamente a Deus e a Nossa Senhora, que rogue por todos. Amém. (ANÔNIMO, 1998, p. 5). No trecho, Manuel de Sousa Sepúlveda é apresentado como homem que, na Índia, fez “boas obras”, ajudando muita gente necessitada, dando-lhe comida. Na passagem, o narrador anônimo apresenta uma imagem positiva do referido fidalgo, sendo que as ações dele, que se dizem no prólogo, são compatíveis em parte com o modelo de cristão simpático aos olhos do Senhor, conforme se pregava então pela doutrina católica. No século XVI, as “boas obras”, que se mencionam no trecho, eram denominadas pela doutrina católica, “obras de misericórdia corporais” (SUESS, 1992 , p. 350). Entretanto, no final, Sepúlveda, juntamente com sua família, acabou sentido sede, fome... na Cafraria e morrendo entre os “cafres”. Aparentemente pode ser contraditória a condição de Sepúlveda, suas ações ditas, em relação ao seu destino. Porém, uma das mensagens que o narrador deseja passar é que, embora a pessoa ande em conformidade com a Lei de Deus e tenha uma vida virtuosa, isso não quer dizer que ela esteja isenta de castigos divinos. Em suma, ninguém conhece os ocultos juízos de Deus, como se afirma em outra narrativa de naufrágio. Desse modo, pode-se dizer que o discurso do narrador passa a ser voltado mais para os pecadores de maior grau, pois a lógica é: se Deus castiga quem é simpático aos seus olhos, ainda mais quem não o é. Por meio do exemplo da morte do fidalgo e de sua família, as pessoas devem tentar evitar pecados, para conseqüentemente não haver maior possibilidade de castigos divinos. Além disso, estando-se em harmonia com os preceitos divinos, existe mais chance de receber ajuda nos momentos de muita aflição. Com isso, o mar, por apresentar muitos perigos, é o lugar onde o indivíduo pode receber bênçãos e no qual deve navegar, mas “encomendado a Deus”. Por fim, apresenta-se um cunho moral, uma pretensão à moralização dos costumes portugueses. Os pecados mais mencionados pelas narrativas de naufrágio (para os viajantes) são a cobiça, o divisionismo e a obstinação, sendo que o segundo está ligado, sobretudo ao egoísmo de alguns e o terceiro (obstinação) ao comportamento, principalmente de piloto (MONIZ, 2001, p. 129). Nos momentos de muita tensão, recorreu-se também ao salmo Miserere (Salmo 51) (RANGEL, 1998, p. 111). Ele é enfatizado como o “salmo próprio de pecadores para tais horas e passos” (AFONSO, 1998, p. 443). O padre Gaspar Afonso, inclusive, utiliza metáfora ligada à navegação para acentuar a questão pecaminosa: a carga maior que a nau São Francisco levava eram os pecados dos viajantes (Ibid., p. 449). A crença mental portuguesa de que os pecados proporcionaram a ocorrência do naufrágio, arribada à Cafraria, bem como suas conseqüências, é forte de maneira a responsabilizarem-se apenas os pecados de alguns viajantes. Neste caso, em algumas narrativas, menciona-se que somente os pecados dos personagens principais foram capazes de levar todas as demais pessoas à situação trágica. Já no primeiro dos relatos vê-se este caso: o narrador anônimo atribui uma fala ao capitão Manuel de Sousa Sepúlveda, na qual este insinua que somente os seus pecados bastaram para levar todos às grandes necessidades (1998, p. 12). No relato sobre o naufrágio da nau São Tomé verifica-se que D. Paulo de Lima atribui a seus pecados os problemas vividos por ele e pelos demais, conforme Diogo do Couto (1998, p. 346). Vê-se que os personagens principais são modelados por uma condição de pecadores, a tal ponto que não os impediu evidentemente de receberem punição divina. Manuel de Mesquita Perestrelo, por sua vez, foi bastante enfático ao realçar a condição de pecador: E certo que qualquer pessoa que de cima daqueles montes nos estivera olhando, posto que bárbaro e criado nas concavidades daquelas desabitadas serras fora (vendo-nos ir assim nus, descalços, carregados e estrangeiros, perdidos e necessitados, pascendo as ervas cruas, de que ainda não éramos abastados, pelos vales e outeiros daqueles desertos) alcançara sermos homens que gravemente tínhamos errado contra Deus, porque, a nossos delitos serem daqui para baixo, sua costumada clemência não consentira tão áspero castigo em corpos tão miseráveis. (1998, p. 71). Trata-se do momento da caminhada em terras da Cafraria para o rio Lourenço Marques, caminhada essa realizada pelos náufragos do galeão São Bento. Os náufragos, vivenciando vários tipos de sofrimento, como fome, debilidade física, enfermidade, são classificados como pecadores de alto grau, “homens que gravemente tinham errado contra Deus”. O sofrimento, encarado como castigo divino, é visto como de grande dimensão, sendo equivalente aos pecados dos náufragos. Deus é clemente até certo ponto. Na lógica do narrador, Ele consentiu “tão áspero castigo”, devido à gravidade que apresentava os pecados dos náufragos. Esta é a mensagem que se deseja transmitir, tanto que é encarada como a visão que teria um suposto observador externo, este, obviamente, seria branco, europeu e católico, embora Perestrelo afirme, no trecho, que poderia ser também a de um “cafre”. O referido narrador tinha consciência de que um negro do sudeste da África Oriental não teria esta compreensão, porém trata-se de um artifício retórico que reforça ainda mais o discurso pecaminoso do autor. O homem, por ser pecador, está sujeito a receber o desamparo de Deus. Na tradição bíblica, Ele criou o homem a sua imagem e semelhança, porém, devido à ocorrência do pecado, passou haver a dessemelhança entre ambos. A fim de eliminá-la, é preciso reconciliação e harmonia com o Divino. Boehner e Gilson, ao analisar o discurso bíblico, enfatizam alguns dos meios que podem ser adotados para a alma retornar ao divino: Em vista deste ideal, é mister que o homem arrepie caminho, extirpando de sua alma, pela graça e pela prática da humanidade e da caridade, as causas da dessemelhança com Deus. Pela renuncia ao pecado, pelo restabelecimento de sua condição original e pela reorientação espontânea e amorosa para as coisas de Deus, a alma se dispõe para a união extática ao divino esposo. A alma torna a ver-se qual fora na aurora da criação: como semelhança pura de Deus. (Apud NETO, 2003, p. 142). O arrependimento era considerado um dos meios mais eficazes para obter-se o perdão pelos pecados cometidos e receber a graça de Deus. Os narradores, passageiros e tripulantes dos navios que naufragaram possuíam consciência deste recurso. Na ocasião em que houve muito perigo para a vida, as pessoas assumiram uma postura de tentar obter uma reconciliação com o Senhor. Uma das formas foi o pedido de perdão a Deus pelos pecados, bem como de misericórdia. Entre os vários casos, isto fica explícito na narrativa de Manuel Rangel, que trata do naufrágio da nau Conceição: Tanto que a nau deu esta pancada, logo a gente que dormia em catres, caíram alguns deles com a grande pancada que a nau deu, e nos pareceu que virava de todo, e muitas pessoas se não puderam sustentar em pé [...]; e tanto que vimos que a nau daquela maneira tocava, todos, grandes e pequenos, chamaram por Nossa Senhora [...], chorando e pedindo misericórdia a Nosso Senhor de nossos pecados [...], e todos tínhamos aquela pela derradeira hora de nossa vida. (1998, p. 99, grifo meu). Está aí apresentada uma das características de quase todas as narrativas de naufrágio, ou seja, a ênfase à culpa do homem português quinhentista perante Deus e que, principalmente nos momentos de dificuldade, necessita buscar uma reconciliação com o Senhor. Nas narrativas de naufrágio, menciona-se, ainda, a intermediação de santos. Em situações perigosas, os passageiros e tripulantes reforçavam ainda mais a crença no poder milagroso de Nossa Senhora, a qual era vista como a grande intercessora entre os homens (“pecadores”) e Deus (CARDOSO, 1998, p. 301). Nos relatos de naufrágio, ressalta-se devoção a ela mais ainda nos momentos de tormenta, em situações de infiltração, de desastre, ou até mesmo quando faltava o vento. A nau Santiago, por exemplo, dobrou tarde (julho) o Cabo da Boa Esperança, os viajantes precisaram de vento para ao menos chegar a Moçambique, em prol disso os padres fizeram missa, pregação e ladainhas à Virgem, como afirma Cardoso (Ibid., p. 301). Nas narrativas de naufrágio, menciona-se devoção não somente à Virgem Maria, mas também às suas variantes ou figuras41, como, por exemplo, N. S. do Baluarte, N. S. da Graça, Virgem de Guadalupe, N. S. de Nazaré, N. S. do Monte, N. S. de Porciúncula, etc. às quais os náufragos, em favor de uma graça, como salvar suas vidas, prometeram voto, novena, ladainha, procissão e romaria. Estas últimas são mencionadas terem sido cumpridas em terras que os sobreviventes conseguiram chegar, como Sofala, Moçambique, Cochim e Goa. 3.4 A ira de Deus na viagem Embora a tradição cristã pregue que o Senhor é eminentemente bondoso para com os seus filhos, em algumas narrativas de naufrágio sobrepõe-se a condição atribuída a Deus como justiceiro e punitivo para com pecadores (pelo menos no momento do naufrágio). Transmite-se a mensagem, segundo a qual Deus lança sua ira aos que Lhe desobedecem. Em certa medida, tal fato constitui um eco e inspiração do texto bíblico, com mais ênfase no Velho Testamento. No que diz respeito à Bíblia, nas narrativas de naufrágio há mais referências aos livros do Antigo Testamento (MADEIRA, 2005, p. 116), significando que fundamentação teórica delas, no aspecto religioso, está em parte na Sagrada Escritura. No livro de Isaías, por exemplo, há algumas passagens que lembram a crença sobre castigos de Deus a pecadores, enfatizada em várias narrativas. Destaca-se, no livro de Isaías, a ira de Deus a pecadores ou mesmo a quem pratica ações desagradáveis aos olhos do Senhor. “Ai desta nação pecadora, povo carregado de iniqüidade, raça de malignos, filhos corruptos” (Is. 1: 4), e, mais individualmente: “Ai dos que puxam para si a iniqüidade com cordas de injustiças e o pecado, como com tirante de carro! (Is. 5: 18). Tais procedimentos e outros, também não conformes a vontade do Senhor, despertam a sua ira: “Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus _______________ 41 A autora Marie-France Boyer afirma que ainda no século XXI existe uma forte continuidade do culto marial, com suas figuras dispersas em várias partes do mundo. “As grandes figuras do culto marial se acham dispersas, da Sicília à Rússia, da Andaluzia à Irlanda, do Peru a Flandres; há mesmo algumas, inesperadas, na Índia ou na Indonésia. Nossa Senhora de Lourdes, na França, atrai mais de cinco milhões de fiéis todo o ano, enquanto Nossa Senhora de Guadalupe, no México, atrai o dobro, e Nossa Senhora de Czestochowa, na Polônia, pelo menos cinco mil por semana. Contudo, as mais misteriosas e reverenciadas das imagens mariais são [...] as Virgens negras. (2000, p. 10). cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira mas ainda está estendida a sua mão” (Is. 5:25). Os problemas enfrentados na viagem, como infiltração, arribada, naufrágio e desterro, principalmente na Cafraria (obviamente, com sofrimento e morte de pessoas), são vistos por vários narradores pela ótica de castigo divino, sendo conseqüência dos pecados dos viajantes. Pode-se dizer que a morte de centenas de pessoas, por ocasião do naufrágio, lembra, a partir de afirmação dos narradores, o trecho bíblico de que “o salário do pecado é a morte” (Rm. 6:23). Existe a idéia de predestinação da morte em naufrágio, de que muitos já haviam nascidos para morrer no naufrágio, como é mencionado para o caso de Manuel de Sousa Sepúlveda e sua família (ANÔNIMO, 1998, p. 10), e ainda na narrativa sobre a nau São Tomé (COUTO, 1998, pp. 347-350). Isso alude, em certa medida, à crença sobre a condenação da humanidade pelo pecado original42. Este, inclusive, era enfatizado em pregações na época moderna e visto como hereditário (DELUMEAU, 2003, vol. I, p. 474). Em várias narrativas de naufrágio há de certa forma aproximação com a “pastoral do medo” da época moderna, em que membros da Igreja Católica pregavam discursos religiosos ressaltando, entre outros temas, um caráter punitivo de Deus para com pecadores. Uma das finalidades era tentar impedir pecados, através do medo. Não se trata aqui de apresentar a História Trágico-Marítima como possuidora de uma pastoral do medo idêntica a discursos de eclesiásticos contemporâneos ou posteriores às narrativas de naufrágio. Mas é importante deixar claro que algumas delas têm consciente ou inconscientemente o propósito de causar medo a castigos do Senhor. E tal fato possui, em certa medida, eco ou influência de pregações religiosas de então (século XVI), nas quais se destacava a idéia da ira de Deus sobre pecadores. Como escreveu Jean Delumeau: “Um Deus infinitamente bom que, entretanto, pune terrivelmente, essa é a imagem do Todo-Poderoso que a pregação católica propôs incessantemente aos fiéis, até o século 19, inclusive” (2003, vol. II, p.143). Esta condição atribuída a Deus é transmitida em várias das narrativas de naufrágio. A partir delas, tal condição podia ficar fortalecida no imaginário das pessoas, sobretudo das que estivessem ligadas a viagens pela Rota do Cabo. _________ 42 Sobre o pecado original, em um sermão, Robert Burton, no século XVII, expressou: “O pecado original transformou o homem num ser miserável, suscetível à doença, à infelicidade, ao medo e à morte” (Apud, DELUMEAU, vol. I., p. 463). O naufrágio de navio da Carreira da Índia, por ser marcado pela morte de centenas de pessoas (e por perdas de fazendas), na lógica dos narradores, legitimava a crença de que Deus indubitavelmente estava irado com os viajantes, devido aos seus comportamentos, considerados desagradáveis ao Senhor. A consideração de que o naufrágio é fruto direto da ação de Deus ou mesmo da “vontade divina”, fica evidente também na narrativa de Henrique Dias sobre a nau São Paulo, a qual seguiu viagem à Índia, em 1560. Entre outras passagens: “Por onde parece quis a vontade divina, enfadada já da soberba e contumácia do piloto e também com os nossos pecados, que passássemos outros novos trabalhos e sentíssemos a mão de seu castigo, e nos perdêssemos” (1998, p. 228). Como já disse, o pecado separa ou distancia Deus dos homens. Esta idéia é de maneira considerável referida por alguns dos autores da coletânea. Mencionam que em vários momentos os viajantes estavam abandonados por Deus, que apenas permitia perigos43. Vejamos a versão de três autores: Manuel Rangel, Manuel Godinho Cardoso e Diogo do Couto. O piloto da nau Conceição, Afonso Pires, não tinha muito conhecimento acerca do roteiro no Oceano Índico. Alguns sinais denunciavam a proximidade de baixio, como água verde e a abundância de pássaros voando sobre a nau. Entretanto, em uma noite, o piloto deixou todas as velas expostas (enfunadas). ______________ 43 No século XVII, evidentemente, ainda se percebe esta mentalidade sobre castigos divinos, durante a navegação pela Rota do Cabo. Por exemplo, no capítulo 32 do regimento dado ao capitão Luiz Velho em sua viagem de 1644 à Ásia, bem como em outro regimento de 1668, concedido ao capitão da nau Santa Teresa, Francisco Rangel Pinto, mas desta vez em viagem de regresso ao Reino, fica explícita neles a preocupação de evitar ofensas a Deus de viajantes, bem como as possíveis conseqüências delas, ou seja, castigos. Assim, existe a preocupação por parte das autoridades reais de estabelecer o controle dos que vão a bordo, de modo a tentar impedir que tenham comportamentos que se acreditava desagradáveis aos olhos do Senhor. Como reza o primeiro documento: “Encarrego-vos muito o grande cuidado que deveis ter em procurar evitar na vossa nau toda ofensa a Deus Nosso Senhor, pois é este o meio com que mais o devemos obrigar a que use conosco de sua misericórdia, e esperar que nos dê em tudo bom sucesso e que cessem os castigos do céu que pela omissão se podem temer, e fio de vosso zelo que na execução desta matéria vos havereis de modo que tenha eu que vos agradecer, porque sendo esta a primeira obrigação a que se deve atender, assim também me devo haver por melhor servido do maior cuidado que nela se puser, e para que o castigo e medo sirva de freio aos que sem respeito de Deus se deixarem levar de vícios, logo que sairdes desta barra, começareis a tirar devassa...”. Cf. “Regimento do que há de usar na viagem Luiz Velho fidalgo da Casa de V. Mgde que ora vai por cabo dos galeões que este ano presente hão de ir com o favor de Deus para a Índia, como nele se declara”. In: Alberto IRIA. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963, pp. 254-255. O segundo documento diz o seguinte: “Os maus sucessos [acontecimentos] que experimentaram muitas naus em suas viagens, tenho por certo, que nascem das ofensas que nelas se fazem a Deus Nosso Senhor, e ali vos encomendo muito, que tenhais particular cuidado de evitá-las no discurso da navegação, e que se tire devassa dos vícios que houver, em particular dos de ruim qualidade...”. (IRIA, Ibid., p. 186). (atualizei a ortografia e a acentuação, mas sem introduzir palavra). Mesmo havendo sinais de proximidade de rochedo e rogos de pessoas experientes na Carreira da Índia, que na nau estavam, para que ele mudasse o rumo e mandasse encolher as velas, o piloto não obedeceu, e a nau chocou-se com os baixios de Pêro dos Banhos, segundo a versão do narrador Manuel Rangel (1998, p. 97-99). Essa teimosia do piloto faz o narrador concluir: “... Não há que dizer senão que Nosso Senhor permitia tal cegueira por nossos muitos pecados” (RANGEL, 1998, p. 99). Diante de todas as dificuldades o problema maior residia no próprio comportamento dos viajantes, comportamento esse inconveniente a Deus. Por isso Ele permitiu que o desastre acontecesse. Mais enfático é Manuel Godinho Cardoso. Ele explica o choque da nau Santiago com o Baixo da Judia, ocorrido em 1585, como sendo fruto direto da ação de Deus. O narrador salienta a idéia do naufrágio como castigo divino e incentiva que passe a ser mais conveniente temer e acatar as decisões divinas, em vez de responsabilizar as falhas humanas na navegação. “E por que na verdade cuido que mais temos nesta parte que temer os ocultos juízos de Deus e louvar a secreta ordem com que sua Divina Providência permite todas estas coisas, que culpar os conselhos dos homens...” (1998, p. 302). Mais curioso é o fato de, consoante este autor, Deus ter “tapado” os olhos e ouvidos dos marinheiros e dos soldados que estavam de vigia na nau, para que não olhassem o rochedo nem ouvissem o barulho das ondas chocando-se nele. Tudo tinha que ocorrer de maneira perfeita para haver a inevitabilidade do naufrágio, uma vez que este foi causado “por justos e ocultos juízos de Deus, merecendo-o assim os nossos pecados” (CARDOSO, Ibid., p. 302). O cronista Diogo do Couto, por sua vez, na narração do naufrágio da nau São Tomé, também dá um grande destaque à crença de Deus irado, que lança castigos aos navegantes. Conforme o cronista, o naufrágio do referido navio, em 1589, foi ocasionado basicamente pelo excesso de infiltração, devido à má calafetação no casco da nau. Contudo, a explicação ligada a castigo divino não deixa de ser referida. O narrador Couto é hábil em representar a morte, bem como a crença de que Deus preparou tudo eficientemente para a ocorrência do desastre: Toda esta noite passaram com grandes trabalhos e desconsolações, porque tudo quando viam lhes representava a morte, porque, por baixo, viram a nau cheia de água, por cima, o céu conjurado contra todos, porque até ele se lhe encobriu com a maior cerração e escuridade que se viu. O ar assobiava de todas as partes, que parecia lhes estava bradando, morte, morte, [...]. Dentro na nau tudo o que se ouvia eram suspiros, gemidos, gritos, prantos e misericórdia que pediam a Deus, que parecia que por alguns pecados de alguns que iam naquela nau estava irado contra eles. (1998, p. 345). À noite, 15 de março de 1589, navegando-se a sudeste da costa oriental da África, um marinheiro no cesto da gávea avistou terra, porém o piloto, por não conhecer a região e receando que a nau pudesse encalhar em algum recife que eventualmente houvesse, desviou o barco para outro rumo, distanciando-se da terra. Este fato faz Couto incitar à reflexão para o naufrágio da nau São Tomé. “E certo que é coisa muito para ponderar a perdição desta nau e a morte da gente que nela ficou, porque em muitas cousas se viu ser aquilo um juízo de Deus muito evidente...” (1998, p. 350). Isso porque Couto acredita que, se os oficiais tivessem procurado a terra no início da manhã, não haveria a morte de tantas pessoas, já que o afundamento do navio aconteceria próximo a ela, possibilitando salvar muitos com ajuda do batel... Entretanto, como ele diz: “Mas os pecados taparam os olhos a todos para não entenderem isto e se perderem aqueles que nasceram para aquilo”. (COUTO, Ibid., p. 350). Por fim, as narrativas aqui analisadas apresentam um elemento em comum: a crença portuguesa sobre ira de Deus a pecadores, com ênfase a viajantes da Carreira da Índia. Reconhece-se que o naufrágio ou problemas enfrentados durante a viagem são causados por forte tormenta, excesso de infiltração, de carga, precariedade da nau, imperícia de piloto, etc., mas a explicação final e a que vários narradores insistem em afirmar é a baseada na justiça divina. Ocorre, assim, reforço à crença sobre a interferência divina na vida das pessoas, aplicando Deus punição a pecadores e estendendo a sua misericórdia a penitentes e arrependidos de suas “culpas”. Deus é assim duplamente representado como o justiceiro e o misericordioso, com ênfase à primeira condição. Há ainda a idéia da inevitabilidade do naufrágio e da morte de alguns, uma vez que era da vontade de Deus, e, portanto, tudo o que fosse feito para livrar-se da perdição seria inútil, como está mencionado mais explicitamente para o navio do capitão Manuel de Sousa Sepúlveda (ANÔNIMO, 1998, p. 10). Este tipo de explicação, baseada na ira de Deus, constitui também uma forma de tentar encobrir falhas humanas na navegação, como vimos para o naufrágio da nau Santiago. Ademais, em certa medida, a explicação dos narradores, baseada no castigo divino conforme a gravidade dos pecados, é fruto da lógica humana. Como diz José Alves de Freitas Neto: “A lógica humana, a partir das idéias de castigo e recompensa, independente do juízo que se faça, aplica as categorias e concede o que se espera a cada pessoa conforme sua postura” (2003, p. 134). A crença portuguesa de que Deus possuía postura ativa sobre a Carreira da Índia era forte, de maneira que nos séculos XVI e XVII usava-se a expressão “com o favor de Deus”, para referir-se à partida de uma nau/armada à Índia ou no regresso a Portugal. Ou seja, conforme a mentalidade da época, os navios saíam das duas regiões (Portugal e Índia) com o favor divino. Tal crença remonta ao início da Carreira da Índia. Em uma carta do rei D. Manuel I enviada ao Samorim de Calicute, por meio de Cabral, fica claro que a primeira viagem de Vasco da Gama à Índia (assim como a do próprio Cabral) fora fruto da “graça de Deus”, e o rei ainda acrescenta: “Assim que, ainda que esta coisa se veja feita por homens, não se deve julgar por obra de homens, que não é possível a eles, mas só de Deus”. 44 Afirmando, assim, que foi Deus quem permitiu a realização da viagem de Gama e também a de Cabral. ______________ 44 Cf. “Carta que El-Rey Dom Manuel escreveo a El-Rey de Calecut por Pedralvares Cabral, capitão da primeira armada que foi ha Índia depois de ser descuberta per Vasco da Gama.”. In: António da Silva REGO. Documentação para a história das missões do padroado português no Oriente, Índia (1499-1522). Lisboa: Fundação Oriente e Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1991, Vol. I, p. 17. Este trecho está com a ortografia, a acentuação e a pontuação atualizadas por mim, mas sem introduzir palavra. 4. NAUFRÁGIOS NA COSTA DA CAFRARIA Como vimos, Melchior Estácio do Amaral é o narrador que mais dá ênfase a naufrágio, sendo que parte de seu relato é pedagógico neste assunto. Ele escreveu o último tópico de sua narrativa, principalmente, para advertir que se tomasse cuidado no sentido de evitar mais perdas de navios, as quais “magoam até as pedras” (AMARAL, 1998, p. 543). A partir da fonte Navios da Carreira da Índia (1497-1653), códice anônimo da British Library, o professor António Moniz chegou à conclusão de que o recorte temporal (1552-1602) em que estão situados os desastres marítimos enfatizados nas narrativas da História TrágicoMarítima foi o período do século XVI em que houve mais naufrágio de navios da Carreira da Índia45 (2001, p. 86). Diante disso, pode-se dizer que Amaral viveu num momento em que estava havendo uma quantidade considerável de naufrágio em navios da Carreira da Índia. Isso legitima mais sua mensagem pedagógica. Melchior Estácio do Amaral lamenta a ocorrência do número elevado de naufrágio e considera indesculpáveis as pessoas que estiveram envolvidas na organização das viagens, pois as causas principais “são bem remediáveis” e conhecidas. As causas que ele resume como principais e remediáveis são a partida tarde da Índia e o sobrecarregamento nos navios. (Ibid., p. 543). Os naufrágios, além de causarem a perda de fazendas, faziam muitas pessoas morrerem. A preocupação de Amaral residia mais na morte de pessoas consideradas importantes, por serem úteis à navegação da Carreira da Índia. Ou seja, a lamentação do narrador refere-se mais à morte de pessoas que possuíam experiência e qualificação em viagem pela Rota do Cabo. Os desastres marítimos provocavam: “... A perda de tanta gente, não só de fidalgos, soldados de grande valor, mas pilotos, mestres, nautas [marinheiros] e bombardeiros, gente toda feita nesta carreira, que lá fazem muita míngua”. (AMARAL, Ibid., p. 540). Isso também porque no tempo de Amaral tais trabalhadores estavam ficando escassos, sobretudo para navios da Carreira da Índia, devido alguns fatores, a começar pelo alto índice de mortalidade verificado nas viagens, que além de tudo era um motivo desencorajador para servir nas naus. _____________ 45 Cf. “Navios da Carreira da Índia (1497-1653), códice anônimo da British Library.” In: Luís de ALBUQUERQUE. (Org.). Relações da Carreira da Índia. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 7-93. A maior parte dos naufrágios de navios da Carreira da Índia (do século XVI), que se teve notícia, aconteceu na viagem de regresso a Portugal. Vários deles ocorreram na costa da África Oriental. Houve casos, no século XVI, em que navios da Carreira da Índia naufragaram com todas as pessoas e carga, não havendo salvação para nenhuma, e tanto em Portugal como na Índia Portuguesa não se teve notícias ao menos sobre o local do naufrágio. Eram navios de regresso a Portugal. Comparando o texto de Melchior Estácio do Amaral com as fontes presentes na obra Relações da Carreira da Índia, podemos saber alguns deles. Entre outros, a nau Boa Viagem, em 1585, a nau Bom Jesus, no ano de 1591 e a nau São Bernardo, em 1592. Estas datas são de sua partida da Índia e logicamente o naufrágio ocorreu no mesmo ano da partida. A História Trágico-Marítima é composta majoritariamente por narrativas sobre naufrágio de navios da Carreira da Índia. Seis (6) se perderam no regresso a Portugal, na costa da África Oriental, principalmente na região que os portugueses chamavam Cafraria. Dos navios em viagem de ida à Índia, um (1) (nau Santiago) naufragou na costa dessa região. Houve salvamento para algumas pessoas. Assim, pôde se saber o local do naufrágio, seus motivos, bem como escrever narrativas sobre o ele. 4.1 Conceitos básicos do “trágico” nas narrativas No contexto do século XVI em que os portugueses viajavam à Índia pela Rota do Cabo (ou seja, atravessavam o Atlântico e o Índico) motivados em primeiro lugar pelo comércio, era natural que houvesse lamentação e tristeza por parte deles à perda de mercadorias, em decorrência de desastres marítimos. Este assunto é referenciado por vários autores das narrativas de naufrágio, como o anônimo para o galeão São João, Perestrelo, o anônimo para a nau Garça, Manuel Cardoso e Diogo do Couto. Nas narrativas de quase todos estes autores existe o ideal de suscitar no leitor lamentação e tristeza à perda das mercadorias e da nau. Neste caso, há a utilização do recurso retórico exagero. Isto pode ser percebido nas seguintes sentenças: o navio que naufragou era o mais rico, desde que a Índia fora descoberta, como é dito para o galeão São João ou ainda para a nau Garça (ANÔNIMO, 1998, p. 11; ANÔNIMO, 1998, p. 132); há muito tempo não havia uma nau tão rica, como se considera a nau Santiago (CARDOSO, 1998, p. 309). Além disso, recorre-se à idéia de que o barco naufragado era o maior e melhor que navegava para a Índia, como se declara para o galeão São Bento (PERESTRELO, 1998, p. 27); chega-se mesmo a afirmar que a nau Garça era a maior e mais rica que até aquele tempo havia na Carreira da Índia (ANÔNIMO, 1998, p. 132). Estes recursos – adotados pelos narradores – podiam causar mais tristeza e lamentação nas pessoas que lessem ou ouvissem as narrativas. Enfatizar a riqueza do navio naufragado pode ser visto, ainda, como elemento legitimador do ato da escrita das narrativas. Como disse Angélica Madeira: “Enumerar os bens revela a importância da nau, da perda e, por extensão, da narrativa” (2005, p. 166). Entretanto, é importante lembrar que quase todos os narradores não enumeram especificamente as mercadorias que as naus transportavam (como já foi analisado no tópico sobre a carga, p. 83). As narrativas de naufrágios podem ser vistas como trágicas também porque reforçam ainda mais tristeza à perda das riquezas transportadas ou mesmo do navio. Glenn Most nos diz que para um acontecimento ser qualificado de “trágico”, deve também envolver uma “perda irreparável” (2001, p. 22). Os dois elementos – mercadorias e navio – eram obviamente estimados pelos viajantes portugueses, mas é possível que a lamentação à perda das fazendas fosse mais dilatada, porque envolvia mais pessoas. Entretanto, depois de algum tempo, podia-se conseguir outras mercadorias. Os navios São Bento e Garça passaram a ter uma condição de excepcionalidade, devido às qualidades que lhes foram atribuídas. Neste caso, são trágicas as narrativas sobre o galeão São Bento e nau Garça, porque também descrevem ou enfatizam a perda de navios com qualidades apreciáveis para a época. E o naufrágio deles implicou uma perda irreparável. Diogo do Couto é mais moderado em usar o recurso retórico exagero, para a perda do navio e das mercadorias transportadas. Mas o autor utiliza outros recursos, como, por exemplo, a ironia. Vejamos como ele descreve a expressão que o naufrágio da nau São Tomé deixou nas pessoas do batel: Começou o batel a tocar o remo para terra, e sendo afastados da nau às dez horas do dia, lhe viram dar um grande balanço e após ele esconder-se toda debaixo da água, desaparecendo à vista de todos como um raio, de que eles ficaram como homens pasmados, parecendo um sonho verem assim uma nau em que havia pouco iam navegando, tão carregada de riquezas e louçainhas que quase não tinha estimação, comida das ondas, sumergida (sic) debaixo das águas entesourando nas concavidades do mar tantas cousas, assim dos que nela iam como dos que ficavam na Índia, adquiridas pelos meios que Deus sabe. (1998, p. 349-350). O referido navio naufragou com pessoas que estavam a bordo. No batel salvou-se apenas uma minoria. No trecho, o autor transmite o cunho trágico que envolveu o naufrágio da nau São Tomé. Entretanto, nota-se que o trágico, para os que estavam no batel, na visão de Couto, referese aos prejuízos materiais e não à morte das pessoas a bordo do navio. Mas só em outro trecho que Couto escreve sobre a tristeza de D. Joana de Mendonça, em relação à morte da filha dela no naufrágio navio. Couto, ao dizer que a nau estava “tão carregada de riquezas e louçainhas que quase não tinha estimação” e que as mercadorias foram “adquiridas pelos meios que Deus sabe”, estava externizando características de seu estilo de escrita. A primeira frase (“que quase não tinha estimação”) trata-se de uma pura ironia, a segunda insinua o tom mordaz de sua escrita em relação a um comportamento dos portugueses na Índia. Por exemplo, em seu livro O soldado prático, Couto é bastante enfático ao acusar os portugueses na Índia de se interessarem primeiramente por riqueza. Nesta obra Diogo do Couto, não se priva de acusar, sobretudo os funcionários do rei, de roubarem a Coroa portuguesa, e que ali, na administração da Índia Portuguesa, grassava a corrupção. No que diz respeito ao aspecto econômico, de maneira resumida, está aí exposto um conceito de trágico, evidenciado pelo desastre marítimo e enfatizado pelas narrativas analisadas. A questão trágica é mais ressaltada nas narrativas, no que concerne à morte. Sabe-se que um naufrágio envolvendo a morte de pessoas é obviamente trágico, mas não é óbvio o ato de escrever sobre desastres deste tipo, usando artifícios retóricos para enfatizar ainda mais a morte, de modo a torná-la mais pungente e ao mesmo tempo mais forte no imaginário popular. Isto se pode observar em quase todas as narrativas de naufrágio. Neste caso, destaca-se a morte de fidalgos, o que revela um reflexo, nas narrativas, de características da própria sociedade portuguesa ou mesmo da época, a qual valorizava o status de nobreza. Um conceito de trágico que se pode observar nas narrativas de naufrágio diz respeito também à proximidade da morte e sua inevitabilidade (principalmente a fidalgos). Isto fica em vários momentos perceptível no primeiro dos relatos, ou seja, no referente ao naufrágio do galeão São João. Entre outras passagens: “Quem entender bem o mar, ou todos os que nisto bem cuidarem, poderão ver qual ficaria Manuel de Sousa, com sua mulher e aquela gente, quando se visse em uma nau em cabo da Boa Esperança sem leme, sem mastro e sem velas, nem de que as poder fazer.” (ANÔNIMO, 1998, p. 8). Está aí revelada uma situação trágica: a iminência da morte. É de notar, na passagem, a simbolização do Cabo da Boa Esperança como lugar do perigo e, por extensão, da morte, principalmente durante a navegação, quando também não se dispõe de elementos essenciais para a navegação: leme, mastro e velas. Há então a idéia da inevitabilidade do naufrágio. O narrador convida o leitor, de preferência aquele entendido na arte de navegar, para imaginar a situação em que se viu Manuel de Sousa Sepúlveda e os demais. Dessa forma, o leitor terá maior compreensão sobre o momento perigoso em que se viram os viajantes do galeão São João. A situação fica mais trágica quando o narrador diz (como já mencionei em outra parte deste trabalho) que Sepúlveda e sua mulher, em virtude de seus pecados, estavam abandonados por Deus e predestinados a morrer no naufrágio. Esta condição é triste e chocante para um contexto histórico com forte religiosidade cristã, como o do século XVI (europeu). A condição de abandonado por Deus, para aquele contexto histórico, podia ser vista como por demais “trágica”. Nas narrativas sobre os naufrágios ocorridos na costa da Cafraria, não há menção aos termos “trágico” e “tragédia”, nem para qualificar o naufrágio, nem as suas conseqüências. Entretanto, tal fato não impede de eles serem aplicados (num sentido comum ou coloquial) às narrativas, bem como aos eventos descritos por elas. Perestrelo – autor do relato sobre o naufrágio galeão São Bento – realça aspectos que envolvem um cunho trágico, tanto para o naufrágio e as suas conseqüências como à sua narrativa. Entre outros trechos: E tanto que ela [a manhã] começou de esclarecer, partimos caminho da praia a buscar alguma roupa com que nos repairássemos, a qual achamos toda coberta de corpos mortos, com tão feios e disformes gestos que davam bem evidentes mostras das penosas mortes que tiveram, jazendo uns por riba, outros por baixo daqueles penedos, e muitos de que não apareciam mais que os braços, pernas ou cabeças; e os rostos estavam cobertos de areia ou de caixas ou de outras diversas coisas; e não foi também aqui pequeno o lugar que a infinidade de perdidas fazendas ocupava, porque tudo quanto podíamos estender os olhos de uma e outra parte daquela praia estava cheio de muitas odoríferas drogas e outra infinita diversidade de fazendas e cousas preciosas (1998, p. 39). Na passagem ficam claros os dois elementos que identificam uma condição trágica no naufrágio: a morte de pessoas e a perda das valorizadas mercadorias. Assim, o trágico nas narrativas pode ser identificado também pela menção à presença da morte, à enumeração de pessoas mortas, à perda de riquezas e pela tristeza que o naufrágio e a escrita dos relatos despertam. A partir das narrativas, o naufrágio insere-se nas definições feitas pelo autor Glenn Most, o qual diz que, para certos acontecimentos serem qualificados de “trágicos”, devem possuir características, tais como: “São geralmente tristes [...]; não são apenas um tanto tristes, mas extrema e nobremente tristes [...]; tendem particularmente a envolver morte [...]; particularmente a morte inesperada, desnecessária e prematura” (2001, p. 22). Como já disse, as narrativas pretendem perpetuar a memória da morte de fidalgos. Além do caso de Sepúlveda (que já foi dito), há também o de D. Paulo de Lima, personagem principal da narrativa do naufrágio da nau São Tomé. Neste relato, a partir também da morte do referido fidalgo, há a definição de “trágico”, acima proposta pelo autor Most: a narrativa envolve um caso triste ou ela pretende causar tristeza nos leitores; ela ressalta a morte de pessoas, particularmente a de D. Paulo de Lima. E a morte dele é transmitida, ainda que implicitamente, como desnecessária e prematura. O referido relato de naufrágio foi escrito pelo cronista Diogo do Couto que também vivenciou o desastre marítimo da nau São Tomé (e ainda o da nau Santiago). A narrativa é uma produção encomendada por D. Ana de Lima, irmã do náufrago D. Paulo de Lima. Couto enfatiza como singular e comovente a morte do referido fidalgo, ocorrida na Terra do Natal, em 1589: “Sua morte foi para todos a maior desconsolação que se podia imaginar, assim por verem um fidalgo de tantas partes e calidades (sic) boas de que a natureza o dotou falecer no maior desamparo que se nunca viu...” (1998, p. 371). Na narrativa sobre o naufrágio da nau Santiago também se pode observar um aspecto do trágico: a tensão vivida pelos personagens na ameaça da morte (NETO, 2003, p. 71). Cardoso ressalta o comportamento de medo e de desespero dos viajantes nas circunstâncias do naufrágio: O que fez esta perdição mais medonha foi ser de noite, e tão escura que mal se viam uns aos outros. A grita e a confusão da gente era grandíssima, como de homens que se viam sem nenhuma esperança de remédio, no meio do mar que bramia, com a morte diante dos olhos, na mais triste e horrenda figura que imaginar se pode em nenhum dos naufrágios passados. O quebrar da nau, estalar da madeira (que se estava toda moendo), o cair dos mastros e entenas, faziam então um tom e ruído temerosíssimo, tal que parece cousa impossível lembrar depois a quem o escreveu. (1998, p. 302) Assim, o narrador destaca o homem abandonado no meio do mar, à noite, sem esperança de salvamento, “com a morte diante dos olhos”. Cardoso lança mão de estratégia retórica para reforçar a cena trágica, principalmente quando diz que é o pior naufrágio que já aconteceu, sem precedência e com mais sofrimento nas pessoas. Além do estado de tensão e de medo das pessoas na iminência da morte, há também a ênfase ao quebrar da nau – outro elemento trágico. Neste caso, o narrador explora também a sonorização no naufrágio. A noite é representada como momento perigoso para a navegação e ao mesmo tempo dificultoso à salvação das pessoas na ocorrência de desastre. Por fim, das considerações feitas até aqui, já se pode ter uma noção acerca do conceito básico do trágico nas narrativas de naufrágio. Contudo, foram analisados apenas os relatos que comentam naufrágios ocorridos na costa da Cafraria. Nesta parte (e no tópico seguinte) são excluídas as narrativas referentes às naus Conceição, São Paulo e São Francisco, bem como o Tratado das Batalhas [...]. Mas nestes relatos também há uma tendência a ressaltar o cunho trágico, principalmente por Henrique Dias, na narrativa sobre o naufrágio da nau São Paulo. A mensagem que se transmite claramente em todas estas narrativas é que o homem português quinhentista e navegador, em vários momentos de sua vida, está sujeito a sofrimento. 4.2 O desterro português na Cafraria Para quase todos os navios (da História Trágico-Marítima) que naufragaram próximo à costa da Cafraria (sudeste da África Oriental), no momento em que se percebeu que o prosseguimento da viagem estava impossibilitado, a opção acolhida foi procurar a terra mais próxima e seguir para ela. Em quase todos os relatos, menciona-se, para este objetivo, o uso de barcos utilizados para a navegação pela costa, ou seja, batel e esquife, os quais nas circunstâncias do naufrágio foram usados como barcos salva-vidas. O batel é mais referenciado. A nau São Tomé, por exemplo, devido ao excesso de infiltração e ao dano em várias de suas peças, ficou sem poder prosseguir a viagem. Como opção mais segura para a salvação de alguns, recorreu-se ao batel, para seguir à terra da Cafraria: “Ao outro dia em amanhecendo, que se viram todos sem nenhum remédio, trataram de lançar o batel ao mar...” (COUTO, 1998, p. 345). Mas para o caso do galeão São Bento não se menciona a presença de batel, usado para seguir a terra. Ao contrário, Perestrelo afirma que não havia batel. E o referido galeão chocou-se com rochedos, nas proximidades da costa da Cafraria. Várias pessoas a nado conseguiram chegar a terra. Mas a situação se complica quando o batel apresenta problemas que exigem reparos, antes de seguir viagem. A existência de batel assim é mencionada nas narrativas sobre as naus Santa Maria da Barca (ANÔNIMO, 1998, p. 178-179), Santiago (CARDOSO, 1998, p. 309) e São Tomé (COUTO, 1998, p. 345). No caso da nau Santiago, apresenta-se um esquife, que foi utilizado pelo capitão-mor, o mestre da nau, alguns passageiros, marinheiros, o mestre dos calafates. O padre Frei Tomás Pinto com uma agulha de marear (bússola) na mão tentou também seguir no barco salva-vidas, mas foi impedido. A desculpa que deram aos demais foi: “Diziam que iam descobrir o baixo e ver se achavam terra, e que logo haviam de tornar” (CARDOSO, Ibid., p. 308). O esquife, conforme Cardoso, não retornou. Diante disso, procedeu-se ao conserto no batel. Nos barcos salva-vidas nem todos tinham direito de seguir, tanto pelo fator óbvio de não haver neles espaço suficiente para acomodar todas as pessoas, como pelo status social. No batel ou esquife segue em primeiro lugar o capitão, oficiais da nau, fidalgos, padres e em algumas narrativas menciona-se a preferência também a mulheres. Mas nem por isso o batel deixa de seguir sobrecarregado de pessoas, como se faz menção nas narrativas referentes às naus Santiago e São Tomé. Nessa circunstância, com o batel cheio de gente, a navegação sente estorvo. Em prol da salvação de alguns, preferencialmente das pessoas acima ditas, recorre-se à “cruel obra” (CARDOSO, Ibid., p. 312) de lançar pessoas ao mar, como deixa claro Diogo do Couto para o batel dos náufragos da nau São Tomé: “Tanto que cometeu sua viagem acharam-no os oficiais tão pejado, por ir muito carregado, e com todo o grosso debaixo da água, que fizeram grandes requerimentos que se lançassem algumas pessoas ao mar para se poderem salvar as outras” (Ibid., p. 348). Quem decide e lança pessoas ao mar são os oficiais da nau. (a definição de oficial de nau está na p. 82). O narrador Cardoso não se esquece de dizer o meio adotado para mais facilmente se lançar pessoas ao mar, ou seja, o uso da espada: “Levaram as espadas nuas nas mãos, para assim mais facilmente poderem executar as sentenças e miseráveis sortes dos condenados” (Ibid., p. 312). Couto, por sua vez, destaca a reação das pessoas do batel ao verem lançar ao mar seis outras: “Este piedoso sacrifício levou os olhos dos que o viram tanto atrás de si, que ficaram pasmados, sem saberem o que viam ou como cousa que se lhes representava em sonhos...” (Ibid., p. 348). No ato de lançar pessoas ao mar, mais uma vez se observa a conservação da hierarquia social: em primeiro lugar lançam-se n’água os desfavorecidos. Os oficiais dos navios e nobres são os que permanecem no barco salva-vidas. No batel dos viajantes da nau Santiago, das dezessete pessoas que se jogaram ao mar havia apenas um fidalgo (CARDOSO, 1998, p. 312). Para os viajantes do batel da nau São Tomé, não há referencias a fidalgo sendo lançado ao mar, mas apenas a feitor, mercador, escravo e soldado. (COUTO, 1998, p. 349). Entretanto, mesmo lançando algumas pessoas ao mar, ressalta-se que ainda assim o batel ficou sobrecarregado de gente: “Iam todos tão apertados no batel que nem mover-se podiam, uns por cima dos outros” (CARDOSO, Ibid., p. 316). Como já disse, a terra onde os sobreviventes conseguem chegar é a Cafraria, especificamente no sudeste da África Oriental. Embora seja unânime para os navegantes preferirem ir a ela a morrer afogados, nem por isso eles se sentem seguros nela e os narradores não se privam de apresentar uma imagem negativa sobre ela. A Cafraria, na visão de todos os narradores, simboliza a selvageria e ao mesmo tempo o lugar do perigo e da morte. Cardoso é um dos narradores que ressalta isto. Ele diz que os portugueses, ao seguirem no batel para a terra, estavam deixando as dificuldades e perigos do mar para experimentarem os da terra. Após desembarcarem do batel, os portugueses da nau Santiago receberam lançadas dos negros, isso faz Cardoso ironizar: “E esta foi a boa hospedagem que na terra tão desejada de todos acharam, livres dos perigos do mar.” (Ibid., p. 317). Nos relatos de naufrágio, os habitantes da Cafraria são sempre designados por termos pejorativos, a começar pelo vocábulo “cafre”, que se refere a infiel, depois aparecem os bastante usados pelos narradores, como “bárbaros”, “selvagens” e “ladrões”. Na narrativa referente à nau Águia, a Cafraria é assim definida: “Terra da mais bárbara gente que o mundo tem” (ANÔNIMO, 1998, p. 127). Para os narradores, o fato de os negros andarem nus, já constitui um elemento identificador de bestialidade. Perestrelo caracteriza assim os primeiros negros que ele e os demais náufragos avistaram ao chegar a terra: “... Cafres de cor bem negra e cabelo revolto, que andavam nus, com mais aparência de selvagens que de homens racionais” (1998, p. 40). Diogo do Couto, por sua vez, na narrativa sobre a nau São Tomé, em algumas ocasiões, compara os “cafres” com macacos. Esta concepção dos narradores sobre os negros da Cafraria era também compartilhada pelos demais portugueses da época. E, diga-se de passagem, por outros europeus, como, por exemplo, pelo francês François Pyrard, de Laval (1944, vol. II, p. 174). Tal visão dos narradores é fruto de um contexto histórico, em que os portugueses (brancos e cristãos) se consideravam integrantes de uma cultura melhor e superior em relação à dos negros. Naturalmente, muitos portugueses não estavam preocupados em considerar que os negros faziam parte de uma cultura diferente, que deveria ser compreendida, respeitada e tolerada. No momento em que os portugueses chegam à Cafraria e encontram os habitantes dela, o choque cultural se manifesta mutuamente. Existe surpresa e admiração. Mas nas narrativas são os portugueses que desejam comunicar-se com os negros e estes, ao primeiro encontro, são descritos como temerosos, que fogem da presença dos portugueses, como é mencionado para o caso dos náufragos dos galeões São João (ANÔNIMO, 1998, p. 11) e São Bento (PERESTRELO, 1998, p. 40) e das naus Santa Maria da Barca (ANÔNIMO, 1998, p. 182) e São Tomé (COUTO, 1998, p. 350). Em terra, os náufragos decidiram caminhar para a região mais próxima aonde anualmente iam navios de portugueses residentes em Moçambique. Os locais mais mencionados são o rio Lourenço Marques e Sofala. O primeiro é o mais requerido pelos náufragos, pois sabiam que anualmente saía de Moçambique um barco português para ali “fazer o resgate”, principalmente de marfim, com os negros. D. Jorge Lourenço Marques foi o piloto português que, em viagem de caráter eminentemente comercial, descobriu o rio que depois foi batizado com o seu nome. Por meio de uma carta de D. João de Castro, sabemos que o descobrimento ocorreu pouco antes de 1545 (1989, p. 43). No tempo do naufrágio dos galeões São João (1552) e São Bento (1554), o próprio Lourenço Marques ainda fazia o resgate de marfim com os negros no referido rio. O marfim adquirido na Cafraria pelos portugueses de Moçambique era levado também à Índia para a comercialização. Havia relação comercial entre a ilha de Moçambique e a Índia Portuguesa. A Cafraria era um dos locais da África Oriental onde os portugueses adquiriam negros para a escravidão. Os negros obtidos nessa região normalmente eram levados para Moçambique e dali para a Índia. Francisco Pyrard, de Laval, que estava bem informado, nos diz que anualmente o vice-rei da Índia mandava navios carregados de produtos da Índia e da Europa (“trigo, arroz, seda, panos de algodão, especiarias e outras coisas”) para Moçambique e retornavam levando negros para a escravidão, marfim, pau ébano e ouro em pó (1944, vol. II, p.173-176). Como vimos, era na viagem de regresso a Portugal que os navios da Carreira da Índia transportavam quantidade considerável de escravo. Por meio de Francisco Pyrard, de Laval, podemos ainda saber que no início do século XVII havia em Goa um mercado onde se vendiam também escravos, tanto da África quanto da Ásia, incluindo mulheres. (1944, vol. II, p. 50-51). Os náufragos que na Cafraria caminharam em demanda do rio Lourenço Marques a fim de ser resgatados, foram os sobreviventes que viajavam nos seguintes navios: São João, São Bento, São Tomé e Santo Alberto. Eles decidem caminhar em ordem para o referido rio. Como enfatizou também Perestrelo: ...Postos em ordem, levando um crucifixo arvorado em uma lança e uma bandeira benta na dianteira, que ia encomendada a Francisco Pires contramestre, com os homens do mar, que o seguiram, porque logo estes fizeram dele cabeça, e um retábulo da Piedade na retaguarda, em que ia o capitão com os passageiros, e os escravos e desarmados no meio, que levaram entre si os feridos (porque quase a quarta parte dos que éramos começou a caminhar com bordões e muletas), nos metemos em fio, um atrás do outro, por a largura do caminho não ser para mais. (1998, p. 43). Os náufragos do galeão São João (a que já referi no capítulo I) e da nau São Tomé também caminharam em ordem para o rio Lourenço Marques. Neste último caso, um grupo de homens segue na frente, no meio seguem as mulheres e atrás outro grupo de homens. Os náufragos caminhavam em ordem para ficarem protegidos dos “cafres”. Os portugueses dos galeões São João e São Bento caminham exibindo objetos que simbolizam sua religião e seu pertencimento à Coroa Portuguesa: crucifixo e bandeira. A autora Angélica Madeira nos diz que são signos que diferenciam os portugueses náufragos “... de todos os seus outros, protestantes, maometanos, mas, sobretudo, dos ‘selvagens’” (2005, p. 168). No começo da caminhada uma das necessidades é de pessoas para guiar os náufragos até o rio Lourenço Marques (PERESTRELO, Ibid., p. 45; LAVANHA, 1998, p. 386). Mas os náufragos dos navios São Bento e Santo Alberto depois conseguiram guias. Contudo, estes exigem pagamento. No caso dos sobreviventes do desastre da nau Santo Alberto, o pagamento dos guias foi efetuado por meio de pedaços de cobre. Mas a situação se complica quando o próprio negro (“guia”) não sabe o caminho e se perde (PERESTRELO, Ibid., p. 46). Os náufragos consideram os “cafres” agressores, hostis, em vista disso, precisam dispor de alguns recursos para se defenderem, como: estarem numerosos (daí também caminhar em grupo); disporem de objetos de troca e possuírem armas de fogo. Este último recurso é mais destacado nas narrativas. Os objetos de troca mais enfatizados são metais. Para os náufragos, eles possuem duas finalidades principais: para conseguir alimentos, por meio da troca com os “cafres”, e para a defesa. A primeira delas, como se pode observar, denuncia a dependência portuguesa em relação aos negros, embora estes também desejem obter os metais dos náufragos. O ato de dar metais aos negros em troca de alimento fica explícito também na narrativa sobre a nau São Tomé. Entre outros casos, em uma “aldeia” de negros os náufragos adquiriram alimentos dessa maneira, conforme Couto: “Aqui [os cafres] lhes trouxeram galinhas, cabras, peixe cru e assado, massa de farinha de milho, de que faziam bolos, que tudo lhes resgataram por pedaço de pregos e algumas camisas que para isso tiravam dos corpos” (1998, p. 357). Os metais são estimados pelos negros. Os náufragos dispondo deles para a troca ou para a doação passam a ter menos chance de ser atacados. Os metais têm uma simbologia ligada às duas finalidades acima apontadas: eles representam um dos meios de sobrevivência dos náufragos portugueses durante a caminhada em direção ao rio Lourenço Marques. Perestrelo chega a dizer que ferro e pregos eram as “jóias de mais estimas” (1998, p. 43). Noutra passagem, afirma que ferro não era ferro, “mas vidas” (Ibid., p. 45), denunciando assim a representação sobre o ferro, enfatizada pelos portugueses, como elemento ligado à garantia de sobrevivência portuguesa na caminhada pela Cafraria. Os portugueses, sobretudo das naus São Tomé e Santo Alberto, possuíam informação acerca dos negros da Cafraria. Sabiam do valor que eles davam aos metais. Tal informação é fruto da própria exploração portuguesa na Cafraria, pois em várias povoações dela portugueses de Moçambique resgatavam com os negros, principalmente o marfim. Além disso, os naufrágios ocorridos na costa da Cafraria também possibilitaram ter esse conhecimento, através do contato entre os náufragos e os negros. Diogo do Couto deixa claro essa informação. Depois do desembarque do batel, o procedimento de alguns dos viajantes foi o seguinte: “... E ao outro dia puseram fogo ao batel para lhe tirarem pregadura (por ser cousa estimada entre os cafres) para com ela fazerem seu resgate...” (COUTO, Ibid., p. 351). Na passagem, o resgate refere-se à obtenção de alimentos. A narrativa de João Batista Lavanha, referente ao naufrágio da nau Santo Alberto, é pedagógica também no aspecto da permanência dos náufragos na Cafraria. Na realidade logo no início de sua narrativa, Lavanha diz o objetivo de sua escrita, ou seja, escreveu para recomendar aos portugueses viajantes da Rota do Cabo como deverão agir na Cafraria, caso sofram naufrágio na costa desta região. Ele fundamenta suas recomendações apoiado na ocorrência de naufrágios, tanto anteriores ao da nau Santo Alberto como no dela. Com isso, Lavanha destaca a importância de escrever sobre o naufrágio da nau Santo Alberto e a caminhada das pessoas sobreviventes, até chegarem a Moçambique. Na lógica do narrador, estes fatos são: ...De grande importância para nossas navegações e para aviso delas mui necessárias, porque o naufrágio ensina como se devem haver os navegantes em outro que lhes pode acontecer, de que remédios proveitosos usarão nele e quais são os aparentes e danosos de que devem fugir, que prevenções farão para ser menor a perda no mar e mais segura a peregrinação por terra [...]. Como tratarão e comunicarão com os cafres, com que meios farão com eles o necessário comércio... (1998, p. 375). Assim, Lavanha tenta legitimar a escrita de sua narrativa. Pode-se considerar que seu relato é agourento: o autor escreveu acreditando que num futuro próximo aconteceriam outros naufrágios na costa da Cafraria (de fato, aconteceram). Isso porque Lavanha considerava que havia causas gerais para naufrágios de navios da Carreira da Índia. Para ele, era quase certo que haveria outras perdas marítimas, devido às causas conhecidas, mas não definitivamente remediadas, como o excesso de carga nos navios, a má calafetação, a querena italiana (que já foi analisada neste trabalho), a partida tarde da Índia. É claro, devido também à passagem dos navios pela costa da Cafraria, que o roteiro do Oceano Índico implicava. Em vista disso, Lavanha construiu o seu texto aproveitando para dar várias recomendações aos futuros náufragos. Dentre as recomendações aparece a conveniência de dispor-se de ferro para o resgate de alimentos, com os negros. Ao chegarem à Cafraria, os náufragos deverão voltar-se para os ferros da nau destruída, como os pregos, por serem estimados pelos negros. Mas é importante, na visão de Lavanha, que se proceda de maneira que os “cafres” não possam obter os metais por outras vias, apenas pela dos portugueses náufragos, repassando alimentos. Neste sentido, dever-se-á enterrar na praia o ferro que não se puder levar na caminhada, em vez de deixá-lo pela praia, porque assim os negros poderão facilmente encontrar. Outra questão do choque cultural é o obstáculo lingüístico. Logo de início existe a incompreensão entre náufragos e “cafres”. Isso é mais destacado por Perestrelo (1998, p. 41) e pelo autor anônimo da narrativa do naufrágio da nau Santa Maria da Barca. Este último menciona uma fala do capitão D. Luís Fernandes de Vasconcelos, a qual expressa bem a barreira lingüística entre os náufragos e os “cafres”: “Oh Senhor, muitas graças vos dou por me terdes chegado a este estado, que falando, sou mudo, e ouvindo, sou surdo!”. (1998, p. 186). Sem intérprete, usam a mímica para a comunicação com os negros. Como em terra os náufragos dependem dos negros, deve-se haver compreensão acerca da língua dos “cafres”, já que os portugueses necessitam de alimentos, de informação sobre o melhor caminho para o rio Lourenço Marques, enfim, precisam sobreviver. A autora Giulia Lanciani interpretou que em alguns casos a mútua compreensão entre portugueses náufragos e negros da Cafraria contribuiu para o relacionamento pacífico. Ela ainda diz: “... Salvo algumas exceções, a cordialidade é diretamente proporcional à facilidade de mútua compreensão” (1992, p. 82). Para o diálogo com os negros, os portugueses utilizam intérpretes chamados “línguas”. Quase sempre são negros, escravos dos náufragos portugueses. Na narrativa referente ao galeão São João, menciona-se a presença de uma negra escrava, como tradutora (ANÔNIMO, 1998, p. 17); no relato sobre o galeão São Bento, Perestrelo afirma a presença de um mouro como intérprete (Gaspar), o qual ficara na Cafraria, por ocasião do naufrágio do navio de Manuel de Sousa Sepúlveda (galeão São João). O referido autor diz o quão eles estavam necessitados de “língua”, antes de acharem Gaspar: “E porque a cousa de que mais necessitados estávamos era de língua, demos todos muitas graças a Deus por nos socorrer em tal tempo” (1998, p. 51-52). Na narrativa sobre a nau Santa Maria da Barca menciona-se a inexistência de intérprete. Na referente à nau Santiago, destaca-se a falta de “línguas”; no relato sobre a nau São Tomé não se faz menção a intérprete. Já no relato sobre o naufrágio da nau Santo Alberto, há referência a dois intérpretes (“línguas”) – escravos de dois portugueses. Aqui ocorre um fato curioso. Conforme João Batista Lavanha, um escravo entendia a língua dos “cafres” e falava a de Moçambique, o outro sabia a língua de Moçambique e falava o idioma português (1998, p. 382). Com isso, para a comunicação dos portugueses náufragos com os “cafres”, havia a seguinte ordem: O idioma português era traduzido para a língua de Moçambique e desta para a dos “cafres”. Ocorria o inverso para a comunicação dos “cafres” com os portugueses. Como se pode observar, no desterro dos náufragos portugueses da nau Santo Alberto, conforme a narrativa de Lavanha, houve uma relação trilíngüe entre aqueles e os negros. Diga-se de passagem, tal fato lembra o famoso caso de Hernan Cortés com Montezuma II, em 1519. Aqui houve também uma relação trilíngüe. Para se comunicar com os astecas, Cortés dispunha de dois intérpretes: de uma nativa, chamada Malinche, que entendia o maia iucatano e o náuatle; e de um espanhol náufrago, chamado Jerónimo de Aguilar, o qual sabia o maia iucatano. Assim, o castelhano falado por Cortés era traduzido por Aguilar para o maia iucatano e dirigido à Malinche que, por sua vez, o interpretava para o náuatle. E ocorria o inverso para a comunicação dos astecas. Isto pode ser lido em Restall (2006, pp. 154-155) e na mais importante crônica espanhola do século XVI sobre a “conquista” hispânica do México, concluída na década de 1570 pelo participante do evento Bernal Díaz Del Castillo, ou seja, a Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1992, p. 62). É desnecessário comentar que tal relação lingüística era imperfeita, com grande possibilidade de a mensagem chegar deformada ao receptor. Nas relações com os negros, o terceiro recurso que os náufragos portugueses adotam é a arma de fogo, usada para repelir os “cafres”, inviabilizando uma maior resistência. No primeiro relato destaca-se a precisão das armas de fogo para a caminhada pela Cafraria: “... Cem homens de espingarda atravessariam toda a Cafraria, porque maior medo [os cafres] têm delas que do mesmo [sic] demônio.”. (ANÔNIMO, 1998, p. 18). Tal informação, segundo o narrador, foi adquirida devido à ocorrência do naufrágio dos galeões São João e São Bento e a conseqüente peregrinação pela Cafraria. Durante a caminhada, os náufragos se valem do efeito psicológico que as armas de fogo causam nos negros. Ou seja, para repelir e controlar os “cafres”, os portugueses exploram o grande medo que os negros têm das armas de fogo. Isso é mais claramente ressaltado nas narrativas referentes ao galeão São Bento e às naus São Tomé e Santo Alberto. Após a espingarda ser disparada, os negros se assustam e fogem, então os náufragos do galeão São Bento passam a considerá-la mais, durante a caminhada: “E vendo nós o medo que haviam de espingarda, fizemos dali por diante mais conta dela para a nossa defensão” (PERESTRELO, 1998, p. 61). Diogo do Couto também ressalta o comportamento dos negros diante do disparo de espingarda. Ao serem atacados pelos “cafres”, os náufragos da nau São Tomé resolvem disparar as espingardas: “E disparando neles as espingardas, em ouvindo o estrondo houveram tamanho medo que todos juntos se deitaram pelo chão e de gatinhas, como bugios, em saltos, foram fugindo para os matos...” (1998, p. 356). Os náufragos da nau Santo Alberto têm mais claramente uma visão pedagógica sobre as armas de fogo. Em algumas ocasiões, Lavanha menciona que eles, liderados por Nuno Velho Pereira, usaram propositadamente as armas de fogo para assustar e atemorizar os negros. Na caminhada há relação de troca, os náufragos conseguem obter dos “cafres” alimentos, como vacas. Segundo Lavanha, as vacas eram mortas com uso de espingarda, intencionalmente para aterrorizar e controlar os negros, pois, como já vimos, eles são, na lógica dos portugueses, agressivos e não confiáveis. Como diz o autor: “As vacas, por mandado de Nuno Velho, se mataram à espingarda [sic], como se fazia ordinariamente diante dos negros para os espantar e atemorizar, e para o mesmo efeito mandou atirar com os mosquetes a alguns quartos vazios...” (LAVANHA,1998, p. 386). Eis aí a didática aterrorizante. Ela surte efeito, os “cafres” espantam-se, sentem medo. E os náufragos da nau Santo Alberto conseguem fazer a caminhada, sem receberem muita resistência. Em outra povoação de negros, o procedimento é igualmente utilizado. Segundo Lavanha, o líder (“Ancosse”) fica atemorizado depois de ver uma vaca morta com o uso do arcabuz: De que não menos maravilhado, o negro [o Ancosse] tomou o arcabuz na mão, e dandolhe mil voltas disse que pois matava vacas também mataria homens. Respondeu-lhe a língua [o intérprete] que assim era, e que a tudo tirava a vida, matando a um elefante e a um passarinho; com que ficou mais confuso, e com grande medo se tornou às suas povoações, não sendo menor o que levavam os seus que o acompanhavam. (Ibid., p. 408-409) Assim, usando recursos, como estar em grupo, dispor de objetos de troca, de intérprete e de armas de fogo, os náufragos da nau Santo Alberto passam por várias povoações de negros, sem receberem muita resistência. Entretanto, tal não é enfatizado para os náufragos da nau Santiago, pois ao desembarcarem na terra foram atacados pelos negros, os quais levaram vários portugueses como prisioneiros (CARDOSO, 1998, p. 318-320). Pode-se dizer que este fato é uma ironia do destino, pois os portugueses aprisionavam e escravizavam negros da Cafraria, os quais eram tidos como mercadorias e vendidos como tal. Na caminhada pela Cafraria, a presença dos negros não constitui o único perigo. Outros problemas vão surgindo: sede, fome, o excessivo calor durante o dia, o frio da noite, enfermidades, e até mesmo ataque de animais selvagens, como tigres. São alguns dos fatores para a morte de vários náufragos na Cafraria. Isto é mais enfatizado nas narrativas referentes aos galeões São João e São Bento e às naus Santiago, São Tomé. Diogo do Couto chega a dar uma definição para a morte. Apoiando-se num filósofo, cujo nome não diz, Couto define a morte assim: “Morte é um sonho eterno, um espanto de ricos, um apartamento46 de amigos, uma incerta peregrinação, um ladrão do homem, um fim dos que vivem e um princípio dos que morrem” (1998, p. 366). Estes elementos, que caracterizam a morte, na visão do autor, são perceptíveis no naufrágio e na peregrinação das pessoas da nau São Tomé. Após enfatizar a situação de mazela dos portugueses na Cafraria, alguns narradores, como Perestrelo e Couto, ressaltam que até os animais mais agressivos sentiriam piedade dos náufragos. Perestrelo diz que, devido à falta de comida, os náufragos passaram a enfraquecer: “... Viemos todos a enfraquecer de sorte que em cada um daqueles dias nos iam ficando muitos homens com tanta míngua e desamparo que, se se pode dizer, a tigres e ursos moveriam a piedade...” (1998, p. 71). Diogo do Couto, por sua vez, diz que até tigres e leões ficariam compadecidos com a situação dos portugueses (Ibid., p. 366). Como se pode observar, os autores utilizam artifícios que podiam despertar tristeza e piedade no leitor daquela época, em relação às mazelas dos portugueses. Aí uma característica das narrativas de naufrágio. Embora várias pessoas tenham morrido afogadas no naufrágio e outras durante a caminhada, houve salvação para algumas. Conforme as narrativas, elas foram salvas por navios portugueses que as levaram a regiões como Sofala, Moçambique e Índia. _________ 46 “Apartamento”: do verbo apartar. CONSIDERAÇÕES FINAIS No presente trabalho fez-se uma análise sobre os temas principais das narrativas de naufrágio de navios da Carreira da Índia presentes na obra setecentista, História TrágicoMarítima, ao mesmo tempo situando-as no contexto histórico da Carreira da Índia, especificamente no século XVI. Foram abordados tópicos como os principais portos de escala do Atlântico para os navios da rota da Índia (Açores, ilha de Santa Helena e Brasil), que são enfatizados nas narrativas; o aspecto militar da Carreira da Índia e, sobretudo, da Índia portuguesa; a presença feminina nas narrativas; elementos causadores de naufrágio em navios mercantes da rota da Índia; implicações de âmbito religioso, provocadas pelo desastre marítimo (confissões e discursos sobre o pecado e castigos divinos); um sentido trágico nas narrativas e o desterro português em terras da África Oriental. Assim, vimos que em virtude das viagens à Índia durarem meses, os viajantes eram obrigados a buscar portos para o provimento de elementos essenciais, como água, alimentos e reparos no navio. Mas a Coroa portuguesa ou a luso-espanhola não via com bons olhos a ida de navios da Carreira da Índia a qualquer porto, ela receava a perda da viagem, atrasos, contrabando de produtos transportados... Desde o início da penetração portuguesa na Ásia, foi um dado presente em documentos de portugueses (que por ali passaram ou viveram) a idéia de que a Índia Portuguesa estava cercada de inimigos, e que por isso era necessário reforçar o aparato militar na região. Os navios da rota da Índia, pois, cumpriam ou tentavam cumprir a função de também transportar homens para completar o efetivo militar na Índia (Ásia). Mas as viagens eram trágicas e vários morriam durante elas ou na própria Índia. As causas principais eram as enfermidades. Aliás, como se sabe, as navegações portuguesas à Ásia promoveram também a circulação de doenças de uma região para a outra. Mesmo se não houvesse a ocorrência de morte durante as viagens portuguesas para a Índia, ainda assim elas seriam trágicas. Os perigos enfrentados pelos viajantes durante o percurso, a tensão e a incerteza quanto a chegarem sãos e salvos nos portos de destino, são elementos que qualificam as viagens com tal condição. Em suma, a partir da definição de que o “trágico” existe onde há a presença ameaçadora da morte, pode-se dizer que a Carreira da Índia era trágica. Vimos que, em se tratando de retórica, algumas narrativas têm analogia com o modelo de tragédia enfatizado por Aristóteles. Elas podiam causar pena, tristeza e temor no leitor ou ouvinte da época. Isso foi enfatizado no relato sobre o naufrágio do galeão São João, especificamente na morte de D. Leonor de Sá e Manuel de Sousa Sepúlveda. A mulher nas narrativas é quase sempre a fidalga, dependente de algum homem nobre. Os relatos insinuam o contexto masculino por excelência do século XVI. Todos os narradores são homens. A partir da comparação entre a grande quantidade de documentos quinhentistas portugueses (que chegaram até nós) de autoria masculina e o reduzido número de fontes produzidas por mulheres na mesma época, podemos deduzir que o ato da escrita, no século XVI, era um atividade masculina. Deu-se ênfase à infiltração em navios da Carreira da Índia, às suas causas, com destaque para a má calafetação dos navios. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que o estado precário de várias naus foi um fator de grande contribuição para a ocorrência dos naufrágios, sem falar na má feitura dos navios e incompleto reparo no casco, às vezes com madeira considerada imprópria. Mas é preciso notar também o próprio roteiro da Carreira da Índia, o qual, por ser muito longo, em certa medida, contribuía para deteriorar a madeira do navio, já que tanto a viagem de ida quanto a de retorno, nas melhores condições, durava de 6 a 7 meses. Fiz comentários ainda sobre o excesso de carga nos navios da Carreira da Índia, a partida tarde da Índia e a conseqüente dificuldade de dobrar o Cabo da Boa Esperança. Pelo que foi exposto sobre perigos na navegação, principalmente no que diz respeito a naufrágios, pode-se deduzir que uma viagem de navio mercante da Rota do Cabo era mais perigosa no regresso a Lisboa. Além disso, a costa da África Oriental, especificamente o sudeste e o sul dela, era um dos locais do roteiro do Índico mais dificultoso para a navegação, sobretudo se o navio estivesse sobrecarregado e tivesse partido tarde da Índia. Outro aspecto do contexto histórico das narrativas de naufrágio é a emergência de nações européias – Holanda, Inglaterra e França – como concorrentes dos portugueses nas navegações pelo Atlântico Sul e Oceano Índico, ao mesmo tempo como contestadoras da idéia monopolista lusa sobre regiões da Ásia, África e América. Dei mais ênfase à prática de corso a barcos portugueses, realizada em locais onde navios da Carreira da Índia aportavam na viagem de regresso da Ásia, como Açores e ilha de Santa Helena. A questão dos Açores foi mais comentada por ser mais complexa. Tentei situar a narrativa de Amaral e o ataque inglês ao navio Chagas em seu contexto histórico. Do comentário, compreendeu-se que nos dois últimos quartéis do século XVI, as águas açorianas foram palcos de violentas batalhas entre barcos de corsários europeus, principalmente ingleses, e navios da Carreira da Índia. Como fundamentos para essas batalhas, aparecem as rivalidades entre a Inglaterra e a Espanha, bem como a pretensão daquela de dominar o Atlântico. Os vários apresamentos a navios portugueses, por parte de ingleses, principalmente nas águas açorianas, a partir da década de 1580, revelam, sem dúvida alguma, a intensificação do corso inglês e ao mesmo tempo a deficiente proteção que se dedicava aos navios mercantes portugueses de retorno da Índia, sobretudo no percurso Açores-Lisboa. É desnecessário comentar que, do ponto de vista econômico, os sucessivos apresamentos a navios da Carreira da Índia por corsários europeus, sobretudo por parte de ingleses, provocaram sérios abalos na economia portuguesa. Ainda vimos que, em se tratando do século XVI, nos dois últimos quartéis aconteceu mais naufrágio de navios da Carreira da Índia. Tal fato é defendido por alguns historiadores (Godinho, Disney e Ramos) como um dos motivos que levou particulares a se desviarem da rota da Índia, passando a investir capitais nas viagens para o Brasil, sobretudo no comércio de açúcar e tabaco, já que, principalmente, Pernambuco e Bahia estavam sendo lucrativas. Ou seja, a partir do final século XVI passou-se a dar preferência à Carreira do Brasil. Mas a Carreira da Índia não foi extinta, continuou ativa e ainda dava lucros. Observamos algumas implicações de ordem religiosa provocadas pelos naufrágios. Basicamente a recorrência pelos viajantes a práticas espirituais nos momentos perigosos, o discurso sobre o pecado e a ira de Deus a navegadores da Carreira da Índia. Devido também ao fato de as viagens para a Índia terem sido perigosas, realizavam-se práticas religiosas a bordo, como missas, ladainhas, procissões, etc. Em momentos de tempestade, com ondas bravas, era prática lançar relíquias ao mar, para que ele ficasse calmo. Nas circunstâncias perigosas do desastre marítimo, a confissão dos pecados a padres e o pedido de misericórdia a Deus foram uma das práticas mais utilizadas. Nas narrativas de naufrágio, ainda, pudemos perceber a crença portuguesa sobre a “culpa” do homem português quinhentista diante de Deus. As circunstâncias do naufrágio levaram vários narradores a reforçarem um discurso sobre o pecado. Isso para frear pecados e causar medo a castigos do Senhor. Em vários relatos a explicação sobre a ira de Deus para o desastre marítimo, não deixa de ser feita. Assim, em quase todas as narrativas de naufrágio aqui analisadas existem duas explicações paralelas para a ocorrência dos naufrágios: a ira de Deus a viajantes pecadores e problemas ligados à navegação, de responsabilidade humana. Por fim, as narrativas de naufrágio são artefatos culturais que perpetuam no imaginário um caráter trágico para as viagens portuguesas do século XVI pela Rota do Cabo, em especial no que diz respeito ao Cabo da Boa Esperança e à Terra do Natal. Estes dois trechos do roteiro da Carreira da Índia são considerados, nas narrativas, a simbolização do perigo e, por extensão, da morte. Os relatos fazem parte da chamada literatura de viagem e se contrapõem aos textos enaltecedores do povo português ou dos portugueses navegantes, como Os Lusíadas. Nas narrativas de naufrágio o sofrimento luso é apreciado pelos seus autores. FONTES ALBUQUERQUE, Afonso de. Cartas para El-rei D. Manuel I. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1942. Seleção, prefácio e notas de António Baião. ALBUQUERQUE, Luís de. (ed.) Crônica do descobrimento e primeiras conquistas da Índia pelos portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986. ALBUQUERQUE, Luís de (Org.). Cartas de D. João de Castro a D. João III. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. ALBUQUERQUE, Luís de e DOMINGUES, Francisco Contente (Orgs.). Grandes viagens marítimas. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. (Contém, entre outras fontes, a Relação da segunda viagem de Vasco da Gama (1502) e a Relação da viagem de D. Francisco de Almeida até à Índia (1505)). AMADO, Janaína e FIGUEIREDO, Luís Carlos (Orgs.). Brasil 1500: quarenta documentos. Brasília: Editora Universidade Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001. BARROS, João de. Décadas. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1945. Seleção, prefácio e notas de António Baião, 2 volumes. BRITO, Bernardo Gomes de (compilação). História trágico-marítima. Rio de Janeiro: Lacerda Editores: Contraponto Editora, 1998. As onze narrativas que foram analisadas são as seguintes: 1. “Relação da mui notável perda do galeão grande São João, em que se contam os grandes trabalhos e lastimosas cousas que aconteceram ao capitão Manuel de Sousa Sepúlveda e o lamentável fim que ele e sua mulher e filhos e toda a mais gente houveram na Terra do Natal, onde se perderam a 24 de junho de 1552.” 2. “Relação sumária da viagem que fez Fernão d’Álvares, desde que partiu deste reino por capitão-mor da armada que foi no ano de 1553, às partes da Índia até que se perdeu no Cabo de Boa Esperança no ano de 1554. Escrita por Manuel de Mesquita Perestrelo que se achou no dito naufrágio.” 3. “Relação do naufrágio da nau Conceição de que era capitão Francisco Nobre, a qual se perdeu nos baixos de Pêro dos Banhos aos 22 dias do mês de agosto de 1555. Escrita por Manuel Rangel, o qual se achou no dito naufrágio e foi depois ter a Cochim em janeiro de 1557.” 4. “Relação da viagem e sucesso que tiveram as naus Águia e Garça vindas da Índia para este reino no ano de 1559.” 5. “Relação do naufrágio da nau Santa Maria da Barca de que era capitão D. Luís Fernandes de Vasconcelos, a qual se perdeu vindo da Índia para Portugal no ano de 1559.” 6. “Relação da viagem e naufrágio da nau São Paulo que foi para a Índia no ano de 1560, de que era capitão Rui de Melo da Câmara, mestre João Luís e piloto Antônio Dias, escrita por Henrique Dias, criado do Sr. D. Antônio, Prior do Crato.” 7. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585, e itinerário da gente que dele se salvou, escrita por Manuel Godinho Cardoso, e agora novamente acrescentada com mais algumas notícias.” 8. “Relação do naufrágio da nau São Tomé na Terra dos Fumos, no ano de 1589, e dos grandes trabalhos que passou D. Paulo de Lima nas terras da Cafraria até sua morte, escrita por Diogo do Couto, guarda-mor da Torre do Tombo.” 9. “Relação do naufrágio da nau Santo Alberto no Penedo das Fontes no ano de 1593, e itinerário da gente que dele se salvou até chegarem a Moçambique, escrita por João Batista Lavanha, cosmógrafo-mor de Sua Majestade, no ano de 1597.” 10. “Relação da viagem e sucesso que teve a nau São Francisco em que ia por capitão Vasco Fonseca, na armada que foi para a Índia no ano de 1596, escrita pelo Padre Gaspar Afonso, um dos oito da Companhia que nela iam.” 11. “Tratado das batalhas e sucessos do galeão Santiago com os holandeses na ilha de Santa Helena e da nau Chagas, com os ingleses entre as ilhas dos Açores; ambas capitanias da Carreira da Índia; e da causa e desastres por que em vinte anos se perderam trinta e oito naus dela. Escrito por Melchior Estácio do Amaral.” CABEZA DE VACA, Álvar Nuñes. Naufrágios e comentários. Porto Alegre: L&PM, 1999. CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. São Paulo: Martin Claret, 2006. CASTILLO, Bernal Díaz Del. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. México: Editorial Porrúa, S. A., 1992. CASTRO, Silvio (ed.). A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 2003. COSTA LOBO, A. de S (compilação.). Memórias de um soldado da Índia. Compiladas de um manuscrito português do Museu Britânico. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. Fac-símile da edição de 1877. COUTO, Diogo do. Décadas. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1947. Seleção, prefácio e notas de António Baião, volume II. _________. O soldado prático (1612). Portugal: Europa-América, 1988. HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martin Claret, 2006. IRIA, Alberto. Da navegação portuguesa no Índico no século XVII. Documentos do Arquivo Histórico Ultramarino. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1963. LANCIANI, Giulia (Org.). Santa Maria da Barca: Três testemunhos para um naufrágio. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983. LÉRY, Jean de (1534-1611). Viagem à terra do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da USP, 1980. LAVAL, François Pyrard, de. Viagem de Francisco Pyrard, de Laval – contendo a notícia de sua navegação às Índias Orientais, ilhas de Maldiva, Maluco e ao Brasil, e os diferentes casos que lhe aconteceram na mesma viagem nos dez anos que andou nestes países (1601-1611). Com a descrição exacta dos costumes, leis, usos, polícia e governo; do trato e comércio que neles há; dos animais, árvores, frutas e outras singularidades que ali se encontram. Versão portuguesa de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. Edição revista e atualizada por A. de Magalhães Basto. Porto: Livraria Civilização Editora, 1944, 2 vols. MORENO, Diogo de Campos. Jornada do Maranhão: por ordem de S. Majestade feita no ano de 1614. São Paulo: Siciliano, 2001. “Navios da Carreira da Índia (1497-1653), códice anónimo da British Library”. In: ALBUQUERQUE, Luís de. (Org.). Relações da Carreira da Índia. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 7-93. NUNES, Leonardo. Crónica de D. João de Castro. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. PEREIRA, António Pinto. História da Índia no tempo em que a governou o visorei Dom Luís de Ataíde. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987. Reprodução em fac-símile do exemplar com data de 1617 da Biblioteca da INCM. REGO, António da Silva. Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente, Índia (1499-1522). Lisboa: Fundação Oriente: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1991. Vol. I. RIBEIRO, João. Fatalidade histórica da Ilha do Ceilão. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. STADEN, Hans. Viagem ao Brasil. São Paulo: Martin Claret, 2006. SUESS, Paulo (Org.). A conquista espiritual da América Espanhola. 200 documentos – século XVI. Petrópolis: Vozes, 1992. VELHO, Álvaro. O descobrimento das Índias: o diário da viagem de Vasco da Gama. Introdução, notas e comentários finais de Eduardo Bueno. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998. XAVIER, Padre Manuel. “Governadores da Índia”. In: ALBUQUERQUE, Luís. (Org.). Relações da Carreira da Índia. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 100-205. BIBLIOGRAFIA A BÍBLIA SAGRADA. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada no Brasil. 2 ed. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. ALBUQUERQUE, Luís de. Introdução à história dos descobrimentos portugueses. Portugal: Publicações Europa-América, 1989. _________. Dúvidas e certezas na história dos descobrimentos portugueses. Lisboa: Vega, 1991. 2ª parte. AMADO, Janaína e FIGUEIREDO, Luís Carlos. A formação do império português (1415-1580). São Paulo: Atual, 1999. ARISTÓTELES. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, 2005. BARRETO, Luís Filipe. Lavrar o mar – os portugueses e a Ásia (1480-1630). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000. BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XVXIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. BOYER, Marie-France. Culto e imagem da Virgem. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000. BOXER, Charles Ralph. A Índia portuguesa em meados do século XVII. Lisboa: Edições 70, 1980. _________. O império marítimo português (1415-1825). São Paulo: Companhia das Letras, 2002 _________. A igreja militante e a expansão ibérica (1440-1770). São Paulo: Companhia das Letras, 2007. CARDOSO, Ciro Flamarion. Narrativa, sentido e história. Campinas SP: Papirus, 1997. CASTELO BRANCO, Fernando. “O percurso Açores-Lisboa na Carreira da Índia”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 751-765. CHAUNU, Pierre. Conquista e exploração dos novos mundos: Século XVI. São Paulo: Pioneira: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1984. CIDADE, Hernani. A literatura portuguesa e a expansão ultramarina. Séculos XV e XVI. Coimbra: Armênio Amado, 1963, vol. 1. CRUZ, Maria Augusta Lima. “As viagens extraordinárias pela Rota do Cabo (1505-1570)”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indoportuguesa, 1998, p. 581-596. DELUMEAU, Jean. O pecado e o medo: a culpabilização no Ocidente (XIII-XVIII). Bauru SP: EDUSC, 2003, vols. I e II DISNEY, Anthony. A decadência do império da pimenta. Comércio português na Índia no início do século XVII. Lisboa: Edições 70, 1981. DOMINGUES, Francisco Contente. “Navios e marinheiros”. In: CHANDEIGNE, Michel. Lisboa ultramarina, 1415-1580: a invenção do mundo pelos navegadores portugueses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p. 49-60. _________. “Arte e técnicas nas navegações portuguesas: das primeiras viagens à armada de Cabral”. In: NOVAES, Adauto (Org.). A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras: 1998, p. 209-228. FERRO, Gaetano. As navegações portuguesas no Atlântico e no Índico. Lisboa: Teorema, 1989. FONSECA, Luís Adão da. De Vasco a Cabral: o Oriente e o Ocidente nas navegações oceânicas. Bauru, SP: EDUSC, 2001. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2005. GODINHO, Vitorino Magalhães. Os descobrimentos e a economia mundial. Lisboa: Presença, 1982. Vol. III. _________. “O que significa descobrir?”. In: NOVAES, Adauto (org.). A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 55-82. GRACIAS, M. Fátima da Silva. “Entre partir e chegar: saúde, higiene e alimentação a bordo da Carreira da Índia no século XVIII”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 457-468. GRUZINSKI, Serge. A guerra das imagens: de Cristóvão Colombo a Blade Runner (1492-2019). São Paulo: Companhia das Letras, 2006. GUMBRECHT, Hans U. “Os lugares da tragédia”. In: ROSENFIELD, Kathrin Holzermayr. (org.). Filosofia & literatura: o trágico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p.9-19. GUERREIRO, Inácio. “A vida a bordo na Carreira da Índia. A torna-viagem”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 415-432. HIGGS, David. “A inquisição e a Carreira da Índia no século XVIII”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 445-456. LANCIANI, Giulia. “Uma história trágico-marítima”. In: CHANDEIGNE, Michel. Lisboa ultramarina, 1415-1580: a invenção do mundo pelos navegadores portugueses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p. 70-94. LAPA, José Roberto do Amaral. A Bahia e a carreira da Índia. Ed. fac-similada.São Paulo: Hucitec, Unicamp, 2000. LE GOFF, Jacques. “Além”. In: Dicionário temático do Ocidente medieval. SP: EDUSC/ Imprensa Oficial do Estado, 2002, vol. 1. LOPES, Maria de Jesus dos Mártires. “Devoções e invocações a bordo da Carreira da Índia (séculos XVI-XVIII)”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 433-444. MACHADO, Roberto. O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche. RJ: Jorge Zahar, 2006. MADEIRA, Angélica. Livro dos naufrágios: ensaio sobre a História trágico-marítima. Brasília: Editora da universidade de Brasília, 2005. MATOS, Artur Teodoro de. Na rota da Índia: Estudos de História da Expansão Portuguesa. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1994. _________“‘Quem vai ao mar em terra se avia’. Preparativos e recomendações aos passageiros da Carreira da Índia no século XVII”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p.377-394. MAURO, Frédéric. Portugal, o Brasil e o Atlântico (1570-1670). Lisboa: Editorial Estampa, 1989, vol. I. MENESES, Avelino de Freitas de. “Angra na rota da Índia: funções, cobiças e tempos”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indoportuguesa, 1998, p. 721-740. MICELI, Paulo. O ponto onde estamos: viagens e viajantes na história da expansão e da conquista (Portugal, séculos XV e XVI). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1998a. _________. “Dia a dia no mar. Viagem e naufrágio da nau São Paulo”. In: NOVAES, Adauto (org.). A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Cia das Letras: 1998b, p. 229-250. MOST, Glenn W. “Da tragédia ao trágico”. In: ROSENFIELD, Kathrin Holzermayr. (org.). Filosofia & literatura: o trágico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 20-35. MONIZ, António Manuel Andrade. História trágico- marítima: identidade e condição humana. Lisboa: Edições Colibri, 2001. NETO, José Alves de Freitas. Bartolomé de Las Casas: a narrativa trágica, o amor cristão e a memória americana. São Paulo: Annablume, 2003. PINTO, João Rocha. “O vento, o ferro e a muralha: a construção do império asiático no século XVI (1498-1548). In: CHANDEIGNE, Michel. Lisboa ultramarina, 1415-1580: a invenção do mundo pelos navegadores portugueses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p.195-209. RAMOS, Fábio Pestana. No tempo das especiarias. São Paulo: contexto, 2004. RESTALL, Matthew. Sete mitos da conquista espanhola. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. SEED, Patrícia. “‘Novo céu e novas estrelas’. As ciências dos árabes e judeus, a marinharia portuguesa e a descoberta da América”. In: Cerimônias de posse na conquista européia do Novo Mundo (1492-1640). São Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 143-207. SUBRAHMANYAM, Sanjay. Comércio e conflito. A presença portuguesa no Golfo de Bengala (1500-1700). Lisboa: Edições 70, 1994. THOMAZ, Luiz Filipe F. R. “A questão da pimenta em meados do século XVI”. In: MATOS, Artur Teodoro de & THOMAZ, Luís Felipe F. Reis (dir.) A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Angra do Heroísmo, Actas do VIII Seminário Internacional de história indo-portuguesa, 1998, p. 37-206. VEYNE, Paul Marie. Como se escreve a história; Foucault revoluciona a história. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.
Download