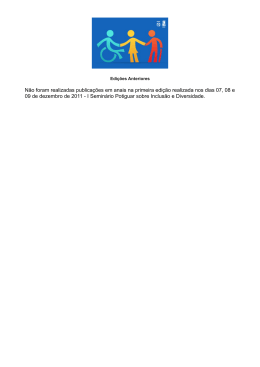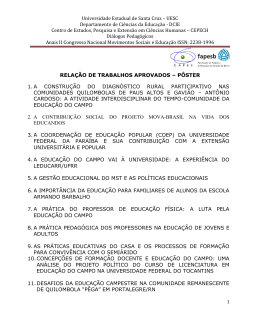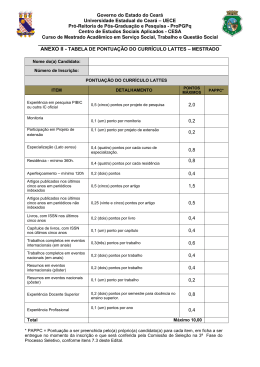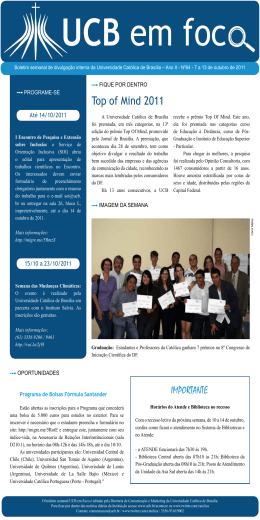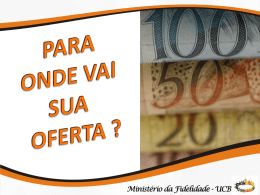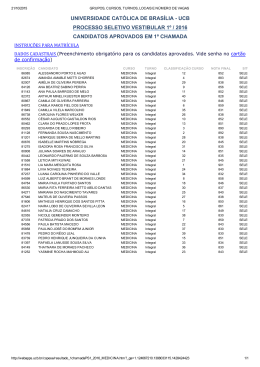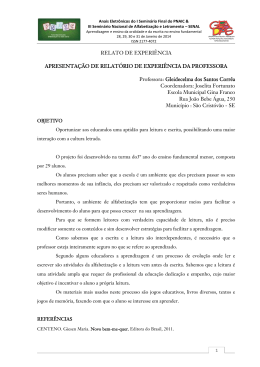ANAIS DO 11º ENCONTRO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA ISSN: 2175-6686 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA REITOR Prof. Dr. Afonso Celso Tanus Galvão PRÓ-REITOR ACADÊMICO Prof. Dr. Jorge Hamilton Sampaio PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO Prof. Vanjivaldo da Silva DIRETORA Profa. Dra. Christine Maria Soares de Carvalho ASSESSORAS Profa. MSc. Déborah Christina de Mendonça Oliveira Profa. Esp. Georgina Maria Duarte Campos COMISSÃO ORGANIZADORA DO 11º ENCONTRO DE LETRAS Profa. Dra. Christine Maria Soares de Carvalho Profa. MS. Déborah Christina de Mendonça Oliveira Profa. Esp. Georgina Maria Duarte Campos Profa. Msc. Yara Dias Fortuna Profa. MSc. Layane Rodrigues de Lima Profa. Esp. Valícia Ferreira Gomes Prof. MSc. Wallace Soares Barboza OUTUBRO DE 2013 PROGRAMAÇÃO Dia 10 de setembro Manhã 8:30 Credenciamento 9:00 Abertura Profa. Dra. Christine Maria Soares de Carvalho – Diretora do Curso de Letras (UCB) 9:10 Palestra: O Professor de Português e a Escola do Século XXI Prof. Dr. Antônio Carlos Xavier (UFPE) Coordenação: Profa. Dra. Christine Maria Soares de Carvalho (UCB) 10:30 Exposição e Coquetel de abertura Noite 19:20 Credenciamento 19:50 Palestra: Filtering Relevant Information for the Classroom through Digital Curation Profa. Carla Arena (Casa Thomas Jefferson) Coordenação: Prof. MSc. Wallace Soares Barboza (UCB) 21:10 Coquetel de abertura Dia 11 de setembro Manhã 8:30 Mesa-Redonda: O uso das tecnologias nas pesquisas sociolinguísticas Profa. Msc. Carolina Queiroz de Andrade (UnB) Profa. MSc. Cíntia da Silva Pacheco (Unicesp/ UnB) Coordenação: Profa. Dra. Caroline Rodrigues Cardoso (SEDF) 10:00 Sessões de Comunicação Noite _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 3 19:30 Mesa-Redonda: Cultura e Educação de Surdos: Inovações Tecnológicas Profa. Dra. Lodenir Becker Karnopp (UFRGS) Prof. MSc. Gláucio de Castro Júnior (UnB) Profa. MSc. Patrícia Tuxi dos Santos (UnB) Coordenação: Profa. MSc. Layane Rodrigues de Lima Santos (UCB) 21:00 Sessões de Comunicação Dia 12 de setembro Manhã 8:30 Videoconferência: Letramentos digitais quadro a quadro Prof. Dr. Júlio César Araújo (UFC) Coordenação: Profa. Dra. Christine Maria Soares de Carvalho (UCB) 10:00 Apresentação Artística e Cultural: Stand up Comedy – Internet e Ensino Graduando Gabriel de Siqueira Brito (Educação Física - UCB) Noite 19:30 Palestra: Circularidade cultural em Vinícius de Moraes: fragmento e completude em tempos de amor líquido Profa. Dra. Sylvia Cyntrão (UnB) Coordenação: Profa. MSc. Yara Dias Fortuna (UCB) 21:00 Apresentação Artística e Cultural: Músicas de Vinícius de Moraes e Bossa Nova Músico Sr. Ananias da Providência Araújo 21:30 Encerramento _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 4 SUMÁRIO RESUMOS A MULTIPLICIDADE SEMIÓTICA NO CONTEXTO DO LETRAMENTO DIGITAL ........................................................................................................... 8 Adriana Oliveira Dias Cury (UCB) TRANSMEDIA STORYTELLING: A CULTURA DA CONVERGÊNCIA DENTRO DA SALA DE AULA .......................................................................... 9 Angélica Magalhães Neves (UCB) Daniele Toledo Machado (UCB) FONÉTICA ACÚSTICA .................................................................................. 10 Camila Marçal de Aguiar (UCB) Herbert Leonardo Alves dos Santos (UCB) SOME ASPECTS OF THE /T/ SOUND .......................................................... 11 Emmanuel Pablo Suares de Brito (UCB) Jullie Any Custodio Ferreira (UCB) EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO DISTRITO FEDERAL: ............................... 12 UM PROGRESSO BILÍNGUE Karoline Santos Rodrigues (UCB) AS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS NA LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE UM SITCOM ....................................................................... 13 Laís Roduvalho Santos (CNPq/PIBIC – UnB) Tauãnara Monteiro (CNPq/PIBIC – UnB) A CONSCIÊNCIA AMENA, CATASTRÓFICA E DILACERADA DO ATRASO ATRAVÉS DA POÉTICA IMAGINÉTICA DE PINTORES DO SÉCULO XIX E XX .................................................................................................................. 14 Luciano Lourenço da Silva (Unopar-Ead) O ADOLESCENTE NAS REDES SOCIAIS: LÍNGUA, LINGUAGEM, E INTERAÇÃO .................................................................................................. 15 Sandra Rodrigues Sampaio Campêlo (UnB) _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 5 MAR ME QUER: DA PROSA À DRAMATURGIA – O UNIVERSO POÉTICOCULTURAL DE AVÔ CELESTIANO .............................................................. 16 Vânia Alves da Silva (UnB) GOOGLE DRIVE: UMA FERRAMENTA DE APOIO AO PROFESSOR DE LÍNGUAS DO SÉCULO XXI ........................................................................... 17 Prof. MSc. Wallace Soares Barboza (UCB) _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 6 TRABALHOS COMPLETOS A MULTIPLICIDADE SEMIÓTICA NO CONTEXTO DO LETRAMENTO DIGITAL ....................................................................................................... 18 Adriana Oliveira Dias Cury (UCB) FONÉTICA ACÚSTICA – APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS E DIFICULDADES ..................................................................................................................... 26 Camila Marçal de Aguiar (UCB) Herbert Leonardo Alves dos Santos (UCB) O USO DAS TECNOLOGIAS NAS PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS ... 38 Carolina Queiroz Andrade (UnB) Caroline Rodrigues Cardoso (SEDF/GEAS-UnB) Cíntia da Silva Pacheco (UnB/ICESP) SOME ASPECTS OF THE /T/ SOUND ....................................................... 63 Emmanuel Pablo Suares de Brito (UCB) Jullie Any Custodio Ferreira (UCB) LETRAMENTOS DIGITAIS QUADRO A QUADRO ..................................... 72 Júlio Araújo (UFC) Leonel Andrade dos Santos (Fa7) EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO DISTRITO FEDERAL: UM PROGRESSO BILÍNGUE..................................................................................................... 85 Karoline Santos Rodrigues (UCB) CIRCULARIDADE CULTURAL EM VINICIUS DE MORAES: FRAGMENTO E COMPLETUDE EM TEMPOS DE AMOR LÍQUIDO (OU, O ORFEU NARCISISTA)............................................................................................... 94 Sylvia H. Cyntrão (UnB) _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 7 A MULTIPLICIDADE SEMIÓTICA NO CONTEXTO DO LETRAMENTO DIGITAL Adriana Oliveira Dias Cury (UCB) Este trabalho traz algumas considerações a respeito dos elementos que compõem o contexto da tecnologia digital, dentro da multiplicidade de suas formas de expressão em formatos que vão desde o hipertexto, aos audiovisuais, como imagens estáticas e em movimento. Essa análise se baseia em princípios da semiótica para observar como a linguagem representativa da realidade se vale de suas características para comunicar e interagir no universo do ciberespaço. Palavras-chave: Letramento Digital. Multiletramentos. Semiótica. Ciberespaço. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 8 TRANSMEDIA STORYTELLING: DENTRO DA SALA DE AULA A CULTURA DA CONVERGÊNCIA Angélica Magalhães Neves (UCB) Daniele Toledo Machado (UCB) Transmídia é qualquer coisa que se mova de uma mídia para outra: o romance no qual a história foi transformada em filme e a Bíblia Sagrada representada por meio de pinturas são exemplos dessa transição. Quando falamos em narrativa transmídia (transmedia storytelling) não estamos nos referindo às adaptações, mas ao desdobramento da obra literária original em diversas plataformas midiáticas. Trata-se da criação e da exploração de um universo ficcional, a partir da leitura do texto canônico, que passará a ser contado de inúmeras formas e produzirá resultados significativos para o todo. É um instrumento eficaz principalmente no ensino da literatura, pois promove a interação entre os alunos e permite que eles tenham acesso aos vários tipos de letramento em determinado contexto social. Essa narrativa também estimula a visão além do desfecho oferecido pelo autor, desenvolve o senso crítico do educando por meio da tentativa de rompimento com as verdades absolutas geralmente impostas pelos professores e ainda potencializa o desempenho dos estudantes. O uso da tecnologia na sala de aula torna o aprendizado mais envolvente e colaborativo e faz com que a escola seja um lugar propício ao desenvolvimento de ações que privilegiam as habilidades e as competências de uma geração de indivíduos nativos digitais e completamente imersos na cultura da convergência. Palavras-chave: Narrativa transmídia. Sala de aula. Cultura da convergência. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 9 FONÉTICA ACÚSTICA Camila Marçal de Aguiar (UCB) Herbert Leonardo Alves dos Santos (UCB) Nosso trabalho pretende mostrar as dificuldades encontradas pela criança no processo da fala ao realizar certos tipos de articulação, como por exemplo, as laterais róticas, mais especificamente a dificuldade em relação à tepe; bem como o uso de tecnologia para a análise cientifica no ramo da fonética acústica. Palavras-chave: fonética, líquidas, articulação, tecnologia, análise. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 10 SOME ASPECTS OF THE /T/ SOUND Emmanuel Pablo Suares de Brito (UCB) Jullie Any Custodio Ferreira (UCB) In this research paper, we will look at the way the phoneme /t/ characterized, following the approach of Roach (2000) and Ladefoged (2006). We will focus on its phonetic properties and the links Phonology with the aim explain how the natives and non-natives speakers of English pronounce /t/ in different words and phrases. Palavras-chave: /t/ sound; Phonetic; Phonology; Speaker; Natives; NonNatives. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 11 EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO DISTRITO FEDERAL: UM PROGRESSO BILÍNGUE Karoline Santos Rodrigues (UCB) O ensino no Distrito Federal é de fato suficiente para ofertar uma educação que transforme o surdo em um cidadão de opinião própria, socialmente capaz de ser um profissional de carreira? O presente artigo tem como objetivo apresentar a ação pedagógica de professores com alunos surdos em uma escola inclusiva do Distrito Federal na preparação dos estudantes para ingressar no Ensino Médio. A análise do contexto educacional do sujeito surdo e a abordagem qualitativa observacional em âmbito inclusivo e bilíngue nos remetem a uma realidade preocupante com relação ao nível de conhecimento dos estudantes que concluem as séries finais no nível fundamental. Os atuais métodos da educação inclusiva são planejados de modo que respeite o potencial linguístico e cognitivo do surdo? A preocupação não está apenas na formação de profissionais, como também na sobrecarga dos poucos que atuam na área, na metodologia de ensino, ambiente físico e falta de materiais adaptados para as práticas educacionais. Essa realidade da defasagem de ensino é legado dos métodos utilizados do nível infantil ao fundamental, e sugere a abordagem da metodologia bilíngue com Libras como primeira língua (L1) e Português escrito como segunda língua (L2), sendo essa, a principal estratégia de desenvolvimento na aprendizagem do surdo, destacando uma ação correta de inclusão educacional. Palavras-chave: Educação Bilíngue. Inclusão Escolar. História Educacional Libras. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 12 AS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS NA LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE UM SITCOM Laís Roduvalho Santos (CNPq/PIBIC – UnB) Tauãnara Monteiro (CNPq/PIBIC – UnB) Para entender um seriado de TV americano – objeto de estudo escolhido – em sua totalidade, é necessário conhecimentos não apenas linguísticos do idioma inglês, mas também suas formas fixas, elementos socioculturais etc. Esses conhecimentos que trespassam o que é considerado básico para um estudante de inglês como segunda língua são as competências comunicativas. O estudo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Sobre Competência Comunicativa (CC) da UnB tem como base teórica o modelo proposto por Celce-Murcia (2007) no qual seis competências – linguística, discursiva, formulaica, interacional, sociocultural e estratégica – interagem na construção de uma sólida teoria de CC. O trabalho que apresentaremos refere-se ao resultado parcial do estudo desenvolvido pelo grupo para avaliar quais competências, além da linguística, são necessárias para uma compreensão eficaz do seriado.O seriado escolhido para análise foi The Big Bang Theory do canal americano CBS. Tal escolha deu-se pelo sitcom ser popular tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e ter diversas referências culturais, principalmente do universo geek, além de expressões cristalizadas da língua. Por ser uma comédia de situação, baseada na vida de quatro nerds, a trama gira em torno das relações e reações dos protagonistas com o mundo a seu redor e em especial com o sexo oposto. A dificuldade de se socializar dos protagonistas é contrabalanceada pela protagonista feminina, de personalidade extrovertida, mas que não entende a maioria das situações expostas pelos amigos de QI elevado. Por fim, após a leitura e discussão do material utilizado como base teórica, o grupo adotou como método comparar as análises individuais sobre os episódios da primeira temporada. O objetivo é determinar quais outras competências são evidenciadas pela maneira como a plateia reage ao show e, deste modo, reunir evidência em relação à importância das diversas competências para a aquisição da competência comunicativa em língua estrangeira. Palavras-chave: Sitcom; competência; comunicativa; língua; inglesa. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 13 A CONSCIÊNCIA AMENA, CATASTRÓFICA E DILACERADA DO ATRASO ATRAVÉS DA POÉTICA IMAGINÉTICA DE PINTORES DO SÉCULO XIX E XX Luciano Lourenço da Silva (Unopar-Ead) A ideia desenvolvida por Antonio Candido a partir desse pressuposto aponta, dentro do universo literário brasileiro do século XIX e XX, três tipos de consciências, que fazem referência a três momentos culturais distintos no cenário nacional. Primeira; a consciência amena do atraso, período Romântico onde os escritores tinham no modelo europeu um espelho, e criavam suas obras a partir desse reflexo, com adaptações locais. Segunda; a consciência catastrófica do atraso, período Realista/Naturalista que se estende até as produções da década de 30, já no século XX. Através das inovações do fecundo Machado de Assis, dá-se uma modernização e nacionalização de aspectos culturais e temáticos brasileiros, onde observa-se uma produção mais crítica, no campo ideológico, e inovações no campo estético, que influencia não só artistas do século XIX, como contamina artistas de outros períodos. A Terceira e última consciência é a consciência dilacerada do atraso, que engloba as produções literárias a partir do advento da segunda guerra mundial, com temas que envolvem traços primitivistas, mágicos, abstratos e super-realistas ou surreais, como aponta o próprio Antonio Candido. As três consciências descritas, rasamente acima, denunciam aspectos do Regionalismo nacional e definições sociológicas de momentos históricos específicos, com suas referências e interferências sociais, políticas e culturais, que consolidaram a cultura brasileira. Daí querermos associar a discussão dessas vertentes com o campo das Artes plásticas. Palavras-chave: Literatura, artes visuais, Antonio Candido, história brasileira. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 14 O ADOLESCENTE NAS REDES SOCIAIS: LÍNGUA, LINGUAGEM, E INTERAÇÃO Sandra Rodrigues Sampaio Campêlo (UnB) O presente trabalho é parte de uma pesquisa que tem como objetivo investigar a construção de identidades, bem como a interação, de adolescentes em ambientes virtuais, especificamente nas redes sociais, através da análise do uso da língua. Identificar essas identidades é o primeiro passo para entender a natureza em transformação na vida social. A base teórica da pesquisa ancorase na Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 1999), na Gramática Sistêmico Funcional (HALLIDAY e MATHIESSEN, 2004) e aos estudos voltados para o Sistema da Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005) vez que se busca mostrar como a dinâmica da escrita em ambientes virtuais pode operar na construção dessas identidades. O contexto pesquisado envolve professores de língua portuguesa e estudantes de duas escolas públicas de Ceilândia. Os primeiros resultados do estudo mostram que a forma como os estudantes escrevem na internet estão ligados, mais diretamente, ao campo afetivo e retratam marcas de uma identidade singular que ficam explícitas à medida que são desenhadas nas interações. Palavras-chave: Língua, internet, redes sociais e interação. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 15 MAR ME QUER: DA PROSA À DRAMATURGIA – O UNIVERSO POÉTICOCULTURAL DE AVÔ CELESTIANO Vânia Alves da Silva (UnB) Mia Couto é reconhecido pela percepção cultural das características africanas, por sua concepção e percepção poética de mundo, o que fez dele um dos grandes expoentes da literatura contemporânea em Língua Portuguesa. Esses caracteres afro-poéticos estão retratados na obra Mar me quer, em suas variantes de gênero literário. Concebida em prosa em 1998, foi adaptada (termo do próprio autor) para o teatro, em 2002, por Mia Couto e Natália Luíza. Desse modo, este artigo visa refletir sobre essa transposição do prosaico para o palco, observando a mudança de uma linguagem artística para outra, ou seja, do prosaico para a literatura e outras artes. Para tal, o personagem Avô Celestiano, presença quase mítica nas duas variantes, será a base para estabelecer uma análise literária comparativa entre a novela e a adaptação. Com esse objetivo, para pensar a transformação da novela para o teatro, utilizamos - como base teórica - o dialogismo, a enunciação e a polifonia de Bakhtin; a visão da reprodutibilidade artística, de Walter Benjamin. Palavras-chave: Literatura Africana; Adaptação Teatral; Reprodutibilidade do Teatro; Bakhtin. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 16 GOOGLE DRIVE: UMA FERRAMENTA DE APOIO AO PROFESSOR DE LÍNGUAS DO SÉCULO XXI Prof. MSc. Wallace Soares Barboza (UCB) Em face a tantos avanços tecnológicos permeando os diversos ambientes educacionais, é incontestável a necessidade de facilitar o uso das ferramentas da WEB 2.0 disponíveis gratuitamente na internet, e, também, de auxiliar o professor do século XXI na utilização de tais recursos tecnológicos para dinamizar suas ações pedagógicas dentro e fora de sala de aula. O presente trabalho aborda a utilização do Google Drive à luz das diversas atividades desempenhadas pelos professores de línguas nos dias de hoje, demonstrando através de exemplos as diversas facilidades funcionais proporcionadas por esta ferramenta. Palavras-chave: Google Drive, Professor de Línguas, WEB 2.0. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 17 A MULTIPLICIDADE SEMIÓTICA NO CONTEXTO DO LETRAMENTO DIGITAL Adriana Oliveira Dias Cury (UCB)1 Resumo: Este trabalho traz algumas considerações a respeito dos elementos que compõem o contexto da tecnologia digital, dentro da multiplicidade de suas formas de expressão em formatos que vão desde o hipertexto, aos audiovisuais, como imagens estáticas e em movimento. Essa análise se baseia em princípios da semiótica para observar como a linguagem representativa da realidade se vale de suas características para comunicar e interagir no universo do ciberespaço. Palavras-chave: Letramento Digital. Multiletramentos. Semiótica. Ciberespaço. Abstract: This work presents some considerations about the elements that make up the context of digital technology within the multiplicity of its forms of expression in formats ranging from the hypertext, to audiovisual, as still and moving pictures. This analysis is based on the principles of semiotics to observe how language represents reality if it is worth of its characteristics to communicate and interact in the universe of cyberspace. Keywords: Digital Literacy. Multiliteracies. Semiotics. Cyberspace. 1 INTRODUÇÃO Desde que a internet alçou o seu domínio dentro da rotina social em uma perspectiva de massa, adaptando tecnologias, métodos, comportamentos e estilos ao seu favor, a linguagem digital passou a ser uma realidade um tanto desafiadora, uma vez que difere de tudo o que se convencionou até então no que diz respeito à comunicação. 1 Pós-graduanda do Curso de Leitura e Produção de Textos da Universidade Católica de Brasília. E-mail: <[email protected]> _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 18 É inegável que a tecnologia do computador, em especial com o surgimento da Internet, criou uma imensa rede social (virtual) que liga os mais diversos indivíduos pelas mais diversificadas formas numa velocidade espantosa e, na maioria dos casos, numa relação síncrona. Isso nos dá uma nova noção de interação social. (MARCUSCHI, 2010, p. 20) Dentro desse panorama, o letramento digital urge em uma sociedade cada vez mais conectada, onde a leitura e a escrita vêm se adaptando a sistemas e suportes cada vez mais rápidos, dinâmicos e desafiadores. A linguagem é múltipla nesse universo notadamente marcado por hipertextos e imagens, estáticas ou em movimento, todos a disposição para significar e resignificar a realidade. O letramento digital então se faz múltiplo, ganha a dimensão de multiletramentos, baseado “no sentido da diversidade cultural de produção e circulação dos textos ou no sentido da diversidade de linguagens que os constituem” (Rojo, 2012, p. 22). Como o sentido é construído e interpretado dentro do ciberespaço? De que forma texto e imagem se mesclam, ou se completam nesse universo para dar corpo aos significados propostos na mensagem digital, comunicando e significando? Essas indagações problematizam esse trabalho, que tem como objetivo analisar como a observação semiótica dos gêneros construídos digitalmente se dá dentro desse universo multimídia do letramento digital. Este artigo segue metodologia baseada em levantamento bibliográfico e tem como referencial teórico os conceitos de multiletramentos de Rojo & Moura (2012), seguindo os princípios da diversidade cultural e de linguagens. Para fundamentar a análise semiótica, Santaella nos traz algumas considerações basilares no que se refere à [re]discursão sobre texto, gênero e discurso (2008), cognição, semiótica e mídia (2012). Para entender a dinâmica do letramento digital, nova e desafiadora, recorreremos aos estudos das Tecnologias da Inteligência e da Cibercultura de Pierre Lévy (2000), e às considerações de Luiz Antônio Marcuschi (2002) e Xavier (2005, 2010), no que se refere a letramento digital e gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital O letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. (XAVIER, 2005, p. 135) 1. CIBERCULTURA – UM UNIVERSO DE MULTIMODALIDADES Segundo Lévy, “Ciberespaço é um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (1999, p. 85). Portanto, cibercultura diz respeito à relação dos indivíduos com as tecnologias digitais dentro de situações sócio culturais vividas dentro desse _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 19 universo. A linguagem ganha uma multiplicidade característica neste contexto, isso porque as experiências vividas aqui acabam por construir novas maneiras de interação que requerem formas inovadoras de leitura e escrita. Vale destacar que o universo digital é ‘multimídia’, isto é, emprega diversos suportes ou diversos veículos de comunicação (Lévy, 1999, p. 63). Assim, dados numéricos digitais se convertem em textos, imagens e sons, agigantando as possibilidades de comunicação e interação. Ainda segundo Lévy (1999, p. 63), o termo ‘multimídia’ significa, em princípio, aquilo que emprega diversos suportes ou diversos veículos de comunicação. Infelizmente, é raro que seja usado nesse sentido. Hoje, a palavra se refere geralmente a duas tendências principais dos sistemas de comunicação contemporâneos: a multimodalidade e a integração digital. Sendo assim, Santaella nos traz um termo mais adequado a esse arcabouço digital – a ‘hipermídia’ - “um conglomerado de informações multimídia de acesso não sequencial, navegável através de palavras-chave semialeatórias” (2008, p. 63). Seria, como a própria autora destaca, uma mistura de áudio, vídeo e dados, que nasce da junção do hipertexto com a multimídia, onde todas essas informações passam por um tratamento digital. O que Lévy e Santaella ressaltam em comum é aquilo que percebemos com o boom da internet, a multiplicidade de linguagens em seu auge, conferindo aos textos digitais multimodalidades ou multissemioses que requerem aquilo que Rojo define como multiletramentos e, por sua vez, exigem cidadãos multiletrados2 O conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROJO, 2012, p. 13) O termo multiletramentos foi designado primeiramente pelo Grupo de Nova Londres3 para conceituar um novo tipo de letramento, baseado nas mudanças ocorridas dadas às influências tecnológicas e também às diversidades linguísticas e culturais. A teoria aborda modos variados de linguagem – escrita, áudio, movimento, imagem e espaço – sendo considerada como multimodal (New London Group, 1996). Segundo Rojo (2012) os textos contemporâneos exigem multiletramentos, isso equivale a dizer que a leitura e a escrita requerem atualmente novas posturas, que levam em consideração a nova maneira cognitiva e comportamental diante da linguagem no universo digital. Isso porque, a própria 2 Rojo, 2012, p. 19. 3 “The New London Group” – grupo formado por dez pesquisadores (americanos, ingleses e australianos), em 1996 o grupo publicou a artigo “A pedagogy of multiliteracies designing social futures”. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 20 dinâmica da lógica do computador se assemelha a do cérebro humano. Como ressalta Lévy Nossa capacidade de simular mentalmente os movimentos e reações possíveis do mundo exterior nos permite antecipar as consequências de nossos atos. [...] A capacidade de simular o ambiente e suas reações certamente desempenha um papel fundamental para todos os organismos capazes de aprender. [...] A simulação, que podemos considerar como uma imaginação auxiliada por computador, é portanto ao mesmo tempo uma ferramenta de ajuda ao raciocínio muito mais potente que a velha lógica formal que se baseava no alfabeto. (Lévy, 2000, p. 124) O que Lévy quer dizer está relacionado ao comportamento entre o homem e a máquina, neste caso, ao que ele define como Tecnologias intelectuais (2000), ferramentas digitais disponíveis pelos mecanismos computacionais, comportamento este onde a dinâmica lógica dessas tecnologias seguem a arquitetura do próprio cérebro humano. Dentro desse panorama, velhos paradigmas dão lugar a uma maneira totalmente nova de cognição humana mergulhada em uma lógica flexível, onde a simulação pode conduzir e aprimorar o entendimento. A característica interativa na constituição e funcionamento da hipermídia depende, como destaca Rojo (2012), de nossas ações enquanto indivíduos usuários, onde os papéis de receptor, emissor ou espectador não estão definidos, mas mesclados. 2. A ANÁLISE SEMIÓTICA DOS GÊNEROS NA TECNOLOGIA DIGITAL A semiótica é a ciência que estuda os signos, sejam eles linguísticos, ou audiovisuais. Em ‘Introdução à análise da imagem’, Martine Joly destaca que É possível dizer atualmente que abordar ou estudar certos fenômenos em seu aspecto semiótico é considerar seu modo de produção de sentidos, ou seja, a maneira como provocam significações, isto é, interpretações. De fato, um signo só é “signo” se “exprimir ideias” e se provocar na mente daquele ou daqueles que o percebem uma atitude interpretativa. (JOLY, 2008, p. 29) Contextualizando a fala de Joly ao campo dos gêneros presentes na tecnologia digital, ao analisar os fenômenos semióticos presentes nos arranjos digitais há que se levar em consideração os sentidos que o geram e o conduzem, uma vez que, sua produção está relacionada à multiplicidade e descentralização de culturas, já que as fronteiras culturais inexistem neste contexto globalizado da web. Portanto, estamos diante de gêneros construídos de acordo com a interação multicultural e multisemiótica geradas na dinâmica digital. É nato ao ser humano o anseio em se expressar, seja uma ansiedade, uma necessidade, uma ideia etc. As novas tecnologias potencializaram as formas de expressão do indivíduo. Segundo Marcuschi, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 21 Parte do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de reunir num só meio várias formas de expressão, tais como texto, som e imagem, o que lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea de múltiplas semioses, interferindo na natureza dos recursos linguísticos utilizados. (Marcuschi, 2002, p. 13) Eis o desafio da leitura e escrita multimodais, onde a autoria dá lugar à coautorias expondo um sistema híbrido de interação entre criador e criação, que redefinem sentidos no universo de expressão da hipermídia. Outro fenômeno determinante nesse contexto diz respeito à extinção de fronteiras também entre o visual e o sonoro. Santaella define bem essa questão O que se tem hoje, na realidade, é uma dissolução de fronteiras entre visualidade e sonoridade, dissolução que se exacerba a um ponto tal que, no universo digital do som e da imagem, não há mais diferenças em seus modos de formar, mas só nos seus modos de aparição, isto é, na maneira como se apresentam para os sentidos. (Santaella, 2012, p. 93-94) Portanto, as formas dos gêneros digitais são construídos por meio de uma dinâmica logarítmica lógica computacional, dentro de terminais, ou suportes, que visam a percepção do indivíduo. Essa percepção, por sua vez, caminha no labirinto4 linguístico digital, onde o indivíduo é quem define suas trilhas, escolhe seus caminhos, desenha seu próprio mapa rumo à informação que deseja. Partindo da premissa de gêneros como formas sociais de organização e expressões típicas da vida cultural5, entender os gêneros no contexto digital requer observar como o indivíduo pós-moderno se expressa e interage neste contexto. Com a internet rompendo barreiras físicas, e consequentemente culturais, foram emergindo gêneros condizentes com a ansiedade de expressão adequada a esse universo. Alguns migraram da oralidade, outros da escrita e impressão, como o caso dos ‘chats’, ‘enquetes’, ‘e-mail’, ‘videoconferência’, ‘diários virtuais’ ou ‘blogs’, ‘podcast’ etc. O fato é que estamos diante de formas linguísticas que requerem o letramento digital, isto é, a condução do indivíduo ao entendimento crítico de toda essa dinâmica. Fig. 1 – Página Web da Rádio Band News FM 4 Leão, Lúcia. Labirintos e mapas do ciberespaço. In:______(Org.). Interlab: labirintos do pensamento contemporâneo. São Paulo: Iluminuras, 2002. P. 15-30. 5 Marcuschi, 2002. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 22 Fonte: <http://bandnewsfm.band.uol.com.br/> Nesse novo espaço de leitura e escrita, onde a multimodalidade e, consequentemente, a multisemiose descortinam sentidos, que por sua vez, vão requerendo e arquitetando novos gêneros textuais, ler e escrever ultrapassa a codificação e compreensão de sinais alfabéticos. Cores, formas, movimentos, sons, texturas impregnam gêneros de multiplicidade linguística, que por sua vez, exigem do indivíduo uma compreensão que ultrapassa códigos e permeia signos que exprimem ideias por meios imagéticos. Eis o desafio do letramento digital. É interessante observar o pensamento de Xavier (2013) destacando que, “o sujeito só será reconhecido como membro de uma dada comunidade se demonstrar domínio das formas linguísticas valorizadas naquela esfera social da qual deseja fazer parte” (p. 78). As esferas linguísticas atuais são multimodais, uma vez que a sociedade pós-moderna é profundamente atrelada ao universo digital. Quando Xavier diz que, “os usuários da língua na web transferem para a forma a liberdade de expressão de que gozam no conteúdo” (p. 81), compreendemos a flexibilidade de organização das ferramentas de comunicação disponibilizadas por este meio. O autor ainda ressalta que esse fenômeno contribui para o nascimento de novos gêneros textuais, o que vislumbra-se como consequência das necessidades de interação social dos indivíduos. Assim, a participação, com produção, compreensão e interação na dinâmica dos gêneros digitais requer a múltipla ação cognitiva e social de seus agentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS A multiplicidade semiótica no contexto do letramento digital requer novas posturas diante da leitura e da escrita, uma vez que estas não estão mais limitadas à linguagem puramente textual e linear vividas dentro das práticas e eventos de letramentos vivenciadas há algumas décadas atrás. A leitura e escrita no universo digital passa por elementos da hipermídia, o que lhes confere arranjos multimodais e multissemióticos. Para o indivíduo pós moderno, essas modalidades de leitura e escrita ainda vêm atreladas a um universo de interação síncrono, que lhe requer novas maneiras de “caminhar” pelas linguagens disponíveis na tela do computador. A comunicação se dá, nesse contexto, dentro de uma dinâmica cognitiva e interativa inovadoras, o que requer dos indivíduos uma bagagem de conhecimento, ou letramento, mais apuradas, uma vez que este está agora dentro de uma campo de linguagens, que geram significados, múltipla e dinâmica. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 23 A construção de sentidos e a interpretação dos códigos e signos no universo do letramento digital é tão diverso e múltiplo quanto as próprias linguagens e relações geradas ou construídas neste universo. Portanto, a diversidade de novos gêneros, a inexistência de fronteiras ou barreiras sociais ou territoriais, os jogos com a percepção humana por meio de imagens e sons, bem como, os labirintos construídos dentro das plataformas digitais que conduzem o leitor, ou escritor, a caminhos que vão sendo construídos por ele mesmo, revelam esferas linguísticas multimodais que requerem multiletramentos. Portanto, o desafio é aprender a lidar com essas formas de linguagem que brincam com nossos sentidos, e que são, muitas vezes geradas dentro desse objetivo. Para tanto, entender semioticamente essas construções linguísticas digitais é vital para o letramento digital do indivíduo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. APPENZELLER, Marina (Trad.). 12ª Edição. São Paulo: Papirus, 2008. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: ed. 34, 1999. __________ . As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: ed. 34, 2000. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Hipertexto e Gêneros Digitais. Novas formas de construção de sentido. Rio de Janeiro: ed. Lucerna, 2005. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital. In: 50ª Reunião do GEL – Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, 2002. NEW LONDON GROUP. A pedagogy of multiliteracies designing social futures. Harvard Educational Review; Spring 1996; 66, 1; Research Library pg 60. ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. Site BandNews FM. Disponível em: <http://bandnewsfm.band.uol.com.br/> Acesso 18 jun. 2013 _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 24 SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfred. Imagem – Cognição, Semiótica, Mídia. 1ª Edição. São Paulo: Iluminuras, 2012. SANTAELLA, Lúcia. O novo estatuto do texto nos ambientes de hipermídia. In: SIGNORI, Inês (Org.). [Re]discutir texto, gênero e discurso. São Paulo: Parábola, 2008. p. 47-72. XAVIER, Antônio Carlos dos Santos. Leitura, texto, e hipertexto. In: MARCUSCHI, Luíz Antônio (Org.). Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção do sentido. São Paulo: Cortez, 2010. _________________. Letramento Digital e Ensino. In: Carmi Ferraz Santos e Márcia Mendonça. (Org.). Alfabetização e Letramento: conceitos e relações. 1ed.Belo Horizonte: Autêntica, v. 1, p. 133-148, 2005. _________________. Retórica Digital: a língua e outras linguagens na comunicação mediada pelo computador. Recife: Pipa Comunicação, 2013. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 25 FONÉTICA ACÚSTICA – APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS E DIFICULDADES Camila Aguiar Herbet Leonardo Alves dos Santos Resumo O presente trabalho buscará expor algumas das tecnologias usadas na análise de variantes linguística dentro da fonética, sobretudo na fonética acústica. Para atingir tal objetivo, foi feito um breve estudo dos três grandes campos da fonética, além da fonética forense, demonstrando, gradativamente, as tecnologias assim como as maiores dificuldades encontradas pelos peritos e pesquisadores que fazem uso de tais tecnologias. Por fim, concluímos que a ciência linguística, em relação direta com outras áreas científicas, auxilia-se de equipamentos eletrônicos, objetivando o extravasamento dos modelos fonéticofonológicos já constituídos. Palavras-chave: Acústica. Tecnologia. Análise. Abstract This paper will seek to expose some of the technologies used in the analysis of linguistic variants in phonetics, especially in acoustic phonetics. To achieve this goal, a brief study of the three main areas of phonetics, especially forensic phonetics, demonstrating gradually technologies as the major difficulties encountered by experts and researchers who make use of such technologies was carried out. Finally, we conclude that the linguistic science, in direct relation to other scientific areas, stand with electronic equipment, aiming at the extravasation of phonetic-phonological models already established. Key words: Acoustic. Technologies. Analysis. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 26 1. Introdução A linguística é uma ciência nova, tendo se efetivado como tal apenas no início do século XX. O divisor de águas que a definiu foi famoso Curso de Linguística Geral (1916), de Ferdinand de Saussure. O principal avanço do Curso foi a dividisão do estudo linguístico em duas dicotomias principais: a língua e a fala. Talvez o mestre suíço não imaginasse a repercussão que tal divisão ia gerar, mas foi essa divisão que, desde então, vem definindo os diversos campos de estudo da ciência da língua. A dicotomia língua x fala foi o marco zero definidor de outras dicotomias, tais como, por exemplo, a estrutura da língua x o uso empírico da língua; fatores puramente linguísticos x fatores extralinguísticos, entre outros. Como não poderia deixar de ser, por se tratar de mais um campo da linguística, o estudo da fala também precisou ser dividido em dois níveis distintos: a fala em seu uso efetivo e a fala dentro de um sistema analítico. A estes campos foi dado o nome de fonética e fonologia, respectivamente. Assim como a língua, o estudo fonético-fonológico não possui uma forma extática, imóvel; muito pelo contrário. Esse estudo também está em processo de evolução, ainda mais agora, em pleno século XXI, onde a tecnologia e os recursos eletrônicos veem se expandindo de maneira rápida e constante. A tecnologia vem em auxilio da fonética e da fonologia, oferecendo recursos para que a análise seja dada de forma prática e, acima de tudo, globalizante. O primeiro recurso conhecido de análise acústica se refere à criação do espectrógrafo por R. K. Potter, durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, muitos programas foram criados nos próprios sistemas computacionais, tornando o processo de análise totalmente automático, o que possibilita maior credibilidade e precisão no que tange o estudo de variáveis e variantes da língua. Espera-se que com o tempo e o auxilio da tecnologia, a difícil tarefa de desvendar as diversas nuances da língua seja, se não totalmente sanada – já que a língua não é imóvel e, pois, não apresenta um produto final definido, por estar sempre em processo evolutivo – pelo menos melhor compreendida. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 27 2. Fonética: visão geral Após o advento e o consequente crescimento dos estudos linguísticos, foi preciso dividir a ciência linguística em diversos campos de análise, como a morfologia, a sintaxe, a semântica, os estudos do discurso, entre outros; cada uma com seu objeto de estudo específico. Em um destes campos de atuação, se encontra os estudos dos sons da fala cujos responsáveis são a fonética e a fonologia. Basicamente, a diferença entre fonética e fonologia é em que nível os elementos da fala são tratados. Podemos fazer uma analogia entre ambas e o conceito desenvolvido por Hjelmslev (1973, apud SOUZA e SANTOS, 2008, p.11), onde ele aponta a existência, dentro da língua, de dois planos distintos: o da expressão e o do conteúdo. A expressão equivale ao significante, e o conteúdo, ao significado. Deste modo, enquanto a fonética atua no plano do conteúdo, atuando sobre a fala em seu uso empírico, a fonologia trata do plano da expressão, ou seja, a fala sistematizada em uma estrutura linguística. Por estar no plano puramente linguístico, a função primeira da fonologia é distinguir um segmento do outro, chamados de pares mínimos, como por exemplo, a oposição entre pato [pa’tu] e bato [ba’tu]. Apesar de tratar dos aspectos linguísticos propriamente ditos – os segmentos – isso não impede de a fonologia entrar em aspectos extralinguísticos – os elementos suprassegmentais. Esses, buscando distinguir elementos que se apresentam na fala cotidiana, estuda a oposição entre variáveis tais como o acento e os tons, enquadrados em um plano prosódico. Exemplificando, desses elementos, podemos citar um mesmo segmento diferenciado unicamente por elementos prosódicos, como a variação na palavra beterraba [bêterra’ba] e [béterra’ba]. Nota-se que a vogal pretônica [e] sofreu uma variação no nível prosódico, visto que o que mudou foi apenas a acentuação da palavra. Esses pares mínimos são diferenciados nos dois planos: enquanto na fonética são chamados de fone, na fonologia são conhecidos como fonemas. A fonética trata dos sons propriamente ditos, ou seja, como ocorre todo esse processo de produção dos sons desde a análise do ponto de vista fisiológico e articulatório até a captação e compreensão por parte do interlocutor. Deste modo, existe aí todo um processo que percorre um longo caminho, apesar de se dá de maneira quase que instantânea. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 28 Primeiramente o significado é gerado na mente do locutor por meio de algum estímulo externo ou de algum estímulo já presente em seu “banco de dados” léxico, adquirido durante toda a sua vida. Após a definição do significado, o locutor passa a uma intencionalidade comunicativa, o que o obriga a gerar um significante externo, para que sua intencionalidade comunicativa chegue até o interlocutor destinado. A partir daí começa o trabalho articulatório e fisiológico do aparelho fonador. É por meio de uma série de combinações de articulações que o som é gerado, constituindo-se, portanto, como o significante necessário que irá exteriorizar o significado. Todo o processo descrito até aqui é de competência da fonética articulatória. De acordo com Souza e Santos (2008, p.12), a fonética articulatória trata da parte motora, estando englobado neste campo a vibração das cordas vocais, o esforço físico gerado na produção dos sons e o momento dos movimentos articulatório, levando em consideração o lugar onde e o modo como a produção dos sons acontece. Para entendermos melhor o funcionamento da fonética articulatória, cabe dividir o sistema articulatório em três grandes sistemas que agem e interagem entre si (BRAID, 2004, p.19): 1. Sistema respiratório – é o responsável pela aerodinâmica da fala; por meio desse sistema, o falante pode incrementar, em sua fala, elementos de prosódia, como o ritmo, a intensidade sonora, as pausas, etc.; 2. Sistema laringeal – composta basicamente pela laringe e pregas vocais, este sistema permite ao falante decidir o tipo de som que será produzido no que diz respeito ao vozeamento ou desvozeamento do segmento; 3. Sistema supralaringeal – formada pela junção das três cavidades supralaringeal (cavidades nasal, bucal e nasofaringal), esse sistema é o responsável pelo tipo de articulação que se dará no ato da produção dos segmentos, por meio de obstruções e constrições da passagem do ar. Para que isso ocorra, os articuladores ativos devem movimentar-se em direção dos articuladores passivos, mudando assim a configuração do trato vocal. A junção desses três grandes sistemas é necessária para que o som da fala se torne possível, transformando, assim, o significado interno do locutor em significante externo a ser captado pelo interlocutor. Este processo, contudo, não para por aí. Após a produção dos sons da fala, e entendendo que ela – a fala – se propaga no ar através de ondas _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 29 sonoras, começa um processo de percepção por parte do interlocutor. O som, ao chegar a seu aparelho auditivo como significante, é automaticamente captado e interiorizado, para que assim possa se dá a devida interpretação comunicativa. Este é o momento em que o significante volta a se transformar em significado, agora na mente do interlocutor, que irá relacionar esse significado com o seu próprio “banco de dados” lexical. Estando de acordo, a comunicação é efetivada. Essa parte perceptiva é outra fase da fonética, tratada pela fonética auditiva e também pela fonética acústica, partes da fonética ainda pouco explorada, mas que, não obstante, possuem uma importância fundamental para que o estudo da totalidade dos fenômenos linguísticos, no que tange o “como” e o “por quê?” os sons da fala são produzidos, seja mais bem compreendido. Segundo Silva (2013, p.23), se por um lado, a fonética auditiva “compreende o estudo da percepção da fala”, por outro lado, a fonética acústica “compreende o estudo das propriedades físicas dos sons da fala a partir de sua transmissão do falante ao ouvinte.” A autora ainda aponta um campo chamado fonética instrumental, que seria “o estudo das propriedades físicas da fala, levando em consideração o apoio de instrumentos laboratoriais”. No entanto, pela proximidade conceitual, no presente artigo optamos por chamar esse campo de fonética forense, por melhor se enquadrar no objetivo do mesmo. A fonética forense é um campo da ciência que busca o auxilio dos recursos das demais áreas fonéticas para o auxilio de problemas dentro da área forense. De acordo com Morrison (2003, p.19), a fonética forense tem como objeto de estudo a verificação e eventual identificação de um locutor, através da fala. Para isso, o perito especializado no campo da fonética forense faz uso de tecnologias, tanto para o recolhimento de provas materiais a ser analisadas (como grampos telefônicos ou escutas), quanto para a análise de verificação/identificação, propriamente dita, tendo ao seu alcance tecnologias de analise comparativa da fala nas provas materiais recolhidas em relação a um indivíduo, provando posteriormente, se se trata de uma mesma fala – Isso é possível com o uso de equipamentos e softwares criados unicamente para esse fim, como por exemplo, os mais conhecidos espectrogramas e software PRAAT. Partindo daquilo que foi especificado acima, podemos inferir que a fonética forense auxilia-se das três áreas da fonética: articulatória, auditiva e acústica. Ao comparar “numerosos parâmetros acústicos e diversas realizações articulatórias do falante”, e sendo esses parâmetros “correlacionados à anatomia, à fisiologia, à neurofisiologia, ao desenvolvimento neurológico e ao léxico do falante” (MORRISON, 2003, p.19), a área forense é capaz de atingir um maior rigor no que diz respeito à objetividade da verificação efetiva na comparação entre falas, se fizer o uso interativo entre as três áreas expostas. O resumo do que foi dito até aqui pode ser visualizado no esquema a seguir: _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 30 Fonética articulatória Fonética Fonética auditiva Fonética acústica Fonética forense Como o objetivo deste artigo é demonstrar o uso de diferentes tecnologias no campo fonético-fonológico, e como esse processo auxilia a evolução do estudo linguístico, aprofundaremos apenas o estudo da parte acústica. Isso não quer dizer que a abordagem acústica seja suficiente para sanar todas as dificuldades encontradas na área forense, muito pelo contrário; é ela apenas uma pequena parcela avaliativa agindo em conjunto com as demais. Devido, no entanto, a complexidade do tema e a brevidade do artigo, procuramos dar ênfase à parte da fonética que melhor faz uso das tecnologias disponíveis, possibilitando uma abordagem analítica eficaz de como o uso e a identificação da fala acontece. Essa parte, a nosso ver, é a fonética acústica. 3. O uso de tecnologias na Fonética Acústica O avanço tecnológico dos últimos anos possibilitou um aperfeiçoamento da fonética acústica, posto que o auxílio de ferramentas eletrônicas possibilitasse o surgimento de novos meios de análise. Deste modo, é importante salientar que estudar as propriedades acústicas dos sons fez avançar os modelos fonológicos conhecidos, evoluindo-os, pois possibilitou maior detalhamento, visto que foi possível uma abordagem universal entre todas as línguas existentes, fato que não ocorria com o uso apenas da fonética articulatória. É na década de 1940 que a fonética acústica começa a se tornar uma ferramenta de análise promissora, com o surgimento do espectrógrafo: como relatam Koenig, Dunn & Lacy (1946), esse dispositivo foi inventado por R. K. Potter, durante a Segunda Guerra Mundial, e permitia decompor as frequências dos harmônicos dos sons da fala em _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 31 função do tempo, gerando um registro que se convencionou chamar “espectrograma”. (SILVA, 2010, p.216) Esse tipo de detalhamento mais amplo trouxe inúmeros benefícios, pois acabaram fornecendo “informações relevantes para o maior entendimento sobre o funcionamento do trato vocal, tanto para o diagnóstico como para o tratamento de problemas articulatórios.” (PAGAN e WERTZNER, 2006, p.107) A análise acústica utiliza-se, basicamente, dos aspectos acústicos da fala, ou melhor, das ondas sonoras produzidas no ato de falar. Essas ondas sonoras são aspectos físicos, ou seja, significantes exteriorizados pelo falante e captados através da percepção do ouvinte. Antigamente, a única forma de captar essas ondas sonoras era através, exclusivamente, do aparelho auditivo humano. Por isso, a fonética auditiva era muito utilizada em consonância à fonética articulatória. Apesar das vantagens advindas da interação dessas duas áreas, ainda assim a abordagem era bem limitada devido à imprecisão e falta de recursos suficientemente confiáveis. Com o surgimento dos espectrogramas, surgia também uma nova área de abordagem, a fonética acústica, ocasionando o melhoramento geral nos estudos dos aspectos da fala: A espectrografia possui grandes vantagens quando utilizada para complementar as análises fonológicas descritivas por ser de rápida análise, por mostrar precisamente as concentrações de energia na fala e por produzir um espectro que aponta como as concentrações de energia variam no tempo e, por isso, tem sido muito utilizada também como um suplemento à análise perceptiva nos estudos sobre aquisição e desenvolvimento de fala. (PAGAN e Wertzner, p.107) Com a possibilidade de armazenar as mensagens linguísticas através das ondas sonoras, por meio da espectrografia, os modelos fonológicos acabaram por se tornar mais confiáveis. Aspectos que antes não eram possíveis de serem registrados através da percepção humana – como a frequência, a amplitude e o tempo – passaram a ser armazenados de maneira eficaz. Além disso, os elementos abordados pela fonética auditiva – a altura, a intensidade e a duração – acabaram, consequentemente, evoluindo e ganhando mais clareza, possibilitando, inclusive, registrá-los e armazená-los para estudos posteriores. Apesar da utilidade dos espectrogramas em relação à sua época, logo surgiram programas que o ultrapassaram quanto à efetividade de armazenamento acústico. Entre tantos, programas de análise acústica, o mais conhecido e apreciado por peritos e pesquisadores é o software PRAAT, talvez pela facilidade de manuseio. A partir daí, passou-se a considerar o reconhecimento da fala em três níveis distintos: o nível da percepção puramente humana, representada pelo aparelho auditivo; a percepção semiautomática, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 32 representada pelos espectrogramas; e a percepção totalmente automática, representada por sistemas computadorizados, como o PRAAT. Dentro do reconhecimento de falantes distinguem-se três tipos de reconhecimento: naïve – reconhecimento perceptivo; semiautomático – utilização da tecnologia, como os espectrogramas, por peritos treinados; automático – utilização de sistemas computadorizados na associação de vozes e falantes. (GILLIER, 2011, p.12) Devido a precisão avaliativa, a fonética acústica acabou sendo levada à outras áreas interessadas na análise linguística precisa. Uma dessas áreas é a fonética forense. 4. Fonética Forense: as tecnologias e as dificuldades analíticas O principal objetivo da fonética forense é a verificação de igualdade de um locutor em duas situações de fala: no uso efetivo e por meio de provas materiais. Ao comparar provas materiais recolhidas – que podem ser grampos telefônicos ou escutas – com a fala de um determinado indivíduo, o perito forense busca obter provas que podem comprovar a inocência de alguém ou mesmo condená-lo. Dito isto, fica claro qual é o objeto de estudo da fonética forense: a fala. Auxiliando-se da combinação entre fonética acústica e fonética articulatória, a fonética forense procura dar atenção a todos os detalhes da voz. Quanto mais informações forem obtidas da voz de um falante, maiores serão também as chances de relacioná-la com ele. Sendo assim, “a análise forense deve contemplar a análise de parâmetros perceptivos e acústicos que, em conjunto, permitem fazer uma descrição mais rigorosa da voz.” (GILLIER, 2011, p.13) A fonética forense parte do principio de que ninguém possui a fala igual; apesar de variantes relacionadas à formação linguística e cultural de indivíduos que convivem em uma mesma comunidade linguística – como fatores dialetais, socioletais – cada sujeito traz em sua fala características únicas, seja no trato articulatório, seja no trato prosódico. Tais características chamadas de “únicas” seriam idioletos surgidos em consequência à variação do ambiente ou diferenças no aparelho articulatório. Por serem esses detalhes bastante sutis para serem percebidos unicamente pela audição é que a fonética forense faz uso da análise acústica _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 33 em conjunto com estudos prévios a respeito do falante. O estudo prévio a respeito do falante leva em consideração, fatores extralinguísticos, como gênero, faixa etária, etc.; a análise acústica, por sua vez, relacionando-se a analise perceptual, é capaz de definir “modelos gráficos, numéricos e estatísticos, o comportamento acústico da fala e os efeitos das configurações do aparato vocal.” (BRAID, 2004, p.20) Um exemplo que pode esclarecer o que foi mostrado acima pode ser encontrado no estudo de Gillier (2011, p.15), quando ela expõe diferenças entre a fala de homens e mulheres. Segundo a autora, o ponto de concentração, ou seja, o esforço produzido na produção da fala é mais elevado nas mulheres. Tal aspecto estaria relacionado diretamente com o tamanho do trato vocal, comumente menor nas mulheres. A autora expõe ainda diferenças rítmicotemporais onde aborda o fato das mulheres falarem mais rápido que os homens. Novamente esse fato estaria relacionado ao tamanho do trato vocal, menor nas mulheres, o que obriga os articuladores se moverem de forma mais rápida, ocasionando a maior velocidade no ato da fala. Apesar de o fato exposto sugerir semelhanças entre falantes “parecidos” de alguma forma – neste caso, do mesmo gênero – a verdade não é bem essa. É claro que as semelhanças existem, mas o que interessa para a fonética forense são as divergências. E as divergências surgem a partir da individualização da fala, que segundo Gillier (2011, p.17) é evidenciada por meio de duas componentes: a componente orgânica – diz respeito à fisiologia e anatomia do trato vocálico – e a componente de settings articulatório – que seriam os modos de articulação usados comumente por cada indivíduo na fala do dia a dia. A primeira componente não pode ser dissimulada por ser um ato involuntário. Contudo, podem ocorrer alterações ocasionadas por motivos estranhos ao próprio falante, como doenças, uso de drogas ou alterações no estado emocional. A segunda componente pode ser deliberadamente dissimulada se for do interesse do falante, e isso, ocasionalmente, dificulta a análise efetiva da fala. Relacionadas à componente de settings articulatório, estão diversas variáveis às quais o perito deve estar atento, por distorcerem a voz e alterar os parâmetros de medição acústica de uma maneira deliberada ou não. As mais conhecidas são, de acordo com Morrison (2003, p.23), a qualidade de voz do falante; sonoridade ou vozeamento; ritmo e taxa de elocução; "Voice Onset Time" (VOT); entre outros. É possível para o falante disfarçar sua fala fazendo alterações conscientes em qualquer uma destas variantes. Por exemplo, mudar intencionalmente a voz normal (ou modal) para outras variantes, como voz rangida, falseto (pitch alto), voz murmurada, voz infantil, voz robotizada (monotônica), etc. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 34 Até aqui foram considerados apenas as alterações no campo humano, no entanto, também pode haver alterações que dificultam o trabalho do perito no de recolhimento de provas acústicas e materiais – trechos de áudio conseguido através da colocação de escutas telefônicas e gravações. Tonaco (2003, p.24) enumera uma série de fatores que pode prejudicar a qualidade do material recolhido, entre outros: baixa qualidade e/ou falta de ajuste adequado do equipamento utilizado, gerando ruídos; posicionamento inadequado do equipamento, gerando sinais muito baixos; local inadequado para fixação do equipamento de gravação durante a realização da escuta, como bolsos de paletós, bolsas e valises, o que também pode resultar em gravações muito baixas ou no "abafamento" das conversas. É possível chegar à perfeição analítica após a observância de todos esses processos descritos anteriormente, desde que se transponha tanto o campo humano quanto o contexto situacional. Após analisar um a um, fica fácil perceber o porquê da necessidade da fonética articulatória e auditiva precisarem do auxilio da fonética acústica; a fonética acústica tornou possível uma análise mais precisa e rigorosa, generalizando fatos que antes eram individuais, e individualizando fatores que, não percebidos de forma efetiva, eram tidos como gerais. Conclusão Desde que se tornou efetivamente uma ciência, desde Ferdinand de Saussure, a linguística tem sido tratada como tal em seus mais variados campos de atuação. Fazendo o bom uso da observação e experimentação, os estudos linguísticos têm atingido resultados contribuintes para desvendarmos o mistério por detrás de como uma língua é formada e como ela varia com o passar do tempo. Contudo, ainda há muito que se descobrir. A linguística, por ser uma ciência recente, ainda está no berço do desvelamento, caminhando talvez em encontro à verdade de todos os fatos linguístico. Sabemos que toda ciência auxilia-se da tecnologia para ir além e atingir resultados rápidos e precisos, os quais não seriam possíveis atingir apenas confiando na sensibilidade humana, ou seja, unicamente nos sentidos captados diretamente pelo ser humano, ultrapassando assim a percepção imediata. Notamos cientistas usarem balanças, termômetros, entre outros. O pesquisador linguístico não difere muito dos demais cientistas, ele também faz o uso da tecnologia, dependendo do nível de dificuldade perceptiva do fenômeno linguístico. No campo da fonética, o auxilio tecnológico encontra-se dividido em três fases distintas: o nível perceptual imediato, onde o pesquisador auxilia-se unicamente do aparelho auditivo, não sendo preciso nenhum tipo de auxílio _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 35 eletrônico; o nível semiautomático, existindo aí uma mescla entre o humano e o eletrônico, como acontece na análise acústica por meio de espectrogramas; e por fim, o nível automático, sendo que o processo de análise se forma de maneira totalmente automática, cabendo ao pesquisador unicamente controlar os dados nos quais seu estudo esteja voltado. Um exemplo deste último nível seriam os sistemas computadorizados de análise acústica da fala, dando a devida ênfase no mais conhecido software PRAAT. Enquanto no primeiro nível, o nível auditivo, a análise pode ser feita por qualquer pessoa com um mínimo conhecimento linguístico – não precisa ser precisamente um linguista – no segundo nível, semiautomático, e no terceiro nível, automático, existe uma exigência para que o pesquisador se especialize e se familiarize com o equipamento utilizado, pois apenas desta maneira será possível tirar toda a potencialidade tanto da tecnologia quanto dos próprios fenômenos analisados. Os resultados obtidos através da fonética acústica não se limitam apenas ao campo forense, e sim a todo aquele que tem a língua como escopo inicial de pesquisa. Um exemplo que pode ser citado se refere às patologias da fala. A obtenção de dados precisos e rigorosos pode auxiliar a fonoaudiologia no que tange aos desvios infantis. Descobrir todos os detalhes de como a produção linguística da criança acontece, mais do que desvendar todas as tendências envolvidas neste processo, também adequa a sua produção ao parâmetro esperado e usual em sua língua-mãe. Além disso, é possível fazer comparações internas – por meio de variações pluridialetais e variações plurilíngues – além de comparações externas - por meio de variações plurisocietais. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 36 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRAID, A. C. M. Fonética Forense: Identificação de Falantes. In:___. Prova Material. 2004. Disponível em: <www.dpt.ba.gov.br/arquivos/.../provamaterial/prova%20material%203.pdf >. Acesso em: 01 de setembro 2013. 12h36. GILLIER, R. O Disfarce da Voz em Fonética Forense. 2011. Disponível em: < repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4131/1/ulfl096200_tm.pdf >. Acesso em: 26 de agosto 2013. 14h23. MORRISON, A. L. C. Identificação da Voz Humana: uma realidade no Instituto Nacional de Criminalística. In:___. Perícia Federal. 2003. Disponível em: < www.apcf.org.br/Portals/0/revistaAPCF/16.pdf >. Acesso em: 02 de setembro 2013. 18h12. PAGAN, L. O.; WERTZER, H. F. Análise acústica das consoantes líquidas do Português Brasileiro em crianças com e sem transtorno fonológico. 2006. Disponível em: < www.scielo.br/pdf/rsbf/v12n2/05.pdf >. Acesso em: 18 de agosto 2013. 18h30. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 37 O USO DAS TECNOLOGIAS NAS PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS Carolina Queiroz Andrade (UnB) Caroline Rodrigues Cardoso (SEDF/GEAS-UnB) Cíntia da Silva Pacheco (UnB/ICESP) INTRODUÇÃO Se pretendemos analisar determinado fenômeno linguístico variável e, assim, entender melhor como a língua funciona e em que circunstâncias ela pode variar e mudar, não é suficiente saber que existe variação em cada região geográfica ou em diversos níveis linguísticos. É necessário, também, para o estudo sistemático da variação de qualquer língua, o uso de programas estatísticos como ferramentas de auxílio para o entendimento da variação advinda do cruzamento de aspectos linguísticos e sociais. Até podemos, sem um estudo mais aprofundado, apontar fenômenos linguísticos variáveis e mostrar em que lugares se fala dessa ou daquela maneira, mas entender os motivos pelos quais a variação ocorre e testar hipóteses acerca dessa variação não é possível sem uma análise mais aprofundada, com metodologia rigorosa e aparato teórico consistente. Não se pode explicar os padrões linguísticos e sociais regulares que regem uma língua com apenas alguns exemplos ou com a mera observação, muito menos com a intuição do pesquisador. Posto isso, o objetivo desse texto é mostrar a atmosfera da pesquisa variacionista: como gravar, transcrever, editar, tratar, analisar e tabular dados de fala, bem como mostrar o funcionamento dos aparatos tecnológicos e estatísticos que foram sendo utilizados pela Sociolinguística Variacionista no Brasil desde a década de 1960 – quando se começou a utilizar computador e o pacote de programas estatísticos Varbrul – até hoje – que está em uso o Goldvarb X. Isso implica uma retomada histórica, situando sucintamente o público sobre os primórdios da Sociolinguística, suas bases teóricas e sua evolução metodológica em função do uso do computador e do aprimoramento dos programas estatísticos que lhes são, hoje, imprescindíveis. 1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA PESQUISA VARIACIONISTA Os pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista (SANKOFF, 1988; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, 2008) são: (i) a variabilidade inerente à diversidade linguística é fator fundamental, essencial e inevitável; (ii) a heterogeneidade ordenada implica variação probabilisticamente estruturada; (iii) a estrutura linguística não pode ser entendida sem o contexto social; (iv) a mudança linguística pressupõe necessariamente a variação linguística, mas a variação linguística não pressupõe mudança linguística; (v) “as _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 38 variantes de um fenômeno linguístico variável têm o mesmo valor de verdade ou significado referencial” (SCHERRE, 2012, p. 3). Assim, a variação linguística não é aleatória, mas condicionada por fatores internos (linguísticos) e externos (sociais) e apresenta regularidades que podem ser constatadas ou refutadas estatisticamente. Para isso, é preciso coletar dados, a fim de identificar padrões e generalizações das línguas. Segundo Scherre (2012, p. 4), regularidades subjacentes a fenômenos variáveis podem necessitar de grandes massas de dados, o que conduz necessariamente a tratamento quantitativo dos dados da variável dependente (o fenômeno variável analisado) em função de fatores ou restrições internas e externas (as variáveis independentes ou grupos de fatores), que operacionalizam as hipóteses sociolinguísticas postuladas. A variação pode ocorrer tanto na fala da comunidade, como na fala do próprio indivíduo em função de fatores como a origem geográfica, a posição social, o grau de escolarização, a idade, o sexo, o contexto de interação, os interagentes, as redes sociais de que participam os indivíduos. O fato é que toda variação é influenciada tanto por aspectos linguísticos, como por aspectos sociais, sendo classificada, a depender do(s) tipo(s) de fator(es) envolvido(s), em diacrônica (em função do tempo), diastrática (em função da classe social), diafásica (em função do grau de monitoramento da fala), diatópica (em função da origem geográfica) e diamésica (em função do meio de interação). Um fenômeno linguístico também pode ser variável em diversos níveis linguísticos, tais como: lexical, fonológico, morfológico, sintático, morfossintático, discursivo, pragmático. Para analisá-los do ponto de vista da Sociolinguística Variacionista, é imprescindível o uso do computador, de bons gravadores de áudio e de programas estatísticos apropriados. No caso da pesquisa sociolinguística, que lida principalmente com dados de fala, é necessário gravar, transcrever, codificar, levantar os dados e submetêlos a inúmeras rodadas estatísticas, tudo isso com auxílio do computador. Para essas rodadas, tradicionalmente têm sido utilizados o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), um software pago da IBM, e o Varbrul, um pacote de programas gratuito, atualmente na versão Goldvarb X para Windows e Macinthosh. Nas próximas seções, entraremos em mais detalhes especialmente sobre o Goldvarb X, que utilizamos em nossas pesquisas. 2. APARATO ESTATÍSTICO PARA PESQUISAS SOCIOLINGUÍSTICAS – DO VARBRUL AO GOLDVARB X O uso dos computadores de grande porte nas pesquisas variacionistas começou em 1960, na mesma época do surgimento da Sociolinguística. Os dados linguísticos eram rodados durante dias e o registro era feito em cartão perfurado. Com a inovação dos computadores de pequeno porte em ambientes _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 39 MS DOS, o uso de programas estatísticos para o tratamento da variação linguística foi se aperfeiçoando. Surge, então, o Varbrul (1988-1989), composto por um pacote de programas estatísticos para análise de dados linguísticos. Foi desenvolvido para ser rodado em versões antigas de sistemas operacionais (ou plataformas), como o sistema operacional MS DOS (cf. Figura 1), de forma que havia a necessidade de juntar os resultados obtidos por cada um dos programas (CHECKTOK, READTOK, MAKECELL, TVARB, CROSSTAB, TSORT) para se chegar aos resultados finais, de frequências relativas (rodadas percentuais) ou de frequências absolutas (rodadas de pesos relativos) de ocorrência de dada variante de uma variável linguística. Assim, a quantidade de injeção de dados e de processamento das rodadas era limitada. Para programar a rodada dos dados, era necessário utilizar esses diversos programas, até alcançar os resultados. Figura 1: Janela do MS DOS Em 1992, com a inovação do Windows, dobra-se a capacidade de injetar e rodar dados, mas sem mudanças de princípios de uso dos programas. Em 2001, com o surgimento do Goldvarb X, rodam-se os dados de programação _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 40 apenas escolhendo as formas de aprimoramento dos resultados (amalgamações/ tabulações). O Goldvarb X é uma versão “amigável” de um pacote de programas estatísticos desenvolvidos especialmente para área de humanas na década de 60 – o Varbrul (Sankoff & Rousseau, 1988-89). Esse programa foi desenvolvido por matemáticos e linguistas renomados, de forma que é um instrumento poderoso no tratamento de um grande volume de dados. Passou a ser muito utilizado no campo da linguística, mais especificamente na Sociolinguística Quantitativa, porque possibilita análise de um grande volume de dados em função de fatores sociais e linguísticos. Isso significa que os limites dos resultados da pesquisa se confundem com os limites do pesquisador, e não com os limites da pesquisa em si, pois as ferramentas de análises proporcionam infindáveis (ainda não sabemos os limites das possibilidades de análises) possibilidades de análises. Com a evolução dos programas computacionais, o Goldvarb X (cf. Figura 2) trouxe, em um só ambiente, todas as ferramentas para manipular e medir os dados de forma mais veloz e compatível com os sistemas operacionais que vigoram desde os anos 90, como o Windows e o Macintosh. Figura 2: Janela do Goldvarb X _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 41 Segundo Scherre (2006, p. 1), eleger os programas Varbrul para o tratamento quantitativo de fenômenos linguísticos significa admitir que nos termos de Sankoff (1988), duas ou mais variantes do fenômeno sob análise se distribuem de forma recorrente no discurso e exibem tendências regulares em função de aspectos linguísticos e nãolinguísticos, sem, todavia, apresentar comportamento variavelmente categórico ou determinístico, fato que definiria uma distribuição complementar ou especialização de significado ou de função em termos de aspectos do contexto linguístico e/ou social. Em outras palavras, a variação é ORDENADA, mas com algum grau de aleatoriedade na sua distribuição. Além do mais, o pesquisador que se apropria desta ferramenta está particularmente interessado em buscar os EFEITOS com relação às variantes do fenômeno analisado. Assim, o programa Varbrul auxilia o pesquisador porque: (a) faz análises multivariadas e controla os efeitos de outros fatores; (b) realiza testes de significância, uma vez que não é possível saber se todos os fatores são significantes antes de testar o Varbrul; (c) explicita um modelo teórico; (d) é fácil para testar hipóteses alternativas. 3. PESQUISA DE CAMPO, TRANSCRIÇÃO E COLETA DE DADOS As pesquisas sociolinguísticas podem ser feitas com a fala ou a escrita. Mas é o vernáculo (a fala menos monitorada) o lócus primeiro e mais importante para a Sociolinguística, ainda que já haja pesquisas com falas mais monitoradas. Entretanto, tanto em estudos sobre a fala como sobre a escrita, considera-se um continuum que vai desde o menor até o maior grau de monitoramento, dependendo do objetivo da pesquisa. De forma geral, para os dados gravados a partir da fala vernacular (mais natural possível), o ideal é que o pesquisador possa aleatoriamente escolher seus colaboradores para a realização de coleta de dados. Isso significa ir a campo, ou seja, escolher uma comunidade a ser pesquisada, contatar pessoas e realizar gravações de fala natural. Também é importante que o pesquisador realize esses procedimentos de forma ética, em acordo com seus colaboradores e com os conselhos de ética correspondentes às suas instituições acadêmicas. Para isso, os colaboradores devem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que autoriza o uso das entrevistas sem a identificação e a divulgação de informações pessoais. O contato com os colaboradores por meio de um mediador da própria comunidade também colabora para o surgimento do vernáculo e de conversas mais informais que podem ser gravadas para o estudo. Segundo Labov (2008, p.243-244), _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 42 o objeto de estudo “pode ser conversas espontâneas, entrevistas sociolinguísticas, narrativas formais, gêneros escritos diversos, mas o objetivo central é o entendimento do vernáculo, o estilo menos monitorado da fala. “o estilo em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento da fala”, “onde as relações fundamentais que determinam o curso da evolução linguística podem ser vistas mais claramente”. É justamente na fala e nas narrativas de experiência pessoal que encontramos as possibilidades reais de variação e mudança linguística das línguas, objeto de pesquisa da Sociolinguística. Para a constituição da amostra, nem sempre a aleatoriedade é possível, porque os colaboradores podem ser escolhidos também por redes de amizade. No entanto, é imprescindível que o pesquisador não manipule a coleta de dados e, almejando a ética da pesquisa, tente interferir o mínimo possível nas realizações linguísticas na hora da gravação, não informando sobre o tipo de fenômeno que está sendo analisado, por exemplo, para não enviesar a fala dos colaboradores. Além disso, a distribuição dos colaboradores deve buscar o equilíbrio em todas as células, como se pode observar no Quadro 1 a seguir. Quadro 1: Distribuição de colaboradores em uma pesquisa sociolinguística Idade/Escolaridade 15 a 25 anos 30 a 45 anos Acima de 60 anos Total 36 colaboradores Ensino Fundamental 2 homens 2 mulheres 2 homens 2 mulheres 2 homens 2 mulheres 12 colaboradores Ensino Médio 2 homens 2 mulheres 2 homens 2 mulheres 2 homens 2 mulheres 12 colaboradores Ensino Superior 2 homens 2 mulheres 2 homens 2 mulheres 2 homens 2 mulheres 12 colaboradores O Quadro 1 exemplifica uma forma de dividir os colaboradores com base na faixa etária, escolaridade e sexo. Assim, o corpus é composto por duas pessoas em cada célula, estratificadas em dois sexos, três faixas etárias e três graus de escolaridade, ou seja, 36 colaboradores (2 colaboradores x 2 sexos x 3 faixas etárias x 3 graus de escolaridade = 36). Segundo Tarallo (2004, p. 30) e Guy e Zilles (2007, p. 112), a quantidade ideal em cada célula é de 5 colaboradores por combinação de fatores extralinguísticos para que se possa comparar os indivíduos entre si e descobrir idiossincrasias. Como nem sempre é possível fazer muitas entrevistas, os pesquisadores trabalham entre o ideal e o real dentro da pesquisa de campo. Para obter uma gravação de boa qualidade, é de suma importância utilizar bons equipamentos. Atualmente os gravadores digitais e até alguns smartphones podem ser render um bom áudio. Também é importante ter um computador com boa velocidade e com sistema operacional Windows ou _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 43 Macintosh. Não temos notícias do funcionamento do Goldvarb X com o sistema Linux. Outro equipamento imprescindível nas pesquisas é a máquina fotográfica, que também pode ser a do celular ou smartphone, porém, para boas imagens, o ideal é uma câmera. Os dados devem ser gravados, de preferência, com formato MP3, que é mais compacto que outros formatos. O ideal é transferi-los para o computador antes de fazer a transcrição. Não é necessário um programa específico para rodar o áudio, especialmente se gravado em MP3. Depois das gravações feitas, geralmente em torno de uma hora, de todos os colaboradores selecionados, o próximo passo é a transcrição desse corpus, que consiste em escrever tudo o que foi dito na gravação, respeitando as características orais mais comuns do dialeto em análise e salvando como um arquivo de transcrição em formato .doc. Os modelos de transcrição de dados também dependem da natureza da pesquisa. Em pesquisas variacionistas, geralmente não são marcados elementos extralinguísticos ou paralinguísticos como nas pesquisas interacionais, por exemplo. Na transcrição convencional, não é necessário fazer uma transcrição fonética, a não ser que o fenômeno estudado seja fonético/fonológico. A partir da transcrição, o pesquisador poderá levantar e coletar os dados do fenômeno em análise com seus respectivos contextos para fins de observação qualitativa e mais apurada dos fatores envolvidos naquele fenômeno. Depois de escolhido o fenômeno linguístico a ser analisado, e de posse da transcrição, o pesquisador percorre o texto em busca das ocorrências em análise. Quando encontrados, os dados podem ser destacados em um arquivo a parte, o arquivo de dados, para, em seguida, ser copiado, gravado com extensão .tkn e rodado posteriormente no programa. É importante que cada dado encontrado seja destacado. Cada pesquisador encontra uma solução diferenciada a depender de seu estilo de organização. Também é relevante frisar que cada dado deve ser transferido (copiado) para o arquivo de dados na sequência em que aparecer na conversa gravada, com uma quantidade razoável de contexto, para que o pesquisador possa analisá-lo de uma forma mais independente do arquivo de transcrição. Assim, cada dado deve ser transferido junto ao seu turno de fala, ou pelo menos, cercado de um ou dois períodos desse turno de fala. Segue um exemplo de arquivo de dados de uma pesquisa sobre a segunda pessoa do singular: G: Foi TU que foi lá fora pegá M: ô Giulia, qual que CÊ acha do quarto da tia, não pode ir lá vê! G: que dia que CÊ nasceu? Gi: era porque VOCÊ era criancinha. M: VOCÊ tem quantos anos? :...CÊ tem quantos anos? M: 2007então/ah, tá/. É, 2007, se ele tem sete anos então é de 2007.CÊ nasceu em 2007. :...CÊ faz aniversário... Gi: é assim: VOCÊ fala, fala quantos números dois mais dois,né?Aí ninguém sabe nem quan.., aí ajuda ele assim fazendo a conta. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 44 M: a gente põe números, mas vai fazendo quantos números VOCÊ quiser, :... mas {init}/dois/ VOCÊ quer... G: CÊ vai? Gi: será que ela...VOCÊ acha que ela é mermo uma velhinha normal, assim, bem gentil? G: CÊ acha que ela uma costureira? Gi: ah, VOCÊ acha, todo mundo acha que ela é costureira? Gi: VOCÊ acha que ela é uma grande aventureira? G: CÊ não viu o marido dela não? M: fazer como, CÊ como que mexe, CÊ solta pipa {init}, como que {init} G: pra montar pipa, pega pipa, comprar pipa já vem pronta, ou se VOCÊ quiser fazer... Nesse exemplo de arquivo de dados, podemos perceber algumas características importantes: a) os pronomes de segunda pessoa do singular aparecem em caixa alta; b) os turnos de fala são curtos; c) antes das frases, há apenas algumas letras. As letras que aparecem antes dos turnos de fala, precedidos por dois pontos, servem apenas para representar o colaborador e diferenciá-lo dos demais. Isso é um tipo de controle do pesquisador sobre os colaboradores. Os turnos de fala são curtos, mas são suficientes para uma análise do contexto em que o dado aparece. Os pronomes estão em caixa alta porque são os dados em análise. Geralmente, escrevemos os dados em análise de forma a se destacar no escopo de todo corpus, a fim de localizar o dado mais facilmente das demais informações transcritas no texto. Mais adiante trataremos com mais detalhes da codificação. 4. ARQUIVO DE ESPECIFICAÇÃO OU CODIFICAÇÃO DOS DADOS O arquivo de especificação é um arquivo pessoal para facilitar a codificação dos dados, uma vez que não é possível lembrar-se facilmente de todos os códigos de todas as variáveis de um estudo. Por isso, é importante atribuir códigos mnemônicos para cada variante das variáveis independentes e da variável dependente. Se a variável social é escolaridade (fundamental, médio ou superior), por exemplo, fica fácil lembrar que o código F é para fundamental, M é para médio e S é para superior. Também no arquivo de especificação, o pesquisador pode explicitar as hipóteses para o entendimento do fenômeno analisado e descrever os grupos de fatores considerados relevantes, apresentando síntese e exemplos de cada um dos fatores com todas as variantes no arquivo de especificação. Para cada grupo de fator ou variável independente, deve haver uma hipótese que norteia a intuição de que aquela variável pode ser importante para o estudo de determinado fenômeno linguístico. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 45 A ordem das variáveis independentes pode variar, mas a primeira posição deve ser ocupada sempre pela variável dependente, ou seja, pelo fenômeno linguístico escolhido, porque as variáveis independentes são interpretadas em função da variável dependente. Sugerimos a codificação de todas as variáveis sociais primeiro e depois das variáveis linguísticas ou vice-versa. Isso facilita a leitura dos dados pelo pesquisador, porque, para o programa, essa ordem não faz diferença. No Quadro 2 a seguir, pode-se observar um exemplo de arquivo de especificação de uma pesquisa sobre variação do ‘nós’ e do ‘a gente’. Quadro 2: Exemplo de arquivo de especificação Variável dependente Alternância ‘nós’ e ‘a gente’ Variáveis independentes sociais Sexo Faixa etária Nível de Escolaridade Variáveis independentes linguísticas Preenchimento do sujeito Função sintática Variantes N – Nós G – A gente Variantes H – Homem M – Mulher J – de 15 a 30 anos A – de 31 a 49 anos I – acima de 50 anos F – Fundamental M – Médio S – Superior Variantes e – explícito i – implícito s – sujeito d – objeto direto i – objeto indireto n – adjunto adnominal v – adjunto adverbial 5. COMO CODIFICAR OS DADOS NO PROGRAMA Depois da pesquisa de campo, das entrevistas e das transcrições no formato .doc, sugerimos que os dados do fenômeno linguístico escolhido sejam realçados por meio da caixa alta em todas as ocorrências, como exemplificado anteriormente, pois o uso de itálico, sublinhado ou negrito não é reconhecido pelo programa. Após essa marcação com caixa alta, o texto deve ser copiado e colado no Goldvarb X. Nesse momento, há duas opções: (i) copiar e colar no programa apenas os trechos ou contextos discursivos nos quais aparecem os dados linguísticos, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 46 conhecido como arquivo de dados; (ii) copiar e colar a entrevista inteira no programa. As entrevistas podem ser digitadas no Word e depois copiadas no programa, mas o ideal é que a codificação seja feita diretamente no Goldvarb X. Segundo Scherre & Cardoso (2010, p.4), é SEMPRE preferível não codificar os dados no Word porque você pode ter problemas imprevisíveis. Se você for digitar os dados extraídos de jornais ou revistas, por exemplo, é preferível fazer isto diretamente na janela de dados do Goldvarb, que tem um editor com comandos semelhantes, mas não idênticos, aos do Word. No Goldvarb X, cada variável deve ser codificada em uma coluna. A coluna corresponde a cada espaço/letra em sequência, ou seja, nesta palavra sequência, cada uma das letras ocupa uma coluna subsequente, sendo a primeira coluna ocupada pela letra da variante de determinada variável linguística. Se a codificação é o sexo do colaborador, homem ou mulher, e o código para homem é H, não se pode atribuir outro código para esse fator. Os códigos podem ser repetidos apenas para variáveis (ou fatores) diferentes, mas, de preferência, sem estar em duas colunas seguidas, porque pode causar confusão para o pesquisador no momento da leitura dos dados. Qualquer letra do computador pode ser um código, mas não é recomendado utilizar os parênteses e a barra invertida, pois esses caracteres têm um significado para o programa. Assim, também é imprescindível evitar parênteses nas entrevistas digitadas no Word, porque, ao copiá-las para o programa, o parêntese é interpretado como início da codificação. O “abre parênteses” significa, para o programa, uma localização de “dado”; a sequência de caracteres significa os símbolos, as variações dentro de cada fator em que o dado será medido. Isso quer dizer que o primeiro fator é a variável em análise, entre as variantes do fenômeno linguístico estudado. Os demais caracteres serão os símbolos, indicando fatores sociais como idade, sexo, escolaridade, ou fatores linguísticos como função sintática, tipo de referência, preenchimento do sujeito. Assim, cada dado será codificado, o que significa que, para cada fator, será escolhido um conjunto de símbolos que simbolizarão cada variante dentro daquele fator e esse conjunto de símbolos inseridos no conjunto de fatores é o próprio arquivo de condições. Como mostrado nas seções 3 e 4, para codificar esses dados, o mais indicado é escolher, no arquivo de condições, símbolos mnemônicos, que sejam fáceis de memorizar, para que a codificação fique mais ágil. A escolha, portanto, é do pesquisador, e deve ser facilmente recuperada. Por isso é essencial registrar todos esses códigos no arquivo de especificação para futuras consultas, como visto na seção 4. Tendo como base o Quadro 1 da seção 4, com as seis variáveis, incluindo a dependente e as independentes, os códigos devem ocupar as seis colunas na codificação do programa. Assim, um dado de a gente (G) na entrevista de uma _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 47 mulher (M), adulta acima de 30 anos (A), do ensino superior (S), na posição de sujeito (s) e com sujeito explícito (e), seria codificado no programa da seguinte maneira, conforme a Figura 3: (GMASes Entrevistada: Argentina, do Uruguai. Aqui A GENTE está mais perto da Figura 3: Janela da codificação dos dados no Goldvarb X A partir do arquivo de dados anteriormente exemplificado, podemos notar, no canto esquerdo das linhas, um “abre parênteses” com caracteres, seguidos de um espaço em branco e depois as frases ou períodos de turno de fala. Depois dos dados codificados, é possível fazer as primeiras rodadas e ver os primeiros resultados, em porcentagem, que são as frequências relativas. Posteriormente, após correções efetuadas a partir dos erros de codificação ou de organização das variantes, são apresentadas as frequências absolutas ou pesos relativos, que dão uma margem de segurança para o pesquisador partir para a interpretação e análise. Assim, a codificação dos dados é um passo importante para a interpretação estatística do programa, que fornecerá as frequências com base nas quais o pesquisador implementará as interpretações linguísticas. É importante conhecer e entender as extensões do programa Goldvarb X, que têm funções diferentes e são detalhadas por Scherre & Cardoso (2010, p. 4): _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 48 Os arquivos automaticamente lidos pelo Goldvarb têm extensões de três caracteres, precedidos de ponto final imediatamente unido ao nome do arquivo, os quais caracterizam os tipos de arquivos, a saber: .tkn, para arquivo de dados. .res, para arquivo de resultados (símbolos dos fatores, se for usada a opção SHOW FACTOR SPECIFICATIONS; percentagens, pesos relativos, tabulações cruzadas etc). .cnd, para arquivo de condições (instruções para as diversas etapas de análise). .cel, para arquivo de células (parâmetros para o cálculo dos pesos relativos). Todos os resultados e informações gerados pelo Goldvarb durante uma sessão ficam em um arquivo com a extensão .res nas janelas, na aba abaixo no computador. Se quiser mantê-lo, você tem de salvá-lo, de preferência com um nome sugestivo, nas pastas desejadas. Os arquivos de extensão .cnd, criados por você nas diversas sessões de análise, também devem ser salvos, para eventuais usos futuros. Todas essas extensões somente são geradas a partir da codificação dos dados no programa. Nas próximas seções, veremos como são feitas as rodadas de frequência relativa e, posteriormente, as de peso relativo. 5.1 Tutorial do Goldvarb6 Após ter codificado todos os dados ou parte deles (o que implica necessariamente ter conhecimentos teóricos e metodológicos da Teoria da Variação e da Mudança Linguística de linha laboviana em algum grau), clique em TOKENS e selecione a opção GENERATE FACTOR SPECIFICATIONS (você pode também digitar e/ou modificar o “arquivo de especificação” do fenômeno sob análise na janela factor specification, depois de abrir o programa Goldvarb). Será aberta uma pequena janela com a pergunta GENERATE FACTOR SPECIFICATIONS BY SCANNING TOKENS? Clique em OK se você quer gerar um arquivo de especificação a partir da sua codificação. Aparecerá uma pequena janela com a confirmação e com o número de dados. A seguir, clique em TOKEN e em SHOW FACTOR SPECIFICATIONS para ver o arquivo de especificação gerado. Inicialmente, as especificações geradas são colocadas na parte inferior do computador em um arquivo de nome Untitled.res. Se você quiser, salve-o com um nome sugestivo, mantendo a extensão res. Feito isto, todos os resultados percentuais e de pesos relativos gerados em uma sessão serão impressos neste arquivo (com o tempo, e a depender do momento, você escolherá a melhor forma de salvar seus resultados). Observe atentamente o conteúdo do arquivo gerado para ver se há algum erro óbvio. Se houver, medidas adequadas devem ser tomadas. Entre 6 Todo o tópico 5.1 foi retirado do texto “Guia rápido de instalação e uso do Goldvarb-X”, de Scherre e Cardoso (2010, p. 5-6). _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 49 elas, está a volta aos dados para fazer a correção ou a alteração do arquivo de especificação por meio da janela factor specification, antes de executar o passo o próximo passo. Agora, clique em TOKENS e em CHECK TOKENS. Aparecerá uma pequena janela confirmando que está tudo OK e quantos dados e quantas linhas foram checados. Caso haja algum problema com relação à codificação ou aos grupos de fatores, você deverá rever os dados e as codificações; e, então, repetir os passos 1, 2 e 3 até conseguir a mensagem CHECK OF TOKENS COMPLETED. O próximo passo é selecionar TOKENS e clicar em NO RECODE, o que significa que você verá uma primeira análise, com os resultados em função da codificação feita por você, sem nenhuma alteração (no futuro, você verá que as possibilidades de alterações virtuais são infinitas). Aparecerá uma janela com o ARQUIVO DE CONDIÇÕES BÁSICO, sem modificações. Vá até esta janela e salve o arquivo, clicando em FILE e, depois, em SAVE AS. Este arquivo deverá receber a extensão cnd (que é interpretado pelo programa com um arquivo de condições para as análises quantitativas). Após salvar o arquivo de condições, clique em CELLS, selecione LOAD CELLS TO MEMORY. O programa perguntará, em uma janela pequena (sempre em inglês), se você quer gerar um arquivo de células e, consequentemente, o arquivo de resultados a partir do arquivo de condições (cnd) e do arquivo de dados (tkn) visíveis na tela do computador. Clique em YES e aparecerá uma janela em que você escolherá as variantes e sua ordem (na análise pesos relativos de duas variantes, o cálculo dos pesos relativos será feito tendo com base a primeira variante – “a aplicação da regra”, no seu sentido técnico). Por exemplo: os símbolos TV podem se referir, respectivamente, aos pronomes TU e VOCÊ em uma pesquisa sobre pronomes de segunda pessoa. Se você quer os resultados dos pesos relativos em relação ao pronome VOCÊ, deve escolher a sequência VT e, em seguida, clicar em OK. Automaticamente serão geradas as janelas com o arquivo de células e com o arquivo de resultados. Lembre-se SEMPRE de salvá-los, se quiser mantê-los. Neste primeiro momento, o mais provável é que você vai gerar a primeiríssima rodada, com todas as variantes da variável dependente (até 9 para o cálculo de percentagens) e com todas as variáveis independentes codificadas. Analise detalhadamente o arquivo .res para você começar a sentir os resultados de sua pesquisa, antes de partir para uma análise de pesos relativos. Até chegar a uma rodada de pesos relativos, o usual é passar por inúmeras correções, com o auxílio da opção FACTOR SPECIFICATION DIALOG, que fica na janela TOKENS. São também auxiliares importantes nos processos de correção de erros, as opções FIND AND REPLACE ou CROSS-REFERENCED FIND, que também ficam na janela TOKENS. Caso isto não tenha sido necessário, vá par o passo 7. Caso tenha sido, faça as devidas correções, recomece todo o processo, refaça a rodada de percentagens e faça as alterações necessárias no arquivo de condições básico, devidamente renomeado, para gerar o arquivo apropriado e necessário a uma rodadas de pesos relativos, um arquivo de extensão .cel (que não precisar ser _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 50 salvo, mas tem de estar necessariamente na memória para a produção de uma rodada de pesos relativos). Após salvar o que desejar manter, confira os resultados na janela de RESULTS (extensão .res). Caso não haja problemas, na janela principal, clique em CELLS e, em seguida, em BINOMIAL UP AND DOWN para obter os resultados finais com pesos relativos, step up e step down. Se houver algum KNOCKOUT (fator que favorece apenas uma das variantes), procure solucionálo a partir de reflexões linguísticas e, depois, realize os passos 5, 6 e 7 novamente. Sempre que houver KNOUCKOUTS, eles devem ser ‘resolvidos’ e todos os passos repetidos. LEMBRE-SE SEMPRE DE SALVAR TODAS AS JANELAS COM NOMES PEQUENOS E SUGESTIVOS. Arquivos de células nunca precisam ser salvos. É fundamental que sejam salvos os arquivos .cnd (para eventuais usos futuros) e os arquivos de resultados relevantes (.res). Cada pessoa vai encontrar o seu melhor jeito de salvar os arquivos e de organizá-los. Caso haja necessidade de recodificar algum fator ou grupo de fatores, você pode clicar em TOKENS e, em seguida, em RECODE SETUP. Aparecerá uma janela para modificações no arquivo de condições e outra janela em que aparecerá, ao final da operação de recodificação, o novo arquivo de condições. Salve-o, clicando em FILE e em SAVE AS. Todavia, esta etapa pode ser feita de forma manual, sem usar o RECODE SETUP. Consideramos ser esta a MELHOR opção e é esta a opção que será sistematicamente usada pela(s) professora(s) no minicurso. Você pode editar o arquivo de condições simples que o programa cria e fazer nele todas as alterações que quiser, usando os comandos apropriados. Todas as linhas com “ponto e vírgula” na primeira coluna são interpretadas como comentários para a documentação dos passos. O abre parêntesis é o “comando inicial” do arquivo de condições e o fecha parêntesis é o “comando final”. Todas as instruções relevantes têm de estar entre “abre e fecha parêntesis”. Digitados todos os comandos, é aconselhável salvar o arquivo de condições com outro nome, para uso futuro. Uma opção também interessante e muito útil é o CROSS TABULATION, na janela CELLS. Esta opção permite fazer o cruzamento de variáveis independentes, para a confirmação ou descoberta de eventuais desequilíbrios distribucionais e/ou de efeitos não independentes. Esta opção só funciona se houver na memória um arquivo de células. Assim, após o passo 6, clique em CROSS TABULATION e, então, digite na janela exposta os números de grupos de fatores ou variáveis independentes que você quer cruzar, sempre aos pares. Os números a serem digitados são os que aparecem fora dos parêntesis nos arquivos de resultados (dentro dos parêntesis aparecem os números das colunas do arquivo de dados, arquivo .tkn). A primeira escolha aparecerá na linha (na horizontal) e segunda escolha aparecerá na coluna (na vertical). Se um determinado grupo tiver muitos fatores, sugerimos que você o escolha sempre em segundo lugar, para facilitar a visualização. Escolha a opção Text (que já vem previamente marcada) ou Picture para indicar o formato da saída dos resultados, colocados no arquivo .res, com resultados dos percentuais da rodada em curso. Clique em OK! Agora, veja e interprete os resultados da tabulação _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 51 cruzada no arquivo .res. A opção TEXT gera resultados no formato texto, que podem ser modificados por você, antes de serem impressos ou eventualmente copiados para outro arquivo texto. A opção PICTURE gera uma saída no formato de uma figura, que não pode ser alterada, mas pode ser também impressa ou copiada para outro texto. A opção CROSS TABULATION gera tabulações cruzadas em percentuais. Caso você queira gerar pesos relativos de tabulações cruzadas, você terá de fazer isto por meio de um arquivo de condições, que permite também a criação de novos grupos de fatores a partir de grupos previamente codificados. 6. LEITURA DOS DADOS LINGUÍSTICOS E ESTATÍSTICOS Para a interpretação dos dados, há duas etapas que devem ser cumpridas. A primeira é a interpretação estatística, que é o entendimento de como o programa funciona e o que significa cada simbologia matemática dentro da teoria da Sociolinguística Variacionista. Posteriormente, o pesquisador é o único responsável pela interpretação linguística dos resultados. Para isso, é necessário deter a teoria, dominar e entender os próprios dados. No contexto da explicação dos resultados em textos e apresentações orais, o pesquisador deve ter cuidado com a simbologia irrelevante para a audiência, pois os códigos servem apenas para o programa interpretar os dados e fornecer os resultados que serão analisados. O pesquisador precisa, portanto, saber demonstrar esses resultados com base nas teorias linguísticas e sociais subjacentes ao fenômeno em estudo. 6.1 Resolução dos nocautes e outras recodificações O termo nocaute significa que o fenômeno linguístico não variou em algum contexto. Os contextos que favorecem categoricamente uma ou outra variante devem ser entendidos e interpretados, porque também são importantes para a análise. O nocaute pode ocorrer devido à quantidade (no caso) pequena de dados ou devido a um determinado contexto em que a variação não seja possível. De qualquer forma, a ocorrência de um nocaute sempre deve ser interpretada e analisada de forma qualitativa, pois, sem dúvidas, propicia reflexões acerca do fenômeno linguístico ou da própria análise, mesmo porque o que é categórico para um contexto pode ter efeito sobre outros. Segundo Scherre (2006, p. 2), quando há fatores de efeito categórico em uma dada variável independente ou grupo de fatores, os dados envolvidos têm de ser retirados da rodada para cálculo dos pesos relativos, mas não da análise linguística, por meio do comando NIL. O comando NÃO DE APLICA deve ser usado quando os dados sob análise são medidos em um dado grupo, mas não em outro, por razões de um dado critério de um _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 52 dado grupo não ser relevante para um certo subconjunto de dados. Assim, o pesquisador deve ter critérios pertinentes para a tomada de decisão acerca dos efeitos categóricos. Em suma, para solucionar os nocautes, há duas opções: (i) retirar os dados ou (ii) amalgamá-los de acordo com funções semelhantes ou segundo a escolha de outras recodificações. Para retirar os dados, basta usar o comando NIL no arquivo de condições, conforme exemplificamos a seguir: 1) Rodada normal ( (1) (2) ) 2) Para retirar dois fatores ( (1 (nil (or (col 2 c) (nil (col 2 d)) (2) ) 3) Para retirar apenas um fator ( (1 (nil (col 2 c))) (2) ) É preciso dar espaço em cada abertura de parênteses e em cada entrada de código. Para finalizar, feche todos os parênteses sem espaço. Essa é a premissa para qualquer ação no arquivo de condições, ou seja, todo parêntese aberto deve ser fechado. As exemplificações acima querem dizer: 1) rodada normal, em que todos os dados serão rodados, medidos em função das colunas 1 e 2, ou seja, serão medidos nos fatores 1 e 2, com todos seus fatores; 2) rodada para retirar dois fatores categóricos (nocaute), porque não houve variação em nenhum fator. Nesse exemplo, lemos que foram retirados da coluna 2 os fatores “c” e “d”, justamente porque há a palavra “or”; 3) rodada para retirar apenas o fator “c” da coluna 2. Nesse caso, só há a palavra “nil”. Também é possível juntar ou amalgamar fatores semelhantes, na mesma variável ou em variáveis diferentes. Tudo isso dependerá dos resultados e dos efeitos categóricos de determinada pesquisa. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 53 6.2 Rodada de peso relativo Depois do resultado em porcentagem, é necessário submeter os dados à rodada de peso relativo, porque as frequências brutas podem estar enviesadas, tendo em vista que seu cálculo não leva em conta as inter-relações existentes entre as variáveis que atuam numa regra variável (NARO, 2003, p. 19, apud Scherre, 2012). O Goldvarb X mede o efeito relativo dos fatores das variáveis independentes ou grupo de fatores e projeta pesos relativos para cada fator de cada variável independente em sucessivas análises, que significam frequências corrigidas (SCHERRE; NARO, 2010, p.74). Os pesos relativos são calculados tomando a média de uma dada variante como referência, o seu input, e são grandezas que se situam entre zero e um. Os efeitos de favorecimento ou não favorecimento das variantes da variável dependente analisada, medidos pelos pesos relativos, devem ser observados em função de sua hierarquia dentro da cada etapa de análise pelo programa e não em termos de suas grandezas absolutas (SANKOFF, 1988, apud SCHERRE, 2012). Para isso, o parâmetro da análise de peso relativo é o nível de significância estatística de 0.05, ou seja, o Goldvarb X seleciona como estatisticamente significativas as variáveis independentes com o nível de significância acima de 0.05, que implica dizer que variáveis independentes selecionadas dão conta, do ponto de vista estatístico, de parte da variação que está sendo analisada (SCHERRE, 2012, p. 4). Em contrapartida, variáveis com peso relativo abaixo de 0.05 não são selecionadas estatisticamente, o que significa dizer que não condicionam o uso de uma ou outra variante de determinado fenômeno linguístico. Todavia, os grupos de fatores não selecionados, sem significância estatística, podem ser muito importantes na discussão linguística, uma vez que podem revelar aspectos fundamentais a respeito da análise feita (SCHERRE, 2006, p. 2). 6.3 Step up e step down Nessa rodada de pesos relativos, o programa mede cada variante (possibilidade de ocorrência do fenômeno) de cada variável (fator de influência) em função das demais possibilidades. Se estamos realizando uma pesquisa sobre a variação tu/você em função do sexo e da idade, então cada tu e cada você que aparecerem serão medidos em função das demais possibilidades, ou seja, em função das influências e das probabilidades. Assim, saberemos qual a maior possibilidade de um tu ou de um você aparecer em função das faixas etárias estudadas e em função dos sexos estudados. Step up é a primeira medição e o step down é a comprovação do resultado. Analogicamente, podemos inferir que seria, respectivamente, uma _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 54 operação de divisão e depois a tiragem da prova real ou prova dos nove, em que se multiplica o resultado pelo fator divisor. Na leitura do resultado de pesos relativos, temos as rodadas que mostram o step up, que é a medição de cada fator em separado, depois a entrada de cada fator, um a um, na ordem de apresentação desses fatores nas colunas de codificação, calculando a influência que cada um desses fatores exerce. Na sequência, vem o step down, que é a retirada de cada um desses fatores, num movimento inverso. Isso nos permite o acompanhamento dos cálculos que o programa faz para medir as influências até chegar aos resultados. Nesses passos, o programa vai selecionar os fatores que influenciam significativamente a variação e vai descartar os fatores que não são tão significativos. É interessante uma boa leitura da seleção e do descarte em função de todo o movimento dos fatores no step up e no step down. Muitas vezes, o pesquisador pode fazer muitas inferências e até mesmo ter interpretações precisas decorrentes da observação deste movimento. Ainda sobre este processo, o step up e o step down, normalmente, vão selecionar e excluir os mesmos fatores. Se isto não ocorrer, pode significar uma não ortogonalidade ou o enviesamento (sobreposição) dos fatores. 6.4 Convergência da rodada principal Essa seara é puramente matemática. A convergência é resultado de uma relação numérica, em que o programa realiza medições de cada rodada, de cada entrada de fator com a rodada anterior, checando os números numa relação em função deles mesmos, buscando ajustá-los internamente, níveis significativos. Quando há convergência, significa que os modelos matemáticos utilizados para a realização das medições são adequados aos fatores e à variação. Quando não há convergência, a interpretação pode ser: a) um número grande de fatores e de variantes dentro de cada fator, que fazem o programa ultrapassar 21 rodadas. Isso raramente ocorre e pode ser facilmente resolvido pelo pesquisador, bastando rodar menos fatores ou agrupálos em cada rodada de pesos relativos; b) não ortogonalidade dos dados ou dos grupos de fatores. Isso pode ocorrer nos casos de fatores sobrepostos ou enviesados. Assim que o programa começa a fazer as rodadas de peso relativo, aparece um box com a porcentagem, indicando o processo das rodadas. Quando acusa 100%, os resultados são explicitados. A demora nesse procedimento depende da quantidade de rodadas que o programa tem de fazer em cada análise. Assim, o programa busca sempre a convergência da análise e só para de fazer as rodadas nesse momento. Quando não se obtém convergência, é de suma importância que o pesquisador acompanhe cada rodada a fim de identificar onde, como e porque não houve a convergência. Nem sempre é possível resolver esse impasse, o que não desqualifica os resultados, mas é preciso explicar no texto que a rodada não teve convergência. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 55 CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao fazer um paralelo entre o avanço da Sociolinguística e o avanço da tecnologia, é perceptível como os computadores, gravadores e programas estatísticos têm auxiliado a pesquisa variacionista. A última versão do VARBRUL para o ambiente Windows se denomina Goldvarb X e para computadores Macintosh, da Apple, se denomina Goldvarb Lion (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2012). Diferentemente do VARBRUL 1988/1992 (PINTZUK, 1988), o GOLDVARB X não tem limites de fatores em cada variável independente e não tem limites de células (conjunto de contextos idênticos codificados), mas não possui ainda um módulo de análise de três, quatro ou cinco variantes (análise multinomial) em termos de pesos relativos, apresentando, portanto, somente os cálculos das frequências absolutas e relativas brutas nesse caso (SCHERRE, 2012). Por considerarmos a ferramenta Goldvarb X uma excelente aliada das análises de fenômenos linguísticos variáveis, estudados principalmente no escopo da sociolinguística variacionista, este texto objetiva ser uma introdução e também um texto de consulta no desenvolvimento de pesquisas sociolinguísticas. Como expressado anteriormente, este programa estatístico, teoricamente, não apresenta limites, sendo que o suposto limite de análise está diretamente relacionado apenas aos nossos próprios limites, enquanto pesquisadores. Somente com o uso de programas estatísticos é possível estudar a variação linguística de forma sistemática e, portanto, explicar padrões linguísticos e sociais regulares, mesmo porque a quantidade de dado geralmente é grande. Assim, além de auxiliar em diversas pesquisas, objetivamos também divulgar ainda mais este programa, que em muito tem nos auxiliado em nossas próprias pesquisas. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 56 REFERÊNCIAS GUY, Gregory R.; ZILLES, Ana M. S. Sociolinguística quantitativa – instrumental de análise. São Paulo: Parábola, 2007. LABOV, W. Padrões Sociolinguísticos. São Paulo: Parábola, 2008. MOLLICA, Maria Cecília; Braga, Maria Luiza (Orgs.). Introdução à Sociolinguística – o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003. OLIVEIRA, M. A de. Variável linguística: conceituação, problemas de descrição gramatical e implicações para a construção de uma teoria gramatical. Delta, v. 3, n. 1, 1987. PINTZUK, Susan. VARBRUL programs. 1988, inédito. SANKOFF, David. Variable rules. In: AMMON, Ulrich; DITTMAR, Norbert; MATTHEIR, Klauss J. (Orgs.) Sociolinguistics - An international handbook of the science of language and society. Berlim/Nova York, Walter de Gruyter, 1988. p.984-998. SANKOFF, David; TAGLIAMONTE, Sali A.; SMITH, E. Goldvarb X - A multivariate analysis application. Toronto/Ottawa: Department of Linguistics/ Department of Mathematics, 2005. Disponível em: <http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm#ref>. SCHERRE, Maria Marta Pereira. Aspectos metodológicos da pesquisa variacionista. Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Letras e Linguística (ANPOLL) – GT de Sociolinguística. PUCSP, São Paulo, 2006. SCHERRE, Maria Marta Pereira. Padrões sociolinguísticos do português brasileiro: a importância da pesquisa variacionista. Revista do Programa de PósGraduação em Estudos de Linguagens, UNEB, DCH, 2012. SCHERRE, Maria Marta Pereira; CARDOSO, Caroline Rodrigues. Guia rápido de instalação e uso do Goldvarb X. III Encontro do Grupo de Estudos Avançados de Sociolinguística. GEAS/LIP/UnB, Brasília, 2010. SCHERRE, Maria Marta Pereira; CARDOSO, Caroline Rodrigues; LUCCA, Nívia Naves Garcia. Goldvarb 2001 – uma ferramenta de análise variacionista para ambientes Windows. III Encontro Nacional do Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-Oeste, Brasília, 2005. SCHERRE, M. M. P; NARO, A. J. 2010. Efeitos da saliência fônica e do tempo/modo verbal na concordância verbal. In: MOLLICA, M. C. (Org.) Usos da linguagem e sua relação com a mente humana. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. p.71-77. TAGLIAMONTE, Sali. A. Analyzing sociolinguistic variation. Cambridge: University Cambridge Press, 2006. TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. Editora Ática, 2004. WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin I. Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística. São Paulo: Parábola, 2006. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 57 GLOSSÁRIO Amalgamação de fatores – Junção de fatores de determinada variável, por causa de nocautes ou por serem fatores semelhantes. Exemplo: é possível codificar as três escolaridades (fundamental, médio e superior) e depois, dependendo dos objetivos e dos resultados da pesquisa, juntar fundamental e médio x superior. No entanto, a decisão de amalgamar determinados fatores deve ser consciente e pensada, de forma que não pode ser aleatória. Amostra – Amostra de uma comunidade é um conjunto de entrevistas que devem ser aleatórias, na medida em que todos tenham iguais chances de serem selecionados, a fim de minimizar possíveis enviezamentos. Dessa forma, é possível generalizar os resultados para toda a comunidade. Arquivo de células – Este arquivo de extensão .cel é o parâmetro do programa para o cálculo dos pesos relativos. Arquivo de condições – Este arquivo de extensão .cnd é confeccionado pelo programa a partir de símbolos codificados. A partir desse arquivo é possível fazer qualquer tipo de análise ou modificação na codificação. Ex: cruzamentos, amalgamações, retiradas de fatores etc. Arquivo de dados – Arquivo de extensão .tkn. É o espaço em que estão digitados e codificados todos os dados coletados, juntamente com os trechos das entrevistas. Arquivo de especificação ou codificação – O pesquisador deve escolher um caractere para cada aplicação teórica acerca dos dados. Por exemplo, para o estudo da variação dos pronomes de segunda pessoa do singular, que é o principal fator a ser medido (geralmente, o principal fator a ser medido é o primeiro dos fatores em análise), usamos, normalmente, o caractere T para simbolizar a variante tu, e o caractere V para simbolizar a variante você. Assim, deve-se usar um símbolo para cada variante, dentro de cada fator a ser estudado. Para variáveis linguísticas e sociais, o procedimento é o mesmo. Por exemplo, podem-se utilizar os números para distinguir as faixas etárias: adolescentes de 15 a 20 anos, símbolo 1; adultos de 21 a 40 anos, símbolo 2; acima de 50 anos, símbolo 3; e assim por diante. O arquivo de especificação ou codificação é pessoal do pesquisador, por isso os símbolos devem ser mnemônicos para facilitar a lembrança de quem está fazendo o estudo. Os símbolos de todas as variáveis codificadas devem constar nesse arquivo para que o pesquisador possa recuperá-los ou conferi-los caso se esqueça. Não é aconselhável codificar direto no programa sem ter um esboço da codificação no Word, porque corremos o risco de trocar os símbolos ou de esquecer o que significa determinada codificação. Arquivo de resultado – Arquivo de extensão –res, em que constam os resultados obtidos pelo programa, tais como codificações, percentagens, pesos relativos, cruzamentos etc. Análise multivariada – Relação da interação entre todas as variáveis. O Varbrul pertence a esse modelo de análise, que mostra a influência simultânea e recíproca entre as variáveis linguísticas e sociais e o próprio fenômeno _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 58 linguístico. Tanto a variável dependente pode ter relação com as variáveis independentes, e vice-versa, como as próprias variáveis independentes podem ter relação entre elas mesmas. Tudo isso é medido pelo programa. Análise univariada – Relação de um para um (unívoca), ou seja, apenas de uma variável independente sobre a variável dependente. Coleta de dados – Coleta de todos os dados do fenômeno linguístico escolhido. Por exemplo, se o fenômeno é a concordância verbal, é necessário coletar tanto dados de presença da concordância como de ausência da concordância. A coleta deve ser feita no próprio arquivo Word. É interessante colocar os dados em caixa alta para depois submetê-los à codificação no programa. Cada ocorrência de concordância ou não concordância é computada como um dado e, portanto, deve ser codificada. Convergência – A convergência é resultado de uma relação numérica, em que o programa realiza medições de cada rodada, de cada entrada de fator com a rodada anterior, checando os números numa relação em função deles mesmos, buscando ajustá-los internamente, níveis significativos. Quando há convergência significa que os modelos matemáticos utilizados para a realização das medições são adequados aos fatores e à variação. Em termos de porcentagem, até 90% de um fator significa convergência. Mais de 90 % significa não convergência. A não convergência pode ser consequência da análise que tem muitos fatores ou grupo de fatores ou quando não há ortogonalidade (quando, por exemplo, temse um mesmo fator em mais de um grupo). Corpus – conjunto de dados ou ocorrências selecionadas e extraídas do acervo pelo pesquisador. É um conjunto de respostas amostrais (GUY e ZILLES, 2007, p. 115). Cruzamento ou cross tabulation – Cruzamento de variáveis independentes, linguísticas e/ou sociais, para a confirmação ou descoberta de eventuais desequilíbrios distribucionais e/ou de efeitos não independentes (SCHERRE e CARDOSO, 2010). Dependência dos dados – Interação dos efeitos dos fatores em consequência de uma distribuição desequilibrada. Fatores linguísticos – Fatores que compõem um grupo de fatores ou uma variável independente linguística. Por exemplo: na variável linguística “função sintática”, os fatores são sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial etc. Fatores sociais – Fatores que compõem um grupo de fatores ou uma variável independente social. Por exemplo: na variável social “sexo, os fatores são o sexo feminino e o sexo masculino. Frequência relativa – Percentagem ou porcentagem. Exemplo: 90%. Frequência absoluta – Número de dados em função do número total. Exemplos: 90/100. Grupos de fatores – Idem “variável independente”. Hipóteses – As hipóteses podem ser construídas com base na intuição de falante do linguista ou com base nas hipóteses que já foram formuladas por outros estudiosos para o mesmo fenômeno. Essa segunda opção é interessante, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 59 porque possibilita comparações equivalentes de futuras de pesquisas. Para cada variável linguística e social codificada deve haver uma hipótese antes mesmo da codificação. Há hipóteses que já são consagradas nos estudos variacionistas, como as variáveis sociais do sexo e da faixa etária e a variável linguística do paralelismo sintático, por exemplo. Geralmente, os jovens tendem a ser mais inovadores no comportamento linguístico que adultos e pessoas de mais idade, e as mulheres tendem a ser mais conservadoras do que os homens nos usos linguísticos. Com relação ao paralelismo sintático, a hipótese é de que marcas levam a marcas e zeros levam a zeros em qualquer fenômeno linguístico pesquisado. Essas são as hipóteses iniciais que guiam boa parte dos trabalhos sociolinguísticos no tocante a essas variáveis. No entanto, pode haver outros estudos que mostrem resultados diferentes, já que se trata de uma tendência, e não de um efeito categórico. Hipótese nula – Essa hipótese significa a negação da variação linguística ou dos fatores que nela interferem. O objetivo de qualquer pesquisa variacionista é refutar essa hipótese, mostrando que há de fato variabilidade linguística e que esta é condicionada por fatores linguísticos e sociais. Independência dos dados – Distribuição equilibrada dos dados e efeito uniforme dos fatores ou não interacão dos efeitos dos fatores. Input – Média corrigida. O percentual geral ou global de determinada variante é base para o peso relativo de cada fator dentro de cada variável. Por exemplo, se em determinada amostra há 70% do uso de a gente em detrimento de nós, geralmente o input será de 0,70. Se o valor do input for muito diferente dessa porcentagem global, significa que há desequilíbrio na distribuição dos fatores. Interação – Relação entre as variáveis e os fatores. As variáveis sociais têm mais interação do que as variáveis linguísticas, porque geralmente são mais dependentes e interligadas entre si. Interpretação estatística – Resultados numéricos a que o programa chega, por meio das inúmeras rodadas estatísticas. Interpretação linguística – Interpretação do linguista sobre os fenômenos variáveis que ocorrem na língua e que são mensurados quantitativa e matematicamente. Nocaute – Efeito categórico, ou seja, quando não há variação e só aparecem dados de um único fator de determinada variável independente. Log likelihood – Cálculo da verossimilhança máxima. É a medição da qualidade entre o modelo (fatores, pesos, input e o modelo logístico) e os dados observados. O valor do log likelihood varia em função da quantidade de dados e da aproximação entre as predições do modelo e os dados observados. (GUY e ZILLES, 2007, p. 238-239). Não se aplica (/) – No caso da barra, não se pode utilizá-la como código, porque ela significa não se aplica dentro da linguagem computacional do programa. Esse símbolo é utilizado quando alguma coluna fica sem preenchimento ou quando queremos marcar que, de fato, para aquele dado, não se aplica determinado fator. Isso quer dizer que apenas naquele fator não se aplica ao _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 60 dado, mas o dado é computado normalmente para outros fatores e para a distribuição geral dos dados. Nil – Comando de retirada de fatores ou variáveis da rodada estatística, dependendo do objetivo e intenção da pesquisa ou do pesquisador. Ortogonalidade – Dependência e interação entre grupos de fatores. Para haver ortogonalidade, os mesmos fatores selecionados no step up devem ser excluídos do step down, o que demonstra que a análise não está enviezada e não há sobreposição de fatores. Exemplo: Se a variável sexo foi selecionado estatisticamente pelo step up, deve também ter sido selecionado no step down, que é a comprovação do fator relevante para determinado fenômeno linguístico. Paradoxo do observador – O paradoxo do observador seria um possível enviezamento da pesquisa, uma vez que o objetivo do linguista é saber como as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente observadas. Todavia, só podemos obter esses dados por meio de uma observação sistemática (LABOV, 2008, p. 244). Peso relativo – O peso relativo, ou frequência relativa corrigida, é projetado em função das frequências relativas observadas. A distribuição dos dados é fator importante para o cálculo dos pesos relativos, mas os pesos relativos são medidos, repetimos, em termos de aumento ou diminuição em relação à média ou, se a média não é real, os efeitos são medidos na base da diferença que existe entre um fator e outro (SCHERRE, 2006, p. 1-2). O peso indica o efeito de determinado contexto sobre a probabilidade daquela variante ocorrer. Quanto mais distante a diferença dos pesos relativos de um grupo de fatores, maior a significância. Os valores do peso relativo vão de 0 a 1. Acima do ponto neutro de 0,5 significa que determinado fator é estatisticamente significativo. Abaixo de 0,5 significa que não há seleção estatística. Os valores extremos de 0 e 1 significam que não há variação, ou seja, que o efeito é categórico. Exemplo Probabilidade – Chance ou possibilidade de ocorrer determinado fator. Em análises variacionistas, é possível prever futuras ocorrências ou tendências e até mesmo o caminho da variação e da mudança linguística mediante resultados estatísticos. Range - O range é a diferença entre os fatores de maior e de menor peso relativo de uma determinada variável. Esse cálculo mostra a robustez da variável e permite comparações entre outras análises de mesmas variáveis. As comparações podem ser feitas por meio das porcentagens, dos pesos relativos, da hierarquia da seleção e também do range. Rodadas binárias – Rodadas estatísticas com variáveis linguísticas constituídas por duas variantes. Ex: 1ª pessoa do plural (nós, a gente). Rodadas eneárias – Rodadas estatísticas com variáveis linguísticas constituídas por três ou mais variantes. Ex: 2ª pessoa do singular (senhor, tu, você, ocê, cê). Significância estatística ou nível de significância – No Varbrul, usa-se nível de significância de 0,05. Esse nível é arbitrado para a rejeição da hipótese nula e para a atribuição de significância estatística a uma dada variável independente. Então, é considerada uma variante favorecedora para o fenômeno quando o _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 61 resultado está acima de 0,5. Abaixo de 0,5 significa que o fator desfavorece (baixa probabilidade) o fenômeno. E na faixa de 0,5 significa que o fator tem efeito intermediário, ou seja, nem favorece e nem desfavorece. No entanto, um fator com peso relativo muito baixo também é altamente importante no sentido de desfavorecer a outra variante da variável dependente em foco. Sobreposição de fatores – quando um mesmo fator é codificado em duas ou mais variáveis. Por exemplo, se determinada pesquisa codificou a identificação do colaborador e os outros fatores sociais (sexo, faixa etária, escolaridade), não será possível rodar as duas variáveis juntas, uma vez que na identificação do colaborador já está pressupostas as outras características sociais. Step up e step down – Teste de significância estatística de grupos de fatores. Primeiro, o VARBRUL seleciona com a rodada do step up, e depois tira a prova dos nove com a rodada de step down. Como aparecem várias rodadas de resultados, o próprio Varbrul indica a melhor rodada step up ou step down. A rodada step up recomendada deve ser a escolhida para as explicações linguísticas e sociais e para os textos variacionistas. Variação linguística – Sistema heterogêneo, assim como a natureza humana, em que há diferentes maneiras de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade. Variantes: Formas alternativas de dizer a mesma coisa. Exemplo: nós e a gente; tu, você, cê, ocê, senhor etc. Variável de controle – Codificação de determinada variável apenas para controlar a amostra, mesmo que não se tenha nenhuma hipótese aparente ou que essa variável não tenha sido pensada na época da constituição do corpus ou da amostra. Normalmente, a identificação dos colaboradores é uma variável de controle, porque não é rodada junto com as outras variáveis, uma vez que quase sempre há sobreposição com as outras variáveis sociais (sexo, faixa etária e escolaridade). Nesse sentido, utiliza-se essa variável apenas para o controle individual dos colaboradores de modo a identificar possíveis comportamentos categóricos ou concentração de determinado uso linguístico em alguns colaboradores. Variável dependente – Fenômeno linguístico que apresenta variação. Pode ser variável binária (composta por duas variantes como nós e a gente) ou variável eneária ou terciária (composta por três ou mais variantes como tu, você, ocê, cê). Variável independente – Variáveis independentes sociais – grupo de fatores sociais que condicionam a ocorrência de determinado fenômeno linguístico. Ex: faixa etária, escolaridade, sexo etc. Variáveis independentes linguísticas – grupo de fatores linguísticos que condicionam determinado fenômeno linguístico. Ex: função sintática, paralelismo sintático etc. Variedade linguística – Modo de falar de uma sociedade (grupo social). Exemplos: variedade mineira, gaúcha, cuiabana, carioca, paulista, brasiliense etc. Vernáculo – língua falada menos monitorada. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 62 SOME ASPECTS ABOUT /T/ SOUND Emmanuel Pablo Suares de Brito Jullie Any Custodio Ferreira Abstract In this research paper, we will the way the phoneme /t/ characterized, following the approach of Roach (2000) and Ladefoged (2011). We will focus on its phonetic properties and the link to Phonology with the aim to explain how the natives and non-natives speakers of English t/ in different words and phrases. Introduction Students of English, when they are in a basic level, learns the words and how it is pronounced, and then the little learner after some time studing this langague they will realize that some words have a different way to be pronounced, they will recognize that some letters has one or more manners to be pronounced. In this paper we will talk about the letter T and his different manners to be pronounce in some words in English and why these phenomenon happen in these words. The issue which we will explore in this research paper is the variants of the the sound /t/ and how it is pronounced by Native Speakers or Non Native of English and by they that have the English as Second Official Language in their countries. This study is more important for Non Native Speakers, because they have difficult to understand when the “T” is pronounced in different forms, like when it is said the consonant /r/, instead a /t/. With another consonant the /t/ change the form of his articulation, and change again with vowel too. Phonetics is the science who study how the sound is articulate and what part of the mouth will move to produce a sound, being both consonant as vowel (Roach, 2000). The minimal part of a word is called Phoneme, who with another parts of the word produce meaning, like /h/ in hit, and /b/ in bit, the final parts of the word did not change (it) only the beginning. It happens because a phoneme of this words changed the meaning. Learning Phonetic is good to know what the problem that students have to pronounced /t/ is and what can teacher do for change and help their learners. For better comprehension of how we pronounced the consonant T, first of all we need learn some particularities that we usually do not learn in high school, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 63 to learn about how the sound is formed and other ways that a human can pronounce letters and his respective sounds. Some Phonetic and Phonologic Aspects To introduce this study about the sounds of "t" it is necessary learn something about him, like that he is a plosive alveolar voiceless, but to you understand better we will explain what this three name mean. The letter "t" is a stop consonant (Ledafoged, 2005), like the letters k,g,d,b,p. This letter is called stop consonant because the air is obstructed in the vocal tract when this letter is pronounced (Ladafoged, 2005). It happens when the letter is articulated. The Ladafoged’s book, “A course in phonetics” (2005), he talks about the “Oral Nasal process”, where he explains about the “Manners of articulation”. There he shows about the manners of articulation and how it happens inside of our month. However, to our study we just will focus in the Occlusive Articulation, because is how the letter T is articulated. Ladafoged (2005) define a stop sound like “Complete closure of the articulators involved so that the airstream cannot escape through the mouth”. You can realize this event when you try to say some words like talk, tall, telephone; where you will press the tip of tongue in your alveolar ridge and will obstruct the air stream to pass, when you took your tongue from the alveolar ridge and allowing the air pass through you month you will be able to hear a sound of puff of air, this is the sound of the letter "t". To us reproduce every kind of letter we have to move your mouth, tongue, lips, velum and vocal folds, it does not mean that when we say the letter /f/ or /c/ we have to move each part of our mouth, it means that to say a world we have to use a particular parts of our mouth. To explain better we will use the letter /f/ as example. The letter f is a fricative labiodental voiceless consonant (Roach, 2000). It means that when a speaker will produce the phoneme “f”, they move their lower lip until the upper teeth, and the velum rise, preventing the air go to the nasal tract, the air pass through the vocal folds without vibrating it, because of this the phoneme “f” is called as a voiceless consonant. When the vocal fold is open and the air pass through the throat without vibrating the vocal folds, this characterizes the sound as a voiceless, but when it is closed, the air causes the vocal folds vibrate and in this case, the sound is called voiced. All this variation of sound is a result of the muscle contracting (Roach, 2000). To reproduce all this sounds we use muscle located in the chest, responsible to our breathing, in the throat, in the mouth etc. To produce a word sound we use all this muscle in a large process that is described by Roach: _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 64 The muscle in the chest that we use for breathing produce the flow of the air that is needed for almost all speech sounds.; muscles in larynx produce many different modifications in the flow of the air from the chest to the mouth. After passing through the larynx, the air goes through what we call the vocal tract, which ends at the mouth and nostrils. Here the air from the lungs escapes into the atmosphere. (Roach, 2000). During this process, we use other parts of our month to modify the flow of air to form the articulation of the sound, these part that modify the sound is called articulators. We have seven main articulators that is use in the speech (Roach, 2000), now we will show them: i) The pharynx - "is a tube which begins just above the larynx" (Roach, 2000) ii) The velum or Soft Palate - the articulator that allow the air pass through the vocal tract when it is raised and pass through the nasal tract when it is down. iii) The hard palate - knowing as "the month roof", it is a curved surface in the month. iv) The alveolar ridge - "is between the top front teeth and the hard palate" (Roach, 2000) v) The tongue - The most important articulator that can change his shape to move to different places. vi) The teeth - The upper and lower teeth are located behind of the lips. vii) The lips - is an important articulator that formed bilabials and labiodentals sounds. All these articulators form the human phonatory system, all the sounds can be formed using these articulator. Using these articulators we are be able to produce each English sound and its variations. Now, after learn a little about the sounds and the manners of articulated it we can talk about the /t/. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 65 The T sounds. When Brazilians students are learning English, they have a big problem to identify the T and know how they will pronounce this /t/ sound. Sometimes they pronounce this T sound like /f/, /s/ or /d/, it happens when they face the TH in a word. It is important to the foreign student learn how to pronounce the TH sound because this affect the quality of their communication. We could saw in our observation that this difficult is very noticeable when the students say some words. E.g.: The, Thought, Through, That, Think, Thank, Theft, and Theory. Words: The Thought Through That Think Thank Theft Theory Correct Form that, probably, a Native Speakers say: /ðiː/, /ðə/ /θɔːt/, /θɑːt/ /θruː/ /ðæt/ /θɪŋk/ /θæŋk/ /θeft/ /ˈθɪə.ri/, /ˈθɪr.i/ Wrong Form that a Non Native Speakers says: /de/ _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 66 /fɔt/ /fru/ /dæt/, /dætʃ/ /sɪŋk/, /fɪŋk/ /fæŋk/ /feft/ /fɪorɪ/, /tɪorɪ/ Here we can see that we have a problem caused by the similarity of these sounds articulation: /s/, /d/, /θ/, /ð/. The /t/ is a stop alveolar voiceless consonant, /d/ is a stop alveolar voiced consonant, the /θ/ is a fricative dental voiceless consonant, the /ð/ is a fricative dental voiced consonant, and the /s/ is a fricative alveolar voiceless consonant. All these sound have a similar characteristic, most of them are fricatives consonants, and other has the same manners to be articulated, the difference just is noticeable because some are voiced and other are voiceless. This similarity can made a mess in the moment of the articulation, because they have to pronounce some sounds that do not exist in their language, because this fact, is normal they make assimilation with other sounds of their language. Saint` Anna (2012) said that the phonological interference occurs when we transferred sounds of our mother language to the language that we are learning. This interference can explain the English leaner difficult to realize some sounds and produce them by the correct way. Other problem to Brazilians students of English is pronounce the TH sounds /ð/ - /θ/ because this sound in Portuguese is so close the sound of the /d/ and /f/, respectively. The other problem is the position of the tongue that maybe is completely new to these students, the tongue needs stay positioned between teeth to pronounce it correctly. The problem to articulate this t sound happens because the Portuguese phonetics does not have any interdental sound. Flap T It is a variation of the t sound that is noticeable in some words, like butter, tatters, noticeable, later, totally, water, fatal, hospital, and relative are pronounced. The t that is called as a flap t is produced when an English speakers pronounce this variation of the sound as vibrant /ř/. In this case when you hear a English speakers producing this sound they will use the tip of our tongue to _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 67 press the alveolus and make a flap, movement close the r (vibrant) sound. For a native English speaker this sound of the /t/ is so closer the /d/, but to other languages, this sounds like an r sound, E.g.: Portuguese or Spanish. The Flap T occurs when we have words that the t is between the two vowels, after r, before l, after n, before stressed vowel at start of word, this also happen in phases and expressions. E.G.: Between vowels Water. Debating. Relative. Metabolic. After "r" Dirty. Artificial. Comforting. Before "l" Fatal. Hospital. Turtle. Incidental Phrases and Expressions Pick it up. Play it again. What a wonderful day for a walk. However, we have exceptions; it is not all the English speakers that pronounce this t as a /ř/, some of them pronounce the true "t" sound. We already _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 68 know that when someone pronounce the flap "t" sounds as a "d" sound, so when someone pronounce "better", for example, sounds as "bedder". Some speaker like British, when they pronounce, "better" sounds as "beter", this is the true /t/ sound. Even the person pronounce the word with flap t or not, the phonetic transcription does not change, we always will use the /t/, but some dictionaries use the /t/ as Cambridge Academic Content Dictionary, it s a t with a little v. E.g Word: Water Fatal Relative Metabolic Dirty Artificial Hospital Transcription: /wçt´r/, /wAt/ /feIt´l/ /rel´tIv/ /met´bAlIk/ /dɜːrti/ /Art´fIS´l/ /hAspIt´l/ Here, we can see how the variation of the English t sound can confuse the English learner, because the learners always will use their language as reference when they will not be able to recognize and produce a sound that they heard and with this assimilation, sometimes, the communication skill can be affected and they cannot be understood in some context. Conclusion In this researcher paper, we could see how the many forms of the t sound can make some words incomprehensible to English learner that do not recognize each variation of this sound and its peculiarities about them. Our goal with this _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 69 article was show this peculiarities and try explain this differences. For study, more deeply phonetics and phonological aspects about the sounds, you should read more about Phonetics and Phonology of English, in Roach, English Phonetics and Phonology (2000) and Ladefoged & Johnson, A Course in Phonetics (2011) and Vowels and Consonants (2005). _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 70 Reference LADEFOGED, Peter. A Course in Phonetics, Canada: Wadworth Cencage Learning, 2011 LADEFOGED, Peter. Vowels and Consonants. Oxford: Wiley-Blackwell, 2005. RACH, Peter. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. SANT' ANNA, Magalia Rosa de. As interferências fonológicas no inglês como língua estrangeira para os falantes do português do Brasil. São Paulo. 2013. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 71 LETRAMENTOS DIGITAIS QUADRO A QUADRO Júlio Araújo (UFC) Leonel Andrade dos Santos (Fa7) 1. Contextualização do projeto Refletir sobre a educação no contexto social do qual participamos levanos indubitavelmente a um debate acerca do processo ensino-aprendizagem pautado não mais nos moldes tradicionais, no quais, há pelo menos 10 anos atrás, os professores reservavam-se quase que unicamente a conduzir sua aula utilizando tecnologias como o quadro branco, o pincel e o livro didático. Tal cenário não poderia ser diferente face ao momento social no qual aqueles profissionais estavam situados. No entanto, a criação e utilização de outras tecnologias, especialmente as digitais, como a web, vem possibilitando o surgimento de espaços nos quais os sujeitos instituem novas formas de interação e de representações de si e do outro. Uma nova paisagem pedagógica parece se desenhar frente às possibilidades que podemos explorar das ferramentas digitais proporcionadas pela web 2.0, pois tais elementos passam a influenciar e, de um certo modo, até a determinar a formatação dos usos da linguagem em determinados ambientes da internet. Tais aspectos enlevaram os fios que teceram a construção do projeto por nós desenvolvido, que faz parte de uma ação do programa de extensão AMPLINKS (Ampliando Links), desenvolvido pelo grupo de pesquisa Hiperged, da Universidade Federal do Ceará (UFC). A nossa ação extensionista consiste na realização de Oficinas de Letramentos Digitais (doravante OLDs). Nestas, oferecemos um leque de atividades que têm como objetivo principal promover cenas de inclusão digital de crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas, mas que não têm acesso aos letramentos digitais. Assim, a experiência que aqui apresentaremos se deu em uma escola pública, fundada no ano de 1978, que está situada em uma área urbana e cuja administração é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caucaia, município da região metropolitana de Fortaleza. Atualmente, são oferecidas turmas do 5º ao 9º ano nos períodos manhã e tarde, que contam com 15 salas de aula e 03 laboratórios de informática conectados à internet com banda larga. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 72 No desenvolvimento deste projeto piloto, participaram seis alunos (cinco homens e uma mulher com idades entre 14 e 15 anos) regularmente matriculados no nono ano. A eles, foi lançado o desafio de escrever as Historinhas em Quadrinhos digitais (HQs) abordando o tema bullying7. Desta forma, partimos de uma situação de comunicação real na qual, por meio de uma produção de textos multimodais, os alunos agiram de forma significativa nos esforços de solução de um dos problemas de socialização que faz parte do contexto no qual estão inseridos. Com isso, houve uma ultrapassagem da linha tênue que cercava o limite da disciplina língua portuguesa e foi assumido o caráter transdisciplinar da aprendizagem, já que foram movimentados conhecimentos relativos à história, à sociologia e à psicologia. 2. Tema do projeto ou conteúdo da matéria em foco Como mostramos anteriormente, pelas OLDs, tencionamos oferecer aos alunos um relevante suporte para o desenvolvimento de multiletramentos que a leitura e produção de gêneros de texto em meios digitais demandam, realizando, assim, intervenções didáticas na aprendizagem dos gêneros que circulam nesse meio. Em função dessa marca, nosso trabalho foi pautado por um processo sistemático, no qual o aluno escrevia e reescrevia sua HQ, submetendo-se a avaliações dos textos, com o intuito de sentirmos as dificuldades reais apresentadas, e a mediações pontuais nas habilidades que realmente ainda não haviam desenvolvido. Com isto, queríamos garantir aos nossos alunos o que Antunes (2003, p. 64) qualifica como “uma escrita metodologicamente ajustada”. A partir do primeiro olhar lançado à produção inicial, detectamos uma série de problemas que nortearam as intervenções didáticas que foram realizadas nas outras fases das OLDs. De posse da primeira versão das HQs produzidas pelos alunos, procedemos a um exercício de categorização dos problemas e dificuldades que eles apresentaram, cujos resultados se encontram no gráfico abaixo: 7 Adotamos esse tema para nos afinar ao que estava sendo vivenciado pela escola. Devido ao grande número de ocorrências de violência verbal e física entre alunos registradas nas dependências da instituição, houve a necessidade de iniciar um debate e conscientização acerca do problema. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 73 Gráfico 01: problemas recorrentes na primeira produção Ao analisarmos os números acima, um dado saltou aos nossos olhos: os alunos mostraram uma acentuada dificuldade na operação dos aspectos relacionados à sintaxe visual, tornando-se o maior desafio para a produção das HQ’s digitais. Essa valiosa informação nos estimulou a dar um destaque especial na apresentação que aqui empreendemos. De acordo com Donis (1997, p. 7), “a experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele”. Para que tal fenômeno ocorra, é necessário que mobilizemos nossas capacidades relativas ao letramento visual. Wileman (1993) define este tipo de letramento como a habilidade de realizar leitura compreensiva de uma informação presente em imagens gráficas. Portanto, como aponta Stokes (2001), o ato de ler somente palavras e números é por vezes insuficiente para a compreensão de uma gama de textos que põem em interação as linguagens de ordem verbal e visual. Tais gêneros estão facilmente disponíveis no mundo ao nosso redor, principalmente com a popularização das tecnologias digitais. Então, à medida que os elementos visuais são incorporados aos textos verbais no intuito de alcançar um equilíbrio entre ambas as partes, a interdependência entre eles é promovida de forma mais acentuada. Assim, a prática escolar deve oferecer a congregação dos letramentos da escrita e da imagem, já que o melhor alcance da compreensão e produção de gêneros verbo-visuais pode ocorrer por intermédio de estudos mediados pelo professor, pois o desenvolvimento do letramento visual se dá de modo natural somente até certo ponto. Donis, na sua obra intitulada Sintaxe da Linguagem Visual, aponta a linha, a forma, a direção, o ponto, o tom, a cor, a escala, a dimensão, e o movimento como aspectos que atuam de forma preponderante _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 74 em textos constituídos pela combinação de tais recursos. Portanto, a mesma relevância que damos ao ensino da utilização dos mecanismos de construção de textos estritamente verbais, devemos dar àqueles elementos constituintes da comunicação visual. Será à luz dessas considerações que apresentaremos a seguir a nossa experiência com as OLDs no Programa de Extensão AMPLINKS. 3. Ferramenta digital empregada Desenvolvida por Maurício de Sousa Produções, a Máquina de Quadrinhos8 é um editor digital no qual o usuário, mesmo não possuindo habilidades para desenhar, pode criar as HQ’s utilizando ferramentas necessárias para a produção dos elementos que fazem parte desse gênero, como balões, personagens, cenários e objetos que fazem parte do universo da Turma da Mônica. Além da produção, os escritores podem imprimir suas HQ’s e/ou publicá-las no portal, bem como comentar as produções dos colegas, fazendo com que a prática escolar de produção textual não tenha unicamente fins avaliativos da qual o único leitor é o professor. A ferramenta possui uma interface atrativa e de fácil manuseio, como ilustra a imagem abaixo. Figura 1 - Apresentando a Máquina de Quadrinhos Ainda que os alunos que participaram das nossas oficinas não conhecessem, previamente, esse ambiente, a criação do perfil, o acesso ao portal e o manejo das ferramentas disponíveis foram facilmente executados por todos, o que demonstra que a Máquina de Quadrinhos pode ser utilizada por vários professores que desejem trabalhar a HQ virtual em sua sala de aula. Para 8 www.maquinadequadrinhos.com.br _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 75 o primeiro acesso, são exigidos dados pessoais como nome completo, e-mail, data de nascimento e senha. Realizado o cadastro, os autores podem criar suas histórias no seguinte espaço: Figura 2 – O espaço de produção dos quadrinhos Legenda: 1. Ícones para escolha dos cenários, personagens, objetos, balões e escolha de outros pacotes e tipos de quadrinhos; 2. Espaço onde é produzida a história; 3. Ferramentas de seleção, zoom e ícone para salvar a produção; 4. Ícones importantes para formatação, como inverter, subir ou descer nível, rotacionar, aumentar e diminuir elementos, e excluir. Nossos alunos aprenderam a manipular esses botões com rapidez, graças à interface amigável da Máquina de Quadrinhos. Essa ferramenta ofereceu um suporte relevante para as ações desenvolvidas nas OLDs, pois ofereceu recursos de fácil manipulação para que as produções das HQ’s fossem realizadas pelos alunos. Além disso, ela também se configurou como uma vigorosa ferramenta de interação entre os alunos, já que eles foram leitores dos textos dos próprios colegas. Como bem mostra Recuero (2012), as ferramentas computacionais há muito deixaram de ser apenas isso: ferramentas. Elas evoluíram para serem “espaços conversacionais” importantes, já que os usos que fazemos delas reelaboram muitos gêneros textuais, como a produção de HQs virtuais, por exemplo. 4. Passo a passo do projeto usando a ferramenta _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 76 Para os trabalhos, adotamos determinados procedimentos metodológicos que apresentaram notável relevância na construção deste modelo didático. Ancorados na proposta de ensino de gênero de texto defendida por Dolz et ali (2004), organizamos as seções de maneira sistemática, a partir das quais avaliamos as capacidades já adquiridas e atuamos nas dificuldades reais dos alunos, como já explicitado outrora. Para isso, estruturamos o trabalho do seguinte modo. Na primeira seção da oficina, ministramos uma aula de noventa minutos com o intuito de garantir conhecimentos básicos sobre a situação de comunicação na qual os alunos estavam envolvidos: o gênero de texto produzido, a ferramenta digital na qual foram elaboradas as HQ’s, e os leitores dos seus textos (alunos do 5º ao 9º ano da escola). Para isso, realizamos uma conversa sobre história em quadrinhos para ativar os conhecimentos prévios dos alunos e construir um conceito comum sobre o propósito deste gênero e suas características estruturais. Tais ideias foram comparadas com as definições apresentadas no vídeo O que são quadrinhos?9 e constatadas na leitura do quadrinho Uma história que precisa ter fim10, de Maurício de Sousa. Sobre o tema das histórias, o bullying, exibimos um vídeo11 que motivou uma discussão acerca dessa temática a ser levantada nos textos. Em seguida, cada aluno acessou à máquina de quadrinhos e realizou o seu cadastro para que apresentássemos as ferramentas disponíveis para a produção. Desta forma, agimos no intuito de garantir informações imprescindíveis para que conhecessem o projeto comunicativo no qual estavam envolvidos e ficassem cientes da pertinência do papel social que cada um passou a exercer no projeto maior e real desenvolvido pela escola, como sugere Dolz et ali (2004, p. 100). Portanto, na segunda seção, cada aluno acessou o seu perfil no ambiente virtual e realizou a produção inicial, mobilizando as suas capacidades de linguagem12 e permitindo que o planejamento do nosso agir como mediadores do processo de aprendizagem fosse realizado, pois a partir das pistas encontradas nos textos multimodais dos alunos, tivemos condições de estruturar um trabalho geral e diferenciado ao mesmo tempo para atuar nas dificuldades reais apresentadas. Na terceira seção da OLD, realizamos intervenções com o intuito de sanar os problemas que surgiram, promovendo a mediação em dois passos. O 9 http://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U http://www.monica.com.br/institut/drogas/pag1.htm 11 http://www.youtube.com/watch?v=Q-zgAZI5clc&feature=related 12 Capacidade de ação, discursiva e linguístico-discursiva, conforme aponta Bronckart (2007). 10 _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 77 primeiro foi discutir com os alunos sobre dois aspectos que mereceram uma atenção particular: os conceitos que envolvem o tema das produções e as questões relacionadas ao letramento visual. Logo, travamos uma nova conversa sobre o tema e fizemos uma leitura de um texto informativo com perguntas e respostas sobre o que é bullying13 para auxiliar os alunos na resolução das dificuldades apresentadas no primeiro aspecto. Para sanar os problemas relacionados ao letramento visual, foram discutidos alguns aspectos preponderantes para a reescrita dos textos, como continuidade de elementos de cenários entre os quadrinhos, relação entre primeiro e segundo plano, direcionamento do olhar dos personagens, tipos de balões e uso do apêndice, posicionamento dos balões de acordo com a direção de leitura ocidental, e coerência entre a expressão do rosto do personagem e a sua fala. Para isto, exibimos os quadrinhos que apresentaram esses aspectos fazendo com que eles percebessem as inadequações e sugerissem a melhor maneira de resolvê-las, solidificando os seus conhecimentos acerca dos aspectos apontados necessários para fazer a reescrita dos textos. Na quarta seção, os alunos realizaram a primeira reescrita do texto, tentando assim reelaborar as produções baseados nos conhecimentos construídos na seção anterior acerca dos problemas apresentados. Logo após, os textos foram objeto de outra avaliação por nós realizada com o objetivo de verificar os problemas que foram solucionados pelos alunos e quais outros continuaram ou emergiram após o processo de refazimento do texto. Assim, um novo diálogo de intervenções foi realizado individualmente com os alunos. Por fim, na quinta e última seção, os alunos produziram a versão final do texto, dando-nos indícios de amadurecimento das capacidades de linguagem que antes se apresentaram frágeis. Ressaltamos que o trabalho com o ambiente virtual Máquina de Quadrinhos não apresentou dificuldades com relação ao manejo com as ferramentas disponíveis, e que todo o trabalho empreendido foi bem aceito pelos alunos, já que por conta da falta de habilidade na arte do desenho, a produção de HQ’s talvez não fosse tão produtiva e motivadora como esta aqui descrita. 5. Objetivos do projeto Como já abordado anteriormente, as dificuldades relacionadas à sintaxe visual apresentadas pelos alunos se configuram ainda como um tema que necessita de maior relevância nas práticas de linguagem na sala de aula. Por 13 http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/bullying-escola-494973.shtml _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 78 essa questão, nosso interesse em ter desenvolvido esse projeto foi o de valorizar esse e outros aspectos, apoiando-nos nos seguintes objetivos: (i) desenvolver estratégias que favoreçam a ampliação do letramento visual por meio da produção de gêneros multimodais, como as HQ’s; (ii) criar situações didáticas para que os alunos, ao utilizarem este gênero de texto, pudessem refletir sobre a relação entre a escrita e os outros modos semióticos que mobilizamos como estratégias de construção de sentido, reconhecendo as potencialidades dessas modalidades, à luz das inúmeras finalidades e contextos de produção; (iii) oportunizar experiências transdisciplinares; (iv) favorecer aos estudantes oportunidades de desenvolveram sua expressão artística; (v) oportunizar a compreensão de como se processa o aspecto sistemático da reescrita de um gênero multimodal, percebendo que texto não é um produto fechado e acabado, mas sim um objeto que sofre constantes reelaborações e readequações. À luz desses objetivos, acreditamos que nos aproximamos da ideia de escritor competente, sugerida pelos PCN’s (BRASIL, 2002). Segundo esse documento, um escritor competente seria aquele que desenvolveu a capacidade de olhar para o próprio texto e detectar em sua produção ambiguidades, redundâncias, obscuridades, dentre outros problemas e, em função disso, consegue revisá-lo e reescrevê-lo até compreender que tal texto esteja satisfatório para o contexto de produção. 6. Resultados do projeto Para ilustrar a questão do letramento visual apontado, trazemos alguns refazimentos de uma HQ do corpus. Como o espaço aqui disponível é pequeno para mostrarmos as histórias na íntegra, apresentaremos a evolução paulatina da resolução de problemas de sintaxe visual ocorridos em quadrinhos produzidos por dois alunos no transcorrer das OLDs. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 79 Figura 03: O problema de direção de olhares entre personagens durante um diálogo. Nesse quadrinho produzido na primeira escrita, o aluno pôs a figura dos personagens Cascão e Magali dialogando sobre bullying, mas, pelo que podemos claramente notar, o olhar dos personagens está voltado para o leitor, como se os eles estivessem realizando uma interpelação e esperando uma resposta por parte do leitor do quadrinho. Tal escolha se confirma por meio da incoerência que há entre o texto que está sendo proferido nos balões e a informação visual construída. Assim, o adequado seria escolher uma posição das figuras em que os personagens direcionassem o olhar um para o outro, já que ambos estão conversando na historinha. Para sanar tal problema, foi realizada na intervenção de grupo uma conscientização acerca desse aspecto, mostrando outros quadrinhos com problemas semelhantes. Após a tomada de consciência por parte do aluno, mostramos uma história apontando o melhor uso dessa linguagem visual. Ao final dessa intervenção, o aluno demonstrou sucesso logo no primeiro refazimento do seu texto, como comprova a imagem a seguir. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 80 Figura 04: A primeira reescrita e a sensível mudança entre os olhares Outro exemplo relevante que apresentamos adiante nos mostra um problema recorrente: a proporcionalidade do tamanho dos personagens que estão no mesmo plano. Vejamos o exemplo. Figura 05: A desproporcionalidade de tamanho na produção inicial Na primeira produção, o aluno proporcionou um encontro entre os personagens da turminha no primeiro plano do quadrinho. No entanto, provocou uma espécie de gigantismo ao formatar o personagem Cascão, em detrimento do tamanho dos outros personagens. O fato de não haver proporcionalidade entre o tamanho dos personagens, portanto, pode comprometer a construção dos sentidos do texto. Por esse aspecto, realizamos intervenção em grupo, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 81 tendo o cuidado de permitir que os alunos percebessem esse problema e sugerissem estratégias para solucioná-lo. Os resultados da discussão fizeram com que o aluno voltasse sua atenção para os aspectos visuais envolvidos na produção e, por isso, conseguiu resolver esse problema logo na reescrita. Vejamos o resultado. Figura 05: O sucesso na percepção do tamanho dos personagens. Notamos que o aluno apontou para uma tomada de consciência mais aguçada ao perceber que Cebolinha, Magali e Mônica estavam no mesmo plano do amigo Cascão e, por esse motivo, precisavam estar dispostos em um tamanho proporcional ao cenário e ao plano em que os personagens ocupam neste quadrinho. Com isso, percebemos uma evolução da maturidade quanto à percepção da importância de tal aspecto na construção da comunicação visual. 7. Considerações finais Como muito bem explica Lemke (2010), faz algum tempo que, para protagonizarmos cenas de letramentos mais complexas, não usamos apenas a caneta, a tinta e o papel. Pelo menos, não mais com a mesma frequência de antes. Muito dificilmente conseguiríamos realizar oficinas de letramento visual com os nossos alunos por meio de criação de histórias em quadrinhos usando apenas essas tecnologias, pois a maioria de nós não domina a arte dos cartunistas que, com a caneta, a tinta e o papel dão conta do recado. Portanto, a experiência com a ferramenta digital máquina de quadrinhos nos mostra que é possível trazermos as ferramentas digitais para escola e delas extrairmos benesses pedagógicas para a ampliação dos nossos letramentos multimidiáticos, tão necessários nos dias de hoje. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 82 A experiência didática que tivemos com essa ferramenta nos remete a Lemke (2010, p. 461) quando mostra que “nós não ensinamos os alunos a integrar nem mesmo desenhos e diagramas à sua escrita, quanto menos imagens fotográficas de arquivos, vídeo clips, efeitos sonoros, voz em áudio, música, animação, ou representações mais especializadas (fórmulas matemáticas, gráficos e tabelas etc.)”. Ele acrescenta dizendo que antes de querermos ensinar sobre letramento visual, precisamos, nós mesmos, compreender que a combinação de diferentes modalidades semióticas se relaciona com vários letramentos e tradições culturais e, em função disso, as combinações vão além da simples soma de modos semióticos, já que elas apontam para estratégias, cada vez mais requintadas, de construção de sentido. Assim, concluímos que, ao manusearmos a ferramenta máquina de quadrinhos, não estávamos apenas brincando de compor HQs, mas estávamos refletindo com os nossos alunos sobre estratégias de construção de sentido que emergem das habilidades de combinar modos semióticos diversos, como o que disponibiliza essa ferramenta que exploramos. Como descrito anteriormente, todas as intervenções realizadas durante as OLDs foram baseadas nos problemas apresentados pelos alunos tanto na produção inicial, como na primeira reescrita, pois acreditamos que as práticas de produção de texto devem seguir um movimento sistemático e ser eivadas de diálogos entre aquele que está ali para escrever e aquele que tem as ferramentas necessárias para conduzir o processo da melhor maneira possível. Finalmente, é importante mencionar que, embora o nosso foco neste capítulo tenha sido analisar dados relativos à multimodalidade na produção das HQs dos alunos, eles se depararam com outros problemas nos textos que produziram durante as OLDs. Por exemplo, percebemos e interviemos para resolver várias questões de inadequação, como repetições desnecessárias de palavras, problemas ortográficos, usos inadequados da pontuação, problemas sintáticos de regência e concordância, além de muitas imprecisões de textualidade, como alguns problemas de coesão, por exemplo. Mas a discussão sobre como o uso pedagógica dessa ferramenta digital foi útil para sanarmos esses e outros problemas é um tema para um novo trabalho. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 83 Referências ANTUNES, I. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola. Editorial, 2003. BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 2002. BRONCKART, J. P.. Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: Miño y D’avila, 2007. DOLZ, J. et ali. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2004. LEMKE, J. L. Letramento metamidiático: transformando significados e mídias Trab. Ling. Aplic., Campinas, 49(2): 455-479, Jul./Dez. 2010 RECUERO, R. A conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. STOKES, S. Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education. Retrieved at Oct – 2001 WILEMAN, R. E. Visual communicating. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications. 1993. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 84 EDUCAÇÃO DOS SURDOS NO DISTRITO FEDERAL: UM PROGRESSO BILÍNGUE Karoline Santos14 RESUMO O ensino no Distrito Federal é de fato suficiente para ofertar uma educação que transforme o surdo em um cidadão de opinião própria, socialmente capaz de ser um profissional de carreira? O presente artigo tem como objetivo apresentar a ação pedagógica de professores com alunos surdos em uma escola inclusiva do Distrito Federal na preparação dos estudantes para ingressar no Ensino Médio. A análise do contexto educacional do sujeito surdo e a abordagem qualitativa observacional em âmbito inclusivo e bilíngue nos remetem a uma realidade preocupante com relação ao nível de conhecimento dos estudantes que concluem as séries finais no nível fundamental. Os atuais métodos da educação inclusiva são planejados de modo que respeite o potencial linguístico e cognitivo do surdo? A preocupação não está apenas na formação de profissionais, como também na sobrecarga dos poucos que atuam na área, na metodologia de ensino, ambiente físico e falta de materiais adaptados para as práticas educacionais. Essa realidade da defasagem de ensino é legado dos métodos utilizados do nível infantil ao fundamental, e sugere a abordagem da metodologia bilíngue com Libras como primeira língua (L1) e Português escrito como segunda língua (L2), sendo essa, a principal estratégia de desenvolvimento na aprendizagem do surdo, destacando uma ação correta de inclusão educacional. Palavras-chaves: Educação Bilíngue. Inclusão Escolar. História Educacional. Libras. INTRODUÇÃO Para compreender o processo de educação dos surdos é essencial examinar o contexto histórico e a legislação que constrói a atual metodologia de ensino, a trajetória expõe a influência do oralismo como método sem sucesso no ensino em todos os níveis educacionais em comparação com a prática bilíngue. A proposta de uma educação inclusiva não inibe ao uso da língua de sinais, mas também não é a solução para o desenvolvimento da aprendizagem. Como enfatiza Lacerda (2006), “o modelo inclusivo sustenta-se em uma filosofia que advoga a solidariedade e o respeito mútuo às diferenças individuais, cujo ponto central está na relevância da sociedade aprender a conviver com as diferenças”. 14 Estudante do curso de Especialização em Libras, estudo apresentado na disciplina Fundamentos Históricos e Sociológicos da Educação de Surdos pela Universidade Católica de Brasília, em Junho de 2013. Orientado pela MSc. Prof.ª Layane Rodrigues. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 85 Apesar da boa intenção do modelo inclusivo, é viável destacar que esse método precisa analisar todas as particularidades individuais, entre elas, a diferença linguística que enfrenta o aluno surdo ao ser incluído no sistema que pela própria metodologia, inclui o aluno no mesmo ambiente, mas não no mesmo espírito comunicativo. 1 - A educação do surdo, contexto histórico As melhores histórias são aquelas que vencem a fúria da maioria por um mérito que valoriza a pessoa em sua própria natureza, no caso dos surdos, em sua própria língua. A língua de sinais, que nasce em pequenos grupos formando a comunidade surda, ganha forças desde tempos passados. Por ser uma língua ágrafa e não termos o privilégio de registros de imagens com máquinas fotográficas ou filmadoras, esses registros e trocas de conhecimentos foram passados tradicionalmente de forma direta, até que no século XV há a preocupação do ensino para surdos e ao mesmo tempo a regressão da língua de sinais por uma maioria capitalista e de pensamento oralista. Há os que defendem a atuação capitalista e patológica, há os que são contra e reagem como se fosse uma ação natural do ser humano quando algo diferente do padrão ameaça expandir e há os poucos que de fato se preocupavam com a educação dos surdos em sua própria língua. Os primeiros registros sobre surdos no Brasil, advém da época da colonização, quando no ano de 1855, Eduardo Huet (francês), professor surdo, vem para o país sob proteção de Dom Pedro II, com a intenção de fundar a primeira escola para surdos. Transportando essa história que parece um avanço triunfal para a comunidade surda, o Brasil sofre a influência do oralismo da Idade Moderna que afeta todos os países da Europa e América (exceto os Estados Unidos), e infelizmente vivemos essa prática oralista com ênfase patológica até os dias atuais. Por mais de 100 anos, vigorou a crença de que para a criança surda ter acesso à instrução formal era necessário que tivesse um bom desenvolvimento da fala e da leitura labial, ou seja, o aluno surdo sempre teve seu desempenho escolar medido e vinculado ao seu (bom) desempenho de fala e a sua (boa) habilidade para a oralização. (SILVA, 2008 p. 394). A colocação do autor é uma citação que remete à história da educação dos surdos, marcada no Congresso de Milão em 1880 (II Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos), onde foi aprovado o uso do Método Oral Puro nas instituições de ensino, na qual os surdos não tiveram direto a voto. Para Strobel (2009), essa foi uma ocorrência histórica de opressão à cultura surda, um isolamento cultural que levou os surdos a lutarem contra a tendência do oralismo. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 86 Guarinello (2009) defende que a educação dos surdos no controle absoluto dos ouvintes esteve sempre em segundo plano, pois as políticas educacionais eram voltadas a aspectos terapêuticos, cujo objetivo curricular de ensino era dar ao surdo a audição e a fala. O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada através da estimulação auditiva (GOLDFELD, 1997, p. 30 e 31), essa técnica de fazer o surdo comunicar-se através da leitura labial é inserido nas escolas como um dos apoios de atendimento aos surdos com acompanhamento de fonoaudiólogo, mas entende-se que essa técnica é optativa pela família da criança e em suas particularidades não é bem sucedida o suficiente para suprir a primeira língua: a língua de sinais. O período fracassado do oralismo puro fez com que surgisse em meados de 1960 a Comunicação Total, cuja “premissas básicas era a utilização de toda e qualquer forma de comunicação com a criança surda” (MOURA, 2000). A autora discorre ainda que a comunicação total fazia uso dos gestos naturais, da língua de sinais, do alfabeto digital, da expressão facial, da fala e dos aparelhos de amplificação sonoro. Com o uso simultâneo da língua oral e de uma língua sinalizada, observase que essa técnica é utilizada em alguns casos onde o surdo é oralizado e está aprendendo a língua de sinais, porém é uma técnica que confunde a compreensão dos contextos interpretados e predomina o oralismo, “um sistema bimodal” (GUARINELLO, 2007) sem sucesso, pois as estruturas linguísticas da língua oral e da língua de sinais são diferentes. Os dois métodos anteriores não tiveram tanto sucesso como a metodologia bilíngue que oferta o ensino na primeira língua dos surdos, até alcançarmos este processo que. Somente nas décadas de 60 e 70 do século XX, com o reconhecimento da Língua de Sinais em alguns países, e com estudos sobre a importância da aquisição da língua nos anos iniciais, que "são inseridos novos discursos na educação de surdos: a comunicação total e o bilinguismo” (PEDREIRA, 2006 p.56). Nos anos 70 iniciam-se nos Estados Unidos as primeiras reivindicações pela língua e cultura das minorias linguísticas (GUARINELLO, 2009 p.32), onde entram em ação os movimentos surdos já existentes no país que defendem o uso da língua de sinais como primeira língua (L1) e a língua majoritária como segunda língua (L2). No Brasil a proposta bilíngue passa por uma fase em longo prazo de criação de metodologias e preparação de profissionais. 2.1 - Inclusão Escolar x Educação Bilíngue O sistema educacional até meados dos anos 90 no Brasil passou por um processo de mudança em sua política de ensino, dando visibilidade às pessoas com necessidades de tratamentos diferenciados. A luta por direitos iguais na _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 87 esfera educacional persiste até os dias atuais, exemplos claros em escolas inclusivas é o sistema de braile para os cegos e rampas de acesso para os cadeirantes. Quando nos deparamos com pessoas surdas, temos a percepção de que não se trata de mudança de ambiente, a barreira que a pessoa visoespacial enfrenta nas escolas está na comunicação. O plano de ação de acesso à educação inclusiva, como aborda Mazzota (1996 apud Lacerda 2006), “tem como meta não deixar nenhum aluno fora do ensino regular (...) propondo que a escola é que deve se adaptar ao aluno, (...) independente de sua origem linguística”. A inclusão escolar para os surdos integram em uma sala de aula alunos que fazem uso da língua oral/auditiva e da língua viso/espacial, sendo o ensino para os surdos mediado pela presença de um intérprete educacional. O ensino inclusivo do surdo acaba muitas vezes formando “(...) um ser solitário que muitas vezes se sente abandonado por causa do excesso de atividades” (FALCÃO, 2010 p. 77). A educação do surdo está associada à educação especial, onde no Brasil essa preocupação social e educacional inicia-se nos anos 60 e 70. Em termos legais, o surdo é definido como deficiente, analisando toda sua trajetória histórica de luta em nosso país, é um termo temporariamente aceitável devido à situação educacional e social em que a maior parte dos surdos se encontra. Definir o surdo como pessoa que utiliza da visão e expressão como forma primordial de comunicação é um desafio para uma minoria dentro de uma sociedade predominante ouvinte. A proposta bilíngue surge com as reivindicações da cultura surda em ter acesso a sua língua natural, sendo participante também da cultura ouvinte, consequentemente este acaba por si adquirindo no mínimo a escrita de seu país de origem, mas mantém a sua primeira língua, desde que no ambiente familiar já tenha o acesso à língua natural. A metodologia de ensino para o surdo necessita de uma abordagem que respeite as especificidades linguísticas, a fim de explorar a aprendizagem e o desenvolvimento, tanto da língua de sinais como do português escrito. 3 – A política educacional na tentativa de uma educação melhor No Brasil, o processo de elaboração de metodologias de ensino para o surdo tem como principal marco a oficialização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a língua oficial do surdo, pela Lei n° 10.436/2002. As estratégias políticas educacionais para incluir o surdo na sociedade brasileira estão voltadas para classes especiais (LDB, Lei n° 9.394/96) ou turmas inclusivas (MEC, 2003), inseridos em ambientes preparados e decididos sem participação do surdo, um regresso ao Congresso de Milão do ano de 1880. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), em 1997, permite a prática da comunicação total, porém a língua verbal deve ser enfatizada por pertencer a uma sociedade ouvinte, acaso existe sociedade ou _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 88 país onde a maioria seja surda para que seja enfatizada a língua expressivamente visual, a língua de sinais? Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) abordam estratégias educacionais voltadas para o deficiente auditivo com a preparação de ambientes para a estimulação de sons, próteses auditivas, leitura orofacial, entre outras abordagens. Quanto aos surdos, temos além de todos os parâmetros, o uso da língua de sinais. A legislação que aborda a educação especial, especificamente a educação dos surdos além de ser executada de modo despreparado, acarreta uma série de falhas e ambiguidades. Com a oficialização da Libras, a força da comunidade surda no Brasil vem crescendo e aumentando o número de surdos que assumem sua própria identidade, as lutas são diárias principalmente na área educacional. Entre o período do ano de 2005 a 2010, com a inserção de profissionais específicos para a educação dos surdos (Decreto 5.626, 2005) e a regulamentação da profissão do intérprete (Lei 12.319, 2010), a discussão sobre a educação bilíngue como forma de atendimento mais apropriada para o surdo é fortalecida e atualmente em Brasília a luta é pela regulamentação da Lei 5.016/2012 que propõe a Educação Bilíngue Libras/Português escrito para o atendimento dos alunos surdos do Distrito Federal. 4 - Método bilíngue nas escolas: observação em ambiente bilíngue e inclusivo A prática de ensino usando a metodologia bilíngue seja no período pré ou pós-linguístico é essencial e um facilitador na aprendizagem. A educação bilíngue é aplicada de acordo com o contexto social em que o aluno surdo se encontra, segundo Ronice Quadros (1997), esse método está baseado na estratégia de ensino usando a Libras como primeira língua (L1) e o português (L2) em sua modalidade escrita com base nas habilidades interativas e cognitivas já adquiridas pela criança em sua experiência com a língua de sinais. Na primeira fase do ensino fundamental, a língua de sinais está presente como primeira língua, porém, deparamos com a necessidade de novas metodologias se não adaptadas, que possam ser próprias para o ensino dos surdos, a falta de recursos tecnológicos e espaço físico somam preocupações nessa faixa de ensino. Na segunda fase do ensino fundamental nos deparamos com duas situações, o início do Sistema de Inclusão nas escolas e o processo de ensino na primeira língua do Surdo. Para apoio ao sistema de inclusão nas escolas, por meio legal, oficializa-se a atuação do intérprete educacional, é preciso considerar que, “esse profissional deve possuir conhecimentos específicos da área onde atua, além de competência para realizar a interpretação das duas línguas em questão e sua atuação deve seguir o rigor da ética profissional”. (GÓES, 2011). Sem reprovar a atuação dos intérpretes, mas a falta de preparação do professor regente e da metodologia de ensino para efetivar a inclusão fez com que a defasagem de alunos surdos aumentasse. Em _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 89 determinadas situações a educação especial (ensino especial) propõe desenvolvimento mais ágil do que os métodos propostos para a Inclusão Escolar. Com as observações e análises em campo, temos uma noção de como funciona a realidade escolar inclusiva em comparação com a turma exclusiva que usa o método bilíngue. Em visita a uma turma de ouvintes com um grupo de dez alunos surdos, além do ambiente com baixa luminosidade os alunos encontram paredes pichadas e furadas, enfatizando a falta de estímulo visual. Em continuidade às observações, percebe-se que há falta de estratégia na preparação metodológica adaptada para o surdo, a prática de copiar no caderno o que está escrito no quadro estimula a escrita, mas a interpretação da escrita sem nenhum apoio visual faz com que o rendimento nas aulas inclusivas continue, exclusivamente, apenas para os ouvintes. Sem interação com o professor, o intérprete educacional fica a par de colaborar no desenvolvimento da aprendizagem, atuando apenas como o elo de comunicação e não um meio de interação entre aluno e professor. Diante dos fatos expostos, não é à toa que após o término das aulas em sala “exclusiva”, muitos alunos deixam a escola e retornam no dia seguinte para o reforço escolar. Quando estimulados em sua própria língua, as observações tomam o início de como deveria ser a realidade do ensino em todos os níveis educacionais, rumo ao progresso bilíngue na vida escolar do surdo. O grupo de alunos obervado valorizam a harmonia, tranquilidade e comunicação em sala de aula, por ser uma língua visual, a participação em um único assunto, desde que interessante, soma a opinião de todos e surgem diversas ideias e discussões, esse tipo de comportamento é um ponto estratégico tomado pelos professores em sala. Notícias do dia a dia, polêmicas, curiosidades, encontros da comunidade surda, entre outros assuntos são momentos aproveitados para estimular o aprendizado de novas palavras, conceitos e sinais. O uso da tecnologia é um forte aliado tanto para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e também para ampliar o conhecimento da cultura surda, a internet na escola é usada principalmente para trabalhar com imagens e portais de notícias, mas pode ser mais explorado com a inclusão de um Projeto de informática que estimule o aluno a aprender o que existe além do mundo virtual em um computador. Para os surdos, comunicar e aprender em sua língua materna é uma conquista essencial dentro do ambiente escolar que precisa ser construído diariamente devido à falta de apoio e material pedagógico, ambiente físico pouco iluminado e sem estímulo visual, poucos profissionais para suprir a demanda e sem apoio da gestão escolar. Na aula de português, totalmente em Libras e com o apoio de um computador é observada uma metodologia flexível preparada na medida em que os alunos apresentam dificuldades de entendimento. As principais dificuldades são a percepção em diferenciar as palavras com escritas diferentes e que tem o mesmo significado e sinal; português sinalizado; palavras com escritas parecidas e a troca de sílabas na formação das palavras. Por último, a observação foi _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 90 preocupante, pois a turma observada está no último ano do nível fundamental e apresentam dificuldade na escrita de frutas e legumes, ou seja, um atraso profundo na aprendizagem. Em oportunidade de observar os antigos materiais didáticos usados em séries anteriores há uma base de atividades que abordam o mesmo conteúdo em diferentes adaptações: jogos, frases, pinturas... Mas o porquê dessa dificuldade na escrita e até mesmo a falta de conhecimento desses vegetais? Será que a dificuldade é a mesma ou até pior em outros tipos de conteúdos? Embora haja mais de um método de aplicação de ensino e o método dos docentes serem flexíveis de acordo com a dificuldade do aluno, seria falta de preparo no planejamento, mesmo com tanto esforço dos professores? Quando um aluno leva para casa uma atividade de fixação de conhecimentos, qual o estímulo que ele tem em realizar a lição em meio às dúvidas e curiosidades, se não há um elo de comunicação no lar? Quando estão de férias onde fica a prática da visualização das palavras? No supermercado, lojas, rodoviária...? As questões levantadas refletem preocupações desde o âmbito familiar até o convívio social, a solução parte de um para o todo. A prática de ensino fica centralizada apenas no acompanhamento escolar, professores se revezam entre as aulas de reforço, turma exclusiva e interpretação na inclusão, a qualidade na educação do surdo vai além de demandar responsabilidades, mas assumir e resolver. A luta do surdo em Brasília é fundamental para fazer cumprir as leis que regem a respeito da educação e práticas de ensino, a formação acadêmica de mestres e doutores surdos nada mais é do que a prova de que dado à oportunidade, o surdo equipara-se ao ouvinte tanto no ambiente acadêmico como no ambiente profissional. As escolas públicas não usam a metodologia ideal devido à falha nas políticas educacionais e à falta de cumprimento das leis. O grande diferencial da comunidade surda, entre familiares, amigos e profissionais, surdos ou ouvintes, é que os mesmos observam e participam se fazem mais presentes como cidadão e não se deixam à mercê das vontades das políticas públicas. Embora carregue toda a trajetória de aceitação, o Brasil nasce diariamente para ser um “país de todos”, mas de forma diferente, com o surdo guiando o que é melhor em sua cultura e particularidade linguística. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 91 REFERÊNCIAS BRASIL. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Brasília, 2010. _______. Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Brasília, 2005. _______. Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências. Brasília, 2002. FALCÃO, L. A. (2010). Surdez, cognição visual e Libras. Recife: Ed. do Autor. GÓES, A. R. S. Desmistificando a Atuação do Intérprete de LIBRAS na Inclusão. Disponível em: <http://editora-arara-azul.com.br/novoeaa/revista/?p=946>. Acesso em jun. 2013. GOLDFELD, M. (1997). A criança surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. São Paulo: Plexus. GUARINELLO, A.C. (2007). O Papel do Outro na Escrita de Sujeitos Surdos. São Paulo: Plexus. _______.Surdez e letramento: pesquisa com surdos universitários de Curitiba e Florianópolis. In: Revista Brasileira De Educação Especial. Universidade Estadual Paulista. v. 15. n°1, (2009). LACERDA, C. F. B. (2006 maio/agosto) - A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e intérpretes... Cad. Cedes, Campinas, vol. 26, n. 69, p. 163. _______. (2002). O Intérprete educacional de língua de sinais no Ensino Fundamental: refletindo sobre limites e possibilidades. In: Letramento e Minorias. LODI, A. C. B.; HARRISON, K. M. P.; CAMPOS, S. R. L. e TESKE, O. (Org.). Porto Alegre: Mediação. MOURA, M. C. (2000). O Surdo. Rio de Janeiro: Revinter. PEDREIRA, S. M. F. (2006). “Porque a palavra não adianta”: um estudo das relações entre surdos/as e ouvintes em uma escola inclusiva na perspectiva intercultural. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro. QUADROS, R. M. (1997, 21 a 23 de julho). Aquisição de L1 e L2: o contexto da pessoa surda. In: Anais do Seminário Desafios e Possibilidades na educação Bilíngue para Surdos. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 92 SILVA, I.R. Quando ele fica bravo, o português sai direitinho; fora disso a gente não entende nada: o contexto multilíngue da surdez e o (re) conhecimento das línguas no seu entorno. Trab. linguist. apl., Campinas, v. 47, n. 2, dez. 2008 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010318132008000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 13 jun. 2013. STROBEL, K. (2009). História da Educação de Surdos. Florianópolis. Disponível em: < http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras>. Acesso em 15 de jun. de 2013. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 93 CIRCULARIDADE CULTURAL EM VINICIUS DE MORAES: FRAGMENTO E COMPLETUDE EM TEMPOS DE AMOR LÍQUIDO (OU, O ORFEU NARCISISTA) Sylvia H. Cyntrão15 [email protected] Da diversidade temática da obra poética Vinicius de Moraes devotou sua vida a vivê-la de forma poética e a expressar suas vivências de forma artística em várias linguagens: na música, no teatro, no cinema e na literatura, tendo produzido uma obra que cobriu quase meio século. Nascido em 1933, nesse 19 de outubro de 2013 faria, portanto, 100 anos. ‘Poeta da paixão’ -como tão bem o disse José Castello, seu biógrafo (1994) e das reflexões humanas em suas implicações onde a síntese dos contrários é buscada, como compositor, o já consagrado poeta nos anos de 1960 impulsionou uma geração inteira de artistas, atuando na MPB. Vinicius de Moraes, tanto nos poemas como nas letras de suas canções, apresenta o contraponto do espiritual e o carnal, da felicidade que é fugaz e a dor que traz essa consciência , como retrata na letra de "A felicidade": A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Essa poética expressa as preocupações humanas essenciais, fruto do impasse entre a aceitação do real impermanente e a recorrente esperança utópica do perene. A palavra e a melodia, na canção, têm funcionado como veículos de intervenção para poetas que, como Vinicius de Moraes , buscaram compreender o lugar do amor romântico na transição de tempos e paradigmas. A procura do amor , mas também a reflexão sobre problemas ontológicos, a angústia existencial, a universalidade, o finito e o infinito, bem como um 15 Universidade de Brasília. Professora associada no Departamento de Teoria literária e Literaturas. Vice coordenadora do Programa de pós –graduação em Literatura Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Performance Poéticas contemporâneas: Vivoverso (CNPq http://vivoverso.blogspot.com / [email protected]. Pós- doutorado em 2010 na PUC-RJ. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 94 engajamento social crítico e o questionamento sobre o fazer poético são os temas sobre os quais Vinicius constrói sua obra . Para a letra de "Samba da bênção" o poeta faz convergir vários desses conceitos a um só tempo, quando aproxima os sentimentos de alegria e de tristeza, problematizando ambos: É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão, não se faz um samba não (...) Ressalta na sequência o caráter sagrado do fazer artístico, mesmo que popular (o samba) : Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração. Vinicius foi o consagrado poeta do amor que no século XX concentrouse na expressão poética dos sentimentos amorosos. Com ele, essa temática voltou a permear a poesia dos textos literários e os das canções. Com ele o "lirismo" parou de ficar “envergonhado” , segundo expressão usada por Affonso Romano de Sant’Anna (O Globo, 23/05/2003), e voltou a ocupar de forma ressignificada o angustiante espaço deixado vazio com o esgotamento do veio lírico amoroso de nossa poesia na década de 1960. Para encaminhar a compreensão da poética de Vinicius é imprescindível citar sobre ele o olhar 'autorizado' de Carlos Drummond de Andrade. Apesar de largamente conhecida vale repetir a importância da declaração de Drummond em seu depoimento a Otto Lara Rezende (MORAES, 1967, Prefácio.). Disse ele: “Vinicius é o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão, quer dizer, da poesia em estado natural. Foi o único de nós que teve vida de poeta. Eu queria ter sido Vinicius de Moraes”. De fato, a vida do poeta -a partir de sua presença pública- pode ser definida sumariamente como uma vida dedicada a buscar o estado de apaixonamento. Grande parte de sua popularidade decorreu das diversas situações amorosas por ele experimentadas e divulgadas. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 95 Poeta do amor platonizado e universalizante simbolizado por Orfeu, mas também intenso e erótico, este sob a égide de Eros , Vinicius compõe a mulher amada em imagens que lhe retratam a sensualidade no amor como em “Soneto do amor total”16 nos versos que cito : “e de amar assim muito e amiúde/ é que um dia em teu corpo de repente/ hei de morrer de amar mais do que pude.” Embora os psicanalistas usem a palavra 'Eros' para designar pulsão de vida, contra 'Tanatos', pulsão de morte ,vale lembra e que 'Eros' para os gregos era muito mais do que uma 'pulsão' . O deus da mitologia era o deus da paixão amorosa e uma paixão não é somente um impulso, mas algo tão sério e forte o suficiente para nos fazer conhecer o primordial e o essencial de nós mesmos. Esse é o potencial de Eros, percebido na poética de Vinicius , como nestes versos de “Como dizia o poeta” Quem já passou Por esta vida e não viveu Pode ser mais, mas sabe menos do que eu Porque a vida só se dá Pra quem se deu Pra quem amou, pra quem chorou Pra quem sofreu (...) Assim, temos uma tradição conceitual que identifica o modo pelo qual a ânsia de integralizar o ser com 'um outro' pode se realizar: Não há mal pior Do que a descrença Mesmo o amor que não compensa É melhor que a solidão (...) Esse modo de intersubjetividade depende, é certo, dos valores dos grupos sociais para se manifestar e se transformar em prática mediada pelo 16 “Soneto do amor total” Amo-te tanto, meu amor..não cante/ O humano coração com mais verdade/ Amo-te como amigo e como amante/ Numa sempre diversa realidade(...)/ amo-te como um bicho, simplesmente/ de um amor sem mistério e sem virtude/ com um desejo maciço e permanente/ e de amar assim muito e amiúde/é que um dia em teu corpo de repente/ hei de morrer de amar mais do que pude. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 96 corpo. É interessante lembrar de O Banquete (2011), de Platão, a forma como Diotima descreve a Sócrates quem é 'Eros': "- O que é Eros?(...) -Um gênio (daimon), um grande gênio, caro Sócrates: pois tudo o que é gênio medeia entre Deus e o ser mortal." Ou seja, o amor -paixão , o sentimento erotizado, que busca o encontro pelo ato sexual, é aquele que nasce na vontade do homem e é capaz de levá-lo aos 'céus'. Em sua obra o filósofo desenvolve o conceito de que o amor é um princípio cósmico, uma escada com sete degraus que podem levar os amantes a realidades superiores do universo. Assim, fixar-se no caráter físico deste encontro consiste em permanecer somente no primeiro degrau de uma escada que poderia levar o casal a dimensões muito mais amplas. Em que medida , após milênios, as relações amorosas mantiveram as verdades ou os enganos desta perspectiva e em que medida dela se afastaram? Diversas visões de mundo foram inaugurando um novo lugar para a parceria amorosa na vida social. Para Hobsbawm (1995), o século XX termina em 1990 com o fim da polarização da guerra fria e com o chamado fim das utopias, obrigando a um novo posicionamento das subjetividades. Segundo o historiador, os últimos 20 anos configurariam -de fato- uma nova era, já 'pós' moderna, com transformações significativas para as relações entre os seres. O descentramento do sujeito cartesiano que se voltou para a razão lógica tem como fundamentos várias revoluções do pensamento, tais como a descoberta do inconsciente por Sigmund Freud, no início do século XX , trazendo a ideia de que a identidade não é algo inato, mas passível de construções durante a vida . Também os movimentos de afirmação da mulher, fomentados na primeira década daquele século, culminou nos anos de 1960 com a politização da subjetividade (Hall, 1998), agregando outros movimentos determinantes de uma nova face do mundo, moldada pela 'política das identidades' (a dos negros, a dos homossexuais, a dos os antibelicistas, a dos ecologistas). Essa perda de um sentido de 'si' estável , pela possibilidade de vários 'pertencimentos' identitários (as identidades podem se superpor), em que pese ser uma grande conquista individual e social-coletiva por um lado, também traz o _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 97 ônus do provisório e do variável. Traz a crise da confiança: afinal, quem é o 'outro'? Vinicius de Moraes não só antecipou a crise pós-moderna como apontou , sobretudo nas letras de suas canções, para esta nova configuração de traço libertário das relações entre os amantes. Vamos agora falar do mito de Orfeu trazido por ele para nossos tempos, os tempos de Narciso... Orfeu é um personagem da mitologia grega, filho da musa Calíope e do rei Apolo . Por ser considerado o poeta mais talentoso que já viveu, promovendo encanto por onde passava, ganhou a lira de Apolo. Seguidor de valores elevados como a lealdade, foi um dos cinquenta argonautas que acompanharam Jasão na tarefa de buscar o Tosão de ouro. Além dessas qualidades, Orfeu era um amante apaixonado e fiel de Eurídice. Sua musa, no entanto, morreu tragicamente, no dia das próprias núpcias, por uma picada de cobra ao fugir do assédio de um outro admirador. Desesperado, Orfeu resolve usar do poder da lira, capaz de domar as forças naturais, para ir buscá-la no Hades, tendo conseguido parcialmente seu intento, com o consentimento para consuzi-la de volta ao mundo dos vivos. Mas havia uma restrição a que Orfeu não pôde obedecer : não virar para trás para vê-la em sua condição sombria até o final do trajeto que os levaria à luz do dia. A transgressão do poeta traz a ele nova morte a Eurídice e o impedimento da vivência do seu amor. A paciência foi um preço que Orfeu não conseguiu pagar. Ao que parece, preço que nenhum amante consegue pagar... Em torno do destino, se estrutura a história que Vinicius ressignifica na peça Orfeu da Conceição, com trilha de Tom Jobim e Vinicius ( foi a primeira parceria dos dois). Em que medida o poeta mostra que a tragédia que se anuncia a Orfeu é a da condição humana dominada pelo desejo amoroso de eternização do que é luz? Para o filósofo Maurice Blanchot (1987) é de grande importância, na interpretação do mito de Orfeu, a sua decisão de olhar para Eurídice. O teórico ressalta que a força que o trai é a de olhar para o intervalo que fica entre eles. O que o atrai a agir não é a contemplação à distância da presença de Eurídice, mas os perigos que podem estar nessa distância que os separa . Por sua ansiedade e insegurança ele provoca a definitiva morte da amada. O elemento essencial do mito seria a impossibilidade de ver Eurídice em suas características noturnas, envolta nos segredos e no obscuro. Além de amar, Orfeu cai na tentação de compreender e é justamente o desvelamento dos mistérios que não é dado aos apaixonados. O mistério seria a garantia da própria manutenção do _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 98 estado de apaixonamento . Olhar e ver é a sua ruína. É diluição da magia. É a morte da unidade. Orfeu simboliza o esforço de buscar a unidade. Isso se reflete na busca da mulher única, e também como uma metáfora para o exercício da poesia, uma tentativa de unir os fragmentos e dar-lhes um sentido único. Orfeu canta à Eurídice seu amor, na peça de Vinicius, a ‘Valsa de Eurídice’: São demais os perigos desta vida/ Para quem tem paixão, principalmente/ Quando uma luz surge de repente/ E se deixa no céu, como esquecida./ E se ao luar que atua desvairado/ Vem se unir uma música qualquer/ Aí então é preciso ter cuidado/ Porque deve andar perto uma mulher./ Deve andar perto uma mulher que é feita/ De música, luar e sentimento/ E que a vida não quer, de tão perfeita./ Uma mulher que é como a própria lua:/ Tão linda que só espalha sofrimento/ Tão cheia de pudor que vive nua. (MORAES, 1954, p. 56) Outro mito que aparece na poética de Vinicius , de forma muito sbliminar, nas entrelinhas é o de Narciso -o jovem que se apaixona por seu reflexo na água- imagem mitológica do amor de si. Podemos dizer que é uma postura que se contrapõe à unidade romantizada do casal Orfeu e Eurídice . A lógica atual é a de dois seres autônomos que não estão dispostos a sacrificar sua identidade , sua independência e sua autonomia. O elemento trágico parece, então, passível de ser abolido, com uma nova atitude afirmativa do feminino, como vemos nos versos de "Regra três". Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, Abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu penar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar (...) O perdão, historicamente pedido pelos homens e oferecido pelas mulheres na relação, é agora condicionado: 'o perdão também cansa'. É identificado um novo modus de encontro que aponta, portanto, para a diminuição sensível das questões acerca das diferenças de sexos e seus papeis em uma relação. Papeis tradicionalmente concebidos como referentes de _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 99 masculinidade ou de feminilidade são coexistentes e passíveis de serem trocados em combinações viáveis, no cotidiano da cumplicidade pela semelhança. Entre o fragmento narcísico e a completude órfica A influência dos padrões culturais no mundo moderno transfere o sentimento amoroso do seu lugar idealizado para outro que envolve vários conceitos relacionados à vivência da intimidade a dois contra qualquer regras social. Os versos de "Deixa" apresentam este posicionamento : Deixa Fale quem quiser falar, meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais Quando se queixa Então a gente Deixa, deixa, deixa, deixa O amor aqui representado em Vinicius aponta para a ideia do “amor confluente” do sociólogo Anthony Giddens , para quem o mais importante é o “relacionamento especial” no tempo presente: Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão também existe Deixa Não me deixes ficar triste O amor confluente presume igualdade na doação e no recebimento emocionais , e, a partir daí, só se desenvolve, pois a intimidade agora é uma escolha e não _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 100 uma imposição. Uma letra muito significativa desse tipo de relação é "Minha namorada", em que o poeta apela ao 'querer' da mulher que lhe interessa... Se você quer ser minha namorada Ai que linda namorada Você poderia ser. E -romanticamente- abre a possibilidade do encontro existencial maior (...)E se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada, mas amada pra valer Aquela amada pelo amor predestinada Sem a qual a vida é nada Sem a qual se quer morrer O eu-lírico interpela a amada e considera possibilidade de não poder oferecerlhe o melhor... Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Com o sentimento de exclusividade, próprio dos apaixonados, prossegue em seu apelo: Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos E os seus braços o meu ninho No silêncio de depois E você tem de ser a estrela derradeira Minha amiga e companheira No infinito de nós dois O sentimento presente na canção remete ao conceito de que o amor é capaz de elevar o sujeito, como demonstram as imagens 'estrela derradeira'/ 'infinito'. Amar, nesse sentido, é libertar-se. O tema do amor amplia-se para configurar as questões existenciais que implicam a relação do sujeito com o “outro”, conformando sua identidade. Ou seja, apesar de estilhaçado e confuso pela velocidade e urgência das transformações de seu tempo, o eu poético demonstra a preocupação de ampliar o conhecimento de sua condição existencial. Portanto, estamos diante de um aparente paradoxo: de um lado, o anunciado fragmento pós-moderno, _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 101 vivenciado na prática de suas relações amorosas por Vinicius (com seus diversos -9- casamentos); de outro, a busca de reintegração do ser, na relação amorosa permanente. O personagem Orfeu, como espelho do poeta, vocaliza essa expectativa na letra de ‘Se todos fossem iguais a você’. Vai tua vida Teu caminho é de paz e amor A tua vida É uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta a última esperança A esperança divina De amar em paz... Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver! Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar... Entre signos representativos da razão (o ‘sol’ e a ‘luz’) o eu lírico situa sua esperança de um amar ideal (‘Amar sem mentir nem sofrer’) nesse ‘você’( ‘Se todos fossem iguais a você/que maravilha viver!’) , objeto de seu amor, concentrado como uma ‘verdade’ que só ele vê, mas que também tem o status de universal , pois ‘Existiria “a” verdade’). É o sentimento amoroso que torna o amante em visionário, condição superior do ser. Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você! Como sabemos, o final da história do casal Orfeu e Eurídice é trágico. Orfeu é morto por não aceitar a paixão de outras mulheres (seu amor e suas esperanças morreram com Eurídice que representa o ideal de mulher). É esta sua atitude de fechamento para a vivência de um a relação amorosa que atrai Tanatos, metaforizado pela fúria das mulheres que não aceitam a rejeição do poeta. Orfeu é morto por elas no final da história. No entanto, em Vinicius não há morte _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 102 possível pra a voz daquele que um dia foi tocado pelo amor. O maior legado de Orfeu seria a eternização da verdade amorosa pela arte. Diz o narrador ao final da peça: Para matar Orfeu não basta a Morte. Tudo morre que nasce e que viveu Só não morre no mundo a voz de Orfeu. Conclusões Já a título de conclusão, quero lembrar que Vinicius de Moraes foi o poeta que teve 'peito de remador' (a imagem está na crônica em "Para viver um grande amor") e empreendeu sua vida investigando as possibilidades amorosas na intenção da plenitude, ou seja, num certo sentido o oposto de Orfeu... Para a sorte da literatura brasileira des-cristalizou em seus versos a chama que as instituições sociais e religiosas tentam explicar e regular. Segundo o poeta (no mesmo texto) "É preciso muitíssimo cuidado com quem quer que não esteja apaixonado, pois quem não está, está sempre preparado pra chatear o grande amor.” Em "O que é que tem sentido nesta vida", canção não tão conhecida do poeta, o sentido de sua procura é explicitado: Há quem creia em ter status Sair em fotos e fatos Ter ações ao portador Eu só acredito em liberdade E estar sempre com saudade De viver um grande amor. Poderíamos dizer então, afinal, relembrando os traços biográficos que sublinham sua poética, que Vinicius de Moraes acaba por compor a voz de um Orfeu um tanto estilizado. Fiel, dizem, a uma amada de cada vez, vivia suas paixões extensiva e intensivamente na mais completa edição de um Orfeu adaptado -encantador por seu dom, mas narcísico em seus objetivos- enfim... para além dos possíveis olhares de cunho moral, podemos afirmar que Vinicius foi o poeta mais amado de seu tempo. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 103 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2004. BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo, fatos e mitos vol.I. São Paulo:Difusão Européia do Livro, 1970. Cancioneiro Vinicius de Moraes: biografia e obras escolhidas, Sergio Augusto, Jobim Music. (edição bilíngüe), 2007. BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. BLANCHOT, Maurice. The Writing of the Disaster. University of Nebraska Press, 1986. BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. CASTELLO, José. O poeta da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. COMTE-SPONVILLE. O amor. São Paulo: Editora WMF, Martins Fontes, 2011. CYNTRÃO, Sylvia H. Como ler o texto poético: caminhos contemporâneos. Brasília: Plano Editora, 2004. CYNTRÃO, Sylvia H. Literatura e canção brasileira contemporânea: a ressemiotização do ideário nacionalista. In: Revista Cerrados “Literatura e outras áreas do conhecimento”, nº. 22, ano 15, Brasília, 2006, p. 217-232.. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Rio de Janeiro : DP& A, 1998. HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade. São Paulo: Editora UNESP, 1993. LASCH, C. O mínimo eu. São Paulo: Brasiliense, 1987. LAURETIS, Tereza de.a tecnologia do gênero. In: Hollanda, Heloisa Buarque (org.).Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro, 1996. LÁZARO, André. Amor: do mito ao mercado. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. LIPOVETSKY, Gilles. Amor: a era do vazio- ensaio sobre individualismo contemporâneo. Lisboa: Relógio Dágua Editores, 1982. LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo. Editora Barcarolla, 2004. MORAES, Vinicius de. Obra Poética. Rio de Janeiro, Aguillar, 1968. MORAES, Vinicius de. Livro de Sonetos. Prefácio de Otto Lara Rezende. _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 104 Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1967. MORAES, Vinicius de. Teatro em verso. Org. Carlos Augusto Calil. São Paulo: Cia. das Letras. MORAES, Vinicius de. Orfeu da Conceição, 1954. MORAES, Vinícius de. Para viver um grande amor. José Olympio Editora Rio de Janeiro, 1984. PALLOTINI, Renata. Aproximação, in Revista Brasiliense, nº 16. Separata editada pelo autor em 1958 - artigo sobre Vinícius de Moraes. PAZ, Otávio. A dupla chama. Amor e Erotismo. São Paulo: Siciliano, 1995. PLATÃO. O Banquete. Ed. Bilingue . Rio de Janeiro: L& PM, 2011. RICARDO, Cassiano. Poesia Práxis e 22. Rio de Janeiro: José Olympio, 1966. SANT’ANNA, Affonso Romano de. Canto e Palavra. Belo Horizonte: Edições MP, 1965. SANT’ANNA, Affonso Romano de. Canibalismo amoroso. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2012. TODA A DISCOGRAFIA no portal oficial administrado por Suzana de Moraes: http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/ _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 105 AGRADECIMENTOS REALIZAÇÃO Outubro 2013 _____________________________________________________ Anais do 11º Encontro de Letras da UCB – ISSN: 2175-6686 Os textos são de inteira responsabilidade dos autores. 106
Download