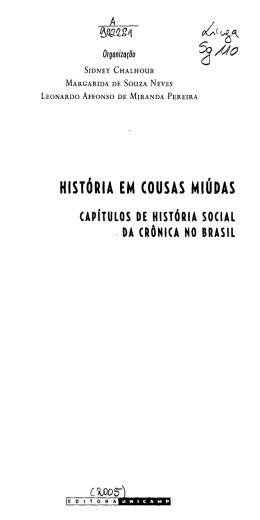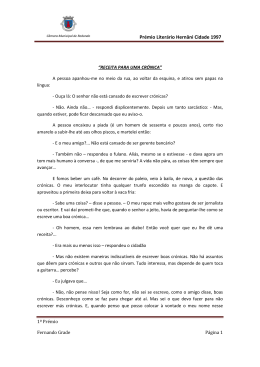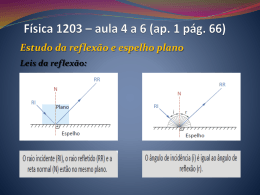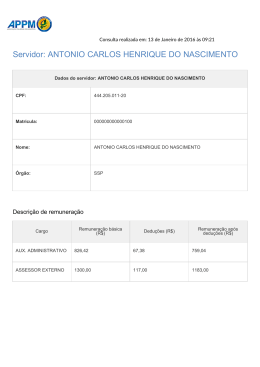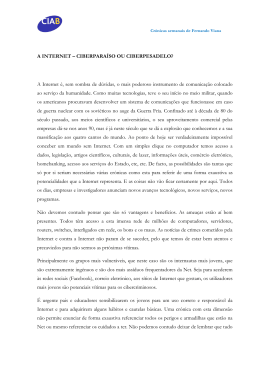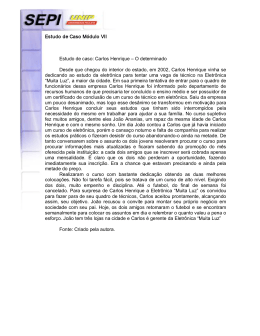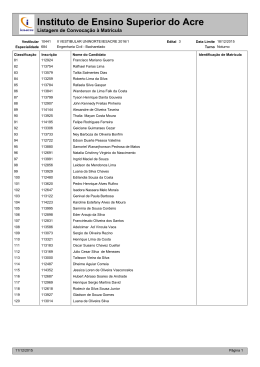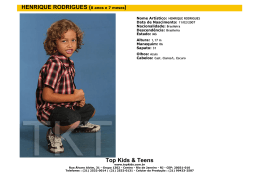A outra face do espelho de José Henrique Dias É com gosto que saúdo cada um de vós (hoje aqui presente), tanto mais que, depois de ter mergulhado no universo de José Henrique Dias, não estava certa de poder ainda distinguir entre a ficção e a realidade, entre a recordação e o presente, entre mim própria e outrem. Este apagamento das fronteiras psicológicas é o efeito mais perturbador da leitura de A outra face do Espelho. Para falar francamente, nada me garante que eu não seja, por exemplo, aquela mulher escritora que, no texto intitulado “Outra vez”, assiste ao lançamento do seu livro vigiando ansiosamente a porta do fundo de onde deveria surgir o seu amante João, que ela acabara de magoar levianamente e que não voltará a ver com vida (pois que nesse preciso instante, e por culpa dela, João acaba de morrer na auto-estrada). Mas “tirem-me desse filme” ou melhor, dessa crónica! Não é legítimo que confunda os papéis, que baralhe o momento e o lugar: estou de facto na Casa da Cultura de Coimbra, a 8 de Julho de 2009, e é a mim, professora de literatura, que cabe apresentar esta obra, na companhia do seu autor (e do seu editor). Hesito na forma de proceder. Não podendo ler-vos em voz alta cada um das 61 criações – o que seria a única maneira de lhes fazer justiça -, a minha tentação seria ou resumilas, fazendo-as acompanhar de um breve comentário que mostraria como cada uma se assemelha e se distingue de todas as outras, ou interpretar os títulos em função do que escondem ou do que permitem adivinhar do tema que anunciam, ou ainda escolher uma única para a viver e a estudar até à exaustão. Este último método seria legítimo, pois que cada uma destas crónicas existiu, antes de mais, em si mesma e para si mesma, publicadas que foram uma a uma ao longo dos últimos anos em jornais da cidade (em primeiro lugar n’O Despertar, depois n’Centro), cada uma constituindo pois um mundo ou, em todo o caso, uma mónada leibnitziana, reflectindo por si só um universo ao mesmo tempo familiar e estranho. Mas como uma apresentação constitui um exercício híbrido, misto de conferência e de ritual mundano, não tenho outra opção, para me conformar à regra, senão propor-vos uma interpretação sintética e por conseguinte esquemática. Permiti, para ganhar tempo, que indique o caminho que vou seguir. De entre variadíssimas outras questões que me poderiam servir de fio condutor, escolho um 1 problema, o do Destino que, sendo o mais geral possível, me libertará das numerosas redes temáticas que ligam os textos uns aos outros. Com efeito, poderia interessar-me pela infância, pela política, pela cidade, pela doença, pela amizade, pela pintura, pelo futebol, pela música, pela mulher, pela velhice, pela fidelidade e pela infidelidade, pela censura e pelo seu oposto – e por quanto mais… Outros tantos temas que formam o entrançado contínuo que o escritor borda e que mereceriam a nossa atenção. Mas parece-me que o melhor partido a tomar, perante um objecto tão múltiplo e proteiforme, consiste em o geometrizar um pouco: o conceito de destino servir-me-á de elemento estruturante. Uma observação prévia impõe-se contudo. Aceitando, para categorizar estes textos, a denominação de crónica, faço a economia da delicada problemática formal do género literário, não me colocando pois a questão de saber quais poderiam ser arrumados sob a etiqueta de poemas em prosa, nem o que faz de certas histórias “novelas” na acepção que a narratologia confere à palavra para a distinguir do conto, nem o que leva algumas outras a caírem no teatro. A teoria literária possui o inconveniente de nos tornar cépticos perante as obras: em face de uma narrativa, ensinamos aos nossos estudantes a recordar que tudo, em literatura, é “fabula” e jogo de linguagem. Ora, estas crónicas devem ser lidas como foram escritas, com a preocupação da verdade. Que revelem muitas vezes (em mais de metade dos casos) um maior ou menor grau de ficcionalização, que o jornalista (isto é, aqui, aquele que escreve para um jornal) se torne romancista ou poeta, em nada modifica a atitude do leitor que deve responder com uma inteira boa fé ao desejo de autenticidade do autor. Se qualquer texto literário requer um pacto de leitura, estas crónicas exigem de nós não suspeita mas confiança. Se são escritas com arte e talento (para não dizer, em muitos casos, com virtuosismo), serão lidas com toda a seriedade que a vida exige. Em suma, estamos aqui nos antípodas das tentativas do Oulipo e dos jogos da literatura potencial. Não que o escritor não tenha sentido de humor, bem pelo contrário. Mas se estivermos de acordo com a célebre fórmula de Swift, “o mundo é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam”, estes textos não são exercícios de cerebralidade, mas de sinceridade. 2 Todavia, se possuem a força pungente do documento, o título geral leva-nos a olhá-los como textos que vão além do reflexo imediato da vida, podendo – ou devendo mesmo – ser lidos de outra forma que não a da representação ilusoriamente realista do mundo. José Henrique Dias sugere-nos que desafiemos uma concepção linearmente mimética da literatura. Cito-o: “No espelho não nos vemos, vemos o nosso simétrico. Iludimonos com a imagem. Há uma outra face que oculta o visível e tece o mistério do que não é evidente”. Por outras palavras, sinceridade não é ingenuidade, reflexão não é ilusão. Assim, tendo considerado primeiro a obra na sua dimensão documental e realista, teremos depois que a interrogar sobre essa simetria invertida da imagem especular. Ora, por detrás dos destinos singulares há o Destino, por detrás das vidas individuais, há a Vida. José Henrique Dias não quis fazer obra de filósofo mas de contador. Nada então, depois de uma imersão na diversidade dos episódios e das evocações (diversidade que, para o leitor, faz todo o prazer da crónica), nada impede que nos elevemos a um plano mais abstracto onde o autor deixa entrever o que se esconde do outro lado do visível. Tomemos então o Destino no seu sentido corrente, enquanto conjunto dos acontecimentos, contingentes ou necessários, que constituem uma biografia. Trata-se essencialmente de história e de estórias. De História, antes de mais, com H maiúsculo. Todas as narrativas, todas as evocações do livro têm como cenário Portugal, entre o final do século 19 e o início do século 21. Estamos, grosso modo, no Portugal contemporâneo ou, pelo menos, contemporâneo de um homem que tivesse nascido nos anos 30, que tivesse vivido os primeiros quarenta anos da sua vida sob um regime autoritário, num canto da Europa. Completamente diferente teria sido a experiência de um Inglês ou de um Francês nascidos no mesmo ano, em Bristol ou Marselha e, por conseguinte, bem distintos teriam sido também os ingredientes das suas crónicas. É da sua infância, do seu meio, do seu bairro que José Henrique Dias fala em vários textos expressamente autobiográficos. Não escolheu nascer português ou coimbrinha, passar a sua juventude nessa Alta hoje desaparecida, no meio de uma população ao mesmo tempo submissa e rebelde, simultaneamente infeliz e bem-humorada. Nascido em 1934, faz-se o memorialista de um mundo e de uma cidade de que não ouvi senão ecos, de que não tive senão vestígios através do testemunho de meus pais. O autor passou a sua juventude num Portugal diferente daquele em que vivemos e, no limite, hoje bastante inimaginável. 3 É pois também uma Coimbra desconhecida que retrata, a da Alta demolida nos anos 40 e onde se desenrolou a sua infância. Os textos intitulados “Golpe a golpe, verso a verso”, “Sonata ao luar”, “Deliquências”, “Enfarte de core ingrato”, “Na fonte do Marco da Feira” desenham um cenário desaparecido, onde uma criança de hoje se sentiria mais perdida do que na lua. A própria pobreza não é a mesma, e é difícil não acreditar em fantasmas quando, guiados pelo escritor, passeamos em toda esta zona reconstruída onde brincava com os seus companheiros de classe e comia fatias de pão a que, muitas vezes, faltava a manteiga. Colocando-me no plano da realidade vivida e restituída com uma intensidade tocante nestes textos de 4 ou 5 páginas, procuro, com uma simpatia de leitora dócil, identificarme com o autor, e esta identificação é tanto mais fácil quanto é Coimbra que fornece o cenário mais frequente das histórias ou das evocações. Algumas das nossas memórias são comuns: reconheço lugares, pessoas, acontecimentos, reminiscências sobretudo de atmosferas, de sensações, de sabores como, entre tantos outros, o daqueles “bolitos amorenados, com um ligeiro gosto a canela, [que] fazem crescer água na boca da memória” (p.229). Há aqui uma guloseima da lembrança que favorece uma intimidade imediata entre o leitor e o escritor. Esta sensualidade não se limita à exaltação da doçaria local mas estende-se a todos os prazeres e antes de mais – noblesse oblige – ao prazer do amor. Aliás, é pouco – e insuficiente – dizer que estas crónicas tematizam a volúpia: cantando-a, celebrando-a, exaltando-a em quase todas as páginas, elas fazem do desejo a grande, a única divindade. Mas não chegou ainda o momento de definir o paganismo do autor ou, digamos, do enunciador. Limito-me, para já, a observar, en passant, o realismo das notações sensoriais que fazem com que uma palavra, ou algumas palavras valham, num bom livro, muito mais do que mil fotografias ou imagens – a menos que se trate dos belos desenhos de Nadir Afonso. Se uma espécie de pan-erotismo atravessa a obra e lhe empresta aqui e além acentos líricos, é não só porque o amor é o grande ordenador da vida, e que a obra nos dá a ver a vida, mas também porque, depois de um longo recalcamento, a libertação do corpo e dos costumes chegou finalmente para os protagonistas destas crónicas. Não esqueçamos que, em pano de fundo, existe a História no sentido político, a ditadura castradora que proibiu muitas gerações – e talvez em particular a do autor – de viver à saciedade a sua juventude, enquanto sob outros céus rapazes e raparigas da mesma idade se entregavam por inteiro ao “furor de viver”. O 4 salazarismo, como todos os regimes repressivos, cultivava as “paixões tristes” e a má consciência é o mais sinistro dos destinos. Tive, por contraste, a sorte de ter 20 anos em 1974 e de conhecer, através de certos padres excepcionais, uma Igreja muito diferente da que foi cúmplice de um Estadopolicial e de que o cronista não guardou, e com razão, senão más memórias. São estas autoridades teológico-políticas, muito mais do que a miséria material, que exerceram a sua fatalidade sobre um povo que hoje, a exemplo do velho das Crónicas “Entre as brumas da memória” e “Avenida da Liberdade” pergunta a si mesmo se deve lembrarse ou esquecer. Da nossa alma colectiva, as crónicas são uma espécie de psicanálise selvagem. Mas Portugal é um paciente distraído e indisciplinado, que como a personagem de “Chave de vidro”, tem dificuldade em se libertar do passado compreendendo-o sob o olhar da sua demasiado bela psicanalista. Leio uma passagem da crónica : “A verdade é que somos muito frágeis. Um homem cresce, tira cursos, faz filhos, chega a ministro, perfila-se nas tribunas dos desfiles militares, passa a administrador de empresa pública, tem reconhecimento, andou na guerra colonial, fez trinta por uma linha, aguenta o stress pós-traumático e não tem coragem para os coçar.” Tenho pena de não me poder deixar levar pelos numerosos relatos ficcionais que, ao lado de textos autobiográficos, compõem uma colectânea onde, mais ainda do que os indivíduos, é a própria vida que é psicanalisada. Caberá ao leitor condoer-se com os diversos dramas contados com frequência na primeira pessoa, dramas físicos da doença, do acidente, do envelhecimento, dramas da traição, do abandono, da violência doméstica: todo um material patético tirado da experiência comum e que a cultura das personagens, seja ela literatura ou filosofia, música ou pintura, não consegue transfigurar. Apesar da diversidade dos destinos e das condições, somos todos iguais perante o sofrimento, mesmo se, também aqui, uns são mais iguais do que outros…Um singular dom de empatia permite ao escritor transportar-se até ao coração dos mais diversos seres e tomar com a maior verosimilhança a voz de uma mulher, o que não é dado a todos os romancistas, como no admirável texto “Tinham a cor das palavras do pai”, justamente assinalado por Fernando Campos no seu prefácio, ou ainda em “Pesadelos”. Podemos lamentar que não tenha sido dada a José Henrique Dias a oportunidade de colocar a sua inventividade de cenarista e a sua experiência humana ao serviço daquilo 5 a que os brasileiros chamam télé-dramaturgia : teríamos ganho, para os nossos ecrãs, “novelas” de uma qualidade em nada semelhante à que é imposta hoje ao público! É que, ao passar de uma existência a outra, da sua própria vida à vida de um médico, de um banqueiro, de um pintor ou de um advogado, de uma demente ou de um pianista, procura menos divertir do que interrogar. Que existe por detrás do palco onde passam, tão brevemente, as vidas e os destinos individuais? Lancemos então um furtivo olhar para a outra face do espelho. Se me é impossível dar conta da colectânea na sua variedade sensível, e menos ainda no seu pormenor, é-me, ao invés, bastante fácil compor, em algumas palavras, a unidade filosófica, correndo os riscos próprios de quem quer simplificar demasiado. A outra face do espelho é a da Anankè, essa divindade da Necessidade que nos dá e, sobretudo, nos tira a nossa juventude, a nossa saúde, o nosso amor, a nossa liberdade. “La vérité est peut-être triste » escreveu Renan e José Henrique Dias não está longe de o pensar como já fazia o Salomão do Eclesiastes ou como Schopenhauer, o mestre de Freud, que escreve num dos capítulos do seu Monde : “Se mergulharmos o nosso olhar no tumulto da vida, vemos todos os seres acabrunhados pelos males e inquietações da existência, procurando desesperadamente satisfazer desejos sem fim e defender-se contra sofrimentos vários, sem poder todavia esperar mais do que a conservação dessa vida individual atormentada, durante um breve lapso de tempo.” O escritor multiplicou as variações sobre o tema fundamental do absurdo que não deixa como escapatória senão a ilusão. Pessimismo radical que não atenua a doçura das memórias de infância e que agrava a armadilha do amor, esse Eros que não faz senão perpetuar a dor dos vivos. Mas é, apesar de tudo, o desejo que, de uma ponta à outra do livro, impede a vida de cair no desespero. Qual dos dois, o pessimismo metafísico e o erotismo, é o mais forte na obra de José Henrique Dias : creio, felizmente, que é o erotismo, e que é a ele que devemos as mais belas páginas do livro, como esta longa frase intensamente lírica, onde a amante se confunde com a cidade e que, para terminar, e como recompensa pela vossa atenção, vou ler na íntegra: Precisava tanto deste momento que me deste, despir-te e percorrer o teu corpo e ficar em ti, assim quieto, todo ternura de flor a abrir, todo violino e arco e música de anoitecer, com a chuva lá fora, sentir-te deitada e tocar-te como preces, chegares-me 6 divina e ficares, como se na praia nossos pés na areia, como se os corpos harmonias de Debussy, minha capela sistina de eu miguelângelo, me leornardo de virgem dos rochedos, rodin reenviado dos meus dedos para desenhar o barro de teu corpo, moldar o te por dentro, espiral de mim em fogo preso nas margens do teu Mondego, santa clara de meus olhos absolutos no miradouro dos teus, beijo nocturno sentado nas escadarias da sé, serenata molhada na matemática da tua minha rua das flores, pão da meia noite quente na porta da padaria do largo, sorriso de manteiga nos lábios, presos no elevador da glória o tempo de te subir a saia, de me encostar a ti e chamares-me com os olhos rasos de alegria, sinos de noite fora na torre, meu amor vem sobre as ondas, meu amor vem sobre o mar, ao pé de ti a subir alturas de feiticeira, mãos em garra do Paredes, balanço de verdes anos, verdes sonos, verdes sonhos, e ficar assim contigo, demoradamente, deslumbrado, porque te chamo Márcia e eu não tenho nome, chamas-me querido, sou os teus ais em tua cama deitada, absoluto, vivo, teu como não sei dizer-te, porque sabes mais de mim que eu próprio, porque estou em ti com uma flor na boca e canto o amor que há em nós, minha nossa senhora de todas as coisas possíveis… (“A título póstumo”, pp. 385-386). Casa da Cultura, 8 de Julho de 2009 Cristina Robalo Cordeiro 7
Baixar