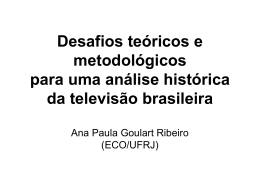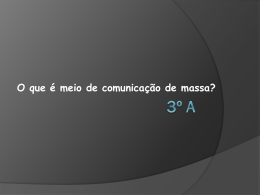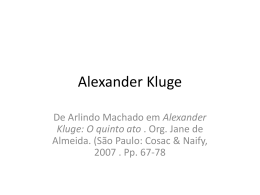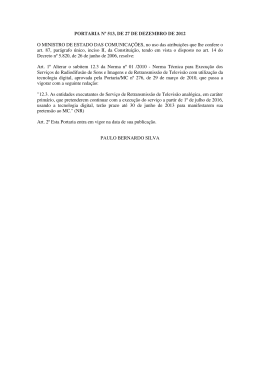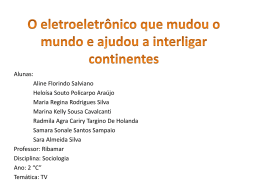A perda no caminho José Paulo Paes * Promovendo uma sensação, simultânea e ambígua, de presença e distância, e despertando a participação ativa da imaginação dos ouvintes, o rádio – à época em que foi suplantado pela televisão – diferencia-‐se radicalmente do processo produzido pelas atuais programações de TV. Melhor se faria a comemoração dos sessenta anos de rádio no Brasil se, em vez de evocar saudosisticamente os seus bons tempos, se refletisse a cerca do que representou a substituição do aparelho de radiofonia pelo aparelho de televisão no altar-‐mor dos lares domésticos. E essa reflexão bem que poderia tomar por epígrafe a velha anedota do sujeito que chegou em casa entusiasmado com o último aperfeiçoamento tecnológico de que tivera notícia: um televisor que, dispensando a imagem, só transmitia o som puro... À primeira vista, a atual hegemonia da televisão sobre o rádio parece configurar um caso semelhante ao da vitória do cinema falado sobre o cinema mudo. Trata-‐ se, contudo, de um paralelo enganoso. O advento da trilha sonora é responsável pela morte histórica do filme sem voz, ao passo que o da televisão apenas acarretou uma mudança no uso do rádio como instrumento de diversão. Expulso de seu lugar na sala de jantar ou de estar, conseguiu ele, graças ao surgimento do transistor, sobreviver como bom companheiro portátil para as horas em que o usuário não esteja hipnotizado diante do vídeo. É bem de ver, porém, que esse rebaixamento de posição trouxe consequências de vulto para o tipo de programação tradicionalmente veiculada por ele. A radionovela, os sketches humorísticos, os musicais e os concursos de auditório transmitidos ao vivo – vale dizer, a parte “nobre” da programação – desapareceram de vez, transferindo-‐se com armas e bagagens para a televisão. Sobraram para o rádio apenas os programas de música à base de gravações e noticiários jornalísticos. É então que tem início a tirania dos “disc-‐jockey”, que só cede lugar, e assim mesmo ocasionalmente, ao repórter policial ou ao locutor esportivo. O ouvido distraído O entretenimento hoje transmitido pelo rádio teve de adaptar-‐se por força às condições da portabilidade caucionadora da sua sobrevivência. O pequeno receptor transistorizado a que se reduz a imponente “Capelinha” dos anos 1930 viaja embutido no painel do carro para amenizar a monotonia das viagens, leva-‐o a dona de casa para a cozinha, o trabalhador para a fábrica, ou escritório, o adolescente para onde vá, afim de se distraírem na rotina das tarefas diárias. Mas esta mistura de trabalho e lazer implicou uma divisão de atenção: ouve-‐se agora rádio distraidamente, com um ouvido só. Foram-‐se os tempos em que, reunido diante do dial iluminado, o círculo familiar era todo ouvidos para a programação da noite: o jornal falado, os quadros cômicos, os cantores acompanhados de regional ou orquestra, os desfiles de calouros transmitidos dos auditórios, as radionovelas ou as peças de grandes autores adaptadas. Foi principalmente no campo do teatro falado que o rádio alcançou desenvolver uma estética própria. A figura do “sonoplasta” (bela palavra que dá palpabilidade ao som incorpóreo), é até hoje lembrada. Com a sua parafernália capaz de gerar fielmente toda a sorte de ruídos – tempestades, tropel de cavalo, brigas homéricas, passos sinistros nas trevas, fantasmas a arrastar correntes, trens partindo ou chegando – criava ele uma cenografia acústica para as falas dos atores, dando-‐lhes profundidade, ressonância, poder de convencimento. Tão inventiva se demonstrou essa técnica de ilusão sonora que, com imitar na televisão um sonoplasta as voltas com sua extravagante aparelhagem, Jô Soares criou um dos melhores números. A estética do “som teatralizado”, se cabe a expressão, desenvolveu-‐a o rádio com base numa habilidosa manipulação do poder imaginativo dos ouvintes. Nunca se demonstrou tão verdadeira como no radioteatro a definição de forma literária proposta por Kenneth Barke, como “a psicologia da audiência”. Quem criava o espaço físico tridimensional onde as vezes se materializavam em pessoas de carne e osso era o próprio ouvinte, com a sua imaginação orientada e estimulada pelas “pistas” que a sonoplastia ardilosamente lhe fornecia de quando em quando. Com isso, deixa ele de ser mero ouvido passivo, para se converter em colaborador ativo do espetáculo sonoro que se lhe propunha. A teatralização do som é o aproveitamento deliberado de uma virtualidade como que inata ao rádio enquanto meio de comunicação. Por si só, alcança ele infundir no ouvinte, uma sensação a um só tempo de presença e distância. Sensação que se aguça quando ele é ouvido solitariamente na quietude de um quarto, às escuras onde se lhe possa enxergar a débil luminosidade do mostrador. Um compositor de música eletrônica, locutor Luctor Ponse, conseguiu expressar admiravelmente essa dúplice sensação na sua peça “Radiofonia 1”, na qual só se escutam ruídos de estática ou sinais sem sentido emitidos por alguma fonte distante demais para que pudessem ser captados com clareza. O hábil contra ponto de longos silêncios com esse sons inarticulados, bem como os seus crescendo e diminuendos a figurar a aproximação e distanciamento, incutem a sensação de estar-‐se a ouvir uma intraduzível mensagem vindas das profundezas do espaço, como se algum outro mundo estivesse tentando estabelecer contato, mas sem sucesso. Por outras palavras, uma sensação simultânea e ambígua de presença e distância. Se se comparar essa presença à distância com a famosa definição que Pascal deu à metáfora como presença e ausência a um só tempo, entender-‐se-‐ão melhor as virtualidades metafóricas do “Som teatralizado” da radiofonia. Quando se assiste a uma representação de teatro, está-‐se na verdade, assistindo a um texto corporificado, em que os autores, com suas falas realçadas por inflexões e gestos, são metáforas das paixões que lhe habitam o íntimo de personagens, e de cujos conflitos se tece o “enredo” da peça. Mas o teatro é uma arte “mista” em que dois meios, o verbal e o visual, se aliam em função dos mesmos propósitos expressivos. Já o radioteatro seria o teatro “puro” na medida em que recorre ao verbal, sem apoio nem interferência do visual, a menos que se queira ver o sonoplasta como uma espécie de “tradução” acústica dessa visualidade posta de lado. De qualquer modo, tudo se passa no plano sonoro, que é o plano por excelência da fala. Daí que poetas e escritores, artistas da palavra, se tenham sentido tentados a escrever para o rádio, como é o caso de Dylan Thomas, com sua peça para vozes, “Under milk wood”, produzido pela BBC em 1954. Com o advento da televisão, o som à distância da radiofonia soma-‐se a uma nova dimensão, a imagem visual, responsável pelo extraordinário sucesso desse que se tornou o mais poderoso meio de comunicação de nossos dias. Mas esse poder tem o preço que não é pequeno. Em primeiro lugar, há o nababesco investimento em aparelhagem técnica e em instalações a que se tem de acrescentar as elevadas despesas de produção de programas ao vivo, sobre tudo de telenovela, bem como os “royalties” pagos pelos videoteipes ou filmes estrangeiros exibidos. O alto custo industrial da televisão teria de levar necessariamente a sua concentração: umas poucas redes transmissoras cobrem hoje todo o país com os mesmos programas, não passando as estações locais disseminadas pelos diversos estados de meras repetidoras dos focos gerados do Rio e São Paulo. É por demais conhecido para que se precise nele instituir, o impacto causado por essa centralização no sentido de uniformizar, gostos, comportamentos e, sobretudo, hábitos de consumo. Limitemo-‐nos a assinalar que tal processo de concentração correu paralelamente ao da centralização autoritária do poder político. Dispensador todo poderoso das concessões de canais de televisão, o Estado sempre se valeu dessa para influir na opinião pública, fosse através de pronunciamento direto de seus mandatários, fosse através de campanhas encomendadas às agências de publicidade, ao mesmo tempo em que, pelo mecanismo da censura, prevenia eventuais desvios que estimasse prejudiciais aos seus propósitos ideológicos ou aos valores da moralidade pública de que se inculcava guardião. Se impacto uniformizador da televisão foi útil aos interesses da produção industrial em massa e de um autoritarismo político avesso a qualquer forma de partilha de seu poder, não foi absolutamente aos interesses da cultura que é o domínio por excelência diferenciações criativas. Basta atender para o apagamento dos sotaques regionais porque vai sendo responsável a televisão, em cuja linguagem oral predomina uma espécie de amálgama do falar paulista com o falar cariosa, desse último provindo a pletora de expressões de gíria a que se reduz atualmente todo o vocabulário da juventude. Compare-‐se agora essa vocação “federalista” das redes de televisão com a vocação municipalista das pequenas emissoras de rádio espalhadas por todo o território nacional. Cada cidade que se preze tem a sua, mantida com a publicidade do comércio e indústria local e serviço especificamente da comunidade que a ouve. É nessas estações interioranas que os artistas amadores conseguem uma audiência bairrista e simpática, seu primeiro estímulo rumo a profissionalização a que no clube fechado da TV, só uns poucos conseguem ascender. Até aqui falamos exclusivamente do custo social, não do custo estético do espantoso poder de aliciamento da televisão, tão mais intenso e mais extenso que o da rádio. Poder que chega às raias da hipnose coletiva, como num conto de ficção científica de Ray Badbury, cujo protagonista por preferir passear à noite pelas ruas desertas da cidade, ao invés de postar-‐se compulsivamente diante do vídeo como todos os seus concidadãos, acaba sendo preso pela polícia e encaminhado a uma clínica psiquiátrica para ser re-‐socializado... Esse poder quase letárgico da televisão tem certamente a ver com a qualidade por assim dizer “táctil” de suas imagens e com o veículo pessoal que, por sua proximidade dele, ela estabelece com o espectador. Nisso, a televisão difere frontalmente do cinema cujo desfruto é em certa medida ritualmente socializada, praticado em grupo num local especial. Entretanto, de um pouto de vista rigorosamente estético, a televisão não tem como se sabe, um contudo próprio: apresenta o mesmo que o cinema, isto é imagens animadas e sonorizadas. Do ponto de vista histórico ela é apenas a herdeira, como tivemos a ocasião de lembrar, da programação “nobre” do rádio – a novela -‐, o noticiário, o musical, o sketch. Uma estética específica da televisão teria de ser, segundo entende Umberto Eco, a captação dos acontecimentos no mesmo instante de sua ocorrência, como o que lograria ela diferenciar-‐se do cinema, onde ocorre um hiato temporal entre o fato e a sua reprodução imagética. Exemplo particularmente feliz dessa “estética do instantâneo” própria da televisão é a transmissão do futebol ao vivo: pelo uso de mais de uma câmara e pelo recurso ao “zoom”, propicia ela ao telespectador uma visão do que se passa no campo mais completa do que a tem quem esteja presente ao estádio. Para se perceber a dramática pertinência da instantaneidade, é só pensar como fica sem graça o videoteipe de uma partida cujo resultado já se conhece de antemão. A redundância estrutural As oportunidades concretas de a televisão desenvolver a sua estética de uma imagem sincrônica do acontecimento são poucas. Porém, as mais das vezes, conforma-‐se ela em ser apenas veículo do cinema: boa parte da sua programação – quiçá a melhor parte – está dedicada à reprodução pura e simples de filmes. Aliás, com o recente advento do videocassete e da televisão por cabo, parece ela estar mesmo relegada ao papel de prover cinema à domicílio, tanto mais quanto comparada ao dinamismo e a economia narrativa do filme, a telenovela se mostra insuportavelmente longa e redundante. Nessa palavra, “redundância” estará talvez o calcanhar de Aquiles da televisão. Ao completar o som já de si descritivo do rádio com a imagem pormenorizada do cinema, para levar ambos, sem nenhuma ritualização social, a cada domicílio, ela como que condena ao ostracismo os nossos dons de imaginação – no sentido estrito de faculdade criadora de “imagens” mentais complementares das visuais, criação que até mesmo o cinema, pelo uso sistemático da elipse e da metonímia, convida o seu espectador fazendo-‐o partícipe do processo da constituição do sentido estético. Duas historietas exemplares, à maneira das de Décio Pignatari, talvez a ajudem a ilustrar melhor o que se está tentando dizer. Primeiro historieta: numa entrevista recente, contou Chacrinha que ao tempo em que transmitia o seu “Cassino” pelo rádio, usando somente discos e fetos de sonoplastia, dois turistas argentinos compareceram certa noite ao estúdio certos de que se tratava de um cassino de verdade; desse equívoco a imagem redundante da televisão o salvaria mostrando-‐lhes que se trata hoje de um mero e repetitivo programa de auditório. Segunda historieta: muita gente não deu maior atenção à apresentação vivo pelo vídeo da segunda decida do homem à Lua, por lhes parecer possivelmente um espetáculo de rotina, muito inferior aos filmes de ficção científica, desinteressante que contrata vividamente com o pânico causado em Nova York pela famosa adaptação radiofônica de “A Guerra dos Mundos”, Wells feita pelo então jovem Orson Wells. Essas reflexões meio desalinhavadas não são como se advertiu desde o inicio, um exercício de saudosismo, mas antes um convite ao balanço de contas. Tão pouco se pretende com elas postular qualquer retorno impossível e intempestivo, “bons tempos” do rádio, a despeito da anedota referida no começo delas. Mas será despropositado dar-‐lhes fim, em todo, com uma perguntinha algo impertinente acerca da inevitabilidade do trânsito hegemônico do rádio para a televisão: será que não se perdeu alguma coisa no caminho? * Poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta. (Taquaritinga, 1926 — São Paulo, São Paulo, 9 de outubro de 1998).
Download