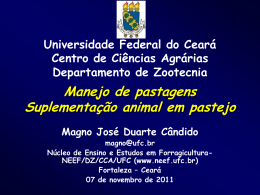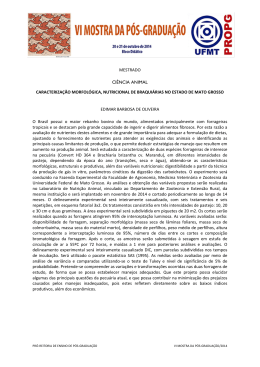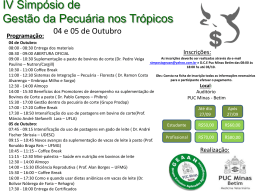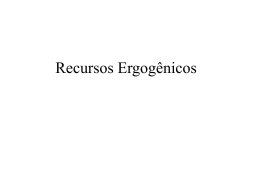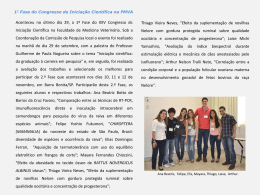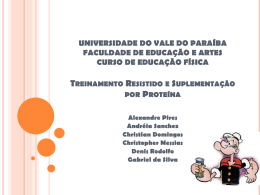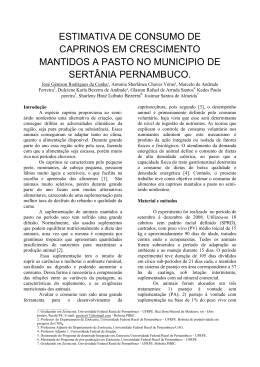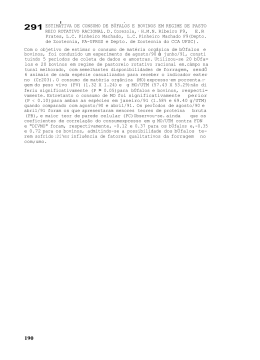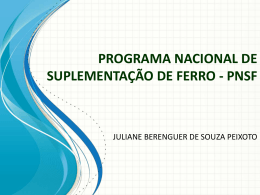JOÃO MARCOS BELTRAME BENATTI Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo Cuiabá-MT Setembro/2010 ii JOÃO MARCOS BELTRAME BENATTI Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciência Animal da Universidade Federal de Mato Grosso para obtenção do Título de Mestre em Ciência Animal. Área de Concentração: Zootecnia Orientador: Prof. Dr. Eduardo Henrique Bevitori Kling de Moraes Co-Orientador: Prof. Dr. Joanis Tilemahos Zervoudakis Cuiabá-MT Setembro/2010 iii UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL FICHA CATALOGRÁFICA AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL O PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE iv CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Aluno: João Marcos Beltrame Benatti Título: Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas freqüências de suplementação para bovinos de corte em pastejo. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal de Mato Grosso para obtenção do Título de Mestre em Ciência Animal. Aprovada em: 09 de fevereiro de 2010 Banca Examinadora: Prof. Dr. Joanis Tilemahos Zervoudakis FAMEV/UFMT (Co-Orientador) Prof. Dr. Luciano da Silva Cabral UFMT/Cuiabá (Membro) Prof. Dr. Daniel de Paula Souza UFMT/Cuiabá (Membro) Prof. Dr. Dalton Henrique Pereira UFMT/Sinop (Membro) ______________________________________________ Prof. Dr. Eduardo Henrique Bevitori Kling de Moraes UFMT/Sinop (Orientador) v DEDICATÓRIA Dedico a DEUS, aos meus pais José Luis Benatti e Mariléa Beltrame e aos meus irmãos José Luis Benatti Filho e Julio Cesar Beltrame Benatti pela força, dedicação, amor e confiança. vi AGRADECIMENTO A FAPEMAT pela concessão da bolsa de estudos e ao CNPq por financiar o projeto desta dissertação. A Universidade Federal de Mato Grosso por me proporcionar a estrutura necessária para um excelente desenvolvimento do mestrado. A todos os funcionários da Fazenda Experimental da UFMT pela ajuda na realização da parte de campo do experimento. Em especial ao Sr. Manézinho, Tilon, Racha, Adão, Jaratataca, Miguel, André, Nequinho, Rico e Beto. Aos responsáveis pelo Laboratório de Nutrição Animal, Prof. Dra Rosemary Lais Galati e Cláudio pela confiança e ajuda na realização das análises laboratoriais. Aos professores Luciano da Silva Cabral, Joanis Tilemahos Zervoudakis e Rosemary Lais Galati pelos ensinamentos, amizade e por muitas vezes terem me ajudado sem medirem esforços. Aos animais experimentais fistulados (Fokito, Chibungo, Laranja, Silver e Ceará) e aos de desempenho por expressar os resultados referentes aos tratamentos e possibilitar a redação dessa dissertação. A Sonia e a Letícia por ter aberto as portas de sua casa para mim e dividido comigo os vários momentos especiais de mais essa etapa de minha formação. Ao André Alves de Oliveira pelos 7 anos de convivência, amizade, discussões e ensinamentos. A todos os companheiros de turma do mestrado: Maurício, Marilu, Celina, Douglas, Alício, André, Fábio, Crislaine, Inácio e Jonatan. Ao Daniel Marino Guedes de Carvalho e Jefferson Fabiano Verner Cocheck pelo companheirismo, ensinamentos e pelos momentos de alegria que passamos juntos. A companheira de experimento Rafaela Zanin e aos estagiários Karib, Manoel, João Rufino e Kleber, que sem eles não teria sido possível a realização do experimento. Ao meu orientador Eduardo Henrique Bevitori Kling de Moraes por ter depositado em mim sua confiança e por ter me ajudando somando à minha formação. Professor espero que seu primeiro orientado tenha lhe trazido uma excelente experiência. Aos companheiros de “Simpósios”: Bruno, João Paulo, Nelcino, Ísis, Rafaela, Puff, Shark, Maurício, André, Daniel, João Rufino, Karib, Renatinha, Marcela dentre outros. As bolsistas Renatinha e Marcela, sempre dispostas, pela ajuda, mesmo nos domingos e feriados até altas horas, no experimento, laboratório ou no buteco. vii Ao sempre dedicado Alício por ter me ajudado em todos os momentos e nunca medido esforços para a realização do experimento. A todos os professores das disciplinas que cursei no mestrado: Rosane, Rosemary, Luciano, Pedro Veiga, Giolo, Luciana, Gerusa, Anselmo, Eduardo e Joadil pelos ensinamentos, dedicação e amizade. Aos professores da banca de qualificação: Eduardo, Luciano Cabral e Joanis; e aos professores da banca de defesa: Eduardo, Luciano Cabral, Joanis, Dalton e Daniel por ajudar na melhora da minha dissertação. Aos secretários da Pós-Graduação em Ciência Animal Douglas e Elaine pela paciência e amizade. Aos amigos veteranos Nelcino, Ísis e Luis Carlos (LUCA) pelos ensinamentos e amizade. A Bunge Nutrição Animal por ter doado o farelo de algodão de alta energia. A Luciana dos Santos Benatti pelo apoio e incentivo. A todos os amigos de BARIRI-SP, que mesmo distante, mantiveram sempre sua amizade e companheirismo. E a todas as outras pessoas, não menos importantes, que não mencionei, mas que estavam sempre presentes. Enfim, a todos muito obrigado e saibam que vocês são especiais e já fazem parte da minha história. viii EPÍGRAFE “Não está na natureza das coisas que um único homem realize um descobrimento súbito e inesperado; o conhecimento avança passo a passo e cada homem depende do trabalho dos seus pares e de seus predecessores". Sir Ernest Rutherford ix RESUMO BENATTI, J.M.B. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo. 2010, 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal), Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2010. Os experimentos foram desenvolvidos no setor de Bovinocultura de Corte da Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/FAMEV), com o objetivo de se avaliar o grão de milheto, em diferentes formas físicas (inteiro ou triturado) fornecidos em suplementos múltiplos distribuídos diariamente ou três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras) para bovinos de corte mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu no período seco do ano. Os suplementos foram fornecidos às 10h na ordem de 2 kg/animal/dia e 4,66 kg/animal/evento de suplementação para os tratamentos diários e três vezes por semana respectivamente, totalizando uma distribuição semanal de 14 kg/animal. No Experimento 1 foram utilizados cinco bovinos cruzados, castrados, fistulados no rúmen com idades variando de 24 a 26 meses e peso médio inicial de 428,6 ± 26,06 kg, seguindo um delineamento em quadrado latino (5 X 5) em esquema fatorial 2 x 2 + 1, sendo: duas formas físicas do grão de milheto (grãos inteiros – MI ou triturados – MT), duas estratégias de suplementação (distribuição diária – 7X ou três vezes por semana – 3X) e o tratamento adicional (controle – MM). Para isto, utilizou-se cinco piquetes de 0,24 ha formados com Brachiaria brizantha cv. Marandu com massa média total de 2.932,05 kgMS/ha e massa de matéria seca potencialmente digestível de 1.539,64 kgMS/ha. Verificou-se que a suplementação promoveu maior consumo (P>0,05) de matéria seca e orgânica totais e de nutrientes (PB, EE, CT, CNF e FDN) que o tratamento controle. Não houve diferença (P<0,05) para o consumo de matéria seca e orgânica de forragem. Para os valores referentes a digestibilidade aparente obteve-se aumento com a suplementação (P>0,05) para MS, MO, PB, EE, CT, CNF e FDN. As concentrações de nitrogênio amoniacal e pH ruminal foram diferentes (P<0,05) somente para o tratamento controle. O consumo de N, N ureico no plasma, excreção de N, N absorvido e balanço de N apresentou diferença significativa apenas para MM em relação aos outros. No Experimento 2, 25 bovinos nelore não castrados com idade de 20 meses e peso médio inicial de 350,92 ± 31,7 kg, foram distribuídos de acordo com um delineamento inteiramente casualizado em esquema x fatorial 2 x 2 + 1, seguindo as mesmas especificações do Experimento 1. Foram utilizados cinco piquetes de 1,6 ha, homogeneamente formados com Brachiaria brizantha cv. Marandu com massa média total de 2.462,2 kgMS/ha e massa de matéria seca potencialmente digestível de 1.308,2 kgMS/ha. Verificou-se que a suplementação promoveu maior ganho de peso médio diário (GMD) (P<0,01) e peso vivo médio final (PVF) (P<0,01) em relação a não suplementação, que apresentou perda de peso, assim como o processamento do grão de milheto proporcionou maiores valores (GMD e PVF) quando comparado a grãos inteiros (P<0,01), não havendo, no entanto, diferenças entre as freqüências de suplementação, em nenhuma das duas formas físicas (P>0,05). Para as variáveis relacionadas ao comportamento ingestivo diurno, encontrou-se diferença (P<0,05) para o tratamento controle em comparação aos suplementados para tempo no cocho, ócio, pastando e água. Com relação a avaliação econômica observou-se maior retorno para o tratamento 3XMT, seguido dos tratamentos 7XMT, 7XMI e 3XMI. Palavras-chave: ganho de peso, digestibilidade, pastagem, suplementação comportamento ingestivo, consumo, xi ABSTRACT The experiment was conducted in the sector of Beef Cattle Experimental Farm of the Federal University of Mato Grosso, located in Santo Antonio de Leverger - MT. This study aimed to evaluate the grain of millet (Pennisetum glaucum) in different physical forms (whole or ground) in multiple supplements distributed daily or three times a week (Mondays, Wednesdays and Fridays) for beef cattle grazing Brachiaria brizantha cv. Marandu in the dry season, on performance, economic, feeding behavior and nutritional parameters. The supplements were provided the 10h in the order of 2 kg/animal/day and 4.66 kg/animal/event supplementation for daily treatments and three times per week respectively, with a total weekly distribution of 14 kg/animal. In Experiment 1 were used five cattle crossbred castrated rumen with ages ranging from 24 to 26 months and initial weight of 428.6 ± 26.06 kilograms, according to a Latin square design (5 X 5) in a factorial 2 x 2 + 1, as follows: two physical forms of the grain of millet (whole grains - MI or ground - MT), two strategies of supplementation (daily distribution - 7X or three times a week - 3X) and additional treatment (control - MM ). For this, we used five paddocks of 0.24 ha, evenly formed with Brachiaria brizantha cv. Marandu with average 2,932.05 kgMS/ha for dry matter (MST) and 1,539.64 kgMS/ha for potentially digestible dry matter (MSpD). It was found that supplementation promoted higher intake (P> 0.05) dry matter and total organic matter and nutrients (CP, EE, CT, NFC and NDF) than control. There was no difference (P <0.05) for the consumption of dry matter and organic of forage. For the values for the apparent digestibility was obtained increased with supplementation (P> 0.05) for DM, OM, CP, EE, CT, NFC and NDF. Concentrations of nitrogen and rumen pH were different (P <0.05) only for the control treatment. Consumption of N, N urea in plasma, excretion of N, N absorbed and N balance showed a significant difference only for MM in relation to others. In Experiment 2, 25 Nellore steers aged 20 months and initial weight of 350.92 ± 31.7 kg, were distributed according to a block completely randomized in a 2 x 2 + 1, following the same specifications Experiment 1. We used five paddocks of 1.6 ha, evenly formed with Brachiaria brizantha cv. Marandu with average 2,462.2 kgMS/ha for dry matter (MST) and 1,308.2 kgMS/ha for potentially digestible dry matter (MSpD). It was found that supplementation promoted greater weight gain average daily gain (ADG) (P <0.01) and average final weight (AFW) (P <0.01) compared to no supplementation, who presented weight xii loss, and processing the grain of millet had higher values (ADG and AFW) compared to whole grains (P <0.01), without, however, differences between the frequencies of supplementation in either physical forms (P > 0.05). For the variables related to feeding behavior, there was difference (P <0.05) for the control treatment compared to time supplemented to the cocho, ocio, grazing and water. As for the economic evaluation showed higher return for treatment 3XMT, followed by treatment 7XMT, 7XMI and 3XMI. Keywords: consumption, digestibility, ingestive behavior, pasture, supplementation, weight gain xiii LISTA DE FIGURAS Capítulo 1. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo: parâmetros nutricionais. Figura 1. Massas de matéria seca total (DMST), matéria seca potencialmente digestível (MSpD), pseudocolmo seco (MPCS), pseudocolmo verde (MPCV), lâmina foliar seca (MLFS) e lâmina foliar verde (MLFV) do capim marandu durante os períodos experimentais ........................................................................ 49 Capítulo 2. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo Figura 1. Massas de matéria seca total (DMST), matéria seca potencialmente digestível (MSpD), pseudocolmo seco (MPCS), pseudocolmo verde (MPCV), lâmina foliar seca (MLFS) e lâmina foliar verde (MLFV) do capim marandu durante os períodos experimentais ........................................................................ 76 xiv LISTA DE TABELAS Capítulo 1. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo: parâmetros nutricionais. Tabela 1. Composição percentual dos suplementos, com base na matéria natural. ................................................................................................................... 43 Tabela 2. Composição química dos suplementos e pastejo simulado ................... 51 Tabela 3. Valores médios para consumo de nutrientes. ........................................ 53 Tabela 4. Valores médios (%) para o coeficiente de digestibilidade e NDT observado em função de cada tratamento ............................................................. 55 Tabela 5. Médias, na escala original, para a concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) e medidas para pH ruminal em função dos dias, tratamentos e tempos de coleta. ................................................................................................ 57 Tabela 6. Volume urinário (VU), nitrogênio ureico no plasma sanguíneo (NUP), excreção urinária de uréia (EU) e excreção urinária de nitrogênio ureico (ENU), consumo de nitrogênio, nitrogênio excretado nas fezes (N Fezes), nitrogênio absorvido (NABS) e balanço de nitrogênio (BN) em função dos tratamentos ........ 61 Capítulo 2. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo Tabela 1. Composição percentual dos suplementos, com base na matéria natural. ................................................................................................................... 71 Tabela 2. Composição bromatológica do suplemento, do pasto (simulação do pastejo) e suas frações (%MS) ............................................................................. 79 Tabela 3. Peso corporal final (PCF – kg) e ganho em peso diário (GMD – kg/dia) 80 xv Tabela 4. Médias (minutos/12 horas) para as variáveis cocho, ócio, água, ruminação e pastejo, para os níveis de tratamento, níveis de dias e entre combinações de níveis de tratamento e dia ........................................................... 84 Tabela 5. Indicadores zootécnicos e econômicos e respectivos valores para cada tratamento. ............................................................................................................. 86 xvi SUMÁRIO 1.Introdução geral ................................................................................................ 01 2.Revisão de Literaura ......................................................................................... 04 2.1 Produção animal em pastagens no período da seca ................................... 04 2.2 Suplementação de bovinos de corte no período da seca............................. 09 2.3 Efeitos da suplementação sobre os parâmetros ruminais de bovinos em pastejo................................................................................................................ 13 2.4 Frequência de distribuição dos suplementos ............................................... 16 2.5 Processamento de grãos ............................................................................. 18 3.Referências bibliográficas ............................................................................... 22 Capítulo 1. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo: parâmetros nutricionais. Resumo .................................................................................................................. 39 Abstract .................................................................................................................. 40 Introdução .............................................................................................................. 41 Material e Métodos ................................................................................................. 42 Resultados e Discussão ......................................................................................... 48 Conclusão .............................................................................................................. 62 Referências Bibliográficas ...................................................................................... 63 Capítulo 2. Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo: desempenho produtivo, econômico e comportamento ingestivo diurno. Resumo .................................................................................................................. 67 Abstract .................................................................................................................. 68 Introdução .............................................................................................................. 69 Material e Métodos ................................................................................................. 70 Resultados e Discussão ......................................................................................... 76 Conclusão .............................................................................................................. 89 Referências Bibliográficas ...................................................................................... 90 19 1. INTRODUÇÃO GERAL O Complexo do Agronegócio possui grande participação na estrutura produtiva do Brasil, tendo representado no ano de 2008 um valor equivalente a 26,46% do PIB, onde o setor pecuário participou com 7,8%, segundo estimativas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP/Esalq (CEPEA, 2009). Porém, mesmo com parcela significativa da arrecadação nacional, a bovinocultura brasileira ainda possui caráter extensivo, resultando em baixos índices produtivos (MACEDO, 2006), fazendo com que vários produtores migrem para outras atividades. Desta forma, a utilização de tecnologias com intuito de melhorar a lucratividade tem se mostrado de fundamental importância. Nesse contexto, e sabendo-se que a dieta do rebanho brasileiro é tida como sendo 99% proveniente do pasto (PAULINO et al., 2006a), a suplementação dos animais é uma alternativa importante como forma de otimizar o aproveitamento dos nutrientes da forragem por meio da melhora na digestibilidade dos constituinte da parede celular assim como fornecer os nutrientes deficitários aos ruminantes. Essa importância fica mais evidente nos períodos críticos do ano, a medida que as forrageira tropicais decrescem em qualidade e quantidade, em decorrência da maior participação de carboidratos estruturais e lignina, queda no teor de proteína bruta, redução na digestibilidade e baixo acúmulo de massa de forragem. Desta forma, o ajuste nutricional combinando gramíneas e suplementos alimentares adicionais são requeridos para redução nas flutuações sazonais no desempenho ao longo do ano (PAULINO et al., 2006a). Porém, com o incremento de concentrados na dieta surge a necessidade de distribuí-los aos animais, fato este que eleva os custos adicionais (FIGUEIREDO et al., 2007). Desta forma, o emprego de técnicas que visem a redução na freqüência de distribuição dos suplementos, com vistas a reduzir os custos com transporte, mão de obra e depreciação de maquinários complementam essa tecnologia. Outro ponto de grande importância quando se utiliza grãos para animais é a forma de processamento dos mesmos. Segundo Bolzan et al. (2007), a trituração de cereais para alimentação de ruminantes visa aumentar a área superficial de contato e assim facilitar os processos digestivos. 20 Entretanto, nas fábricas de ração o tamanho dos grãos representa dificuldade de moagem, principalmente quando os grãos possuem tamanhos reduzidos como o milheto, onerando o gasto com processamento exigindo mais tempo e proporcionando menor rendimento dos moinhos. Desta forma, objetivou-se com a presente dissertação avaliar o grão de milheto inteiro ou triturado, ofertados diariamente ou três vezes por semana em suplementos múltiplos para bovinos de corte em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu sobre o desempenho produtivo, econômico, comportamento ingestivo e parâmetros nutricionais. Os artigos dessa dissertação foram elaborados segundo as normas preconizadas pela Revista Brasileira de Zootecnia. 21 2. REVISÃO DE LITERATURA 2.1. Produção animal em pastagens no período da seca O padrão de crescimento fenológico das forrageiras tropicais conduz a queda na qualidade da forragem a medida que chega a estação seca do ano, ocorrendo modificações na sua estrutura o que leva a menor relação folha:colmo, com aumentos nos teores de compostos estruturais, notadamente tecidos lignificados e diminuição no conteúdo celular com quedas drásticas nos teores de compostos nitrogenados totais, ocasionando queda na digestibilidade e qualidade tendo-se, consequentemente, uma forrageira de baixo valor nutritivo (BERCHIELLI et al., 2006). Desta forma, tem-se forragem com elevadas concentrações de fibra em detergente neutro (FDN) com aumento nas porcentagens de fibra em detergente neutro indigestível (FDNi), esta com elevada capacidade de repleção ruminal, a qual influencia diretamente o consumo voluntário (DETMANN et al., 2008). Reis et al. (2009) em revisão sobre suplementação, mencionaram que a variação no desempenho animal pode ser interpretada como reflexo da qualidade da forragem, e esta pode ser entendida como consumo de energia digestível e concluíram que a qualidade é determinada por dois fatores principais: consumo de matéria seca e valor nutritivo da forragem. A deficiência de compostos nitrogenados na dieta, características das forrageiras tropicais na época da seca, acarreta na redução do aproveitamento dos substratos energéticos potencialmente utilizáveis da forragem, deixando de ser efetivamente aproveitados por deficiência dos sistemas enzimáticos microbianos, impedindo a maximização da exploração dos recursos basais do sistema (LAZZARINI et al., 2006; PAULINO et al., 2006b). Níveis mínimos de 7% de proteína bruta na dieta são requeridos para que as bactérias tenham condições de utilizar os substratos energéticos fibrosos potencialmente digestíveis (VAN SOEST 1994). Embasado nessa teoria tem-se que o uso de recursos suplementares à forragem para ruminantes mantidos em pastagens de baixa qualidade é de vital importância a fim de garantir a adequação dos nutrientes (principalmente energia:proteína) melhorando, desta forma, a eficiência na conversão destes em proteína microbiana (HERSOM, 2008). 22 Gomes Jr et al. (2002) estudaram o desempenho de novilhos mestiços em fase de crescimento sob suplementação na seca e encontraram ganho médio diário de 0,09 kg para a suplementação apenas com mistura mineral contrastando com a média de 0,47 kg para os animais suplementados com fontes protéicas (farelo de soja, farelo de algodão, farelo de glúten de milho e farelo de trigo), com disponibilidades da forragem de 6.454 kg/ha de MS e com teor de 3,96% de PB. Assim concluíram que a forragem proporcionou nutrientes próximos ao de mantença dos animais refletindo no ganho em peso do tratamento controle. Isto reforça a necessidade de se suplementar animais na seca com formulações múltiplas fornecendo energia, proteína, vitaminas e minerais (REIS et al., 2009). Euclides et al. (1998), avaliando o desempenho de novilhos em pastagem de Brachiaria decumbens submetidos a diferentes regimes alimentares em dois períodos secos consecutivos, encontraram no primeiro período superioridade no ganho em peso médio diário dos animais que receberam suplementação múltipla (1,03 kg/dia) em comparação aos suplementados apenas com mistura mineral (0,32 kg/dia), já no segundo período esses ganhos foram de 0,58 kg e -0,09 kg respectivamente, associando essa divergência nos ganhos entre os períodos à maior disponibilidade de matéria seca verde 830 kg/ha e 600 kg/ha para a primeira e segunda seca respectivamente. Mencionaram ainda um aumento na capacidade de suporte das pastagens quando os animais receberam suplementos múltiplos (0,87 UA/ha nos suplementados e 0,73 UA/ha no suplementado apenas com minerais). 2.2 – Suplementação de bovinos de corte no período da seca A suplementação para bovinos de corte já vem sendo empregada há muito tempo quando a forragem apresenta deficiência que impedem o animal de produzir ou se reproduzir de forma satisfatória (SANTOS et al., 2007). Nos sistemas de produção onde o pasto representa a base da dieta pode haver limitações na produção animal, o que introduz problemas no balanceamento de nutrientes, principalmente no balanço nitrogênio-carboidrato (PAULINO et al., 2002; PAULINO et al., 2008). Segundo Reis et al. (2005), o rebanho na época seca do ano se alimenta de forragem de baixo valor nutritivo, caracterizada por um elevado valor de fibra indigerível e teores de proteína bruta inferiores ao nível crítico de 7% MS. Sendo 23 assim, a utilização de suplementos que visem apenas a mantença ou ganhos em peso moderados a médios vem como alternativa para uma pecuária moderna com ciclos de produção curtos (PAULINO et al., 2006a). De acordo com Reis et al. (2009) e Paulino et al. (2008), mesmo havendo a disponibilidade de fibra potencialmente digestível nas pastagens na seca, a proteína é o nutriente mais limitante, devendo esta ser corrigida através da suplementação, a fim de aumentar a eficiência de degradação da fração fibrosa e, consequentemente, a taxa de passagem e o consumo de matéria seca da forragem. Paulino et al. (2001) e Detmann et al. (2005b) citaram que no caso de forragens tropicais, a digestão requer uma população microbiana ativa com capacidade de digeri-la, sendo possível que tanto em dietas de forragem total como mistas com concentrado, há situações em que a digestão é limitada por capacidade microbiana ou enzimática e não somente pela propriedade cinética da parede celular. Com objetivo de suprir essas deficiências nutricionais impostas pela baixa qualidade nutricional da forrageira, deve-se ter em mente que a suplementação vem como uma fonte de nutrientes adicionais, que possui a característica de apoiar a degradabilidade das frações fibrosas da planta, não devendo o suplemento suprir além dos requisitos dos animais de acordo com os ganhos previamente desejados, uma vez que esse produto possui um valor agregado alto o que pode inviabilizar, economicamente, o sistema de produção (PAULINO et al., 2006a). Da mesma forma, Paulino et al. (2002) indagaram que a meta de um programa de suplementação para animais em pastejo é comumente maximizar consumo e utilização da forragem, assim a utilização de pequenas quantidades de concentrados protéicos podem aumentar o consumo de forragem quando as mesmas são de baixa qualidade, especialmente quando tem altas relações de nutrientes digestíveis totais (NDT) para proteína. Paulino et al. (2006b) e Malafaia et al. (2003), mencionaram que o fornecimento de pequenas quantidades (doses catalíticas) de suplemento pode incrementar o consumo voluntário de forragem de baixa qualidade devido ao aumento nos níveis de substratos nitrogenados disponíveis para as bactérias, com elevação na taxa de digestão e síntese de proteína microbiana, o que permitiria incrementar o consumo voluntário de forragem e ampliar a extração energética a partir de carboidratos fibrosos da forragem, via ampliação do consumo de NDT (PAULINO et al., 2008) 24 Desta forma, os suplementos devem ser formulados com base na qualidade do pasto, com intuito de fornecer às bactérias ruminais níveis de nutrientes que não limitem o crescimento da flora microbiana. Assim no período da seca, onde o principal nutriente limitante é a PB, deve-se corrigir a deficiência da forragem segundo os patamares de desempenho desejados incluindo tanto proteína verdadeira como nitrogênio não protéico (NNP) na dieta. Quando da inclusão de proteína degradável no rúmen (PDR) que atenda as necessidades das bactérias fibrolíticas, a população desta pode aumentar significativamente uma vez que a principal fonte de nitrogênio (N) requerido por elas é na forma de amônia, liberado a partir da degradação ruminal dessa proteína (RUSSELL et al., 1992). Segundo Lazzarini et al. (2006), o nível mínimo de 7% PB na dieta não assegura maximização na utilização dos substratos energéticos de lenta disponibilidade, uma vez que respostas positivas na degradação da fibra foi observado ate valores próximos a 13-14% de PB. Todavia, nota-se que o maior consumo voluntário e menores perdas de nitrogênio por excreção foi observado para os valores de proteína basal próximos a 10% da dieta (PAULINO et al., 2006b). Porém as bactérias necessitam da disponibilidade da energia (ATP). Assim, quando da inclusão de proteína na dieta e forragem com reduzida taxa de digestão, a quantidade de energia pode limitar o crescimento microbiano. Desta forma, os suplementos para bovinos em gramíneas tropicais devem apresentar natureza múltipla e sinérgica (PAULINO et al., 2008). Desta forma, para que haja síntese de proteína microbiana é essencial não só a presença de nitrogênio amoniacal ou aminoácidos em nível de rúmen, mas também a presença de esqueletos carbônicos oriundos da degradação ruminal de celulose, amido, pectina e de proteínas verdadeiras (SANTOS et al., 2007). Segundo os mesmos autores, quando essa adequação de nutrientes (nitrogênio/carboidratos prontamente disponíveis para as bactérias) não é atendida e ocorre um aumento na concentração de amônia ruminal em quantidades acima das exigidas pela população microbiana, esta é absorvida pelo epitélio ruminal e atinge a corrente sanguínea, sendo novamente convertida em ureia no fígado e então excretada via urina ou reciclada pela saliva ou rúmen (ciclo da uréia), acarretando em gasto energético. O fornecimento de suplementos em muitos casos pode melhorar o desempenho animal, mas nem sempre a resposta é satisfatória, podendo ser maior ou menor que a esperada (SILVA et al., 2009). Essa variação entre o esperado e o 25 observado pode ser explicada por interações (associações) entre o suplemento e o consumo de forragem e energia da dieta, podendo haver modificações da condição metabólica ruminal e do próprio animal (GÓES et al., 2005). Segundo Moore (1980) citado por Reis et al. (2009) essas interações podem apresentar três efeitos: o aditivo, quando há um aumento na ingestão de matéria seca total com constância ou estímulo no consumo da matéria seca de forragem, sendo esse aumento ocasionado pelo consumo de matéria seca do suplemento; o efeito combinado em que o consumo de matéria seca aumenta porém há uma redução no consumo da forragem; e o efeito substitutivo onde o consumo de matéria seca total é constante, porém o consumo de forragem diminui na mesma proporção que aumenta o consumo de suplemento. De acordo com Euclides e Medeiros (2005), quando se trabalha com forragens de baixa qualidade, o consumo de gramíneas é relativamente baixo e desta forma não há substituição significativa quando os suplementos são fornecidos resultando em efeito aditivo. Porém quando a forragem é de boa qualidade, o consumo de suplementos pode substituir em partes o consumo de matéria seca de forragem. Ainda no tocante, se a forragem apresenta níveis de proteína baixos, o consumo será incrementado quando uma pequena quantidade de suplemento protéico é inclusa na dieta (SANTOS et al., 2004). Quando o nível de suplementação encontra-se em valores de até 0,3% do PV a redução no consumo de forragem é mínimo, mas quando o fornecimento é maior que 0,3% do peso corporal (PC) esse consumo é reduzido podendo ser ainda maior quando o fornecimento for de 0,8% PC, devido ao limite biológico de ganho em peso de animais a pasto estarem próximos de serem alcançados (ZINN e GARCES, 2006; SILVA et al., 2009). Segundo Euclides (2001), quando se almeja ganhos em torno de 250 g/dia na seca há necessidade de incluir energia e proteína ao sal mineral sendo consumido nas quantidades de 0,1 a 0,2% do peso vivo. Já quando o objetivo é alcançar a produção de novilhos precoce a pasto, com terminação na época seca, deve-se fornecer quantidade de suplemento correspondente de 0,8 a 1% do PC, alcançando ganhos de peso entre 500 a 900 g/dia. Malafaia et al. (2003), em revisão sobre suplementação, mencionaram que a suplementação protéico-energética na seca pode promover ganhos de peso diário na ordem de 100 a 350 g, com animais consumindo suplementos nas quantidades 26 de 1 e 3 g/kg PV. Porém, se em condições de baixa disponibilidade de forragem, a suplementação pode se tornar ineficiente, reportando a necessidade de se trabalhar com estratégias anuais no manejo das pastagens para possibilitar disponibilidades não limitantes no período crítico do ano. Correia (2006) citou que além da suplementação suprir a deficiência da forragem disponível ela pode aumentar a capacidade de suporte das pastagens, auxiliar no manejo do pastejo e viabilizar o fornecimento de aditivos ou promotores de crescimento. Embasado nesse preceito, Costa (2007) estudou a suplementação energética para bovinos de corte em pastejo, tendo encontrado aumento médio de 10% na taxa de lotação em pastagens de capim Marandu. Euclides et al. (1998) encontraram aumento na capacidade de suporte dos pastos de 0,73 para 0,87 UA/ha durante os períodos de suplementação e salientaram a importância desta prática na liberação de áreas de pastagens devido ao abate precoce dos animais em decorrência do aporte no ganho em peso médio dos animais com redução na idade ao abate de 5 a 13 meses. Poppi e McLennan (2007) salientaram que o aumento na taxa de lotação é fator fundamental para viabilizar economicamente essa prática. 2.3 – Efeitos da suplementação sobre as características ruminais de bovinos em pastejo A inclusão de recursos suplementares e sua resposta no desempenho animal dependem de vários parâmetros que devem ser avaliados, sendo estes determinantes na eficiência de utilização da FDN da forragem (PAULA, 2008). Os substratos disponíveis para fermentação e o pH ruminal são os principais determinantes da prevalência dos microrganismos no ecossistema ruminal, destacando o pH como a principal causa isolada de efeitos associativos negativos de diversos componentes da ração sobre a digestibilidade da mesma (ORSKOV e TYLE, 1990 citados por FRANCO et al. 2004). Quando da inclusão de carboidratos não fibrosos de rápida fermentação, associado a restrições na disponibilidade de fibras dietéticas, o pH ruminal pode declinar (RUSSEL et al., 1992). O pH em valores abaixo de 6,0, reduz a população de microrganismos chegando a severa inibição em pH de 4,5 a 5,0. Van Soest (1994) relatou o valor de 6,7 como o adequado para as bactérias. 27 Porém, nas condições brasileiras, essa queda abaixo de valores ideais é pouco evidenciada, uma vez que o nível de fornecimento de suplemento é baixo e os animais consomem grandes quantidades de fibras alimentares oriundas da forragem (REIS et al., 2007). Detmann et al. (2005a), trabalhando com níveis de proteína para bovinos de corte em terminação mantidos a pasto no período de transição seca-águas, não encontraram redução do pH abaixo dos limites considerados como limitantes para o crescimento das bactérias celulolíticas, mesmo tendo trabalhado com inclusão de 4 kg de suplemento/animal/dia (suplementos constituídos por fubá de milho, grão de soja integral, ureia e sulfato de amônio e mistura mineral). Franco et al. (2004) em estudo com fornecimento de suplementos para animais canulados no rúmen em quantidades de 0,5; 1,0; e 1,5 kg/animal/dia, encontraram redução no pH ruminal nos animais que receberam suplementos em relação aos que receberam apena mistura mineral, porém não foi observada quedas abaixo dos níveis críticos para as bactérias. As disponibilidades de N e energia são os principais fatores que limitam o crescimento microbiano, sendo a disponibilidade de energia o principal fator que determina a taxa de assimilação desse N (HUNTINGTON e ARCHIBEQUE, 1999, citados por MAGALHÃES et al., 2005). Se a taxa de fermentação de carboidratos for maior que a degradação da proteína, ocorre redução na produção de proteína microbiana (MAGALHÃES, et al., 2005). A digestibilidade dos diferentes componentes dos alimentos da dieta apresenta forte relação com o fornecimento de compostos nitrogenados suplementares sob condições de forragem de baixa qualidade (MATHIS et al., 2000), devido a deficiência desses compostos nessas forragens (DETMANN et al., 2005a). Assim, a suplementação desse nutriente é requerida uma vez que limita o crescimento da flora bacteriana quando em baixas concentrações ruminais. O nitrogênio amoniacal oriundo da dieta ou da reciclagem endógena do N é a principal fonte de energia requerida pelas bactérias que degradam a fibra (RUSSEL et al., 1992), dessa forma sua concentração é necessária para maximizar a síntese de proteína microbiana. Porém existem discrepâncias na literatura sobre quais as concentrações ideais de nitrogênio amoniacal ruminal (N-NH3). Leng (1990) citado por Detmann et al. (2005a) sugeriram valores de 20 mg/dL de N-NH3 como sendo o volume de 28 nitrogênio amoniacal na qual haveria a máxima digestão ruminal sob condições tropicais. Já Satter e Slyter (1974) citados por Paula (2008) relataram essa concentração como sendo de 5 mg/dL (estudos realizados in vitro). Van Soest (1994) ressaltou que para cada dieta há um valor ótimo de concentração amoniacal devido a capacidade de síntese protéica e captação de amônia que depende da taxa de fermentação dos carboidratos. Maior taxa de fermentação determina maior eficiência, o que permite níveis de amônia relativamente maiores. Desta forma, sabe-se da importância em se manter níveis ruminais de amônia, porém suas concentrações ideais ainda são indefinidas. Quando a fermentação da proteína no rúmen excede às exigências dos microrganismos ou não está adequada com as disponibilidades de carboidratos prontamente disponíveis, pode haver perdas devido ao acúmulo de amônia (RUSSEL et al., 1992). Os mesmos autores relataram que a diferença entre as taxas de degradação dos alimentos é que determina as perdas de N devido a diferenças nas taxas de degradação da proteína exceder a taxa de degradação dos carboidratos. Essa amônia excedente é absorvida através da parede do rúmen e em seguida é transportada através do sistema vascular porta-hepático para o fígado, sendo convertida a uréia. Esta é a principal forma pela qual o N é eliminado do organismo dos mamíferos (LOBLEY et al., 1995). Nos ruminantes essa uréia pode voltar ao rúmen pela reciclagem endógena (ciclo da uréia). A excreção de compostos nitrogenados via uréia ocasiona perdas energéticas devido a conversão de amônia nesse composto (RUSSEL et al., 1992). O metabolismo da uréia em bovinos pode ser evidenciado pelas mudanças nas concentrações de nitrogênio no plasma e na urina (HUNTINGTON, 1997). Obeid (2005) inferiu que para utilização ótima de N por bovinos de corte, aspectos relacionados com a digestão e absorção de compostos nitrogenados, bem como a demanda para produção do animal devem ser levados em consideração, sendo as concentrações de N-ureico no sangue e urina reconhecidas como medidas úteis do status de proteína ou de nutrição protéica de ruminantes. Tem-se reportado que as concentrações plasmáticas de uréia estão positivamente relacionadas com a ingestão de N (VALADARES et al., 1997), podendo estar associada com a utilização ineficiente de proteína (BRODERICK, 29 1995). A ureia excretada pelos rins depende da concentração da mesma na dieta e consequentemente na corrente sanguínea (RUSSEL et al., 1992). Valadares et al. (1997), trabalhando com novilhos zebus alimentados com rações contendo 45% de concentrado e teores de proteína bruta de 7 a 14,5%, verificaram que a máxima produção microbiana correspondeu a concentrações de N-ureico no plasma variando de 13 a 15 mg/dL, o que provavelmente representaria o limite a partir do qual estaria ocorrendo perda de proteína. Moraes et al. (2009), trabalhando com quatro níveis de inclusão de ureia (0; 1,2; 2,4 e 3,6% na matéria natural) em suplementos protéico-energéticos para bovinos de corte durante o período da seca, encontraram que o aumento do nível de uréia aumentou as concentrações de amônia ruminal e de nitrogêno ureico sérico (18,6; 19,7; 20,4 e 22,7 mg/dL) e urinário (54,3; 59,6; 66,1 e 71,1 g/dL) dos animais de forma linear, reduzindo, assim, o aproveitamento do nitrogênio dietético. 2.4 – Frequência de distribuição dos suplementos A intensificação do sistema produtivo na pecuária está relacionada ao aumento da participação dos itens decorrentes da nutrição e genética nos custos de produção (FIGUEIREDO et al., 2007). Contudo, opções para melhorar a operacionalidade na alimentação do rebanho podem proporcionar maiores retornos dos investimentos e melhor remuneração, sem influenciar a qualidade dos produtos (PAULINO et al., 2008). Uma tecnologia barata e de fácil aplicabilidade para melhorar a rentabilidade da bovinocultura de corte é o uso da suplementação para animais consumindo forragens. Porém, em situações em que se tem aumento na participação do concentrado na dieta, a necessidade de distribuição diária de concentrado eleva os custos operacionais (BERCHIELLI et al., 2006). Deste modo, a redução na freqüência do fornecimento de suplementos a animais mantidos em pastagens (PAULA, 2008) reduz os custos decorrentes da distribuição diária de suplementos, racionaliza a mão de obra (ZERVOUDAKIS, 2003) e reduz possíveis problemas de ordem trabalhista (BERCHIELLI et al., 2006). A suplementação em dias alternados (em intervalo de até 6 dias) pode ser feita com sucesso sem prejudicar o desempenho dos animais (BERCHIELLI et al., 2006). Segundo Shauer et al. (2005), ruminantes sob suplementação intermitente 30 consumindo forragem de baixa qualidade conseguem manter o desempenho, a eficiência microbiana, eficiência de utilização da matéria seca e do nitrogênio semelhantes aos animais suplementados diariamente. Outro ponto favorável à menor freqüência de suplementação foi relatado por Huston et al. (1999), que mencionaram menores variações no ganho em peso entre os animais, devido a redução na competição pelo suplemento quando fornecidos em maiores quantidades. Paulino et al. (2006b) relataram que a redução na freqüência não promove redução na degradação da forragem e no desempenho, devido à habilidade dos bovinos em manter os níveis de nitrogênio ruminal em patamares adequados para a microbiota ruminal. Desta forma, Berchielli et al. (2006) inferiram que o principal mecanismo dessa redução no impacto da menor freqüência de suplementação sobre o desempenho animal é a reciclagem de nitrogênio. Assim, o nitrogênio pode ser aumentado nos dias entre os eventos de suplementação, sendo a provável razão para isso as mudanças na permeabilidade do trato gastrintestinal e/ou na regulação renal da excreção de uréia (BOHNERT et al., 2002). De acordo com Van Soest (1994), a reciclagem endógena da uréia pode ser explicada por diferenças nas concentrações de amônia e ureia no rúmen e sangue. A concentração de amônia no sangue tende a ser menor que no rúmen e o nível de uréia no rúmen menor que no sangue, assim tem-se uma diferença de concentração ocasionando uma transferência mútua de compostos. Morais et al. (2009), em experimento com novilhos de corte mantidos em pastagem, avaliaram a influência da freqüência de suplementação no consumo, digestibilidade e fermentação ruminal e chegaram a conclusão de que a redução na freqüência de suplementação de sete para cinco ou três vezes por semana não afetou a ingestão de matéria seca, tanto de forragem como total, nem a digestibilidade da matéria seca. Neste sentido, o pH ruminal e as concentrações de amônia ruminal foram mantidas quando a freqüência de suplementação diminuiu. Da mesma forma, Moraes (2006) avaliou suplementos de autocontrole de consumo (AC) e diferentes freqüências de suplementação (segunda, quarta e sexta – 3X; segunda a sexta-feiras – 5X; segunda-feira a sábado – 6X; e diário – 7X) nas diferentes épocas do ano, seca, águas e transição água-seca. O referido autor não observou diferenças significativas entre as diferentes estratégias de suplementação e o desempenho dos animais. 31 Canesin et al. (2007), em estudo sobre o desempenho de bovinos em pastagem submetidos a diferentes estratégias de suplementação no período das águas e da seca não encontraram influência significativa no desempenho dos animais quando compararam os diferentes tratamentos (suplementação diária, em dias alternados e fornecidos de segunda a sexta-feira). 2.5 – Processamento de grãos O termo processamento de grãos refere-se a métodos de preparação de grãos para a alimentação animal (NUSSIO, 2002). Segundo Huntington (1997) e Nussio (2002) o processamento está associado com melhor eficiência de utilização de nutrientes, sendo o principal efeito a mudança no sítio de digestão de amido do intestino delgado para o rúmen, com concomitante aumento nas porcentagens degradadas em ambos os compartimentos. O objetivo do processamento é aumentar o acesso aos grânulos de amido pela redução do tamanho de partícula (OWENS et al., 1986) desta forma, processos que reduzem o tamanho da partícula ou alteram a matriz protéica que cimentam os grânulos de amido aumentam a extensão da digestão no rúmen e intestino delgado aumentando, assim, a energia disponível para o animal (OWENS et al., 1997). Da mesma forma, Nocek e Tamminga (1991) e McAllister et al. (1990) discorreram que os métodos de processamento podem ser vários, porém o que se objetiva com todos são a melhoria na digestibilidade dos alimentos devido a ruptura das barreiras que impedem o acesso dos microrganismos ruminais e das enzimas aos componentes nutricionais dos alimentos. Rodrigues (2003), por sua vez, relatou que durante o processamento a matriz protéica do endosperma é rompida, permitindo o acesso mais fácil das enzimas ao grânulo de amido. Hale (1973) citado por Rodrigues (2003) considerou que em estudos histológicos com grãos reconstituídos estes apresentam desorganização da matriz protéica ao redor dos grânulos. Dentre os diferentes tipos de processamento pode-se citar a moagem fina ou grossa, extrusão, micronização, tostagem, peletização e laminação como exemplos de processamentos a seco e, a maceração, laminação a vapor, floculação, reconstituição, explosão, cozimento a vapor, como processos que envolvem adição 32 de água aos grãos, frequentemente, na forma de vapor com pressão (HALE, 1973 citado por ANTUNES e RODRIGUES, 2006). Segundo McAllister e Cheng (1996) a moagem em grãos de cereais aumenta o extensão e a taxa de digestão ruminal do amido, uma vez que o pericarpo de tais grãos é resistente a penetração e ao ataque microbiano, devendo ser fraturado pelo processamento mecânico ou mastigação para proceder-se a digestão. Beauchemin et al. (1994) inferiram que os grãos intactos são resistente a adesão na superfície pela microbiota ruminal de modo a dificultar o acesso aos substratos. Segundo Restle et al. (2009) a mastigação tem papel fundamental no aumento da digestibilidade das dietas a base de grãos inteiros, devido a redução no tamanho das partículas, disponibilização de nutrientes solúveis para fermentação, exposição das porções internas do alimento para a colonização microbiana e hidratação do alimento durante a salivação, o que facilita a digestão. Em trabalho conduzido com vacas confinadas, Restle et al. (2009) fornecendo silagem de milho como volumoso e concentrado constituído por grão de aveia preta em diferentes formas físicas com relação volumoso:concentrado de 60:40, observaram superioridade no ganho médio diário (GMD) dos animais que receberam grãos triturados (1,129 kg/dia) em relação aos que receberam uma mistura de 50% de grãos inteiros e 50% de triturados (0,967 kg/dia) e apenas grãos inteiros (0,799 kg/dia). Observaram também melhor conversão alimentar para o tratamento triturado (9,182) em relação ao 50% triturado e 50% inteiro (11,217) e ao tratamento apenas com grãos inteiros (13,203), sendo que esse processamento proporcionou uma eficiência 30,5% superior na conversão de alimento em peso. Lucci et al. (2008) testaram diferentes tamanhos de partículas de milho (grosseiramente quebrado, grosseiramente moído e moído fino) em dieta composta por farelo de soja (14%), milho em grão (26%) e feno (60%) encontraram menores taxas de degradabilidade da matéria seca e proteína bruta para o milho grosseiramente quebrado em relação as outras formas, sendo que em nenhuma das formas fornecidas ocorreram alterações na digestão das fibras. 33 3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTUNES, R.C.; RODRIGUES, N.M. Metabolismo dos carboidratos não estruturais. In: BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de ruminantes. 1 ed. Jaboticabal: Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão – FUNEP, v.1, p.229-253, 2006. BEAUCHEMIN, K.A.; MCALLISTER, T.A.; DONG, Y.; FARR, B.I.; CHENG, K.J. Effects of mastication on digestion of whole cereal grains by cattle. Journal of Animal Science, v. 72, p. 236-246, 1994. BERCHIELLI, T.T.; CANESIN, R.C.; ANDRADE, P. Estratégias de Suplementação para Ruminantes em Pastagem. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, 2006, João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBZ, 2006. (CD-ROM) BOHNERT, D.W.; SHAUER, C.S.; BAUER, M.L. et al. Influence of rumen protein degradability and supplementation frequency on steers consuming low-quality forage: Site of digestion and microbial efficiency. Journal of Animal Science, v.80, p.2967-2977. 2002. BOLZAN, I.T.; SANCHEZ, L.M.B.; CARVALHO, P.A.; VELHO, J.P.; LIMA, L.D.; MORAIS, J.; CADORIN JR, R.L. Consumo e digestibilidade em ovinos alimentados com dietas contendo grão de milho moído, inteiro ou tratado com uréia, com três níveis de concentrado. Ciência Rural, v.37, n.1, p.229-234, 2007. BRODERICK, G.A. Use of Milk urea as indicator of nitrogen utilization in lactating dairy cow. U.S. Dairy Forage Research Center 1995; Research Summaries. U.S. department of Agriculture, Agricultural Research Service. 122p. 1995. CANESIN, R.C.; BERCHIELLI, T.T.; ANDRADE, P.; REIS, R.A. Desempenho de bovinos de corte mantidos em pastagem de capim-marandu submetidos a dierentes estratégias de suplementação no período das águas e da seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.2, p.411-420, 2007. CEPEA. PIB do Agronegócio. http://www.cepea.esalq.usp.br/pib/. 2009. Acessado em 19/11/09. CORREIA, P.S. Estratégias de Suplementação de Bovinos de Corte em Pastagens Durante o Período das Águas. 2006. 333f. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Agricultura “Luis de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006. COSTA, D.F.A. Resposta de Bovinos de Corte à Suplementação Energética em Pastos de Capim Marandu Submetidos a Intensidades de Pastejo Rotativo Durante o Verão. 2007. 98f. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2007. 34 DETMANN, E.; PAULINO, M.F.; VALADARES FILHO, S.C.; CECON, P.R.; ZERVOUDAKIS, J.T.; CABRAL, L.S.; GONÇALVES, L.C.; VALADARES, R.F.D. Níveis de proteína em suplementos para terminação de bovinos em pastejo durante o período de transição seca/águas: digestibilidade aparente e parâmetros do metabolismo ruminal e dos compostos nitrogenados. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.4, p.1380-1391, 2005a. DETMANN, E.; PAULINO, M.F.; CABRAL, L.S.; VALADARES FILHO, S.C.; CECON, P.R.; ZERVOUDAKIS, J.T.; LANA, R.P.; LEÃO, M.I.; MELO, A.J.N. Simulação e Validação de Parâmetros da Cinética Digestiva em Novilhos Mestiços Suplementados a Pasto por Intermédio de Sistema in vitro de Produção de Gases. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.6, p.2112-2122, 2005b. DETMANN, E.; PAULINO, M.F.; VALADARES FILHO, S.C. Avaliação Nutricional de Alimentos ou de Dietas? Uma Abordagem Conceitual. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 6, 2008, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2008. p.21-52. EUCLIDES, V.P.B.; EUCLIDES FILHO, K.; ARRUDA, Z.J.; FIGUEIREDO, G.R. Desempenho de Novilhos em Pastagens de Brachiaria decumbens Submetidos a Diferentes Regimes Alimentares. Revista Brasileira de Zootecnia, v.27, n.2, p.246-254, 1998. EUCLIDES, V.P.B. Produção Intensiva de Carne Bovina em Pasto. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2, 2001, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2001, p.55-82. EUCLIDES, V.P.E.; MEDEIROS, S.R. Suplementação Animal em Pastagens e seu Impacto na Utilização da Pastagem. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE PASTAGENS, 22, 2005, Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2005. p.33-70. FIGUEIREDO, D.M.; OLIVEIRA, A.S.; SALES, M.F.L.; PAULINO, M.F.; VALE, S.M.L.R. Análise econômica de quatro estratégias de suplementação para recria e engorda de bovinos em sistema pasto-suplemento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.5, p.1443-1453, 2007. FRANCO, A.V.M.; FRANCO, G.L.; ANDRADE, P. Parâmetro ruminais e desaparecimento da MS, PB e FDN da forragem em bovinos suplementados em pastagem na estação seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.5, p.13161324, 2004. GÓES, R.H.T.B.; MANCIO, A.B.; LANA, R.P.; LEÃO, M.I.; ALVES D.D.; SILVA, A.T.S. Recria de Novilhos Mestiços em Pastagens de Brachiaria brizantha, com Diferentes Níveis de Suplementação, na Região Amazônica: Desempenho Animal. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.5, p.1740-1750, 2005. 35 GOMES JR, P.; PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C.; ZERVOUDAKIS, J.T.; LANA, R.P. Desempenho de Novilhos Mestiços na Fase de Crescimento Suplementados Durante a Época Seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.1, p.139-147, 2002. HERSOM, M.J. Opportunities to enhance performance and efficiency through nutrient synchrony in forage-fed ruminants. Journal of Animal Science, v. 86, p. 306-317, 2008. HUNTINGTON, G.B. Starch utilization by ruminants: from basis to bunk. Journal of Animal Science, v.75, p.852, 1997. HUSTON, F. E., LIPPKE, H., FORBES, T.D.; HOLLOWAY, J.W.; MACHEN, R.V. Effects of supplemental feeding interval on adult cows in western Texas. Journal of Animal Science, v.77, p.3057-3067. 1999 LAZZARINI, I.; DETMANN, E.; SAMPAIO, C.B.; VALADARES FILHO, S.C.; PAULINO, M.F.; SOUZA, M.A.; OLIVEIRA, F.A.; LEÃO, M.I. Dinâmica de Degradação Ruminal in situ da Fibra em Detergente Neutro em Bovinos Alimentados com Forragem de Baixa Qualidade Suplementados com Níveis Crescentes de Compostos Nitrogenados. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, João Pessoa, 2006. Anais... João Pessoa: SBZ, 2006 (CD-ROM). LOBLEY, G.E.; CONNELL, A.; LOMAX, M.A.; BROWN, D.S.; MILNE, E.; CALDER, A.G.; FARNINGHAM, D.A.H. Hepatic detoxification of ammonia in the ovine liver: possible consequences for amino acid catabolism. British Journal of Nutrition, v.73, p.667-685, 1995. LUCCI, C.S.; FONTOLON, V.; HAMILTON, T.R.; KLU, R.; WICKBOLD, V. Processamento de grãos de milho para ruminantes: Digestibilidade aparente e “in situ”. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.45, n.1, p.35-40, 2008. MACEDO, L.O.B. Modernização da Pecuária de Corte Bovina no Brasil e a Importância do crédito Rural. Informações Econômicas, v.36, n.6, p.83-95, 2006. MAGALHÃES, K.A.; VALADARES FILHO, S.C.; VALADARES, R.F.D.; PAIXÃO, M.L.; PINA, D.S.; PAULINO, P.V.R.; CHIZZOTTI, M.L.; MARCONDES, M.I.; ARAÚJO, A.M.; PORTO, M.O. Produção de proteína microbiana, concentração plasmática de uréia e excreções de uréia em novilhos alimentados com diferentes níveis de uréia ou casca de algodão. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.4, p.1400-1407, 2005. MCALLISTER, T.A.; RODEL, L.M.; MAJOR, D.J.; CHENG, K.J.; BUCHANANSMITH, J.G. Effect of ruminal microbial colonization on cereal grain digestion. Canadian Journal of Animal Science, v.7, n.2, p.571-579, 1990. 36 MCALLISTER, T.A.; CHENG, K.J. Microbial strategies in the ruminal digestion of cereal grains. Animal Feed Science Technology, v. 62, p. 29-36, 1996. MALAFAIA P.; CABRAL, L.S.; VIEIRA, R.A.M.; COSTA, R.M.; CARVALHO, C.A.B. 2003. Suplementação protéico-energética para bovinos criados em pastagens: Aspectos teóricos e principais resultados publicados no Brasil. Livestock Research for Rural Development n.15, v.12. Acessado em junho de 2009, http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd15/12/mala1512.htm. MATHIS, C.P.; COCHRAN, R.C.; HELT, J.S.; WOODS, B.C.; ABDELGADIR, I.E.O.; OLSON, K.C.; TITGEMEYER, E.C.; VANZANT, E.S. Effects of supplemental degradable intake protein on utilization of medium- to low-quality forages. Journal of Animal Science, v.78, p.224-232, 2000. MORAES, E.H.B.K. Desempenho e exigências de energia, proteína e minerais de bovinos de corte em pastejo, submetidos a diferentes estratégias de suplementação. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2006. 133f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Programa de Pós Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçoosa, 2006. MORAES, E.H.B.K.; PAULINO, M.F.P.; MORAES, K.A.K.; VALADARES FILHO, S.C.; ZERVOUDAKIS, J.T.; DETMANN, E. Ureia em suplementos protéicoenergéticos para bovinos de corte durante o período da seca: características nutricionais e ruminais. Revista Brasileira de Zootencia, v.38, n.4, p.770-777, 2009. MORAIS, J.A.S.; BERCHIELLI, T.T.; QUEIROZ, M.F.S.; KELI, A.; REIS, R.A.; SOUZA, S.M. Influência da freqüência de suplementação no consumo, na digestibilidade e na fermentação ruminal em novilhos de corte mantidos em pastagem de capim-marandu. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.9, p.1824-1834, 2009. NOCEK, J.E.; TAMMINGA, S. Site of digestion of starch in the gastrointestinal-tract of dairy cows and it effect on milk-yield and composition. Journal of Dairy Science, v.74, p.3598-3629, 1991. NUSSIO, C.M.B. Processamento de milho e suplementação com monensina para bezerros leiteiros pré e pós desmama precoce. 2002, 104f. Tese (Doutorado), Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2002. OBEID, J.A. Desempenho e parâmetro nutricionais de bovinos de corte alimentados com dietas contendo diferentes níveis de proteína bruta. 2005. 60f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2005. OWENS, F. N., SECRIST, D.S., HILL, W.H., GILL, D.R. The effect of grain source and grain processing on performance of feedlot cattle: a Review. Journal Animal Science, v.75, n.1, p.868-879, 1997. 37 OWENS, F. N; ZINN, R.A.; KIM, Y.K. Limits starch digestion in the ruminant small intestine. Journal Animal Science, v. 63, n.1, p.1634-1648, 1986. PAULA, N.F.; Fontes de Proteína em Suplementos Fornecidos em Diferentes Frequências para Bovinos em Pastejo no Período Seco. 2008. 117f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2008. PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; ZERVOUDAKIS, J.T. Suplementos Múltiplos para Recria e Engorda de Bovinos em Pastejo. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2, 2001, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2001. p.187231. PAULINO, M.F.; ZERVOUDAKIS, J.T.; MORAES, E.H.B.K.; DETMANN, E. Bovinocultura de ciclo curto em pastagens. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 3, 2002, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2002. P.153196. PAULINO, M.F.; ZAMPERLINI, B.; FIGUEIREDO, D.M.; MORAES, E.H.B.K.; FERNANDES, H.J.; PORTO, M.O.; SALES, M.F.L.; ACEDO, T.S.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. Bovinocultura de precisão em pastagens. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 5, 2006, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2006a. p.361-411. PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. Suplementação Animal em Pasto: Energética ou Protéica? In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO ESTRATÉGICO DA PASTAGEM, 3, 2006, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMFOR, 2006b. p.359-392. PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. Bovinocultura Funcional nos Trópicos. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 6, 2008, Viçosa. Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2008, p.275-306. POPI, D.P.; MacLENNAN, S.R. Optimizing Performance of Grazing Beef Cattle with Energy and Protein Supplementation. In: SIMPOSIO SOBRE BOVINOCULTURA DE CORTE, 6, 2007. Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2007. p.163-182. REIS, R.A.; MELO, G.M.P.; BERTIPAGLIA, L.M.A.; OLIVEIRA, A.P.; BALSALOBRE, M.A.A. Suplementação de Animais em Pastagens: Quantificação e Custos. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE PASTAGENS, 22, 2005. Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2005. p.279-352. REIS, R.A.; BERCHIELLE, T.T.; OLIVEIRA, A.P.; SIQUEIRA, G.R. Efeito do uso de alto concentrado sobre a saúde e desempenho de animais zebu e cruzados mantidos em pastagens tropicais. In: SIMPOSIO DE NUTRIÇÃO DE RUMINANTES, 3, 2007, Botucatu. Anais... Botucatu, 2007. p.61-95. 38 REIS, R.A.; RUGGIERI, A.C.; CASAGRANDE, D.R.; PÁSCOA, A.G. Suplementação da Dieta de Bovinos de Corte como Estratégia do Manejo de Pastagem. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, p.147-159, 2009 (suplemento especial). RESTLE, J. Processamento do grão de aveia para a alimentação de vacas de descarte terminadas em confinamento. Ciência Animal Brasileira, v.10, n.2, p.496-503, 2009. RUSSEL, J.B.; O´CONNOR, J.D.; FOX, D.G.; VAN SOEST, P.J.; SNIFFEN, C.J. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets : I. Ruminal Fermentation. Jounal of Animal Science, v.70, n.12, p.3551-3581, 1992. RODRIGUES, M.M.F.C. Digestão Ruminal da Matéria Seca, da Proteína Bruta e do Amido de Grãos de Milho e de Sorgo (com e sem tanino) Submetidos a Processamento. 2003, 61f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2003. SANTOS, F.A.P.; COSTA, D.F.A.; GOULART, R.C.D. Suplementação de Bovinos de Corte em Pastagens: Conceitos Atuais e Aplicações. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE PASTAGENS, 24, 2007. Piracicaba. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2007. p.273-296. SCHAUER, C.S.; BOHNERT, D.W.; GANSKOPP, D.C.; RICHARDS, C.J.; FALCK, S. J. Influence of protein supplementation frequency on cows consuming low-quality forage: Performance, grazing behavior, and variation in supplement intake. Journal of Animal Science, v.83, p.1715-1725, 2005. SILVA, F.F.; SÁ, J.F.; SCHIO, A.R.; ÍTAVO, L.C.V.; SILVA, R.R.; MATEUS, R.G. Suplementação a Pasto: Disponibilidade e Qualidade x Níveis de Suplementação x Desempenho. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, p.371389, 2009 (suplemento especial). VALADARES, R.F.D.; GONÇALVES, L.C. RODRIGUES, N.M.; VALADARES FILHO, S.C.; SAMPAIO, I.B. Níveis de proteína em dietas de bovinos. 4. Concentrações de amônia ruminal e uréia plasmática e excreções de uréia e creatinina. Revista Brasileira de Zootecnia, v.26, n.6, p.1270-1278, 1997. VAN SOEST, P.J. Nutritional ecology of the ruminant. 2ed. Ithaca: Cornell University, 1994. 476 p. ZERVOUDAKIS, J.T. Suplementos múltiplos de autocontrole de consumo e freqüência de suplementação na recria de novilhos durante os períodos das águas e transição águas-seca. 2003. 78f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Programa de Pós-Graduação em Zootenia. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2003. ZINN, R.A.; GARCES, P. Supplementation of Beef Cattle Raised on Pasture: Biological and Economical Considerations. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 5, 2006. Viçosa. Anais… Viçosa: SIMCORTE, 2006. p.1-14. 39 Capítulo 1 Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo: parâmetros nutricionais RESUMO – Objetivou-se estudar os parâmetros nutricionais de bovinos de corte em pastejo suplementados em diferentes freqüências de suplementação com grão de milheto inteiro ou triturado no período da seca. Para isto, foram utilizados cinco bovinos cruzados, castrados, canulados no rúmen, com idades entre 24 a 26 meses e peso corporal médio inicial de 428,6±26,06 kg, distribuídos de acordo com um delineamento em quadrado latino (5x5) em esquema fatorial 2x2+1, sendo: duas formas físicas do grão de milheto (grãos inteiros – MI ou triturados – MT), duas estratégias de suplementação (distribuição diária – 7X ou três vezes por semana – 3X) e o tratamento controle (mistura mineral – MM). Os animais foram mantidos em cinco piquetes de 0,24 ha, formados com capim Marandu. Foram fornecidos suplementos na ordem de 2,00 kg/animal/dia e 4,66 kg/animal/evento de suplementação para os tratamentos 7X e 3X respectivamente, totalizando uma distribuição semanal de 14 kg/animal. Verificouse que a suplementação com concentrado promoveu maior consumo de matéria seca e orgânica totais e de nutrientes que o tratamento MM. Não houve diferença para o consumo de matéria seca e orgânica de forragem. Para os valores referentes ao coeficiente de digestibilidade, obteve-se aumento com a suplementação com concentrado para MS, MO, EE, CT e CNF. Para as concentrações de nitrogênio amoniacal ruminal, houve efeito da interação dia x hora x tratamento e efeito da interação dia x tratamento para as medidas de pH ruminal. O consumo de N, N uréico no plasma, excreções de N, N absorvido e balanço de N apresentou diferença apenas entre o tratamento MM e os demais, não tendo sido encontrada interferência da forma física do grão e freqüência de suplementação para essas variáveis. Palavras-chave: consumo, digestibilidade, freqüência de suplementação, pastagem, suplementação 40 Grain of millet whole or ground provided in two frequencies of supplementation for beef cattle: nutritional parameters. ABSTRACT – Studied the processing of the grain of millet, whole or ground, provided in two different frequencies of supplementation (daily or three times a week) for beef cattle in the dry season on the nutritional parameters. For this, we used five crossbred steers, fistulated in the rumen, aged 24 to 26 months and initial weight of 428.6 ± 26.06 kg, according to a Latin square design in a factorial 2 x 2 + 1, as follows: two physical forms of the grain of millet (whole grains - MI or ground - MT), two strategies of supplementation (daily distribution - 7X or three times a week - 3X) and additional treatment (control - MM). We used five paddocks of 0.24 ha, evenly formed with Brachiaria brizantha cv. Marandu with average 2,932.05 kgMS/ha for dry matter (MST) and 1,539.64 kgMS/ha for potentially digestible dry matter (MSPD). Provided to 2 kg/animal/day and 4.66 kg/animal/event supplementation for treatments 7X and 3X, respectively, with a total weekly distribution of 14 kg of supplement/animal. It was found that supplementation promoted higher intake (P> 0.05) dry matter and total organic matter and nutrients than control. There was no difference (P <0.05) for the consumption of dry matter and organic forage. For the values for the apparent digestibility was obtained increased with supplementation (P> 0.05) for DM, OM, EE, CT and CNF. Concentrations of nitrogen and rumen pH were different (P <0.05) for the control treatment. Consumption of N, N urea in plasma, excretion of N, N absorbed and N balance showed a significant difference only for MM in relation to others. Keywords: digestibility, supplementation frequency of supplementation, intake, pasture, 41 INTRODUÇÃO A estacionalidade da produção de forragem gerada por fatores climáticos limita o crescimento, disponibilidade e a qualidade da forragem, com reflexos diretos no desempenho animal. Sendo assim, o fornecimento de suplemento nos períodos críticos do ano tem se mostrado alternativa importante como forma de otimizar o aproveitamento dos nutrientes da forragem por meio da melhora na digestibilidade dos constituintes da parede celular vegetal. Porém, os custos com transporte e a distribuição diária de suplementos para bovinos em pastejo são bastante expressivos. Deste modo, o uso de técnicas como a racionalização na distribuição de suplementos com intervalos de até seis dias (Berchielli et al., 2006) é uma alternativa aos pecuaristas uma vez que os ruminantes mantidos em pastagens com forragem de baixa qualidade são hábeis em manter o desempenho, a eficiência de utilização da matéria seca, do nitrogênio e dos demais nutrientes consumidos quando comparados a animais suplementados diariamente (Moraes et al., 2010). Porém a utilização desta técnica em animais consumindo forrageiras de clima tropical e em condições de pastejo ainda é pouco conhecida, podendo os resultados ser variáveis (Berchielli et al., 2006). O efeito do consumo do grão de milheto em diferentes formas físicas para bovinos de corte em pastejo ainda não foi estudado, tornando-se de grande importância esse conhecimento uma vez que é crescente a área plantada dessa gramínea no Brasil, principalmente no Centro Oeste. Segundo Theurer (1986), dois dos principais fatores que afetam a degradação ruminal do amido são a fonte dos grãos de cereais e a forma de processamento deste. Segundo Bolzan et al. (2007), a moagem de cereais para a alimentação de ruminantes 42 aumenta a área superficial de contato e assim facilita os processos digestivos, sejam eles fermentativos ou enzimáticos. Desta forma, objetivou-se com o presente estudo, avaliar o milheto grão inteiro ou triturado, ofertados diariamente ou três vezes por semana em suplementos múltiplos para bovinos de corte em pastagem de capim Marandu sobre os parâmetros nutricionais. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no período da seca, durante os meses de agosto a outubro de 2008 no Setor de Bovinocultura de Corte da Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso, localizada no município de Santo Antônio de Leverger – MT. Utilizaram-se cinco novilhos mestiços (Angus x Nelore), castrados, com peso corporal (PC) médio inicial de 428,6 ± 26,06 kg, canulados no rúmen, distribuídos segundo um delineamento quadrado latino 5x5 arranjados em esquema fatorial 2x2+1, sendo: duas formas físicas do grão de milheto (inteiro – MI ou triturado – MT), duas freqüências de suplementação (distribuição diária – 7X ou três vezes por semana – 3X) e o tratamento controle (mistura mineral – MM). Compôs o experimento cinco períodos experimentais com duração de 15 dias cada, sendo os 10 primeiros dias de cada período destinados a adaptação dos animais. Os animais foram alocados individualmente em cinco piquetes com 0,24 ha cada, formados homogeneamente por Brachiaria brizantha cv. Marandu e dotados de bebedouros e comedouros cobertos. Foi adotado o método de lotação contínua com taxa de lotação fixa. 43 Forneceram-se os suplementos sempre as 10 h, seguindo uma distribuição semanal de 14 kg de concentrado por animal. Constituíram o experimento os seguintes tratamentos: • 7XMI – Grão de milheto inteiro distribuído diariamente (2 kg/animal/dia); 7XMT – Grão de milheto triturado distribuído diariamente (2 kg/animal/dia); 3XMI – Grão de milheto inteiro fornecido às segundas, quartas e sextas-feiras (4,66 kg/animal/evento de suplementação); 3XMT – Grão de milheto triturado fornecido às segundas, quartas e sextas-feiras (4,66 kg/animal/evento de suplementação); MM – Suplementação com mistura mineral (ad libitum). Os suplementos (Tabela 1) foram formulados para proporcionar níveis de consumo na ordem de 0,46% do peso corporal (PC)/dia e suprir 66% e 33% das exigências diárias de proteína bruta e nutrientes digestíveis totais (NDT), respectivamente, de um novilho castrado, com 450 kg de PC e ganho esperado de 0,5 kg/dia, segundo recomendações de Valadares Filho et al., (2006). Tabela 1. Composição percentual dos suplementos, com base na matéria natural Ingredientes (%) Mistura mineral (formulação comercial)1 2,5 Uréia/Sulfato de amônio (9:1) 3,0 Farelo de algodão alta energia (Bunge®) 39,5 Grão de milheto (triturado ou inteiro) 55,0 1 Níveis de garantia: cálcio, 198 g/kg; fósforo, 60 g/kg; sódio, 117 g/kg; magnésio, 5,1 g/kg; enxofre, 12,6 g/kg; iodo, 17,7 g/kg; ferro, 125 mg/kg; selênio, 10,4 mg/kg; cobalto, 80 mg/kg; manganês, 527 mg/kg; flúor, 700 mg/kg; cobre, 1.000 mg/kg; zinco, 3.000 mg/kg. Para processamento do milheto utilizou-se desintegrador de grãos munido de peneira com orifícios de 3,0 mm. Após processado, o milheto apresentou aspecto de fubá grosso e não foi observada a presença de grãos inteiros. 44 No primeiro dia de cada período experimental procedeu-se a amostragem da forragem por meio de dois métodos. Pelo primeiro método, amostras de forragem foram coletadas de maneira direta, através do corte rente ao solo de três áreas delimitadas por um quadrado metálico de 0,5 x 0,5 m (0,25m2), seguindo estimativa visual e representativa da condição média de cada piquete. Após a coleta, cada amostra foi pesada e homogeneizada. Para avaliação da massa total de matéria seca (MS) de forragem (kgMS/ha) foi colhida uma sub-amostra, acondicionada em saco plástico, identificada e analisada posteriormente e, outra subamostra que foi utilizada para a separação dos componentes morfológicos da forragem: lâmina foliar verde, pseudocolmo verde, lâmina foliar seca e pseudocolmo seco, sendo a inflorescência, quando encontrada, considerada como pseudocolmo. Pelo segundo método, a amostragem da forragem consumida pelos animais foi realizada via simulação manual de pastejo (pastejo simulado), feitas de acordo com Johnson (1978), identificando previamente o tipo de material que o animal ingere, visto que possibilita uma estimativa aceitável da dieta selecionada pelos animais em regime de pastejo (Goes et al., 2003; Moraes et al., 2005). A coleta foi realizada por um único amostrador em todo período experimental a fim de evitar variações em cada amostragem. Das amostras destinadas à estimativa da MST, foi calculado o percentual de MS potencialmente digestível (MSpD) ofertada aos animais. Esse resultado foi obtido por intermédio do resíduo insolúvel em detergente neutro (FDNi) avaliado após incubação in situ das amostras em sacos de tecido não tecido (TNT – 100g/m2) por 240 horas (Casali et al., 2008), segundo a equação: MSpD = 0,98 X (100 – FDN) + (FDN – FDNi); em que: 0,98 = coeficiente de digestibilidade verdadeira do conteúdo celular; FDNi = fibra em detergente neutro (FDN) indigestível. 45 A oferta de forragem (OF) foi calculada de acordo com a equação: OF (%) MF X 100 PC Onde: OF = oferta de forragem (%); MF = massa de forragem/ha/dia (kgMS/ha/dia); PC = peso corporal médio dos animais (kg) As amostras foram pré-secas em estufa com ventilação forçada a 55ºC por 72 horas e, posteriormente, moídas em moinho de facas tipo Willey até atingirem granulometria de 1,0 mm para a realização das análises laboratoriais. As análises químico-bromatológicas foram realizadas de acordo com descrições de Silva & Queiroz (2002), com exceção das avaliações de FDN e FDA, que seguiram os métodos descritos por Mertens (2002) e Van Soest & Robertson (1985), respectivamente. Os carboidratos totais (CT) das amostras foram calculados segundo metodologia descrita por Sniffen et al. (1992), em que CT(%) = 100 - (%PB + %EE + %Cinzas). A quantificação dos carboidratos não fibrosos (CNF) foi obtido de acordo com adaptação de Hall (2000) utilizando a equação CNF = 100 – [(%PB - %PB da uréia + %ureia) + %FDNcp + %EE + %cinzas]. Os nutrientes digestíveis totais (NDT) estimados da forragem e dos suplementos foram calculados segundo equação sugerida pelo NRC (2001). O teor de NDT observado foi calculado segundo equação proposta por Weiss (1999). Para estimar a excreção fecal foram fornecidos para cada animal diariamente 15g do indicador externo óxido de cromo (Cr 2O3) acondicionado em cartucho de papel e introduzido diretamente no rúmen. O fornecimento ocorreu sempre às 11 horas entre os dias três e 10 de cada período experimental, sendo as coletas de fezes realizadas nos dias nove, 10 e 11 as 16, 12 e 8h respectivamente. O teor de cromo nas fezes foi determinado utilizando-se espectrofotômetro de absorção atômica, sendo a excreção fecal estimada com base na razão entre a 46 quantidade do indicador fornecido e sua concentração nas fezes. A estimativa do consumo voluntário foi obtida por intermédio do indicador interno FDNi. Para relacionar o consumo ao PC dos animais, foi utilizado como referência o peso médio no período, estimado pela média entre os valores inicial e final de cada período. No 12° e 13° dia de cada período, com a finalidade de se estimar as excreções diárias de urina e ureia e concentrações plasmáticas de ureia, amostras “spot” de urina em micção espontânea e de sangue através de punção da veia coccígea foram coletadas quatro horas após o fornecimento do suplemento (14h). Em seguida, 10 mL de urina foram diluídas em 40 mL de H2SO4 (0,036 N) e congeladas a -20oC para posterior determinação dos teores de creatinina e uréia segundo Valadares et al. (1999). As amostras de sangue foram centrifugadas a 2.500 rpm por 15 minutos e o plasma armazenado em eppendorf’s identificados e congelados para posterior análise. No 14° e 15° dia de cada período, foram coletadas, imediatamente antes da suplementação (10h – tempo 0h) e quatro horas após o fornecimento do suplemento (14h – tempo 4h), amostras de líquido ruminal para medir o pH e a concentração de amônia (N-NH3). As medições de pH foram realizadas imediatamente após a coleta por intermédio de peagâmetro digital. Para a determinação da amônia ruminal, foi separada uma alíquota de 50 mL, acondicionada em recipiente de plástico contendo 1,0 mL de H2SO4 (1:1), identificada e congelada a -20°C para posterior análise laboratorial. As concentrações de N-NH3 do líquido ruminal foram determinados pelo sistema microKjeldahl, sem digestão ácida da amostra, mediante destilação com hidróxido de potássio (KOH) 2 N. As amostras de urina foram analisadas quanto aos teores de ureia (diacetil modificado) e creatinina, empregando-se kits comerciais (Analisa®), seguindo-se 47 recomendações técnicas do fabricante. Foi calculado o volume urinário diário pela relação entre a excreção diária de creatinina (EC), adotando-se como referência a equação proposta por Chizzotti et al. (2008) e a sua concentração nas amostras spot. Desta forma, assumiu-se que a excreção urinária diária de ureia foi o produto entre sua concentração nas amostras “spot” e o valor estimado do volume urinário. Para a análise estatística referente às variáveis de consumo, coeficiente de digestibilidade e balanço de nitrogênio utilizou-se a comparação entre suplementos por intermédio da decomposição da soma de quadrados relacionada a esta fonte por intermédio de contrastes ortogonais: a) Suplementação mineral versus Suplementação concentrada; b) Grão de milheto inteiro versus grão triturado; c) Suplementação três vezes por semana (3X) versus diária (7X) e d) Interação entre forma física do grão de milheto e a freqüência de suplementação. Foi utilizado o programa computacional SAS (1999) na análise dos resultados. Adotou-se α = 0,10. Para as variáveis referentes ao N-NH3 e pH ruminal foi adotado o esquema de parcela sub-subdividida, com o período e dia na parcela principal, hora na subparcela e tratamento na sub-subparcela, adotando-se seguinte modelo: yijkh = µ + i + βj + (β)ij + k + (β)jk + (β)i(jk) + h + (β)jh + ()kh + (β)jkh + i(jkh) em que µ é uma constante geral; i , βj, k e h são os efeitos de período, dia, hora e tratamento, respectivamente; (β)ij, (β)i(jk) e i(jkh) são os erros aleatórios de parcela, subparcela e sub-subparcela, respectivamente; (β)jh, ()kh e (β)jkh são as interações entre dia x tratamento, hora x tratamento e dia x hora x tratamento, respectivamente. Para as variáveis aleatórias N-NH3 e balanço de nitrogênio foi aplicada a transformação na escala logarítmica, para correção das pressuposições de normalidade e homogeneidade de variâncias. 48 RESULTADOS E DISCUSSÃO Pode-se constatar (Figura 1) que com o passar dos meses houve redução na massa total de matéria seca, com exceção do terceiro período, isso devido a época não favorecer o crescimento das gramíneas, ao pastejo exercido pelos animais e morte e degradação de alguns constituintes do dossel forrageiro. Também a MSpD reduziu com o passar dos meses, acompanhada pelo aumento na disponibilidade de colmos secos entre os dois primeiros períodos. O aumento dessa fração seca foi devido ao amadurecimento dos colmos verdes já presentes na pastagem e conseqüente senescência. As massas para lâminas foliares verdes (MLFV) e secas (MLFS) reduziram conforme seguiu os meses, podendo esse fato ser explicado pelos bovinos terem exercido o pastejo selecionando o material colhido. Notou-se que entre os dois últimos períodos elevaram-se as quantidades de materiais verdes, tanto pseudocolmos como lâminas foliares sendo resultado do aparecimento de novos perfilhos devido a precipitações que ocorreram nessa época. 49 Figura 1. Massas de matéria seca total (MST), matéria seca potencialmente digestível (MSpD), pseudocolmo seco (PSCS), pseudocolmo verde (MPCV), lâmina foliar seca (MLFS) e lâmina foliar verde (MLFV) do capim Marandu durante os períodos experimentais Euclides (2001) enfatizou que o consumo máximo de forragem ocorre quando os animais estão em pastos com boa disponibilidade de folhas, sendo que o colmo e material morto podem limitar o consumo. A oferta de forragem encontrada no presente estudo foi de 10,81% PC, enquanto a oferta de lâminas foliares (verde + seca) foi de 3,12% PC com uma relação lâmina foliar:pseudocolmo de 0,41. A participação de material seco (lâmina foliar seca + pseudocolmo seco), em todos os períodos experimentais, encontrou-se muito elevada, apresentando massa média de material seco seco de 2.336,4, 2.343,4 e 1.396,0 kgMS/ha, representando 79,7, 89,0 e 76,7% para o primeiro, segundo e terceiro período respectivamente. 50 Com relação aos valores encontrados para MSpD, a massa para cada período experimental foi de 1.689,8; 1.700,7; 1.685,6; 1.322,8 e 1.299,2 kgMSpD/ha correspondendo a 52,7, 54,3, 52,2, 51,1 e 51,9% da MST respectivamente. Segundo Paulino et al. (2004), os valores indicados para a oferta de MSpD para associar produção por animal, por área e eficiência de uso são entre 4 e 5% do PC. Essa variável apresentou valores de 6,31; 6,33; 6,23; 4,86 e 4,64 %PC no presente estudo para os 5 períodos experimentais, respectivamente, atendendo o preconizado por esses autores. Paulino et al. (2008) ressaltaram que a otimização na utilização dos recursos basais (forragem) pode ser alcançada pelo incremento na disponibilidade de MSpD aos animais e, concomitantemente, pela exploração dos efeitos positivos ou minimização dos efeitos negativos da interação entre os recursos basais e os recursos suplementares, delineados para proporcionar máxima taxa de fermentação, uma vez que o consumo alimentar e suprimentos de nutriente depende da taxa de fermentação. No tocante à constituição químico-bromatológica (Tabela 2) da forragem constata-se que a porcentagem de PB (4,93% PB na MS) na simulação do pastejo encontrou-se abaixo do recomendado por Minson (1990), Van Soest (1994) e Lazzarini et al. (2009) de 7% como limite mínimo para atividade da microbiota ruminal. 51 Tabela 2. Composição química dos suplementos e pastejo simulado Brachiaria brizantha Suplemento Itens Pastejo simulado MS (%) 91,25 61,35 MO1 95,25 92,54 27,06 4,93 75,91 54,94 FDNcp1 27,19 73,80 FDN1 29,18 75,39 FDA1 15,80 43,60 NIDN3 30,77 53,28 NIDA3 10,11 44,08 1 6,57 1,79 MM1 4,76 7,46 Lignina1 6,18 8,10 CT1 61,62 85,82 CNF1 48,01 14,31 FDNi1 1,89 36,77 1 1,24 25,47 PB1 NDT EE 1,2 FDAi 1/ % MS; 2/ NRC (2001); 3/ % N total Segundo Sampaio et al. (2009), nos períodos críticos do ano, a suplementação com compostos nitrogenados é recomendada para promover adequada condição para os microrganismos ruminais e melhorar a eficiência na utilização da fibra da forragem. No caso de parede celular, a digestão requer uma população microbiana ativa com capacidade de digerir seus componentes (Paulino et al., 2004). Assim, o consumo pode ser controlado pela repleção ruminal devido a altas porcentagens de FDN na dieta com baixa taxa de degradação. As porcentagens de FDN, FDA e lignina nas amostras de capim Marandu via simulação de pastejo foram altas, uma vez que representou 75,39; 43,6 e 8,10% da MS 52 respectivamente, podendo ser classificada como de baixa qualidade (Moraes et al., 2006). Sarmento (2003) ressaltou que forragens com valores de FDA em torno de 30% ou menos possuem consumo elevado, enquanto aquelas com teores acima de 40% possuem menor ingestão. Observou-se incremento (P<0,01) no consumo de matéria seca (MST) e orgânica (MOT) totais nos animais que foram suplementados com concentrado. O mesmo foi observado para o consumo dos demais nutrientes (P<0,10). Em contrapartida, não se observou (P>0,10) influência das diferentes freqüências de suplementação e forma física do grão de milheto sobre as variáveis de consumo estudadas. Não houve diferença (P>0,10) entre o consumo de matéria seca e orgânica de forragem com a inclusão dos suplementos (Tabela 3). 53 Tabela 3. Valores médios para consumo de nutrientes Ítens1 MM2 Milheto Milheto Inteiro3 Triturado4 3X5 7X6 3X5 7X6 Contrastes CV (%) A7 B8 C9 D10 kg/dia MSF 5,88 6,17 6,12 6,37 6,57 11,68 0,2600 0,3380 0,9096 0,6674 MSS 0,07 1,84 1,84 1,84 1,84 MST 5,95 8,02 7,94 8,21 8,42 MOF 5,46 5,73 5,67 5,89 6,07 11,26 0,2589 0,3460 0,8915 0,6711 MOT 5,46 7,48 7,43 7,65 7,83 9,05 <,0001 0,3460 0,9002 0,6791 PB 0,30 0,82 0,80 0,82 0,83 5,90 <,0001 0,4347 0,6953 0,6996 EE 0,15 0,28 0,30 0,29 0,29 7,50 <,0001 0,2464 0,8998 0,6567 CT 5,01 6,39 6,34 6,54 6,70 9,60 0,0003 0,3579 0,9070 0,6734 FDN 4,41 5,07 5,02 5,25 5,30 10,57 0,0154 0,3495 0,8893 0,8710 CNF 0,60 1,41 1,41 1,38 1,49 - - - - - 9,43 <,0001 0,3380 0,9096 0,6674 9,02 <,0001 0,5891 0,9711 0,1620 %PC MSF 1,35 1,43 1,42 1,44 1,53 12,28 0,2805 0,4554 0,9531 0,4671 MST 1,37 1,85 1,85 1,86 1,95 MOF 1,25 1,32 1,31 1,33 1,41 11,84 0,2764 0,4656 0,9378 0,4584 MOT 1,25 1,73 1,72 1,73 1,81 FDN 1,02 1,17 1,16 1,19 1,23 11,10 0,0198 0,4892 0,9216 0,6130 1/ 9,05 0,0001 0,5048 0,9614 0,4499 9,77 <,0001 0,5186 0,9547 0,4465 MSF (matéria seca de forragem), MSS (matéria seca de suplemento), MST (matéria seca total), MOF (matéria orgânica de forragem), MOT (matéria orgânica total), PB (proteína bruta), EE (extrato etéreo), CT (carboidratos totais), FDN (fibra em detergente neutro) e CNF (carboidratos não fibrosos); 2/Mistura mineral; 3/Suplemento constituído por milheto inteiro; 4/Suplemento constituído por milheto triturado; 5/ 8 Distribuição três vezes por semana; 6/Distribuição diária; 7/Tratamento controle versus Suplementação; /Grão de milheto inteiro versus Grão de milheto triturado; 9/Suplementação três vezes/semana versus diária ; 10/Interação entre forma física do grão de milheto e a freqüência de Da mesma forma que no presente estudo, Schauer et al. (2005) e Morais et al. (2009) não encontraram diferenças no consumo de forragem e MS total com a redução na freqüência de suplementação. Moraes et al. (2010), avaliando suplemento com 54 autocontrole de consumo e quatro freqüências de suplementação (três, cinco, seis e sete vezes por semana) para bovinos de corte em pastejo no período da seca também não encontraram efeito no consumo. Segundo Vargas Jr. et al. (2008), estudando o grão de milho inteiro, tratado com ureia ou moído, não encontraram diferença no consumo de MS, PB, EE, FDN e FDA para nenhum dos tratamentos estudados. De acordo com o NRC (1996), o efeito do processamento do grão no consumo de MS pode ser menos evidente quando a energia disponível do grão inteiro não processado é alta ou quando o nível de consumo dos animais é baixo. Forbes (1995) citado por Pereira et al. (2003), relatou que quando animais são submetidos a dietas de baixa qualidade, a ingestão é predita com mais acurácia por fatores que descrevem o limite físico da ingestão-digestibilidade, índice de capacidade física e peso vivo. Desta forma, o potencial de ingestão intrínseco de uma dieta poderá refletir o seu efeito de repleção, mais do que a demanda energética do animal que se alimenta da mesma (Pereira et al., 2003). Com relação ao coeficiente de digestibilidade (Tabela 4), com exceção do coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo (CDEE) (P>0,10), o coeficiente de digestibilidade da matéria seca (CDMS) e orgânica (CDMO) e dos demais nutrientes aumentou (P<0,01) com o fornecimento de suplementação concentrada. Da mesma forma, Ferrel et al. (2001) e Paula (2008) também encontraram menores valores para o coeficiente de digestibilidade da PB para o tratamento apenas com mistura mineral em detrimento da suplementação com concentrado. Bohnert et al. (2002) relataram que a baixa digestibilidade da dieta para animais recebendo apenas mistura mineral, provavelmente se deve aos maiores teores de fibra e aos menores teores de PB em forragens de baixa qualidade. 55 Tabela 4. Valores médios (%) para o coeficiente de digestibilidade e NDT observado em função de cada tratamento Itens1 MM2 Milheto Milheto inteiro3 Triturado4 3X5 7X6 3X5 7X6 CV (%) Contrastes A& B8 C9 D10 CDMS 51,07 52,44 56,28 58,92 61,09 5,73 0,0025 0,0020 0,0826 0,3046 CDMO 53,33 56,63 59,30 62,74 64,12 5,83 0,0011 0,0041 0,2459 0,5374 CDPB 50,48 57,63 57,06 59,45 59,54 8,64 0,0072 0,3476 0,8559 0,9771 CDEE 56,38 58,22 56,09 64,24 64,06 9,72 0,1670 0,0195 0,5731 0,9616 CDFDN 55,73 58,46 60,46 63,18 63,13 6,63 0,0056 0,5242 0,0684 0,9843 CDCT 57,13 60,16 59,86 62,88 64,58 4,49 0,0047 0,0103 0,8627 0,3448 CDCNF 57,81 61,07 62,06 78,28 81,73 7,02 0,0007 <,0001 0,7409 0,2636 NDTobs 52,67 57,04 58,79 62,68 61,07 6,64 <,0001 0,0013 0,5387 0,3875 1/ Coeficientes de digestibilidade da matéria seca (CDMS), matéria orgânica (CDMO), proteína bruta (CDPB), extrato etéreo (CDEE), fibra em detergente neutro (CDFDN), carboidratos totais (CDCT) e carboidratos não fibrosos (CDCNF) e nutrientes digestíveis totais observado (NDTobs); 3/ 2/ Mistura 4/ mineral; Suplemento constituído por milheto inteiro; Suplemento constituído por milheto triturado; 5/ 8 Distribuição três vezes por semana; 6/Distribuição diária; 7/Tratamento controle versus Suplementação; /Grão de milheto inteiro versus Grão de milheto triturado; 9/Suplementação três vezes/semana versus diária; 10/Interação entre forma física do grão de milheto e a freqüência de suplementação. Quanto ao processamento do grão, a suplementação com milheto triturados melhorou (P<0,10) o CDMS, CDMO, CDEE, CDCT (carboidratos totais) e CDCNF (carboidratos não fibrosos). Segundo McAllister e Cheng (1996), a moagem em grãos de cereais aumenta o grau e a taxa de digestão ruminal do amido, uma vez que o pericarpo de tais grãos é resistente a penetração e ao ataque microbiano, devendo ser rompido pelo processamento mecânico ou mastigação para proceder-se a digestão. Desta forma, devido a redução no tamanho das partículas, há disponibilização dos nutrientes solúveis para fermentação, exposição das porções internas do alimento para a colonização microbiana, facilitando assim a digestão (Restle, 2009), como observado no presente trabalho. 56 Verificou-se durante a condução do experimento que uma parte dos grãos inteiros ingeridos nos suplementos MI foram eliminados nas fezes, assim, observa-se um maior CDCNF para os suplementos MT, sendo aproximadamente 18,44% maior quando comparado aos suplementos MI. Moron et al. (2000), avaliando grão de sorgo e milho inteiros, quebrados, moídos, extrusados ou autoclavados, notaram que a quebra ou a moagem dos grãos permitiram uma maior degradação do amido em relação aos grãos na forma inteira e que a redução no tamanho da partícula exerceu um papel importante na degradação desse carboidrato. Pode-se notar que a freqüência de suplementação não influenciou (P>0,10) o CDMO, CDPB, CDEE, CDCT e CDCNF, porém influenciou (P<0,10) o CDMS e CDFDN (fibra em detergente neutro). Observa-se que o NDT observado (NDTobs) foi aumentado (P<0,01) com a inclusão de recursos suplementares e com o processamento dos grãos (P<0,10), não havendo no entanto diferença (P>0,10) entre as frequências estudadas, isso devido a inclusão de concentrados mais digestíveis e ao maior coeficiente de digestibilidade apresentados pelos suplementos MT. Com relação às concentrações de N-NH3 ruminal (Tabela 5), houve efeito da interação (P<0,01) dia x hora x tratamento. Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos para a variável N-NH3 no Tempo 0 (imediatamente antes da suplementação), independentemente do dia de coleta. Para o Tempo 4 (quatro horas após a suplementação), no dia em que os animais em menor freqüência de suplementação não foram suplementados (Dia 1), foi encontrada diferença (P<0,01) apenas para os tratamentos 7X. Não houve diferença (P>0,05) para as concentrações de N-NH3 no tratamento MM independentemente do dia ou horário de coleta. Com relação aos animais do 57 tratamento 3X, foi encontrada diferença (P<0,01) apenas no Tempo 4 do dia em que todos os tratamentos foram suplementados (Dia 2). Já para os tratamentos 7X houve diferença (P<0,01) entre os horários de coleta, não tendo sido encontrada variação nos níveis de N-NH3 (P>0,05) entre dias de coleta. Tabela 5. Médias, na escala original, para a concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) e medidas para pH ruminal em função dos dias, tratamentos e tempos de coleta Dias Tempo Milheto Inteiro6 5 MM 3X8 7X9 Milheto Triturado7 3X8 7X9 N-NH3 (mg/dL) Dia 1 1 Dia 2 2 03 8,83Aa 11,81Ba 10,90Ba 10,10Ba 10,05Ba 44 9,34Ab 12,99Bb 27,78Aa 10,98Bb 25,33Aa 03 9,40Aa 10,92Ba 10,39Ba 10,29Ba 10,23Ba 4 10,74Ac 42,48Aa 28,56Ab 46,31Aa 27,12Ab 4 pH 1/ Dia 11 - 6,60b 6,38a 6,39a 6,31a 6,48a Dia 22 - 6,53a 6,58a 6,41a 6,48a 6,42a Dia em que os tratamentos com menor freqüência de suplementação não receberam suplemento; 2/Dia em que todos os tratamentos foram suplementados; 3/Tempo 0 horas imediatamente antes da suplementação; 5/ suplementação; Mistura mineral; 6/ 4/ Tempo 4 horas – 4 horas após a Suplemento constituído por milheto inteiro; 7/ Suplemento constituído por milheto triturado; 8/Distribuição três vezes por semana; 9/ Distribuição diária. Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, em coluna, discriminam diferenças entre níveis de dia, em cada nível de tratamento. Médias seguidas de letras minúsculas diferentes, em linha, discriminam diferenças entre níveis de tratamentos, em cada nível de dia. Bohnert et al. (2002) ressaltaram que ruminantes possuem a habilidade de conservar níveis de N por longo período, isto possivelmente através da mudança na permeabilidade do trato gastrintestinal à uréia e/ou pela regulação da excreção renal, mantendo o fornecimento às bactérias entre os intervalos de suplementação. 58 Com relação ao pico de concentração ruminal de N-NH3 no Tempo 4 no Dia 2, observa-se que os tratamentos 3X apresentaram maiores valores (P<0,01), isto devido ao maior nível de fornecimento de suplemento em cada evento de suplementação. De acordo com Del Curto et al. (1990), há associações entre suplementação protéica e acréscimo na concentração de N-NH3 no ambiente ruminal. Segundo Leng (1990) e Lazzarini (2007), a concentração de N-NH3 adequada à fermentação ruminal em animais mantidos em condições tropicais é de 10,0 mg/dL. Com o observado no presente estudo, pode-se inferir que apenas o tratamento MM apresentou valores abaixo do recomendado por esses autores. Para as medidas de pH ruminal (Tabela 5), houve efeito significativo da interação dia x tratamento (P<0,01). Foi encontrada diferença (P<0,01) apenas para o tratamento MM no Dia 1 em comparação aos demais. Porém os resultados mantiveram-se acima do mínimo exigido pelas bactérias ruminais para adequado desenvolvimento. Segundo Van Soest (1994), quando o pH encontra-se abaixo de 6,0, verifica-se redução na população de microrganismos que degradam fibra, uma vez que bactérias celulolíticas são sensíveis a pH abaixo desse valor, podendo chegar a severa inibição em pH de 4,5 a 5,0, sendo que a faixa adequada para essas bactérias seriam próximos de 6,7. Segundo Reis et al. (2007), nas condições brasileiras, pouco são evidenciadas quedas de pH abaixo dos valores ideais, uma vez que o nível de fornecimento de suplemento é baixo e os animais consomem grandes quantidades de fibras alimentares oriundas da forragem. Desta forma há uma grande produção de saliva que possui poder tamponante e altas concentrações de carboidratos estruturais de lenta degradação. Corroborando essas informações, Detmann et al. (2005), trabalhando com fornecimento de 4 kg de suplemento por animal mantidos em pastos no período de 59 transição seca-águas, não encontraram redução do pH abaixo dos limites considerados como limitantes para o crescimento das bactérias que degradam fibra. Com relação aos resultados obtidos para as variáveis referentes ao balanço de nitrogênio (Tabela 6), pode-se visualizar que com exceção do volume urinário (VU) (P>0,10), houve diferença apenas entre o tratamento controle e os demais para as concentrações de nitrogênio ureico no plasma (NUP) (P<0,01), excreção de ureia (EU) (P<0,01), excreção de nitrogênio ureico (ENU) (P<0,01), consumo de nitrogênio (consumo N) (P<0,01), nitrogênio excretado nas fezes (N fezes) (P<0,01), nitrogênio absorvido (NABS) (P<0,01) e lanço de nitrogênio (BN) (P<0,01), não havendo, no entanto, influência (P>0,10) das formas do grão de milheto e das diferentes frequências de suplementação. Com relação a concentração para NUP, essa se manteve dentro da amplitude de normalidade relatada em Guia (2000) citado por Pereira et al. (2007) como sendo de 6,0 a 27,0 mg/dL de NUP. Da mesma forma que no presente estudo, Bohnert et al. (2002) encontraram elevação na concentração de NUP a medida que foi fornecido suplementos protéicos a animais consumindo forragem de baixa qualidade. Segundo Valadares et al. (1997), níveis de 13,52 e 15,15 mg/dL representariam valores nos quais haveria a máxima eficiência microbiana, sendo que a partir desses estariam ocorrendo perdas de proteína. De acordo com Rennó et al. (2000), parte da uréia sanguínea é transferida ao rúmen por intermédio da saliva ou do epitélio ruminal. Pode-se visualizar que a medida que foi incrementado o consumo com concentrado, maiores valores para N ureico no plasma foram observados, seguido de maior excreção de N na urina. Van Soest (1994) relatou que a concentração de uréia 60 encontrada na urina está correlacionada positivamente com as concentrações de N no plasma e com a ingestão de N. Neste sentido, Rennó et al. (2000), trabalhando com novilhos com o objetivo de se determinar a concentração plasmática de uréia e excreções de uréia e creatinina, relataram haver aumento na concentração plasmática e excreções de ureia com aumento nas porcentagens de PB e FDN nas dietas cujos valores de PB foram variáveis. Pereira et al. (2007) avaliando o balanço de N e perdas endógenas em bovinos e bubalinos alimentados com níveis crescentes de concentrado, encontraram que tanto a uréia na urina quanto a uréia plasmática foram alterados pelos níveis de concentrado na dieta, sendo 14,48, 17,50, 23,54 e 23,99 mg/dL para uréia plasmática e 10,47, 14,86, 23,69 e 28,71 g/dia para excreções de N para os níveis de inclusão de concentrado de 0, 24, 48 e 72% respectivamente. 61 Tabela 6. Volume urinário (VU), nitrogênio ureico no plasma sanguíneo (NUP), excreção urinária de uréia (EU) e excreção urinária de nitrogênio ureico (ENU), consumo de nitrogênio, nitrogênio excretado nas fezes (N Fezes), nitrogênio absorvido (NABS) e balanço de nitrogênio (BN) em função dos tratamentos Itens1 MM2 VU (L) VU (mg/kgPC) NUP (mg/dL) EU (g/dia) ENU (g/dia) ENU (mg/kgPC) Consumo N (g/dia) N Fezes (g/dia) NABS (g/dia) NABS (mg/kgPC) BN (g/dia) BN (mg/kgPC) 10,42 24,03 9,18 35,62 9,60 37,71 35,92 23,52 12,40 28,69 2,80 6,13 1/ Milheto Inteiro3 3X5 7X6 10,45 11,04 24,20 25,55 17,94 18,03 87,03 114,95 40,04 52,88 102,19 123,52 130,57 128,86 37,40 38,28 93,17 90,58 211,36 210,05 31,25 28,37 72,26 66,33 Milheto Triturado4 3X5 7X6 12,21 10,62 27,72 24,50 18,27 20,36 91,35 95,20 42,02 45,79 95,82 101,34 131,31 133,00 38,67 34,83 92,64 98,17 210,56 226,21 39,26 43,19 88,99 99,53 CV (%) 14,28 4,43 11,29 11,05 13,49 11,01 2,43 4,77 7,79 6,68 5,87 9,89 7 A 0,4143 0,4530 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 <,0001 0,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 Contrastes B C9 0,4882 0,5631 0,5167 0,5222 0,6692 0,9674 0,5315 0,4233 0,5316 0,4235 0,7000 0,6720 0,9341 0,9360 0,4629 0,9417 0,8514 1,0000 0,8019 0,9708 0,9893 0,6161 0,9582 0,7881 8 D10 0,1342 0,1347 0,5742 0,9357 0,9357 0,9032 0,8438 0,3382 0,7912 0,7505 0,6031 0,7320 VU (volume urinário), NUP (nitrogênio ureico no plasma), EU (excreção de ureia), ENU (excreção de nitrogênio ureico), consumo N (consumo de nitrogênio), N fezes (nitrogênio excretado nas fezes), NABS (nitrogênio absorvido), BN (balanço de nitrogênio); 2/Mistura mineral; 3/Suplemento constituído por milheto inteiro; 4/Suplemento constituído por milheto triturado; 5/Distribuição três vezes por semana; 6/Distribuição diária; 7/Tratamento controle versus Suplementação; 8/Grão de milheto inteiro versus Grão de milheto triturado; 9/Suplementação três vezes/semana versus diária; 10 /Interação entre forma física do grão de milheto e a freqüência de suplementação. 62 CONCLUSÃO A suplementação concentrada aumenta o consumo total de matéria seca, orgânica e dos nutrientes, porém não aumenta o consumo de forragem. Há melhora na digestibilidade da matéria seca e orgânica quando se incrementa o consumo com concentrado e procede-se o processamento do grão de milheto. As diferentes freqüências de suplementação e as diferentes formas físicas do grão mantém adequadas as condições ruminais, mesmo nos dias não suplementados. O balanço de N é mais alto para os animais recebendo suplementação concentrada em comparação aos animais suplementados apenas com mistura mineral, não havendo diferença entre forma física do grão e freqüência de suplementação. 63 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BERCHIELI, T.T.; CANESIN, R.C.; ANDRADE, C. Estratégias de suplementação para ruminantes em pastagens. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, 2006, João Pesso. Anais... João Pessoa, 2006. CD-ROM BOHNERT, D.W.; SCHAUER, C.S.; DELCURTO, T. Influence of rumen protein degradability and supplementation frequency on performance and nitrogen use in ruminants consuming low-quality forage: Cow performance and efficiency of nitrogen use in wethers. Journal of Animal Science, v.80, p.1629-1637, 2002. BOLZAN, I.T.; SANCHEZ, L.M.B.; CARVALHO, P.A.. et al. Consumo e digestibilidade em ovinos alimentados com dietas contendo grão de milho moído, inteiro ou tratado com uréia, com três níveis de concentrado. Ciencia Rural., v.37, n.1, p.229-234, 2007. CASALI, A.O.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Influência do tempo de incubação e do tamanho de partículas sobre os teores de compostos indigestíveis em alimentos e fezes bovina obtidos por procedimentos in situ. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.2, p.335-342, 2008. CHIZZOTTI, M.L.; VALADARES FILHO, S.C.; VALADARES, R.F.D. et al. Determination of creatinine excretion and evaluation of spot urine sampling in Holstein cattle. Livestock Science, v.113, p.218-225, 2008. DEL CURTO, T.; COCHRAN, R.C.; HARMON, D.L. et al. Supplementation of dormant tallgrass-prairie forage: I. Influence of varying supplemental protein and (or) energy levels on forage utilization characteristics of beef steers in confinement. Journal of Animal Science, v.68, p.515-531, 1990. DETMANN, E.; PAULINO, M.F.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Níveis de proteína em suplementos para terminação de bovinos em pastejo durante o período de transição seca/águas: digestibilidade aparente e parâmetros do metabolismo ruminal e dos compostos nitrogenados. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.4, p.1380-1391, 2005. EUCLIDES, V.P.B; CARDOSO, E.G.; MACEDO, M.C.M. et al. Consumo Voluntário de Brachiaria decumbens cv. Basilisk e Brachiaria brizantha cv. Marandu sob Pastejo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.6, p.2200-2208, 2000. EUCLIDES, V.P.B. Produção intensiva de carne bovina em pasto. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2., 2001, Viçosa. Anais... Viçosa, 2001, p.55-82. FERREL, C.L. FREETLY, H.C.; GOETSCH, A.L. The effect of dietary nitrogen and protein on feed intake, nutrient digestibility, and nitrogen flux across the portal-drained viscera and liver of sheep consuming hight-concentrate diets and ad libitum. Journal of Animal Science, v.79, p.1322-1328, 2001. FRANCO, A.V.M.; FRANCO, G.L.; ANDRADE, P. Parâmetros ruminais e desaparecimento da MS, PB e FDN da forragem em bovinos suplementados em pastagem na estação seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.5, p.1316-1324, 2004. FRANCO, G.L.; D’OLIVEIRA, M.C.; FRANÇA, R.A. et al. Digestibilidade aparente total em bovinos recebendo feno e suplementados com concentrado em diferentes freqüências. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45, 2008. Lavras. Anais... Lavras, 2008. CD-ROM GOES, R.H.T.B.; MANCIO, A.B.; LANA, R.P. et al. Avaliação qualitativa da pastagem de capim tanner-grass (Brachiaria arrecta), por três diferentes métodos de amostragem. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.1, p.64-69, 2003. HALL, M.B. Neutral detergent-soluble carbohydrates: nutritional relevance and analysis, a laboratory manual. University of Florida. (Extension Bulletin, 339), April, 2000. 64 HODGSON, J. Grazing managemete: science into practice. New York: John Wiley e Sons, 1990. 203p. JOHNSON, A.D. Sample preparation and chemical analysis of vegetation. In: t´MANNETJE, L. (Ed.). Measurement of grassland vegetation and animal production. Aberystwyth: Commonwealth Agricultural Bureaux, 1978. p.96-102. LAZZARINI, I.; DETMANN, E.; SAMPAIO, C.B. Dinâmica de degradação ruminal In situ da fibra em detrgente neutro em bovinos alimentados com forragem de baixa qualidade suplementados com níveis crescentes de compostos nitrogenados. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43., 2006. João Pessoa. Anais... João Pessoa, 2006. CD-ROM LAZZARINI, I.; DETMANN, E.; SAMPAIO, C. B.; et al. Consumo, pH e concentração de nitrogênio amoniacal ruminal em bovinos alimentados com forragem de baixa qualidade recebendo níveis crescentes de compostos nitrogenados suplementares In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44, 2007. Jaboticabal. Anais... Jaboticabal, 2007. CD-ROM LENG, R.A. Factors affecting the utilization of “poor-quality” forage by ruminants particularly under tropical condition. Nutrition Research Review. v.3, n.3, p.277-303, 1990. MCALLISTER, T.A.; CHENG, K.J. Microbial strategies in the ruminal digestion of cereal grains. Animal Feed Science Technology, v. 62, p. 29-36, 1996. MERTENS, D.R. Gravimetric determination of amylase treated neutral detergent fiber in feeds with refluxing in beakers or crucibles: Collaborative study. Journal of AOAC International, v.5, n.6, p.1212-1240, 2002. MINSON, D.J. Forage in ruminant nutrition, San Diego: Academic Press, 1990. 483p. MORAES, E.H.B.K.; PAULINO, M.F.; ZERVOUDAKIS, J.T. et al. Avaliação qualitativa da pastagem diferida da Brachiaria decumbens stapf., sob pastejo, no período da seca, por intermédio de três métodos de amostragem. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.1, p.30-35, 2005. MORAES, E.H.B.K.; PAULINO, M.F.; ZERVOUDAKIS, J.T. Níveis de proteína em suplementos para bovinos mestiços, sob pastejo, durante o período de transição seca/águas. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.5, p.2135-2143, 2006. MORAES, E.H.B.K.; PAULINO, M.F.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Avaliação nutricional de estratégias de suplementação para bovinos de corte durante a estação da seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.3, p.608-616, 2010. MORAIS, J.A.S.; BERCHIELLI, T.T.; QUEIROZ, M.F.S. et al. Influência da frequência de suplementação no consumo, na digestibilidade e na fermentação ruminal em novilhos de corte mantidos em pastagem de capim-marandu. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.9, p.1824-1834, 2009. MORON, I.R.; TEIXEIRA, J.C.; OLIVEIRA, A.I.G. et al. Cinética da digestão ruminal do amido dos grãos de milho e sorgo submetidos a diferentes formas de processamento. Ciência e Agrotecnologia, v.24, n.1, p.208-212, 2000. NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requeriments of beef cattle. Washington, D.C.: 1996. 158p. NATIONAL RESEARCH CONCIL – NRC. Nutrient requirements of dairy cattle. 7ed. Washington, D.C.: National Academic, 2001. 381p. PAULA, N.F.; Fontes de Proteína em Suplementos Fornecidos em Diferentes Frequências para Bovinos em Pastejo no Período Seco. 2008. 117f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2008. 65 PAULINO, M.F.; FIGUEIREDO, D.M.; MORAES, E.H.B.K. et al. Suplementação de bovinos em pastagens: uma visão sistêmica. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 4., 2004, Viçosa . Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2004, p.93-144. PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. Bovinocultura funcional nos trópicos. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 6. SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2., 2008, Viçosa . Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2008, p.275-306. PEREIRA, K.P.; VÉRAS, A.S.C.; FERREIRA, M.A. et al. Balanço de nitrogênio e perdas endógenas em bovinos e bubalinos alimentados com níveis crescentes de concentrado. Acta Animal Science, v.29, n.4, p.433-440, 2007. PEREIRA, E.S.; ARRUDA, A.M.V.; MIZUBUTI, I.Y. et al. Consumo voluntário em ruminantes. Ciências Agrárias, v.24, n.1, p.191-196, 2003. REIS, R.A.; BERCHIELLE, T.T.; OLIVEIRA, A.P. et al. Efeito do uso de alto concentrado sobre a saúde e desempenho de animais zebu e cruzados mantidos em pastagens tropicais. In: SIMPOSIO DE NUTRIÇÃO DE RUMINANTES, 3, 2007, Botucatu. Anais... Botucatu, 2007. p.61-95. RENNÓ, L.N.; VALADARES, R.F.D.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Concentração plasmática de uréia e excreções de uréia e creatinina em novilhos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.4, p.1235-1243, 2000. RESTLE, J. Processamento do grão de aveia para a alimentação de vacas de descarte terminadas em confinamento. Ciência Animal Brasileira, v.10, n.2, p.496-503, 2009. SAMPAIO, C.B.; DETMANN, E.; LAZZARINI, I. et al. Rumen dynamics of neutral detergent fiber in cattle fed low-quality tropical forage and supplemented with nitrogenous compounds. Revista Brasileira de Zootecnia., v.38, n.3, p.560-569, 2009. SANTOS, E.D.G; PAULINO M.F.; QUEIROZ, D.S. et al. Avaliação de pastagem diferida de Brachiaria decumbens stapf.2 disponibilidade de forragem e desempenho animal durante a seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.1, p.214-224, 2004. SARMENTO, D.O.L. Comportamento ingestivo de bovinos em pastos de capim marandu submetidos a regimes de lotação contínua. 76f. Dissertação (Mestrado). Escola Superior de Agricultura “Luis de Queiroz” – Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2003. SCHAUER, C.S.; BOHNERT, D.W.; GANSKOPP, D.C. et al. Influence of protein supplementation frequency on cows consuming low-quality forage: performance, grazing behaviour, and variation in supplement intake. Journal of Animal Science, v.83, n.7, p.1715-1725, 2005. SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. 2002. Análise de alimentos: Métodos químicos e biológicos. 3a Edição. Viçosa:UFV, imp. univ. 165p. SNIFFEN, C.J.; O’CONNOR, J.D.; VAN SOEST, P.J. et al. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets; II. Carbohydrate end protein availability. Journal of Animal Science, v.70, n.11, p.3562-3577, 1992. STATISTICAL ANALYSES SYSTEM - SAS. SAS/STAT. User´s guide, Version 8.2, SAS Institute Inc.,1999. THEURER, C.B. Grain processing effects on starch utilization by ruminants. Journal of Dairy Science, Savoy, v.63, p.1649-1662, 1986. VALADARES, R.F.D.; GONÇALVES, L.C. RODRIGUES, N.M. et al. Níveis de proteína em dietas de bovinos. 4. Concentrações de amônia ruminal e uréia plasmática e excreções de uréia e creatinina. Revista Brasileira de Zootecnia, v.26, n.6, p.1270-1278, 1997. VALADARES, R.F.D.; BRODERICK, G.A.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Effect of replacing alfalfa silage with high moisture corn on ruminal protein synthesis estimated from excretion of total purine derivatives. Journal of Dairy Science, v.82, n.11, p.26862696, 1999. 66 VALADARES FILHO, S.C.; PAULINO, P.V.R.; MAGALHÃES, K.A. Exigências nutricionais de zebuínos e tabela de composição de alimentos BR-CORTE. 1.ed – Viçosa:UFV, 2006. VAN SOEST, P.J. Nutritional ecology of the ruminant. 2ed. Ithaca: Cornell University, 1994. 476p. VAN SOEST, P.J.; ROBERTSON, J.B. Analysis of forages and fibrous foods. Ithaca: Cornell University, 1985. 202p. VARGAS JR, F.M.; SANCHEZ, L.M.B.; WECHSLER, F.S. et al. Influência do processamento do grão de milho na digestibilidade de rações e no desempenho de bezerros. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.11, p.2056-2062, 2008. WEISS, W.P. Energy prediction equations for ruminant feeds. In: CORNELL NUTRITION CONFERENCE FOR FEED MANUFACTURERS, 61., 1999, Proceedings... Ithaca: Cornell University, 1999. p.176-185. 67 Capítulo 2 Grão de milheto inteiro ou triturado fornecidos em duas frequências de suplementação para bovinos de corte em pastejo RESUMO – Objetivou-se avaliar o processamento do grão de milheto em suplementos múltiplos fornecidos diariamente ou três vezes por semana para bovinos de corte em pastejo sobre o desempenho produtivo, econômico e comportamento ingestivo diurno durante o período da seca. Utilizaram-se 25 bovinos nelore não castrados, com peso corporal médio inicial de 350,92 ± 31,7 kg, mantidos em cinco piquetes de 1,45 ha cada formados com capim Marandu. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado arranjados em esquema fatorial 2x2+1, sendo: duas formas físicas do grão de milheto (grãos inteiros – MI ou triturados – MT), duas frequências de suplementação (distribuição diária – 7X ou três vezes por semana – 3X) e o tratamento controle (mistura mineral – MM). Verificou-se que a suplementação concentrada promoveu ganhos em peso, enquanto que a suplementação apenas com minerais acarretou em perdas em peso. A moagem do grão de milheto proporcionou maiores ganhos quando comparado a grão inteiro, não havendo diferenças entre as frequências de suplementação estudadas. Foi encontrado efeito significativo da interação dia x tratamento para tempo no cocho, pastejo e bebendo água. Para o tempo em ócio foi encontrada diferença entre o tratamento MM e os demais. O tempo desprendido com ruminação não foi influenciado por nenhum dos fatores avaliados. Observou-se maior retorno quando ofertou-se milheto triturado e em menor freqüência de suplementação. A utilização de suplementos múltiplos, assim como o processamento do grão de milheto possibilita maiores ganhos em peso, independentemente da freqüência de suplementação estudada, sendo que o fornecimento de suplemento 3X reduz os custos da suplementação. Palavras-chave: desempenho, distribuição de suplementos, processamento do grão, seca, suplementos múltiplos 68 Grain of millet whole or ground given frequencies of supplementation of beef cattle grazing ABSTRACT – The objective was to evaluate the processing of the grain of millet in multiple supplements given daily or three times a week of beef cattle grazing on productive performance, economic and diurnal intake behavior during the drought period. We used 25 non-castrated Nelore cattle with initial body weight of 350.92±31.7 kg, kept in five pickets of 1.45 ha each formed with grass Marandu. The animals were distributed in design entirely radomized arranged in a factorial scheme 2x2+1, as follows: two physical forms of the grain of millet (whole grains – MI or ground – MT), two frequencies of supplementation (daily distribution – 7X or three times a week – 3X) and the control treatment (mineral mix – MM). It was found that the concentrate supplementation promoted weight gains, while only mineral supplementation resulted in weight loss. The ground of the grain of millet had higher gains when compared to whole grain, with no differences between the frequencies of supplementation. Was found significant effect of day x treatment interaction for time in the trough, grazing and drinking water. For the resting time difference was found between the treatment and the other MM. The time with rumination was not influenced by any of the factors evaluated. There's a higher return when offering themselves millet grain and less frequent supplementation. Keywords: distribution of supplements, dry period, grain processing, multiple supplements, performance 69 INTRODUÇÃO A produção de bovinos de corte no Brasil é baseada principalmente em pastagens com forragens tropicais, possuindo como ponto crítico a variação estacional durante o ano. Essas oscilações na oferta e no suprimento de nutrientes devem ser reconhecidas como fatores determinantes da necessidade de suplementação e ou complementação alimentar para a elevação da produtividade. Porém, com o incremento de concentrados na dieta surge a necessidade de distribuí-los aos animais, fato este que eleva os custos desta técnica (Figueiredo et al., 2007). Neste sentido, estratégias de fornecimento de suplemento são requeridas com intuito de reduzir despesas com combustível, mão de obra e depreciações de maquinários. A suplementação em intervalos maiores que um dia tem se mostrado eficiente devido ao fato dos ruminantes manterem níveis de amônia ruminal, o que garantiria adequada fermentação entre os eventos de suplementação (Moraes et al., 2010). No entanto, a redução na freqüência de suplementação para animais consumindo forrageiras de clima tropical e em condições de pastejo ainda é pouco conhecida, podendo os resultados ser variáveis (Berchielli et al., 2006). O crescimento da área plantada de milheto no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, tem proporcionado maior oportunidade da utilização dos grãos dessa gramínea na alimentação animal (Bastos et al., 2005). Porém, em virtude de seu tamanho reduzido, o processamento físico desses grãos traz gastos adicionais devido ao menor rendimento dos moinhos nas fábricas de ração. Segundo Bolzan et al. (2007), a moagem dos cereais para alimentação de ruminantes aumenta a área superficial de contato e assim facilita os processos digestivos, sejam eles fermentativos ou enzimáticos. Desta forma, estudos sobre a utilização do grão de milheto e seu processamento físico para a alimentação de ruminantes torna-se de grande interesse. 70 Deste modo, objetivou-se avaliar o grão de milheto inteiro ou triturado em suplementos múltiplos ofertados diariamente ou três vezes por semana sobre o desempenho produtivo, econômico e o comportamento diurno de bovinos de corte mantidos em pastagens de capim Marandu. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no período da seca, entre os meses de agosto a outubro de 2008 no Setor de Bovinocultura de Corte da Fazenda Experimental da UFMT, no município de Santo Antônio de Leverger – MT. Utilizaram-se 25 bovinos Nelore, não castrados, com peso corporal médio inicial de 350,92 ± 31,7 kg e idade média de 20 meses. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em grupos de cinco em cinco piquetes com 1,45 ha cada, sendo estes formados com Brachiaria brizantha cv. Marandu, providos de bebedouros e comedouros cobertos. Visando minimizar a influência de possíveis variações de ambiente, cada lote permaneceu em cada piquete por 14 dias procedendo-se, ao final desse período, a rotação entre eles. Foi adotado o método de pastejo de lotação contínua, com taxa de lotação fixa. No início do experimento todos os animais foram submetidos ao controle de endo e ectoparasitas. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado arranjado em esquema fatorial 2x2+1, sendo: suplementos constituídos por grão de milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) em duas formas físicas (inteiro – MI ou triturado – MT), duas diferentes frequências de suplementação (diária – 7X ou três vezes por semana – 3X) e o tratamento mistura mineral (MM). Forneceram-se os suplementos sempre as 10 h, seguindo uma distribuição semanal de 14 kg de concentrado por animal. As formas físicas do grão e as freqüências de suplementação consistiram os seguintes tratamentos: 71 • 7XMI – Grão de milheto inteiro distribuído diariamente (2 kg/animal/dia); 7XMT – Grão de milheto triturado distribuído diariamente (2 kg/animal/dia); 3XMI – Grão de milheto inteiro fornecido às segundas, quartas e sextas-feiras (4,66 kg/animal/evento de suplementação); 3XMT – Grão de milheto triturado fornecido às segundas, quartas e sextasfeiras (4,66 kg/animal/evento de suplementação); MM – Suplementação com mistura mineral (ad libitum). Os suplementos (Tabela 1) foram formulados para proporcionar níveis de consumo na ordem de 0,55% do peso corporal (PC)/dia e suprir 69% e 42% das exigências diárias de proteína bruta e nutrientes digestíveis totais (NDT), respectivamente, de um novilho zebuíno, não castrado, com 350 kg de PC e ganho esperado de 0,5 kg/dia, segundo recomendações de Valadares Filho et al., (2006). A taxa de lotação média no período experimental foi de 2,76 UA/ha. Tabela 1 – Composição dos suplementos, com base na matéria natural Ingredientes (%) Mistura mineral1 2,5 Uréia/Sulfato de amônio (9:1) 3,0 Farelo de algodão alta energia (Bunge®) 39,5 Grão de milheto (triturado ou inteiro) 55,0 1 Níveis de garantia: cálcio, 198 g/kg; fósforo, 60 g/kg; sódio, 117 g/kg; magnésio, 5,1 g/kg; enxofre, 12,6 g/kg; iodo, 17,7 g/kg; ferro, 125 mg/kg; selênio, 10,4 mg/kg; cobalto, 80 mg/kg; manganês, 527 mg/kg; flúor, 700 mg/kg; cobre, 1.000 mg/kg; zinco, 3.000 mg/kg. Para o processamento do grão de milheto utilizou-se desintegrador de grãos munido de peneira com orifícios de 3,0 mm. Após processado, o milheto apresentou aspecto de fubá grosso e não foi observada a presença de grãos inteiros. O estudo foi composto por três períodos experimentais de 28 dias cada, totalizando 84 dias. Para o cálculo do ganho em peso médio diário (GMD) utilizou-se a diferença entre o 72 peso corporal final (PCF) e inicial, ambos após jejum de sólidos por 16 horas, sendo o resultado dividido pela quantidade de dias em experimento. Adotou-se como covariável o peso corporal inicial em jejum. No primeiro dia de cada período experimental procedeu-se a amostragem da forragem por meio de dois métodos. Pelo primeiro método, a estimativa da massa de forragem foi realizada de maneira direta, através do corte da forragem rente ao solo, de cinco pontos de áreas delimitadas por um quadrado metálico de 0,5 x 0,5 m (0,25m2) e representativas da condição média de cada piquete, seguindo uma estimativa visual. Após a coleta, cada amostra foi pesada e homogeneizada. Para avaliação da massa total de matéria seca (MS) de forragem (kgMS/ha) foi colhida uma sub-amostra, acondicionada em saco plástico, identificada e analisada posteriormente e, outra sub-amostra que foi utilizada para a separação dos componentes morfológicos da forragem: lâmina foliar verde, pseudocolmo verde, lâmina foliar seca e pseudocolmo seco, sendo a inflorescência, quando encontrada, considerada como pseudocolmo. Pelo segundo método, a amostragem da forragem consumida pelos animais foi realizada via simulação manual de pastejo (pastejo simulado) feitas de acordo com Johnson (1978). A coleta foi realizada por um único amostrador em todo período experimental a fim de evitar variações em cada amostragem. Das amostras destinadas à estimativa da massa total de MS de forragem, foi calculado o percentual de MS potencialmente digestível (MSpD). Esse resultado foi obtido por intermédio do resíduo insolúvel em detergente neutro (FDNi) avaliado após incubação in situ das amostras por 240 horas em sacos de tecido não tecido (TNT – 100g/m2) (Casali et al., 2008), segundo a equação: MSpD = 0,98 X (100 – FDN) + (FDN – FDNi); em que: 0,98 = coeficiente de digestibilidade verdadeira do conteúdo celular; FDN = fibra em detergente neutro e FDNi = FDN indigestível. 73 As amostras foram pré-secas em estufa com ventilação forçada a 55ºC por 72 horas e, posteriormente, moídas em moinho de facas tipo Willey até atingirem granulometria de 1,0 mm para a realização das análises laboratoriais. As análises químico-bromatológicas foram realizadas de acordo com descrições de Silva & Queiroz (2002), com exceção das avaliações de FDN e FDA, que seguiram os métodos descritos por Mertens (2002) e Van Soest & Robertson (1985), respectivamente. Os carboidratos totais (CT) foram calculados segundo metodologia descrita por Sniffen et al. (1992), em que CT(%) = 100 - (%PB + %EE + %Cinzas). A quantificação dos carboidratos não fibrosos (CNF) nos suplementos foi obtida de acordo com adaptação de Hall (2000). Os nutrientes digestíveis totais (NDT) estimados da forragem e dos suplementos foram calculados segundo equação sugerida pelo NRC (2001). A oferta de forragem (OF) foi calculada de acordo com a equação: OF (%) MF X 100 PC Onde: OF = oferta de forragem (%); MF = massa de forragem/ha/dia (kgMS/ha/dia); PC = peso corporal médio dos animais (kg) Para avaliação do comportamento ingestivo diurno, observou-se cada animal em intervalos de 10 minutos, anotando as variáveis comportamentais: tempo de pastejo, ruminação, ócio, bebendo água e consumindo suplemento. A visualização foi feita durante o período compreendido entre 6 h e 18 h (12 h/dia) durante dois dias consecutivos com a finalidade de se avaliar o comportamento em um dia em que os animais com menor freqüência de suplementação não receberam suplemento (Dia 1) e outro em que todos os animais receberam o suplemento (todos os tratamentos suplementados – Dia 2). Para a análise estatística referente ao desempenho foram estabelecidas comparações entre tratamentos por intermédio da decomposição da soma dos quadrados relacionados a esta fonte por intermédio dos seguintes contrastes ortogonais: a) Suplementação mineral versus 74 suplementação concentrada; b) Grão de milheto inteiro versus grão triturado; c) Suplementação três vezes por semana versus diária e d) Interação entre forma física do grão de milheto e a freqüência de suplementação. Foi utilizado o programa computacional SAS (1999) na análise dos resultados. Adotou-se α= 0,10. Para a análise referente ao comportamento ingestivo diurno utilizou-se a teoria de modelos mistos, empregando-se o método de estimadores de máxima verossimilhança. O modelo misto utilizado é representado por y = µ + i + dij +k + ()ik + ijk, em que y é a resposta no dia k do indivíduo j no grupo de tratamento i; µ, o efeito médio geral; i, o efeito fixo do tratamento i; dij, o efeito aleatório do indivíduo j no grupo de tratamento i; k é o efeito fixo do tempo k; ()ik é o efeito da interação fixa do tratamento i com o tempo k; ijk representa o erro aleatório. Para a estrutura de covariância entre medidas repetidas de um mesmo indivíduo, a não estruturada foi obtida como a de melhor ajuste pelo critério de Akaike (AIC). Adotou-se α = 0,05. Para a análise econômica foram utilizados os seguintes indicadores: - Ganho em peso total (kg/animal): diferença entre o peso corporal inicial e final em jejum; - Ganho em equivalente carcaça (@): ganho em peso total multiplicado pelo rendimento de carcaça (52%); - Ganho em peso diário (g/animal/dia): ganho em peso total dividido pelos dias em experimento (84 dias); - Ganho em peso diferencial (g/animal/dia): superioridade dos tratamentos suplementados com concentrado em relação ao controle; - Receita (R$/animal): ganho em equivalente carcaça multiplicado pelo preço pago pela @ no período (R$ 89,00 em outubro de 2008); 75 - Consumo de suplemento (kg/animal/dia): quantidade em quilogramas que cada animal consumiu por dia (kg de suplemento fornecido em uma semana por animal dividido pela quantidade de dias em uma semana); - Custo do suplemento (R$/kg): custo do suplemento no período (milheto R$ 0,40/kg; farelo de algodão R$ 0,27/kg; uréia R$ 1,67/kg; sulfato de amônio R$ 1,35/kg e a mistura mineral R$ 1,38/kg). O custo do processamento do grão foi calculado com base na utilização de desintegrador de grãos com motor de 12,5 cv com rendimento de 500 kg/hora (peneira com orifício de 3 mm); - Custo do transporte (R$/animal): distância percorrida para o fornecimento do suplemento (1 km/dia) durante o experimento multiplicado pelo custo do km rodado (R$ 0,44) divididos pela quantidade de animais por tratamento; - Custo da mão de obra (R$/animal): preço da mão de obra (R$ 2,50/hora) multiplicado pelas horas gastas para cada evento de suplementação no período (0,3 horas) dividido pela quantidade de animais por tratamento; - Custo total (R$/animal): soma dos custos com suplemento, transporte e mão de obra; - Custo da @ produzida (R$/@): ganho em equivalente carcaça dividido pelo custo total; - Valor pago pela @ no período (R$/@): valor pago pela arroba no município de Cuiabá-MT em outubro de 2008 (CEPEA); - Margem bruta de lucro (R$/animal): receita subtraída a despesa; - Ganho em peso diário mínimo necessário para cobrir o custo da suplementação (kg/animal/dia): X=(15xY)/89) onde: X é a quantidade em quilos ganhos por dia necessário para cobrir os custos com a suplementação, 15 é a quantidade de quilos em uma @, Y é o gasto com a suplementação em cada tratamento por animal e 89 o preço cotado da @ no período; 76 - Remuneração do capital investido (%): margem bruta de lucro dividida pelo custo total. RESULTADOS E DISCUSSÃO Com base na Figura 1, pode-se constatar que com o passar dos meses houve redução na massa total de matéria seca, isso devido à época não favorecer o crescimento das gramíneas, ao pastejo exercido pelos animais e morte e degradação de alguns constituintes do dossel forrageiro. Figura 1. Massas de matéria seca total (MST), matéria seca potencialmente digestível (MSpD), pseudocolmo seco (MPCS), pseudocolmo verde (MPCV), lamina foliar seca (MLFS) e lamina foliar verde (MLFV) durante os períodos experimentais. As MLFS e MLFV reduziram conforme se seguiram os meses, podendo esse fato ser explicado pelos bovinos terem selecionado o material colhido. Notou-se que entre os dois últimos períodos elevaram-se as quantidades de materiais verdes, tanto pseudocolmos como 77 lâminas foliares, sendo resultado do aparecimento de novos perfilhos devido a precipitações que ocorreram nessa época. Os valores médios encontrados no presente estudo para oferta de forragem (OF) foi de 6,56%, para oferta de folhas o valor encontrado foi de 1,32%, com uma relação lâmina foliar:pseudocolmo média de 0,24. Com relação aos valores encontrados para MSpD, a massa para cada período experimental foi de 1.552,2; 1.416,8 e 955,6 kg/ha correspondendo a 52,93; 53,8 e 52,48% da MST para o primeiro, segundo e terceiro períodos respectivamente. Segundo Paulino et al. (2004), os fatores relacionados ao pasto mais importantes são oferta de forragem potencialmente digestível que envolve a estrutura do pasto (massa de forragem e relação folha:colmo) e qualidade do pasto sendo os valores indicados de 4 a 5% do peso corporal (PC) em MSpD, visando associar produção por animal, por área e eficiência de uso. A MSpD foi de 3,6% PC, revelando a baixa disponibilidade de nutrientes passíveis de utilização pelas bactérias ruminais. Os baixos valores encontrados para porcentagem de MSpD devem-se a alta proporção principalmente de pseudocolmos secos, que possuem parede celular altamente lignificada. Essa alta lignificação indisponibiliza, em partes, para degradação, os constituintes potencialmente digestíveis dessa parede. A participação de pseudocolmos secos na massa forrageira encontrou-se alta em todos os períodos experimentais (56,1%, 73,9% e 69,2% para o primeiro, segundo e terceiro períodos respectivamente). Segundo Euclides et al. (2001), pastagens submetidas ao regime de lotação contínua, sempre há resíduos de forragem não consumidos que continua decrescendo em qualidade, principalmente em épocas secas em resposta a menor taxa de rebrota, desta forma o pasto será uma combinação de rebrota e da forragem recusada. 78 A participação de material seco (lâminas foliares secas + pseudocolmos secos), em todos os períodos experimentais, encontrou-se muito elevada, apresentando massa média de material seco seco de 2.336,4, 2.343,4 e 1.396,0 kgMS/ha, representando 79,7, 89,0 e 76,7% para o primeiro, segundo e terceiro período respectivamente. Vários autores já descreveram a importância da densidade de folhas verdes sobre a qualidade da ingesta (Santos et al., 2004; Euclides et al., 2000; Euclides, 2001). Euclides et al. (2000), em estudos comparando períodos do ano (seca e águas) e diferentes gramíneas (Brachiaria brizantha e B. decumbens) notaram uma preferência pelo animal por folhas a caules e material morto caracterizando sua seletividade. No tocante à constituição química-bromatológica (Tabela 2) da forragem constata-se que a porcentagem de PB (4,45% PB na MS) na simulação do pastejo encontrou-se abaixo do recomendado por Minson (1990), Van Soest (1994) e Lazzarini et al. (2009) de 7% como limite mínimo para atividade da microbiota ruminal. Segundo Sampaio et al. (2009) a proteína é o nutriente mais limitante para adequada utilização de forrageiras tropicais de baixa qualidade, assim, a suplementação com compostos nitrogenados é recomendada para promover adequada condição para os microrganismos ruminais e melhorar a eficiência na utilização da fibra da forragem. No caso de parede celular, digestão requer uma população microbiana ativa com capacidade de digerir seus constituintes (Paulino et al., 2004). Assim o consumo pode ser controlado pela repleção ruminal devido a altas porcentagens de FDN na dieta com baixa taxa de degradação. Os altos teores de FDN, FDA, lignina e FDNi, são resultado do estágio avançado de maturidade e da elevada quantidade de matéria seca seca da forragem. 79 Tabela 2 – Composição bromatológica do suplemento, do pasto (simulação do pastejo) e suas frações (%MS) Frações do pasto Suplemento Pasto Lâmina Lâmina Pseudo Pseudo foliar foliar colmo colmo Verde seca verde seco MS (%) 91,25 62,06 37,00 81,53 46,97 78,19 MO 95,25 92,54 88,99 91,28 93,66 94,51 27,06 4,45 9,78 2,88 1,90 1,59 75,91 54,96 57,84 52,90 51,12 49,36 FDN 29,18 75,24 66,68 77,54 80,17 83,24 FDNcp 27,19 69,11 62,21 74,06 78,32 82,54 FDA 15,80 49,62 34,73 50,04 57,17 78,35 NIDN2 30,77 61,43 55,13 76,09 83,24 96,00 2 NIDA 10,11 38,66 32,38 48,28 74,60 84,53 EE 6,57 2,23 2,81 2,43 1,78 0,90 MM 4,76 7,46 11,01 8,72 6,34 5,49 Lignina 6,18 8,24 4,50 5,39 6,01 13,43 CT 61,62 81,61 76,40 85,97 89,98 92,02 CNF 48,01 13,50 14,19 11,91 11,66 9,48 FDNi 1,89 40,50 22,60 40,58 50,13 67,14 FDAi 1,24 30,94 15,48 24,59 43,15 60,67 PB NDT 1/ 1 NRC (2001); 2/ % N total Quanto ao desempenho dos animais (Tabela 3), observou-se diferença significativa (P<0,01) entre os grupos suplementados e o controle (MM), tanto para PCF quanto para GMD. Pode-se observar que a utilização de suplementos concentrados promoveu ganho em peso, em detrimento da MM, que resultou em perdas em peso na ordem de 0,160 kg/dia. 80 Tabela 3 - Peso corporal final (PCF - kg) e ganho em peso médio diário (GMD – kg/dia) Item MM1 PCF 340 GMD -0,16 Milheto Milheto Inteiro2 Triturado3 3X4 7X5 3X4 7X5 371 367 377 388 0,22 0,24 Contrastes CV (%) A6 B7 C8 D9 11,30 <,0001 <,0001 0,3150 0,5739 0,36 0,38 12,32 <,0001 <,0001 0,3283 0,5117 1/ Mistura mineral; 2/Suplemento constituído por milheto inteiro; 3/Suplemento constituído por milheto triturado; 4/ Distribuição três vezes por semana; 5/Distribuição diária; 6/Tratamento controle (MM) versus Suplementação; 7 /Grão de milheto inteiro versus Grão de milheto triturado; 8/Suplementação três vezes/semana (3x) versus diária (7X); 9/Interação entre forma física do grão de milheto e a freqüência de suplementação. Segundo Paulino et al. (2004), nos modelos produtivos tradicionais, com uso exclusivo de pastagens, os desequilíbrios nutricionais, especialmente no período outono-inverno, limitam a resposta produtiva animal e afetam a economia e sustentabilidade dos sistemas extensivos. De acordo com Mertens (1994), o desempenho animal é função do consumo de nutrientes digestíveis totais e metabolizáveis, assim, quando em pastagens com menor massa de forragem e esta com estrutura que dificulte a apreensão pelo animal, o mesmo não tem a capacidade de colhê-la com eficiência resultando em menores desempenhos. Chacon e Stobbs (1976) inferiram que dentre os vários fatores que poderiam controlar o consumo por animais a pasto as características estruturais da gramínea teriam relação com a facilidade de preensão e seleção das mesmas. Hodgson (1990) citou como sendo três os fatores que influenciam o consumo por animais: fatores qualitativos da forragem que limitam a digestão, fatores relacionados ao estágio fisiológico dos animais e as características do dossel forrageiro. Gomes Jr et al., 2002 e Euclides et al., 2001 avaliando a suplementação na estação seca e mantendo animais com suplementação mineral observaram ganhos modestos de peso, 81 mesmo quando os animais foram mantidos em piquetes com adequada ou alta massa de forragem. Ao se comparar a forma física do grão de milheto notou-se diferença (P<0,01) de grãos triturados sobre inteiros sendo que o processamento do mesmo resultou em maior GMD e maior PCF. Segundo Beauchemin et al. (1994), grão inteiro com pericarpo intacto é muito ou totalmente resistente a digestão por ruminantes porque são resistentes a adesão dos microorganismos. Conforme relatado por Valadares Filho & Pina (2006), a adesão ao substrato é o passo inicial no processo digestivo, contudo, para a digestão proceder-se, os microorganismos devem penetrar ou esquivar-se das barreiras resistentes na superfície das partículas do alimento, de modo a acessar os substratos. Bolzan et al. (2007) salientaram que a trituração de cereais visa aumentar a área superficial dos grãos para facilitar os processos digestivos, sejam eles fermentativos ou enzimáticos. Com os resultados obtidos pode-se afirmar que os suplementos a base de grãos de milheto na forma triturada promoveram maior aporte de nutrientes em detrimento aos a base de grãos sem processamento, sendo esse fato evidenciado pela resposta no desempenho. Moron et al. (2000) estudando diferentes formas de processamento do grão de milho e sorgo, observaram diferença no amido efetivamente degradado no rúmen para ambos os alimentos quando testados inteiros, quebrados, autoclavados, moídos e extrusados sendo que, o grão, sem nenhuma forma de processamento, apresentou os resultados mais baixos seguido pelos quebrados, autoclavados, moídos e extrusados respectivamente A pronta utilização dos nutrientes oriundos do grão de milheto processado, principalmente dos carboidratos não fibrosos, pode ter favorecido o crescimento bacteriano, uma vez que o suplemento forneceu, além de energia, quantidade de uréia e sulfato de amônio como fonte de N e enxofre para síntese de proteína bacteriana juntamente com proteína 82 verdadeira. De acordo com Van Soest (1994), grande parte do N utilizado pelos microorganismos que degradam a fibra da forragem encontra-se na forma de amônia, no entanto, concentrações de carboidratos fermentáveis são requeridas para maior eficiência na síntese microbiana. As diferentes freqüências de suplementação não influenciaram o GMD (P>0,10) independentemente da forma física do grão de milheto, corroborando as afirmações de Bohnert et al. (2002) que o controle de fornecimento de suplemento intercalando dias suplementados e não suplementados, em animais submetidos a uma pastagem de baixa qualidade, propicia desempenho e eficiência de utilização do N similar aos animais suplementados diariamente. Da mesma forma, Canesin et al. (2007) ao avaliarem três estratégias de suplementação sobre o ganho em peso de bovinos, não encontraram diferença entre as frequências de fornecimento de suplemento. Em contrapartida, Paula et al. (2010) estudando diferentes fontes protéicas (farelo de soja e farelo de algodão alta energia) e freqüências de suplementação (diária e três vezes por semana) observaram diferença entre as fontes protéicas utilizadas e as freqüências de fornecimento dos suplementos sobre o GMD animais, sendo que o farelo de soja e o fornecimento em dias intercalados propiciaram os melhores desempenhos. Por sua vez, Garcia et al. (2005), ao avaliarem o desempenho de bovinos submetidos ao método de lotação contínua no período seco, com massa de forragem de 4.204 kg MS/ha e suplementos fornecidos em duas freqüências (diária e três vezes por semana), observaram que a distribuição intercalada de suplementos influenciou negativamente o desempenho dos animais, apresentando ganhos de 234 e 124 g para o fornecimento diário e alternado, respectivamente. Lampierre & Lobley (2001) mencionaram que a uréia reciclada e que volta ao trato gastrintestinal representa de 30 a 40% do N ingerido por bovinos, sendo que 83 aproximadamente 50% deste podem ser convertidos em produtos anabólicos. Isto provê um mecanismo vital para conservar N e mantém uma provisão de aminoácidos aos tecidos periféricos. Desta forma, deduz-se que os animais que receberam suplementação três vezes por semana, conseguiram ser eficientes na manutenção da concentração de amônia ruminal durante os dias não suplementados, propiciando às bactérias ruminais concentrações de N para crescimento, mantendo adequada condição ruminal para a digestão da fibra. Com relação às observações comportamentais dos animais (Tabela 4) constatou-se que para as variáveis aleatórias cocho e pastejo houve efeito significativo da interação dia x tratamento (P<0,01). No dia que os animais dos grupos 3X não foram suplementados (Dia 1) o tempo desprendido por esses no cocho foi de zero minuto, demonstrando que os mesmos consumiram todo o suplemento no mesmo dia do evento de suplementação. Para o dia que todos os tratamentos foram suplementados (Dia 2), observou-se maior dispêndio de tempo no cocho para os animais dos tratamentos 3X devido a maior quantidade de suplemento fornecida para esses tratamentos nesse dia. Não houve diferença (P>0,05) entre a forma física do grão e dias de avaliação para a freqüência 7X. Os tempos de ócio e busca por água foram influenciadas (P<0,10) pelo efeito de tratamento, sendo que esta busca por água também sofreu influência do efeito de dias (P<0,01). O maior tempo desprendido pelos animais no Dia 2 a procura de água pode ter sido devido a maior quantidade de matéria seca de suplemento consumida pelos animais dos tratamentos 3X nesse dia. O tempo de ruminação não foi influenciado por nenhum fator estudado (P>0,05). 84 Tabela 4 – Médias (minutos/12 horas) para as variáveis cocho, ócio, água, ruminação e pastejo, para os níveis de tratamento, níveis de dias e entre combinações de níveis de tratamento e dia Dias MM Milheto Inteiro 2 Milheto Triturado3 3X4 3X4 Dia 1 Dia 2 Média 1,16bA 2,30cA 1,73 0,00cB 82,98bA 41,49 Dia 1 Dia 2 Média 81,19 91,39 86,29b 183,59 165,31 174,45a Dia 1 Dia 2 Média 18,09 19,07 18,58b 28,27 31,56 29,92a Dia 1 Dia 2 Média 88,11 107,17 97,64 91,39 82,19 86,79 Dia 1 Dia 2 Média 1/ 1 531,44bA 416,74aB 500,05cA 357,94bA 515,75 387,34 7X5 Cocho 45,37aA 0,00cB 46,03aA 82,16bA 45,7 41,08 Ócio 149,26 189,37 156,63 167,67 152,95a 178,52a Água 28,93 21,04 27,47 26,30 28,2a 23,67a Ruminação 67,72 100,60 82,19 80,87 74,96 90,74 Pastejo 428,71aA 408,97aB 407,67aA 362,98bA 418,19 385,98 7X5 Média 56,55aA 46,68aA 51,62 20,62 52,03 36,32 178,19 161,09 169,64a 156,32 148,42 152,37 26,30 27,62 26,96a 24,53B 26,40A 25,47 71,67 82,19 76,93 83,90 86,92 85,41 387,28aA 402,41aA 420,42 434,63 406,21 420,42 Dia em que os tratamentos com menor freqüência de suplementação não receberam suplemento; 2/Dia em que todos os tratamentos foram suplementados; 3/Mistura mineral; 4/Suplemento constituído por milheto inteiro; 5/ Suplemento constituído por milheto triturado; 6/Distribuição três vezes por semana; 7/Distribuição diária. Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes, em coluna, discriminam diferenças entre níveis de dia, em cada nível de tratamento. Médias seguidas de letras minúsculas diferentes, em linha, discriminam diferenças entre níveis de tratamentos, em cada nível de dia. Os animais que receberam apenas mistura mineral apresentaram maior tempo de pastejo (P<0,01) em relação aos outros tratamentos, não havendo, diferença (P>0,05) entre os dias estudados. Houve diferença (P<0,01) entre dias de avaliação com a suplementação três vezes por semana, sendo que no Dia 1 os animais pastejaram por um maior período. Observou-se 85 que no Dia 2, os mesmos animais tiveram menor (P<0,01) tempo em pastejo, devido ao maior (P<0,01) tempo gasto no cocho e bebendo água. Segundo Hodgson (1990), quando animais são suplementados, novas variáveis interferem no consumo de nutrientes e estão associados às relações de substituição de forragem por suplemento e/ou, adição no consumo total de matéria seca, que mudam conforme as características da base forrageira e do suplemento. Com relação aos índices econômicos (Tabela 5) observou-se que o custo com o processamento do grão de milheto aumentou o preço do suplemento. O valor gasto com transporte foi superior para a suplementação diária, sendo o valor mais baixo encontrado para a suplementação com mistura mineral, devido o fornecimento ter sido feito apenas uma vez por semana. Também, os gastos com mão de obra foram reduzidos consideravelmente com a redução na frequência de distribuição dos suplementos. 86 Tabela 5 – Indicadores zootécnicos e econômicos e respectivos valores para cada tratamento Milheto 1 Indicadores MM Ganho em peso total (kg/animal) Ganho em equivalente carcaça (@) Milheto Inteiro2 Triturado3 3X4 7X5 3X4 7X5 -13,44 18,48 20,16 30,24 31,92 -0,47 0,64 0,70 1,05 1,11 360,00 380,00 380,00 400,00 520,00 540,00 -41,47 57,02 62,20 93,30 98,48 0,07 2,00 2,00 2,00 2,00 Custo do suplemento (R$/kg) 1,38 0,40 0,40 0,41 0,41 Custo do transporte (R$/animal) 5,25 12,27 36,96 12,27 36,96 Custo da mão de obra (R$/animal) 8,82 21,00 63,00 21,00 63,00 Custo total (R$/animal) 9,52 72,21 77,20 70,53 78,88 112,71 110,46 67,28 71,28 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 -50,99 -15,19 -15,00 22,77 19,61 0,036 0,277 0,293 0,271 0,299 - 78,96 80,57 132,29 124,86 Ganho em peso diário (g/animal/dia) Ganho em peso diferencial (g/animal/dia) Receita (R$/animal) Consumo de suplemento (kg/animal/dia) Custo da @ produzida (R$) Valor pago pela @ no período (R$/@) Margem bruta de lucro (R$/animal) -160,00 220,00 240,00 - - Ganho em peso diário mínimo necessário para cobrir o custo da suplementação (kg/animal/dia) Remuneração do capital investido (%) 1/ Mistura mineral; 2/Suplemento constituído por milheto inteiro; 3/Suplemento constituído por milheto triturado; 4/ Distribuição três vezes por semana; 5/Distribuição diária; Rendimento de carcaça – 52%; Valor da @ do boi no período (10/2008) – R$ 89,00; Salário mínimo (10/2008) – R$ 415,00; Valor do dólar no período (10/2008) – R$ 2,16 Pode-se visualizar que os tratamentos que apresentaram maior custo com a suplementação foram os tratamentos 7X devido a necessidade de fornecimento diário. A 87 suplementação em menor freqüência teve seus custos reduzidos, devido a menor freqüência de distribuição dos suplementos. Observaram-se maiores valores por arroba produzida para a suplementação com grão de milheto inteiro em comparação ao grão de milheto triturado. Da mesma forma, a margem bruta de lucro seguiu o mesmo padrão, apresentando valores menores quanto menor o ganho observado. Para a remuneração do capital investido obteve-se, para cada real investido, um retorno de 1,32 e 1,24 reais, respectivamente, para a suplementação com grão de milheto triturado três vezes por semana e diária o que comprova a viabilidade da suplementação em menor frequência. Embora a suplementação diária com grão de milheto triturado tenha propiciado maior ganho em peso, apresentou também maiores gastos com a suplementação. Assim, o tratamento que demonstrou melhor resultado econômico foi o contendo milheto triturado e ofertado três vezes por semana, devido aos menores gastos com distribuição dos suplementos. Embora nem todas as estratégias de suplementação tenham sido economicamente atraentes em uma primeira análise, deve-se atentar aos benefícios indiretos dessa técnica, principalmente pela redução na idade ao abate, que resulta na desocupação das pastagens para outras categorias, acarretando, com isso, em maior giro do capital. Da mesma forma, Paula et al. (2010) também encontraram melhor retorno econômico para o suplemento distribuído três vezes por semana e, segundo os autores, os menores custos envolvidos no processo de distribuição dos suplementos na frequência de três vezes por semana permitiram melhores retornos econômicos do que a suplementação diária. Figueiredo et al. (2007) analisando quatro estratégias de suplementação para abate aos 18, 24, 30 e 40 meses encontraram, dentre as estudadas, melhores resultados econômicos para abate aos 18, 30 e 24 meses, respectivamente, sendo a estratégia de abate aos 40 meses economicamente insustentável a curto prazo. Também concluíram que a suplementação de 88 bovinos em pastagens tropicais é uma alternativa economicamente viável para recria e terminação de machos de corte. Do ponto de vista estratégico, pode-se inferir que o ambiente de comercialização da arroba produzida e o custo dos ingredientes utilizados na formulação dos suplementos assumem grande importância nas análises econômicas e, por conseguinte, na tomada de decisões, uma vez que qualquer alteração favorável de mercado pode incrementar os índices econômicos (Paula et al., 2010). 89 CONCLUSÃO A suplementação concentrada de bovinos de corte em pastejo, no período da seca, proporciona maior desempenho em relação à suplementação apenas com mistura mineral. O processamento do grão de milheto, independentemente da freqüência de fornecimento dos suplementos, promove maior desempenho animal, sendo o grão de milheto triturado, aliado à suplementação em menor freqüência, a estratégia mais economicamente atrativa. Animais suplementados apenas com mistura mineral tem maior tempo em pastejo em comparação aos suplementados com concentrado independentemente da freqüência de suplementação e formas físicas do grão. 90 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BASTOS, A.O.; MOREIRA, I.; FURLAN, A.C. et al. Composição química, digestibilidade dos nutrientes e da energia de diferentes milhetos (Pennisetum glaucum (L.) R.Brown) em suínos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.2, p.520-528, 2005. BEAUCHEMIN, K.A.; McALLIESTER T.A.; DONGY Y. et al. Effects of mastication on digestion of whole cereal grains by cattle. Journal Animal Science., n.72, p.236, 1994. BERCHIELI, T.T.; CANESIN, R.C.; ANDRADE, C. Estratégias de suplementação para ruminantes em pastagens. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 43, 2006, João Pesso. Anais... João Pessoa, 2006. CD-ROM BOHNERT, D.W.; SCHAUER, C.S.; DELCURTO, T. Influence of rumen protein degradability and supplementation frequency on performance and nitrogen use in ruminants consuming low-quality forage: Cow performance and eficiency of nitrogen use in wethers. Journal of Animal Science, v.80, p.1629-1637, 2002. BOLZAN, I.T.; SANCHEZ, L.M.B.; CARVALHO, P.A.. et al. Consumo e digestibilidade em ovinos alimentados com dietas contendo grão de milho moído, inteiro ou tratado com uréia, com três níveis de concentrado. Ciencia Rural., v.37, n.1, p.229-234, 2007. CANESIN, R.C.; BERCHIELLI, T.T.; ANDRADE, P. Desempenho de bovinos de corte mantidos em pastagem de capim-marandu submetidos a diferentes estratégias de suplementação no período das águas e da seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.2, p.411-420, 2007. CASALI, A.O.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Influência do tempo de incubação e do tamanho de partículas sobre os teores de compostos indigestíveis em alimentos e fezes bovina obtidos por procedimentos in situ. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.2, p.335-342, 2008. CHACON, E.; STOBBS, T. H. Influence of progressive defoliation of a grass sward on the eating behaviour of cattle. Australian Journal Agriculture. v.27, p.709-727, 1976. EUCLIDES, V.P.B; CARDOSO, E.G.; MACEDO, M.C.M. et al. Consumo voluntário de Brachiaria decumbens cv. Basilisk e Brachiaria brizantha cv. Marandu sob Pastejo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.6, p.2200-2208, 2000. EUCLIDES, V.P.B.; EUCLIDES FILHO, K.; COSTA, F.P. et al. Desempenho de novilhos F1s Angus-Nelore em pastagens de Brachiaria decumbens submetidos a diferentes regimes alimentares. Revista Brasileira de Zootecnia., v.30, n.2, p.470-481, 2001. EUCLIDES, V.P.B. Produção intensiva de carne bovina em pasto. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2., 2001, Viçosa. Anais... Viçosa, 2001, p.55-82. FIGUEIREDO, D.M.; OLIVEIRA, A.S.; SALES, M.F.L. et al. Análise econômica de quatro estratégias de suplementação para recria e engorda de bovinos em sistema pastosuplemento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.5, p.1443-1453, 2007. GARCIA, L.F.; FERNANDES, L.B.; FRANCO, A.V.M. et al. Desempenho de bovinos em pastejo contínuo submetidos a dois intervalos de suplementação no período da seca. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42, 2005, Goiânia, Anais... Goiânia, 2005. CD-ROM. GOMES JR, P.; PAULINO, M.F.; DETMANN, E. et al. Desempenho de novilhos mestiços na fase de crescimento suplementados durante a época seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.1, p.139-147, 2002. HALL, M.B. Neutral detergent-soluble carbohydrates: nutritional relevance and analysis, a laboratory manual. University of Florida. (Extension Bulletin, 339), 2000. HODGSON, J. Grazing managemete: science into practice. New York: John Wiley e Sons, 1990. 203p. 91 JOHNSON, A.D. Sample preparation and chemical analysis of vegetation. In: t´MANNETJE, L. (Ed.). Measurement of grassland vegetation and animal production. Aberystwyth: Commonwealth Agricultural Bureaux, 1978. p.96-102. LAMPIERRE, H.; LOBLEY, G.E. Nitrogen recycling in the ruminant. Journal Dairy Science. v.84 (E Suppl.): p.223-236, 2001. LAZZARINI, I.; DETMANN, E.; SAMPAIO, C.B. et al. Intake and digestibility in cattle fed low-quality tropical forage and supplemented with nitrogenous compounds. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.10, p.2021-2030, 2009. MERTENS, D.R. Regulation of the forage intake. In: FAHEY, G.C.JR. et al., (Eds). Forage Quality evaluation and utilization. Nebrasca: American society of agronomy, Crop science of America; soil science of America, 1994, 988p. MERTENS, D.R. Gravimetric determination of amylase treated neutral detergent fiber in feeds with refluxing in beakers or crucibles: Collaborative study. Journal of AOAC International, v.5, n.6, p.1212-1240, 2002. MINSON, D.J. Forage in ruminant nutrition, San Diego: Academic Press, 1990. 483p. MORAES, E.H.B.K.; PAULINO, M.F.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Avaliação nutricional de estratégias de suplementação para bovinos de corte durante a estação da seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.3, p.608-616, 2010. MORON, I.R.; TEIXEIRA, J.C.; OLIEIRA, A.I.G. et al. Cinética da digestão ruminal do amido dos grãos de milho e sorgo submetidos a diferentes formas de processamento. Ciencia e Agrotecnologia, v.24, n.1, p.208-212, 2000. NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrients requirements of dairy cattle. 7.ed. Washington, D.C.: National Academy Press, 2001. 381p. PAULA, N.F.; ZERVOUDAKIS, J.T.; CABRAL, L.S. et al. Frequência de suplementação e fontes de proteína para recria de bovinos em pastejo no período seco: desempenho produtivo e econômico. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.4, p.873-882, 2010. PAULINO, M.F.; FIGUEIREDO, D.M.; MORAES, E.H.B.K. et al. Suplementação de bovinos em pastagens: uma visão sistêmica. In: SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 4., 2004, Viçosa . Anais... Viçosa: SIMCORTE, 2004, p.93-144. SAMPAIO, C.B.; DETMANN, E.; LAZZARINI, I. et al. Rumen dynamics of neutral detergent fiber in cattle fed low-quality tropical forage and supplemented with nitrogenous compounds. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, n.3, p.560-569, 2009. SANTOS, E.D.G; PAULINO M.F.; QUEIROZ, D.S. et al. Avaliação de pastagem diferida de Brachiaria decumbens stapf.2 disponibilidade de forragem e desempenho animal durante a seca. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.1, p.214-224, 2004. SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. 2002. Análise de alimentos: Métodos químicos e biológicos. 3a Edição. Viçosa:UFV, imp. univ. 165p. SNIFFEN, C.J.; O’CONNOR, J.D.; VAN SOEST, P.J. et al. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science, v.70, n.11, p.3562-3577, 1992. STATISTICAL ANALYSES SYSTEM - SAS. SAS/STAT. User´s guide, Version 8.2, SAS Institute Inc.,1999. VALADARES FILHO, S.C.; PINA, D. S. Fermentação Ruminal. In: BERCHIELLI, T.T. PIRES, A.V. OLIVEIRA, S.G. Nutrição de Ruminantes. 1 ed. Jaboticabal: Funep, 2006, v. 1, p. 151-182 VALADARES FILHO, S.C.; PAULINO, P.V.R.; MAGALHÃES, K.A. Exigências nutricionais de zebuínos e tabela de composição de alimentos BR-CORTE. 1.ed, Viçosa:UFV, 2006. VAN SOEST, P.J.; ROBERTSON, J.B. Analysis of forages and fibrous foods. Ithaca: Cornell University, 1985. 202p. 92 VAN SOEST, P.J. Nutritional ecology of the ruminant. 2ed. Ithaca: Cornell University, 1994. 476p.
Download