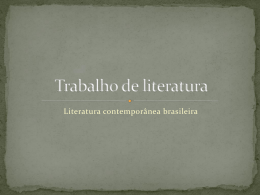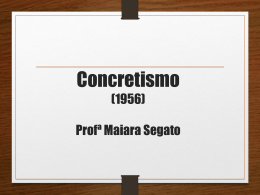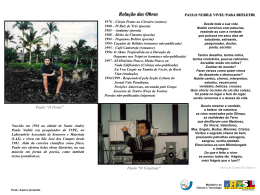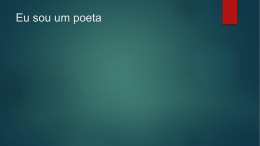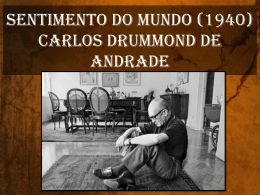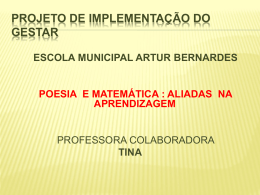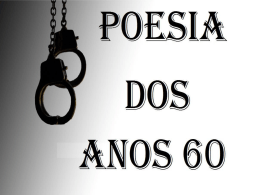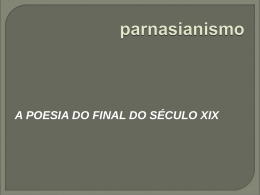Universidade Federal Fluminense Instituto de ciências Humanas e Filosofia Pós-Graduação em História Social BEATRIZ DE MORAES VIEIRA A PALAVRA PERPLEXA: EXPERIÊNCIA HISTÓRICA E POESIA NO BRASIL NOS ANOS 70 Niterói 2007 BEATRIZ DE MORAES VIEIRA A PALAVRA PERPLEXA: EXPERIÊNCIA HISTÓRICA E POESIA NO BRASIL NOS ANOS 70 Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor. Setor de História Contemporânea, linha de pesquisa Cultura e Sociedade. Orientador: PROF. DR. PAULO KNAUSS DE MENDONÇA. Niterói 2007 Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá V658 Vieira, Beatriz de Moraes. A palavra perplexa: experiência histórica e poesia no Brasil nos anos 70 / Beatriz de Moraes Vieira. – 2007. 379 f. Orientador: Paulo Knauss de Mendonça. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 2007. Bibliografia: f. 340-353. 1. Ditadura militar - Brasil. 2. Memória – Aspectos sociais. 3. Repressão política. 4. Poesia. I. Mendonça, Paulo Knauss de. II. Universidade Federal Fluminense. III. Título. CDD 981.06 BEATRIZ DE MORAES VIEIRA A PALAVRA PERPLEXA:EXPERIÊNCIA HISTÓRICA E POESIA NO BRASIL NOS ANOS 70 Tese apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor. Setor de História Contemporânea, linha de pesquisa Cultura e Sociedade. Aprovada em setembro 2007. BANCA EXAMINADORA _______________________________________________________ Prof. Dr. PAULO KNAUSS DE MENDONÇA – Orientador UFF ______________________________________________________ Profa.Dra. ADRIANA FACINA UFF _____________________________________________________ _ Profa. Dra. CÉLIA PEDROSA UFF _____________________________________________________ PROF. DR. KARL ERIK SCHOLLHAMMER PUC-RIO _____________________________________________________ Prof.Dr. MÁRCIO SELIGMANN-SILVA UNICAMP Niterói 2007 Para minha mãe, que calou o seu piano e manteve o brilho dos olhos. Para meu pai, que sempre preferiu o futuro e lutou. Para nosso amigo Sérgio Moliterno (in memoriam), que gostava de parafrasear Rimbaud: “Par délicatesse j’ai ‘gagné’ ma vie”... AGRADECIMENTOS É reconhecido que raramente fazemos justiça, na hora de agradecer, a todos aqueles que contribuíram para o bom termo de uma tese. Com estes, desde já me desculpo, na esperança de que saibam receber minha gratidão desprovida de palavras. Isto claro, agradeço primeiramente a meu orientador, prof. Paulo Knauss de Mendonça, porque desde o início acreditou no valor deste trabalho e soube dosar, com sabedoria incomum, o momento da interlocução e da liberdade na orientação. Sua amizade, sensibilidade e conhecimentos foram de grande valia. Aos demais professores do PPGH, agradeço a possibilidade de aprofundar o aprendizado e ampliar minhas leituras, em especial: a Guilherme Pereira das Neves e Magali Engel, cujos cursos freqüentei; a Adriana Facina, por sua tão bela generosidade e valiosas sugestões na banca de qualificação; aos professores membros da Comissão Editorial da Revista Tempo, sobretudo Maria de Fátima Gouveia e Laura Maciel, bem como as secretárias, Margret Engel e Cristiane Maria Marcelo, pela boa acolhida e compartilhamento durante os dois anos que participei dessa comissão como representante discente; a Carlos Addor, pela boa-vontade em conversar e me emprestar os livros esgotados de Alex Polari; a Sônia Mendonça, por não esquecer de sua velha aluna; a Denise Rollemberg, amiga que desde a graduação me incentivou a mergulhar no estudo do período da ditadura militar no Brasil. Sua pesquisa sobre os exilados, bem como o trabalho do prof. Daniel Aarão Reis, a quem também agradeço o interesse, são basilares para quem se dedica a conhecer a época. À Célia Pedrosa, professora da pós-gradução em Letras/UFF, meu especial agradecimento, por me acompanhar desde o mestrado, por sua disponibilidade para o diálogo interdisciplinar e por ter-me franqueado as portas do seu grupo de estudos “Poéticas do olhar na modernidade e na contemporaneidade”, cujos debates frutificaram em muitos momentos desta tese. Aos colegas deste grupo também, muito obrigada! Igualmente agradeço a Heloisa Buarque de Hollanda e Beatriz Rezende, pelas sugestões quando assisti seu curso na pós-graduação da ECO/UFRJ, em 2003. Uma rica interlocução me foi propiciada por colegas e professores do GT História e Linguagem, da ANPUH-MG e ANPUH-Nacional, a quem estendo meu reconhecimento por meio de Rosângela Patriota, professora da Universidade Federal de Uberlândia. Desta mesma universidade, recebi precioso incentivo das equipes editoriais da revista ArtCultura e da revista eletrônica Fênix, às quais registro meu apreço; mas sobretudo, envio meu beijo agradecido à profa. Dilma de Paula, por poder contar com sua amizade e grandeza de espírito. Obrigada ainda aos poetas que gentilmente me concederam entrevistas ou informações, oferecendo-me belos relatos de suas experiências, especialmente Paco Cac, Vicente de Percia, Brasil Barreto e Zé Luis Oliveira, a quem fico devendo um trabalho específico, que não foi possível realizar aqui sem retalhar sua riqueza. Também a Débora Racy Soares, pesquisadora da obra de Cacaso, e a Leilah Landim, que me presenteou com um já raro exemplar de Não quero prosa, agradeço a solicitude e as informações sobre o poeta. No meu universo familiar e amoroso, de certo não disponho dos recursos expressivos que gostaria para dizer minha gratidão. A meu companheiro Marildo Menegat, que restituiu em mim a confiança na força do amor e do conhecimento, ao insistir, a cada gesto, no valor inestimável da dignidade humana. Em seu agudo olhar sobre o mundo e idéias instigantes, elucidando caminhos, como em sua profunda generosidade intelectual e afetiva, encontrei o mais fértil solo para pensar, escrever e ser quem sou. À minha mãe, Berenice de Moraes, por tudo. Sem sua integridade ética, sua luta diária e dedicada, seu apoio material e psíquico ao longo de toda a vida, eu não teria chegado aqui. Do mesmo modo, agradeço a meu pai, Liszt Vieira, cujo entusiasmo e exemplo me contagia. A meus irmãos, Elisa Diniz Reis Vieira e Ivan de Araújo Vieira, porque me propiciam a experiência de uma fraternidade muito especial, por termos colhido o fruto da seara paterna em momentos tão distintos. A Maria das Dores Campos Machado, José Carlos da Matta, Marcio Erthal de Moraes, América Ungaretti, pelas mais diversas formas de carinho e contribuição, todas fundamentais. A Tânia Izquierdo, cuja mão competente e afável me orienta nas sendas, nem sempre fáceis, do autoconhecimento e da saúde, nos claros-escuros da vida. A ela, como a Norma Lannes, Luciana Thomás e Flávia Biondi que cuidam tão bem de mim, meu grato carinho. A meus tios, primos e cunhados, que me acolheram em seu seio, no qual a solidão não graça. Em particular, a Elizete Menegat, por sua admirável capacidade de renovação e tenacidade, além da interlocução que sempre me ensina; e a Maria da Glória Kopp, com quem tive a chance de compartilhar as inquietações de historiadora. E a meus sobrinhos, Marcela, André, Bernardo, Leonardo, Fernanda, Vitor, Juliano, Sofia, Francisco, Ângelo, Cirilo, cujos olhos vislumbram um futuro que não sei. Que tenham sabedoria e sorte! A meus amigos da Universidade Candido Mendes de Niterói (RJ), Cristiane Brandão, Diana Pichinini, Eline Deccache, Sylmar El-Jaick, Antônio Escobar, os membros do Cesucam e, em especial, Luciane Moás, pelo trabalho nosso de cada dia que sua presença torna mais suave. À aluna Andréa Mirati devo grande ajuda na pesquisa e organização dos Quadros Informativos do Apêndice, sua vontade de saber é recompensadora! Também a Ana Cristina Sá de Souza e Cláudia Vianna agradeço a contribuição na busca e trato de textos. A Sergio Rizek, andarilho de alma particularmente sensível, e a todos meus amigos sufis, porque nunca desistem. Aos que partiram no meio deste percurso, deixando em mim sua marca indelével: Wal, Vitória Perez, Omar Ali-Shah, Sérgio Moliterno, Dr. Jaime Treiger. Por fim, à banca examinadora e todos aqueles que de uma forma ou outra se interessaram por esta história. RESUMO Este trabalho busca compreender a experiência histórica no Brasil nos anos 70, propondo a poesia escrita sob a ditadura militar então vigente como fonte de pesquisa. Trata-se de um estudo de história da cultura que mergulha dentro da dicção poética para dali extrair indícios acerca da experiência e do modo como a história foi vista e sentida. As reflexões teóricas se fazem em torno de conceitos pertinentes e questões problemáticas da relação entre poesia e história na modernidade, bem como do significado de experiência histórica. Cruzando as características do contexto histórico com a interpretação de poemas, o estudo discute o ano de 1968 como um marco especial na cultura brasileira e analisa as principais vozes poéticas do período: a voz interrompida e subterrânea dos poetas que fariam a transição do tropicalismo à poética da experiência, em meio a uma efervescência cultural cortada de forma traumática e a novas questões colocadas aos sujeitos e à linguagem a partir do endurecimento do regime militar; as vozes sufocadas do que se chamou de poesia “marginal”, marcada pela produção e distribuição alternativa de libretos poéticos, numa resistência problemática contra a indústria cultural e o regime político, encontrando na metáfora da asfixia uma das principais imagens para designar o sofrimento vivido por diversos setores sociais, em diálogo com a crise do nacional-desenvolvimentismo e da modernidade no Brasil; as vozes presas daqueles que foram calados, encarcerados e torturados, cuja poesia testemunha a ruptura ética ocorrida no país sob o terrorismo de Estado e a dialética da memória e do esquecimento em situações derivadas de traumas históricos. Em linhas gerais, as imagens poéticas apontam a condição intervalar desta lírica, a incomensurabilidade do processo de mudança na experiência histórica ao longo da década e a perplexidade dele decorrente, deixando rastros na cultura brasileira. Palavras-Chave: experiência histórica – poesia – ditadura militar – modernidade brasileira – memória traumática ABSTRACT This work seeks to understand the historical experience of Brazil under military dictatorship in the 1970s by proposing written poetry as the research source material. It is a historical study of culture that delves into poetic diction to extract signs of how the experience of history was seen and felt. Theoretical reflections are made on the pertinent concepts and problematic questions of the relationship between modern poetry and History. Also, the significance of historical experience is taken into account. Crossing from the characteristics of historical context to poetry interpretation, this study discusses 1968 as the year that left a special mark on Brazilian culture and analyzes the main poetic voices of the period: the interrupted and underground voice of the poets who made the transition from Tropicalismo to the poetics of the experience, since the cultural effervescence of 1968 was traumatically throttled and new questions were put to subjectivity and to language when the military regime hardened. The suffocated voices of what is called “marginal” poetry are marked by the alternative production and distribution of poetry books, in their problematic resistance against the cultural industry and the political regime. Asphyxia became then a major to describe the suffering experienced by diverse social sectors in dialogue with the crisis of the national development and modernity in Brazil. The arrested voices of those who were silenced, imprisoned and tortured are manifest in this poetry that testifies to the rupture occurring in the country under State terrorism as well as to the dialectic of memory and forgetting in situations derived from historic traumas. By and large, the poetic images point to the “interval condition” of this lyric, facing to the incommensurability of changes in historical experience throughout the 1970s together with the general perplexity that left wakes in Brazilian culture. Keywords: historical experience – poetry – military dictatorship – Brazilian modernity – traumatic memory Não nos peças a palavra que acerte cada lado de nosso ânimo informe, e com letras de fogo o aclare e resplandeça como açaflor perdido em meio de poeirento prado. Ah o homem que lá se vai seguro, dos outros e de si próprio amigo, e sua sombra descura que a canícula estampa num escalavrado muro! Não nos peças a fórmula que te possa abrir mundos, e sim alguma sílaba torcida e seca como um ramo. Hoje apenas podemos dizer-te o que não somos, o que não queremos. (Eugênio Montale, sem título, em Ossos de Sépia) Doravante hás de ser, ó pobre e humano escombro! Um granito açoitado por ondas de assombro. (Charles Baudelaire, segundo poema da série Spleen, em Flores do Mal) SUMÁRIO Introdução p.10 1. Ecos e ressonâncias: para pensar a relação entre poesia e história 1.1. De poesia e história na modernidade 1.2. A experiência como elo 1.3. A poesia lírica como fonte Excurso: Para ler a experiência histórica no Brasil nos Anos 70 p.20 2. Vozes Interrompidas e Subterrâneas I Em torno de 1968: um grito e tantos (m)ais 2.1. O significado de 1968 no Brasil 2.2. O grito tropicalista 2.3. Um marco historiográfico p.75 3. Vozes Interrompidas e Subterrâneas II Palavras e ciladas, vazio e fim de mundo (1968-1972) 3.1. Dos trópicos à margem... passagem à experiência 3.2. O “vazio cultural” e a palavra subterrânea 3.3. Efervescência cultural interrompida 3.4. No campo das palavras minadas – trauma e reação na linguagem p.104 4. Vozes Sufocadas I Tempo de cal, indagação e asfixia: um surto de poesia nos anos de chumbo (1972-74) 4.1. A poética da “curtição” e da precariedade 4.2. Sinais de surto poético: o Jornal de Poesia e a Expoesia I 4.3. Ares anti-intelectuais: “cuidado, Capitão”... 4.4. Asfixia: o vazio-cheio p.151 5. Vozes Sufocadas II Entre eficiência e resistência: de dedo em pé, de mão-em-mão... (1974-1977) 5.1. Lamento e crise do “milagre” 5.2. Efeitos da Política Nacional de Cultura: da serventia à revelia 5.3. Grupos, coleções e revistas: poesia em ação 5.4. Experiência cotidiana e subjetiva: uma resistência límbica p.194 6. Vozes Sufocadas III p.238 A Espiar o Mundo: três ou quatro poetas e um punhado de questões 6.1. Chico Alvim: devoração do sujeito no espaço-tempo – mudança na relação com a história 6.2. Cacaso: “o espantoso baile dos seres” na crise da modernidade – a condição intervalar 6.3. Chacal: tempo histórico, alegria e experiência no meio-fio 7. Vozes Presas : o interregno de Alex Polari (1970-1979) 7.1. A ruptura ética 7.2. Experiência violenta e voz testemunhal 7.3. Da (im)possibilidade de esquecer e lembrar p.288 Conclusão: Mudança de Voz e Perplexidade p.321 Bibliografia Consultada e Fontes p.340 Apêndice e Anexo (2º volume) p.354 ERRATA PÁGINA LINHA p.4 31 ONDE SE LÊ José Luis Oliveira LEIA-SE José de Oliveira Luiz Haroldo Costa Costa, Haroldo Horácio Costa Costa, Horácio* ...participou das barricadas em 1830 e assistiu horrorizado os massacres parisienses em 1848 ...em cheque Schiller participou das barricadas e assistiu horrorizado os massacres parisienses em 1848 em xeque Schelling ...tradições filosóficas de base estóica, cristã ou budista –, elidindo sua dimensão política e histórica ...o governo militar não reprimira propriamente o meio cultural Costa, Horácio (Agradecimentos) p.14 16 06 (notas no pé de pág) p.25 12-13 p.40 p.128 19 05 (notas no pé de pág) p.140 2-3 ...tradições filosóficas de base estóica, cristã ou budista –, dimensão política e histórica p.151 2 ...o governo militar não reprimira propriamente o meio *Costa, Haroldo p.341;343 bibliografia Introdução Um dos momentos mais belos de minha vida foi haver descoberto o quanto foi necessário para Primo Levi, dentro do horror de um campo de concentração nazista, o esforço de se lembrar de alguns versos de Dante: Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver come bruti, 1 ma per seguir virtude e conoscenza. Desde então, o interesse que sempre mantive pela relação entre poesia e história só aumentou e estes anos de doutorado foram dedicados a pesquisá-la. Inicialmente, o projeto consistia em comparar a poesia brasileira das décadas de 70 e 90, almejando compreender a problemática da experiência histórica na modernidade tardia ou “pós-modernidade” no Brasil vista do prisma da arte poética, isto é, pesquisar a experiência e a consciência (ou não) do tempo histórico na lírica dos últimos trinta anos do século XX. No entanto, ao longo do processo de pesquisa, o surgimento de um imenso volume de fontes poéticas da década de 70, ao lado de questões não previstas, impuseram mudanças de rumo. Primeiramente, a reflexão teórica em torno do significado de “experiência histórica”, bem como de sua relação com a literatura/poesia e sua especificidade na modernidade tardia, adquiriu um vulto maior do que a princípio imaginado, uma vez que diversas correntes da filosofia e da crítica literária tratam há muito a questão, oferecendo um vasto material ao historiador interessado em seus nexos interdisciplinares. O assunto se torna particularmente relevante por ter sido projeto de estudo de alguns dos principais poetas e críticos da época, como se verá. Ademais, uma série de elementos indicados pelas fontes poéticas tornaram necessárias reflexões a respeito da dimensão traumática da modernidade, do modo variado como a literatura pode tratá-la, recalcando-a ou elaborando-a criticamente, e do significado disto para a história social e cultural do país. Em segundo lugar, o fato de a produção dos anos 70 ser caracteristicamente uma “poesia de experiência”, em virtude do valor atribuído à vivência subjetiva e comportamental 1 “Considerai vossa semente:/Não fostes feitos para viver como animais,/mas para buscar virtude e conhecimento” [tradução livre]. São versos do canto de Ulisses, no XXVI Canto do Inferno da Divina Comédia. Na tradução brasileira de Cristiano Martins: “Relembrai vossa origem, vossa essência:/criados não fostes como os animais, mas donos de vontade e consciência.” DANTE ALIGHIERI. A Divina Comédia. v.1. Trad. e notas Cristiano Martins. 2.ed. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1979, p.328. Este relato de Primo LEVI encontra-se no livro É isto um homem? Trad. Luigi Del Re. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p.116. 11 como matéria poética, tornou-a um testemunho qualificado e uma fonte privilegiada para este trabalho que busca o conhecimento sensível de um momento histórico, conforme configurado pela palavra poética dos que o viveram. A ocorrência de uma verdadeira explosão de poesia em todo o país naquela década – com grande número de poetas, conhecidos ou não, publicações, acervos e editoras alternativas, livros, folhetos, fortuna crítica de muitos tipos, registros de performances, debates nos meios de comunicação, eventos e manifestações poéticas de diversos tipos, em diversos estados brasileiros –, além de ampliar o corpus de sujeitos-autores, textos e acontecimentos que constituem o objeto da pesquisa, enriquecendo e dificultando ao mesmo tempo o trabalho de seleção e avaliação a ser realizado, instigava novas perguntas e hipóteses: o que significa tal pujança poética no contexto da ditadura militar? que tipo de sensibilidade predomina naqueles textos? como vêem e sentem o processo histórico em que se inserem? o que tem a nos dizer esta “geração” poética? o que significam também os silêncios? Diante disto, dois procedimentos foram seguidos para a seleção das fontes: sendo inviável trabalhar com aquela imensidade de textos, procurei organizar um apêndice contendo Quadros Informativos que permitam melhor visualizar dados referentes a autores, obras, eventos/manifestações poéticas, publicações alternativas, matéria jornalística etc., relativos à produção poética da “Geração 70”. Tais Quadros apresentam um levantamento inicial, com o fito de servir a futuras pesquisas, que espero venham a ser desenvolvidas um dia. Isto feito, a segunda providência consistiu em priorizar, mas não exclusivamente, os textos já selecionados na própria época, isto é, a poesia organizada e comentada pelos próprios poetas e/ou pela crítica especializada nos anos 70, em antologias, periódicos ou obras afins, como se vê nos trabalhos de Heloisa Buarque de Hollanda, Antônio Carlos Ferreira de Brito (Cacaso), Carlos Alberto Messeder Pereira, Flora Sussekind, Roberto Schwarz, entre outros. Foi utilizada, em especial, a antologia 26 poetas hoje, que, elaborada por Hollanda e publicada em 1976, cumpre a função deste tipo específico de obra na história literária, como mostra Janaína Senna2: construir nexos que dêem unidade a um corpus, garantindo uma visão de conjunto e criando um cânon, que ao servir de texto básico do trabalho historiográfico vai-se tornando fundador de uma tradição, ainda que isto pareça incoerente com o veio contracultural e “marginal” da poética aqui em pauta. Trata-se, portanto, de um trabalho de história da cultura que mergulha dentro da dicção poética para dali extrair indícios acerca da experiência indissociavelmente subjetiva-objetiva e 2 Cf. SENNA, Janaína. Uma tradição persistente: antologias como rascunho da história da literatura. In: Gragoatá, Revista de Programa de Pós-Graduação em Letras da UFF, Niterói, n.11, p.99-108, 2° sem. 2001. 12 do modo como a história foi vista e sentida. Isto inclui os debates com as tradições literárias, nacionais e estrangeiras, as discussões prático-teóricas de diferentes correntes da literatura, a relação dos poetas com a política, grupos, instituições culturais e com o Estado, além da indústria cultural que se afirmava no momento, havendo sido um dos principais pontos de estímulo, e conflito, da produção e distribuição “alternativa”. No entanto, o diálogo intertextual não se faz apenas com a sociologia da cultura ou a interpretação sociológica da literatura, mas primordialmente com a análise de discurso e a crítica literária de perfil filosófico. Em outras palavras, a voz aqui ouvida e analisada não é propriamente a do indivíduo autor, mas a do sujeito-lírico colocado no texto, que não são a mesma coisa, ainda que interligadas, como sempre lembram os críticos ao destacar que a vida material e psíquica de um poeta pode influir, mas não determinar de modo absoluto seus versos, que consistem em uma transfiguração do real, produzindo ressonâncias que vão para além da intenção inicial do autor. A experiência lírica, nesta perspectiva, abarca o desejo do poeta se refletir idealmente em sua obra, ao mesmo tempo em que repercute o tumulto do mundo que o obriga, mediante a linguagem, a calar e a dizer, reconstruindo as presenças e ausências de sua interioridade e exterioridade. Na colocação de Jean-Michel Maulpoix: Por mais pessoal que seja, o sujeito lírico se vê constrangido, se não a se despersonalizar, ao menos a traduzir sua própria experiência em traços gerais e universais. Porque a vocação do lirismo é exprimir ‘o que há de mais geral, de mais profundo e de mais elevado nas crenças, representações e conhecimentos humanos...’ (Hegel).//Ele se inclina, então, ao mesmo tempo a generalizar o particular e a particularizar o geral.3 Assim, é a voz do sujeito lírico a fonte primária deste estudo, seguida das vozes críticas, depoimentos e entrevistas como fontes complementares, ainda que algumas informações acerca da vida pessoal dos poetas e da vida cultural do país apareçam em algumas páginas ou pés-de-páginas com o intuito de melhor situar o leitor. A interpretação analítica de alguns poemas é, pois, um movimento necessário dessa leitura e foi realizada sobretudo no plano semântico, buscando desvendar dinâmicas de significação presentes nos textos de maneira explícita ou implícita e, quando possível, recorrendo à análise das componentes formais que, como se sabe, também fazem parte da construção dos sentidos4. Em diversos momentos do 3 MAULPOIX, Jean Michel. L’Expérience lyrique. In: Du lyrisme. Paris: José Corti, 2000. p.373-402, citação à p.376: “Si personnel soit-il, le sujet lyrique se voit contrait, sinon de se dépersonnaliser, du moins de traduire sa propre expérience en traits généraux et universels. Car la vocation du lyrisme est d’exprimer ‘ce qu’il y a de plus général, de plus profond et de plus élévé dans les croyances, représentations et connaissances humaines...’ (Hegel).// Il tend donc à la fois à généraliser le particulieret à particulariser le général.” [grifo do autor]. 4 Embora não seja este o foco central nem o ponto forte do trabalho historiográfico, procurei fazê-lo com o melhor empenho, recorrendo algumas vezes à ajuda de outros autores ou da crítica especializada. Mas, no todo, a leitura realizada é predominantemente semântica. Esta questão é tratada no cap.1, com base em Carl Schorske. 13 texto se encontrarão, portanto, leituras mais longas e complexas, ou menos, e, por vezes, os poemas aparecerão ainda de modo meramente ilustrativo da atmosfera geral. De toda forma, as interpretações foram realizadas com o sentimento que Dominick LaCapra denomina de “desassossego empático do historiador”, isto é, uma compreensão ao mesmo tempo cognitiva e afetiva, derivada de um processo de identificação heteropática. Esta, compreendida como resposta emocional ao objeto que guarda, porém, cuidados éticos, procura manter a distância exigida para o respeito à alteridade da experiência passada, especialmente no que se refere ao transtorno traumático provocado por grandes sofrimentos, bem como sustentar critérios de verdade que impeçam a diluição da história na ficcionalidade. O trabalho historiográfico se torna assim um processo de indagação, investigação e intercâmbio dialógico com o passado e com outros autores que, por sua vez, também o indagaram5. Em tal diálogo, funcionam como parâmetros comparativos as fontes complementares mencionadas e os enquadramentos contextuais. Nestes, há uma recorrência significativa da idéia de “geração” como termo explicativo da movimentação política e artística que se tornou característica desde final dos anos 60. Poetas, críticos ou comentadores em geral se referiam à “geração 68”, “geração AI-5”, e para a poesia, “geração mimeógrafo”, “geração marginal”, “geração 70”... demonstrando ser esta uma categorização importante para os acontecimentos do período. Pesquisando o tema, mediante entrevistas centradas na experiência sócio-política de participantes ativos dos movimentos dos anos 60/70, especialmente de 1968, Gilberto Velho observou que o fato de terem vivido vinte anos sob um regime autoritário e repressivo marcou profundamente sua percepção de mundo, a ponto de sempre enfatizarem seu pertencimento à geração, que os distingue de seus pais e seus filhos. A nova cultura subjetiva em processo de formação, incluindo o ethos do indivíduo e de uma sociabilidade mais intimista, trazia este selo indelével6. Ao lado disto, a proeminência assumida pela juventude naquelas décadas, como principal força ativa nas sociedades ocidentais, questionando tradições e comportamentos estabelecidos pelos mais velhos, conferia relevância à categoria de “geração” para tratar dos conflitos que possuíam também um perfil geracional. De modo a explicar e compor o quadro da poesia que começou a ser criada na década de 70, diferentemente dos anos anteriores, Heloisa Buarque de Hollanda recorreu inicialmente à idéia de poesia jovem ou da nova geração, cuja experiência e expressão foi verdadeiramente 5 Cf. LA CAPRA, D. Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva Visión, 2005, p.62-63. Cf. VELHO, Gilberto. Subjetividade e sociedade: uma experiência de geração. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. O conceito de cultura subjetiva e objetiva é trabalhado pelo autor com base em Simmel. 6 14 atravessada, na origem, pelos acontecimentos políticos e conjunturais daqueles anos, diferentemente dos poetas já consagrados, cujo estilo se moldou na forja de momentos históricos anteriores, embora, evidentemente, também fossem atingidos pelos novos tempos. Diz a autora que a “literatura de permanência” não dava conta, naquele momento, da extraordinária efervescência cultural, do nível de mobilização e atuação jovem – jovens de classe média querendo aglutinar-se, segundo ela –, de modo que cedia terreno para a “investigação da literatura jovem”, isto é, setores que sofriam e procuravam responder “talvez mais diretamente aos impasses gerados no interior do processo cultural brasileiro, com a frustração dos projetos de revolução do início dos anos 60, a crise do populismo, a modernização reflexa, a consolidação da dependência e as novas táticas de atuação política do Estado, especialmente no período pós-68”7. Ainda que esta ênfase na juventude tenha sido depois revista, pois que os poetas marginais apresentavam as mais diversas idades e somavam no mínimo duas gerações, a noção de uma poesia de corte geracional permaneceu. O quanto esta categoria é ao mesmo turno problemática e útil, reunindo diferenças sociais que não podem ser elididas, tem sido destacado por uma série de autores8. Os próprios poetas de então o sublinham, como Haroldo Costa na abertura de um seminário comemorativo, em que resume: Por um lado, assumimos uma condição geracional, despidos de qualquer intento ou desiderato homogeneizador. Os que aqui participamos nascemos na década de 50 ou ao redor dela e crescemos à sombra de uma guerra fria cujo reflexo nos acarretou uma obrigatória convivência com sistemas políticos limitantes e antidemocráticos em nossos países. Vitimados direta ou indiretamente por essa difícil convivência, muitos dos que aqui deveriam estar já ficaram pelo caminho, como, para citar os primeiros nomes que me ocorrem, os brasileiros Paulo Leminski e Ana Cristina César. Chegamos àquela idade em que contamos com os mortos para estreitar nossos vínculos com os vivos. Nesse sentido, [...] produzimos poesia a contracorrente, contra uma pervasiva ordem de silêncio que parecia sair de quase todos os cantos da realidade dita “objetiva” [...] – e a poesia que escrevemos se distingue pela diversidade: de formas e de dicção, de posições estéticas que revelam múltiplas aproximações ou apropriações da tradição e da cultura, do horizonte sensível e da experiência vivencial. Somos uma geração que aprendeu com a história recente tanto a desconfiar da ordem das palavras – como o fizeram, diga-se de passagem, desde sempre os poetas, – quanto das palavras de ordem, sejam elas ideológico-políticas, estético-formais ou comportamentais [...]9 7 8 HOLLANDA, H.B.Impressões de Viagem: CPC, vanguarda e desbunde 1960/70, p.13 e 36. O tema tem sido bastante tratado pela história do tempo presente francesa, de que o trabalho de Sirinelli é expoente. Cf. SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. in: REMOND, R. (org). Por uma história política. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. Mas a abordagem aqui priorizada será a de Koselleck, que discute a questão da geração juntamente à da teorização da experiência histórica, conforme se verá no cap.1. 9 COSTA, H. O centro está em toda parte: significado deste encontro. In: COSTA, Haroldo (org). A palavra poética na América Latina, avaliação de uma geração. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1992, p.18-27, citação à p.25-26. 15 Assim, diz o poeta Júlio Castañon Guimarães ser melhor falar em “tendência poética dos anos 70”, marcada pela diferenciação em relação à linhagem da poesia construtiva e aproximação do modernismo, mas composta de projetos poéticos distintos10, sendo esta a idéia que norteia as discussões que se seguem acerca de alguns desses projetos, ainda que por facilidade ou conveniência se use o termo “geração”. O mapeamento do contexto da década de 70, no Brasil, especialmente o contexto cultural-poético, o que compõe evidentemente um dos eixos da experiência histórico-sensível, demanda que se efetive uma espécie de sub-periodização que permita acompanhar as modulações experimentadas pela sociedade, pelo Estado e pelas artes. Em grandes linhas, para as ondulações da poesia na década foram seguidas as sugestões de periodização de Heloisa Buarque de Hollanda e Marcos Gonçalves11, justapondo-a, dentro do possível, à divisão de fases do governo militar estabelecida pelos historiadores. Assim, temos o período 1968-72 marcado pelo que foi chamado de “vazio cultural”, e os anos 1972-74 demonstrando uma forte revitalização da produção poética, ambos na fase de afirmação do regime ditatorial, com a combinação de crescimento econômico e repressão política que lhe foi característica. No período subseqüente, de 1974 a 1977, o surto de poesia dá resposta às ingerências do processo de modernização conservadora consolidado durante a ditadura, ou seja, à crise do “milagre econômico”. Os últimos anos, de 1977 a 1979, viram o engajamento da poesia nas novas manifestações políticas, sobretudo no movimento estudantil que ressurgia, mas também nos movimentos de organizações de base ou de politização do corpo e da sexualidade, e nas pressões pela anistia, acompanhando o processo de descompressão política, até o fim da ditadura militar. O mapeamento contextual foi realizado, prioritariamente, com a leitura efetuada por historiadores, jornalistas e críticos literários, buscando cruzar suas perspectivas, às vezes distintas, às vezes convergentes, de modo a ir compondo um mosaico de época o mais coerente possível. Neste trabalho, as numerosas metáforas utilizadas por tais autores para qualificar as experiências ou a própria década chamaram-me bastante a atenção, de modo que também elas passaram a ser consideradas, como parte do mosaico contextual. Como a datação dos períodos do regime e da produção poética não coincide exatamente, foram priorizados os cortes temporais baseados na poesia. A divisão dos capítulos desta tese apresenta, assim, uma certa ordem cronológica procurando tratar dos assuntos, livros, eventos conforme eles foram surgindo. Cabe sublinhar 10 Cf. GUIMARÃES, J. C. Gerações e heranças: algumas indagações. In: COSTA, idem, pp.188-196. Cf. HOLLANDA e GONÇALVES. Cultura e participação nos anos 60. São Paulo: Brasiliense, 1982. (Tudo é história, 41), epílogo. 11 16 que esta não é a preocupação central, voltada para compreender a experiência histórica e os problemas a ela colocados, cujas discussões podem vir a extrapolar os limites temporais da seção na qual se inserem. Assim, o primeiro capítulo é eminentemente teórico, tratando de conceitos pertinentes e questões problemáticas da relação entre poesia e história na modernidade. Ao propor a lírica como fonte da pesquisa historiográfica, sugere a noção de experiência como elemento de ligação das duas esferas e o conceito de teor testemunhal, desenvolvido por Marcio Seligmann-Silva12, como principal instrumento de leitura, embora não exclusivo. Um excurso final contém considerações introdutórias sobre as principais correntes de pensamento que, vigentes à época no Brasil, contribuíram para os debates travados e, ainda hoje, para elucidação do leitor. O segundo capítulo gira em torno do significado do ano de 1968 para a experiência política e poética de então, bem como para a história da cultura brasileira, que tem nesta data um marco especial. As informações apresentadas não pretendem aprofundar o vasto assunto, que envolve o auge do movimento estudantil no país, a luta armada e a estética tropicalista, mas apenas situar acontecimentos que foram importantes para os artistas e intelectuais que surgiram em seu seio. O capítulo 3, deste modo, apresenta aqueles poetas que fariam a transição das experimentações do tropicalismo à poética da experiência (1968-1972), no momento que foi caracterizado como “vazio cultural” decorrente do Ato Institucional n° 5, no qual só restara espaço para a “palavra subterrânea”. A figura exemplar de Torquato Neto, junto a Waly Salomão e Paulo Leminski, poetas que sentiam próximos à estética concretista, mas que por força das circunstâncias e de suas opções se tornaram “pós-tropicalistas”, como também a revista Navilouca, que apesar de lançada em 1974 é expressão deste grupo, fornecem os textos poéticos em que se observam a problemática do sujeito em crise, em meio a uma efervescência cultural interrompida de forma traumática e a novas questões colocadas à linguagem a partir do endurecimento do regime militar. O quarto capítulo abriga o surgimento do que se chamou de “poesia do sufoco” ou poesia “marginal”, quando despontou a atividade de impressão em mimeógrafo e distribuição de libretos poéticos de mão-em-mão, que depois se disseminaria. Trata dos livros surgidos em torno de 1971-72, recebidos como uma nova poética, caracterizada pela “curtição” e pela precariedade, e do surto de poesia que se configurou no país com o lançamento dos quatro números do Jornal de Poesia, dentro do Jornal do Brasil, e do evento Expoesia I, realizado na PUC-Rio, ambos em 1973. Também se discute o problema do anti-intelectualismo – que tanto 12 Cf. SELIGMANN-SILVA, Marcio (org). História, Memória, Literatura. O testemunho na era das catástrofes. Campinas: UNICAMP, 2003. 17 foi assumido por certos grupos de poetas quanto foi impingido como uma pecha a toda a poesia da década, e cujos efeitos para a cultura não são animadores – e a metáfora da asfixia como uma das principais imagens encontradas para designar o sofrimento vivido por diversos setores sociais. O capítulo 5, por sua vez, aborda a intenção de resistência à ditadura, especialmente no projeto estético-político desenhado por Cacaso, que a poesia marginal procurava manter, por meio de sua matéria cotidiana e subjetiva. A relação com a crise do “milagre econômico”, a ideologia da eficiência e os efeitos cooptadores da Política Nacional de Cultura deram a tal resistência um cunho geral ambíguo e difícil, colocando-a numa situação que se pode chamar de límbica. O sexto capítulo dedica-se particularmente a analisar poemas de alguns nomes expoentes dessa época, em especial Chico Alvim, Cacaso e Chacal, em diálogo com outras vozes também, como as de Afonso Henriques Neto, Ana Cristina César, Roberto Schwarz, cujo conjunto compõe imagens bastante instigantes acerca da crise do nacional-desenvolvimentismo e da modernidade no Brasil. Fruto de constelações históricas de curta e de longa duração, estas crises afetaram, conforme mostram os poemas, a experiência histórica em profundidade, seja na dimensão da subjetividade e das relações sociais, seja na relação com o espaço e o próprio tempo histórico. As diversas cisões sociais em andamento, inferidas das imagens poéticas e textos críticos, bem como o grande sentimento de espanto e o misto de tristeza e alegria apontam para o locus especial ocupado por esta lírica, que aqui se denominou de condição intervalar, experimentada por aqueles que nela viveram de modo ainda incomensurável, salvo por alguns traços percebidos pelas antenas sensíveis da poesia, o que configura um veio traumático de representação. O sétimo capítulo versa sobre o interregno de Alex Polari, o estudante e militante político que, preso praticamente durante toda a década (1970-1979), quando viu e sofreu torturas, as suas próprias e a de companheiros, que eventualmente enlouqueciam, morriam ou eram assassinados, escreveu poesia como verdadeira forma de elaboração da dor e do luto e, por conseguinte, de sobrevivência psíquica. Embora estivesse na prisão, fora da movimentação “marginal” que agitou a vida cultural do país, sua dicção é assemelhada, tratando coloquial e diretamente de sua experiência diária, de forma que muitas vezes seus poemas soam como relatos ou confissões. Os textos aqui trabalhados pertencem sobretudo ao livro Inventário de cicatrizes, cuja temática permite três grandes eixos de análise: a ruptura ética ocorrida no país sob vigência do terrorismo de Estado; o problema da expressão da experiência violenta por meio do testemunho literário; a difícil dialética da memória e do esquecimento em situações derivadas de traumas históricos. Talvez coubesse ainda nesta parte um excurso sobre as vozes poéticas exiladas, o que não foi incluído, no entanto, por uma série 18 de razões: Ferreira Gullar, o poeta brasileiro representante da voz exilada por excelência, pertence a gerações anteriores, teve uma trajetória bastante distinta daquela que predominou nos novos poetas, surgidos nos anos 70, e seu estilo é totalmente diverso. O Poema Sujo, sua obra escrita no exílio, quando se encontrava na Argentina, não trata desta experiência de desterro, que ele repetidamente afirma haver tanto detestado, mas consiste em um fluxo caudal de memórias da infância na cidade de São Luis do Maranhão13. Sem dúvida interessante, este movimento realizado por Gullar permite diversas considerações acerca da relação entre poesia e experiência histórica, bem como uma rica comparação com o tom inteiramente distinto dos poetas marginais que, imersos em outras circunstâncias atmosféricas, trataram da sensação de “exílio em terra natal”, imagem de mal-estar que acompanha uma linhagem de poetas brasileiros desde os remotos tempos da “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias, texto fundador de uma tradição imagística de brasilidade da qual o exílio, em diversas ressonâncias, é uma vertente integrante14. Por fim, na Conclusão não se efetua um apanhado geral, mas se apresentam os acontecimentos poéticos que marcaram os últimos anos da década (1977-1979), período em que os poetas sofreram maior repressão e acompanharam as movimentações de repolitização da vida pública, e se realiza um balanço do tema pesquisado, considerando a especificidade do processo de mudança na experiência histórica ao longo dos anos 70 e a perplexidade dele decorrente, deixando rastros em nossa cultura. Alguns autores e obras, como é comum, foram reiteradamente utilizados como alicerce de pensamento, por oferecerem uma plêiade de sugestões que se mostram muito ricas para a interpretação dos textos e da história mesma. Entretanto, certos recursos talvez precisem ser melhor elucidados, como a presença do Adorno de Mínima Moralia, mais do que de suas obra estéticas, o que possui uma dupla explicação: por um lado, é fonte de reflexões consistentes acerca da relação entre ética, arte, subjetividade e modernidade que se mostraram muito valiosas para compreender determinadas reverberações daquela poesia, cujas preocupações éticas foram sempre ressaltadas por Cacaso; por outro, sendo um livro escrito na década de 40 – período atravessado pelos horrores do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, assim como 13 Este poema, como toda a obra de Gullar, possui uma vasta fortuna crítica. P.ex., cf. Revista Poesia Sempre. (Dossiê Ferreira Gullar). Ano 12, n. 18, set. 2004, p.12-61. 14 Sobre as imagens de brasilidade construídas pela rede intertextual derivada do poema de Gonçalves Dias, cf. VIEIRA, B. Intertextualidade poética e memória: o Brasil das Canções do Exílio. Trabalho monográfico. (Mestrado em Literatura Brasileira). ICHF, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 1995. [mimeo]. Duas versões resumidas se encontram em: Intertextualidade poética e memória: o Brasil das Canções do Exílio, In: V Congresso da ASSEL-RIO, 1995, Niterói, Anais.... Niterói: ASSEL-Rio, 1996. 1v. p.193-205., e no artigo “Onde Canta o Sabiá” publicado na Revista Nossa História, ano 1, n. 5, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, mar. 2004, p.68-71. (obs.: no sumário da revista o artigo consta com o título “O país do exílio”). 19 pelo desenvolvimento maciço da sociedade tecnológica avançada, aí incluída a indústria cultural – traz as marcas de um contexto de violência e modernização simultâneas, produzindo interações complexas e nem sempre facilmente explicáveis, semelhante ao que ocorria no Brasil dos anos 60-70. Torna-se propício, então, um pensamento dialético que leva em conta a liberdade e a criatividade humanas, preocupado com o desenvolvimento de formas fecundas de sociabilidade, em oposição a um sistema opressor, seja em termos econômicos, políticos ou culturais, combatendo o nazi-fascismo, o stalinismo, a guerra fria, a sociedade de consumo e falsa opulência, ao mesmo tempo em que lida com as ingerências da revolução não realizada, as correntes filosóficas antigas e contemporâneas, a arte de vanguarda, a tecnologia, a psicanálise, a indústria cultural e o problema do indivíduo nas sociedades contemporâneas, nas quais todos estes temas se interligam15. Em outras palavras, trata-se de uma filosofia que permitiu aqui um pequeno exercício de história comparada, para o qual foram igualmente valiosos outros autores que, ao se abismar com o mundo do entre-guerras e pós-guerra, criaram novas perspectivas filosóficas e historiográficas, como Benjamin, inaugurando caminhos, ou Raymond Williams, modificando a visão teórica marxista sobre cultura. Também permitiu uma leitura comparativa profícua o trabalho de Dolf Oehler acerca da literatura criada na França sob o trauma dos massacres de 1848; evidentemente, as condições econômicas, políticas e históricas em geral que envolvem os poetas em um país capitalista periférico e “subdesenvolvido”, conforme o termo da época, não eram as mesmas que envolviam Baudelaire, Flaubert, Heine e tantos outros16. Mas ainda que Rio de Janeiro e São Paulo não sejam Paris e que o golpe de Luis Napoleão em 1851 na França não seja equivalente ao golpe civil-militar de 1964 no Brasil, analogias são plausíveis, uma vez que semelhanças e diferenças se estabelecem exatamente por estarmos pensando a criação poética em meio ao progresso capitalista e à censura estatal, a sensibilidade poética afogada ou resistente no seio da modernidade, os recursos estéticos para se dizer ou calar a dor de existir em um mundo tão controverso. Em tudo, o objetivo deste trabalho foi norteado pela intenção que encontra sua melhor formulação novamente em Mínima moralia17: “o pensamento aguarda que, um dia, a lembrança do que foi perdido venha despertá-lo e o transforme em ensinamento”. 15 Cf. REALE, G. e ANTISIERI, D. História da filosofia. 3v. 2.ed. São Paulo: Paulus, 1990, p.839-840. Cf. OELHER, D. O Velho mundo desce aos infernos. São Paulo: Cia. das Letras, 1999. 17 ADORNO, T. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. 2.ed. São Paulo: Ática, 1993, p.70. 16 1. Ecos e Ressonâncias: Para pensar a relação entre poesia e história [...] olhe: de onde vem esse perfume de florestas de cedros ou diamantes esquecidos? olhe ainda mais perto do que os próprios olhos suportarão mirar aproximar-se sem cuidados da infindável mágica de que você é agente e testemunha entidade e abstração [...] (Afonso Henriques Neto, “Das construções”, in: Restos & Estrelas & Fraturas) 1.1. De poesia e história na modernidade Irmãs em seu nascimento mítico, História e Poesia têm uma extensa trajetória compartilhada. Na Grécia antiga, na tradição mitológica que se constituiu desde Hesíodo, Mnemosyne e Zeus deram à luz nove musas, que inspiravam o canto, possibilitando o ato de cantar e contar. Desde então, sua longa história é a da gradual separação dessa unidade fundamental, passando pela formação de um campo histórico específico no mundo grecoromano e pela construção de uma consciência temporal – cujo marco é o pensamento de Sto. Agostinho – e mito-poética durante a Idade Média. As principais questões correlatas à interseção de poesia e história, que desde sempre realizaram sua ligação como fios de uma costura mais atada ou mais frouxa, dizem respeito à memória subjetiva e coletiva, sempre fundamental para as duas áreas; às discussões da retórica e dos limites da linguagem; ao eterno problema da referência ao real e da verdade; à ambigüidade dos testemunhos orais e imaginados a exigir um trato cuidadoso das fontes; às múltiplas dimensões do tempo humano, especialmente o tempo qualitativo1. Todo o quadro de transformações que caracteriza o mundo moderno – acirrando-se no contexto do século XIX, com a consolidação do modo de existência da sociedade burguesa (pós-Revolução Francesa e Industrial), trazendo consigo mudanças na experiência humana, no 1 Esta longa história está desenvolvida em VIEIRA, Beatriz de Moraes. Apontamentos sobre a origem e pequeno histórico da relação entre poesia e história. Trabalho monográfico. (Doutorado em História Social). ICHF, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. [mimeo]. 21 sentido da velocidade e volatilidade que vão caracterizar o que chamamos de modernidade e os constantes embates entre o arcaico/velho e o moderno/novo que ela abriga – evidentemente afetaram o conjunto de questões concernentes à história e à literatura, bem como à sua relação. De modo abrangente, observa-se que um corte profundo se fez então sentir naquilo que já era um longo movimento de separação entre os âmbitos da história e da poética. A primeira se ocuparia, por bastante tempo, prioritariamente das questões políticas e econômicas concernentes ao Estado; a segunda ficaria aos cuidados das literaturas nacionais também em formação (com todas as controvérsias que este processo acarreta2), como um dos seus itens constitutivos e fundantes. Contudo, não se trata de uma ruptura total, pois ambas as áreas convergem e se interceptam em diversos momentos. Cabe lembrar como Dante, na construção da Divina Comédia, pôs dois poetas – ele mesmo e Virgílio3 – a cruzar o tempo divino e o tempo histórico, passando a limpo, ao lado de sua própria experiência existencial e mundana, a história do cristianismo e a história política da Itália renascentista. E no início do século XIX, historiadores românticos, como Thierry e Michelet4, buscavam responder anseios de cunho poético, também caros aos poetas e romancistas da época, envolvendo o arrebatamento diante do passado, a busca de evocá-lo e fazê-lo reviver em todos os seus detalhes e cores próprios, e com ele o rosto do povo anônimo e idealizado como a unidade de um corpo vivo. Assim como estas, outras obras literárias e historiográficas mantêm vestígios do que foi um dia um elo primordial. Sobretudo, aquelas questões que ao longo de todo o tempo tangenciaram e se imiscuíram na interação entre história e poesia permanecem válidas como elementos de diálogo e reflexão. É inegável, no entanto, que no seio da vasta questão da modernidade, o lugar da poesia e suas relações com a história se tornaram mais complexas. Entre as inúmeras abordagens possíveis, três questões imbricadas se mostram recorrentes e imprescindíveis para a compreensão da temática: a) o problema da afirmação do indivíduo e da subjetividade, como dinâmica civilizatória, conforme mostra Norbert Elias5, que atinge seu momento de auge e 2 Cf. JOBIM. História da Literatura. In: Palavras da Crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p.127-150. Para Ariès, a figura de Virgílio na obra dantesca representa a tendência ocidental de anexar Roma Antiga à tradição cristã, refletindo o tipo de sensibilidade temporal e religiosa que se desenvolveu na cristandade ocidental após a queda do Império. Cf. ARIÈS, Philippe. O Tempo da História. Lisboa: Relógio d’Água, 1992, p. 82. 4 Ibidem, p. 209. 5 No livro A Sociedade dos indivíduos, Elias busca analisar o que chama de “os problemas da autoconsciência e da imagem do homem”, apresentando um apanhado geral de diversos pensadores e obras a respeito do significado da individualização no processo de desenvolvimento da espécie humana e no processo social da modernidade. Como tudo, as imagens que o ser humano faz de si próprio – seja do “eu”, seja do homem (compreendido no sentido abstrato e abrangente de humanidade) – são históricas, mudam ao longo do tempo e 3 22 crise na modernidade, quando se criaram imagens cindidas da relação homem-naturezasociedade, como resultado de profundas contradições e tensões entre os processos de individualização e de civilização. Desdobram-se daí os movimentos de individualização solipsista ou narcisista da voz poética, como um sintoma da época, ou até mesmo processos de decadência cultural, uma vez que a experiência cumulativa de centenas de gerações não é enraizada biologicamente e pode vir a ser revertida, jazendo sempre latente um risco de que conquistas civilizatórias se percam. Imersa neste quadro, e dialogando intensamente com ele, a criação poética sofreu transformações. O impulso épico se esvaiu e restou anacrônico, uma vez que a memória coletiva que o sustentava, buscando no passado os prenúncios de uma grandeza presente ou futura, e proporcionando ao público o prazer de se reconhecer em mitos coletivos ou como membro de uma nação heróica, já não mais existe, resume Paulo Henriques Britto. As mudanças em curso requereram mecanismos de legitimação bastante diversos do canto épico e o gênero lírico se tornará o poético por excelência no mundo moderno. Assim, à medida que se desenvolve o sujeito moderno, o poeta lírico afirmará, nas palavras de Britto, “uma subjetividade única e inconfundível”, que forja um “mito individual” ao elaborar “um conceito integrado do eu” alicerçado na concepção de condição humana, tida como um conjunto total de experiências compartilhadas pela humanidade, de modo que “o prazer proporcionado pela poesia lírica depende dessa paradoxal coexistência entre identificação e diferenciação.”6 b) a mudança na experiência do tempo, afetando profundamente a concepção de tempo histórico e as manifestações estéticas, residindo o ponto central na mutabilidade, na transformação das coisas cada vez mais velozmente, o que confere ao mundo moderno a qualidade do que é fugaz e fluido, instável e potencialmente moldável. Dissemina-se a vertiginosa sensação de se estar vivendo a aceleração do tempo histórico e a velocidade e o progresso passam a ser valorizados socialmente. Além das dimensões temporais que do espaço e conforme as relações sociais estabelecidas. ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 79, 113-119. 6 BRITTO, P.H. Poesia e memória, In: PEDROSA (org.), Mais Poesia Hoje, Rio de Janeiro: 7Letras, 2000, p.124125. “Tal como épico, o poeta lírico tenta forjar um mito, só que o mito em questão é individual e não coletivo: ele busca nos diversos momentos do seu passado individual elementos que permitam elaborar uma história pessoal que tenha coerência e sentido [...] que inclui desde um mito de origem até uma teleologia. Para retomar a analogia com o poeta épico, [...] também o poeta lírico elabora um conceito integrado do eu onde antes havia pulsões incoerentes e mesmo contraditórias. [...] a base comum ao poeta lírico e ao fruidor de poesia lírica é a condição humana, configurada numa seqüência de vivências que formam um todo compartilhado pela humanidade. [...] ao mesmo tempo, o mito do poeta lírico destaca que aquela combinação específica de elementos comuns a toda a humanidade perfaz uma singularidade inconfundível, a persona do poeta [...] O prazer proporcionado pela poesia lírica depende dessa paradoxal coexistência entre identificação e diferenciação.” 23 integravam o quadro antigo e medieval do mundo e do homem haverem entrado em colapso, a ciência moderna adota a medida fragmentária e quantitativa do tempo, fundando-se no paradigma galileico abstrato-matemático, o que repercute tanto nas idéias filosóficas quanto nos processos sociais de produção e consumo7. O próprio conceito de tempo não ficou isento às transformações do período. A temporalidade moderna, mesmo que herdeira da concepção cristã, investiu-se numa nova imagem ao trazer consigo, pela primeira vez, uma concepção que exalta a mudança e a transforma em seu fundamento. Não se cultua tanto o passado, nem a eternidade, nem o tempo que é, quanto o futuro, o devir que se acredita trazer sempre melhores condições de vida. Em decorrência, a busca do diferente, o senso crítico e a mudança constante se tornaram princípios do pensamento e comportamento social. Ao lado do novo, então, a modernidade valoriza o heterogêneo, o estranho e o diverso; o tempo é visto como uma “teia de irregularidades”, cuja regra é a variação8. Mas a modernidade suscita também um movimento quase contrário quanto ao tempo. Em contraponto à valorização do futuro, a fugacidade traz o sentimento de perda e instabilidade e o conseqüente desejo de recuperar “o tempo perdido” por meio da memória. Nesta vertente situam-se a obra de Proust, Baudelaire, e a leitura que deles fazem diversos autores. Estudando o tempo em Walter Benjamin, Gagnebin observa que ele tentava pensar um tempo histórico pleno, em que a relação entre passado e presente não se dá ao modo de uma cronologia linear, numa sucessão contínua de momentos, nem tampouco ao modo de uma repetição, em que o passado assomaria intacto no presente; antes, o passado ressurge se reatualizando, quando as semelhanças (e não identidades, repetições) entre passado e presente afloram e criam uma nova configuração entre ambos. Nesta chave, a presença da lembrança e da melancolia na poesia baudelairiana significaria a tentativa de opor à temporalidade moderna um tempo outro, “luminoso e espesso como mel, o tempo de uma harmonia ancestral [...] o tempo devorador e vazio da modernidade e o tempo pleno e resplandecente de um lembrar imemorial”9. A este último corresponderiam a experiência no sentido forte do termo, o sentido de culto da arte e a harmonia dos símbolos; às corrosões do tempo moderno, por sua vez, correspondem a experiência individual e isolada, a arte sem aura, os objetos desvalorizados porque transformados em mercadoria, a alegoria como a figura possível da 7 Cf. PAZ, O. Os Filhos do Barro: do romantismo à vanguarda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p.11-35; MEYERHOFF, H. O Tempo na Literatura. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1976, p.75-90., e GINZBURG, C. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Cia. das Letras, 1989, p.165, nota 79. 8 Cf. PAZ, idem. 9 GAGNEBIN, J.M. Baudelaire, Benjamin e o moderno. In: Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p.151. Ver também “O conceito de mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin”, idem, p.101-102. 24 dispersão dos sentidos, a devoração da vida e da beleza. Na leitura benjaminiana, este tempoinimigo, tão dolorosamente cantado por Baudelaire, não remete apenas à meditação sobre a vaidade e a fugacidade da vida humana, mas também à alienação do trabalho no mundo capitalista, submetido ao tempo abstrato e inumano dos relógios, bem como às ingerências dominantes e reificantes das relações de troca econômica, que reduzem o leque de vivências possíveis do indivíduo às mãos estreitas, mas férreas, do mercado, de onde resulta uma individualidade abstrata e empobrecida, ao passo que as benesses da modernidade haviam-na prometido rica e concreta10. Isto posto, o tempo da modernidade se caracteriza pelo embate com a memória e a morte, pela constante tensão entre a força e a fragilidade da lembrança, o desejo de um retorno “redentor” do passado e a impossibilidade desta volta, a vitalidade do presente e sua morte iminente. Se esta tensão define a modernidade de Baudelaire conforme interpretada por Benjamin, define também, como conclui Gagnebin, a própria modernidade benjaminiana e a de tantos outros contemporâneos. c) a mudança na experiência poética pelo olhar em movimento do poeta sobre o mundo circundante, também em constante mutação, transformado em matéria móvel de experiência e poesia. Os versos de Baudelaire diante das obras modernizadoras na cidade de Paris se tornaram canônicos a este respeito: “A forma de uma cidade/Muda mais rápido – ai de mim! – que o coração de um mortal”11. Como observa Dolf Oehler, pela janela do trem que devora quilômetros – imagem-matriz do progresso material do mundo industrial, precipitando a experiência da rapidez e do desfrute panorâmico – se vê o mundo em movimento, os olhos consomem paisagens que mudam velozmente, os horizontes se oferecem vagos, impossível fixá-los nas retinas. Processaram-se mudanças no olhar, que se acostuma à instabilidade e à nebulosidade, torna-se disperso, incapaz de se concentrar; o pensamento, correlatamente, torna-se impreciso, incapaz de mergulhar em questões abissais. A velocidade se traduz numa falsa profundidade de experiência, que na realidade tende a se abstrair do tempo, do espaço e das contradições da lógica social neles imersa12. O surgimento da multidão nas cidades modernas, e nelas a flâneurie, conforme Benjamin observou nos contos de Edgar Allan Poe e nos poemas e textos críticos de Baudelaire, modificava as relações sociais e trazia um elemento complicador à dinâmica da individualidade, do olhar intersubjetivo e, conseqüentemente, da lírica. Na multidão, o 10 Cf. GAGNEBIN, idem, p.151-154 e MENEGAT, M. Civilização em excesso. In: O olho da barbárie. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p.47-82. 11 No poema “O Cisne”, aqui na tradução de GAGNEBIN, “Baudelaire, Benjamin e o moderno”, In: op.cit., p.150. 12 Cf. OEHLER, D. O Velho mundo desce aos infernos. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, p.339-340. 25 indivíduo ao mesmo tempo se dissolvia e se constituía, com-formando-se aos processos de massificação e mercantilização, trazendo ao poeta a perda de sua aura de sujeito individualizado, inspirado e genial, bem como as aporias entre representação criativa, mimética-reprodutiva e comercial, até hoje insolúveis. Assim, reunindo estas três questões e acompanhando as modulações históricas e estéticas, a figura-flâneur de Baudelaire foi-se tornando prototípica, sendo construída pela crítica literária e filosófica como a imagem do poeta moderno por definição, aquele que é marcado pelas feridas provocadas pelas rupturas da modernidade e que dialoga com elas mediante sua poesia, seja respondendo, denunciando, anunciando ou lamentando. Imerso nos acontecimentos políticos que marcaram a história da França na primeira metade do século XIX, Baudelaire acompanhou as reformas urbanísticas de Haussman, que modernizaram a velha Paris sob seus olhos, participou das barricadas em 1830 e assistiu horrorizado os massacres parisienses em 1848, que resultaram por fim no golpe de estado de Luis Napoleão, restaurando o III Império francês, de caráter autoritário. No pathos da poesia baudelairiana, sem sujeição nem sentimentalismo, a modernidade é apresentada em sua intensa brutalidade, não havendo espaço para o culto ao progresso nem para a empatia filantrópica de um Vitor Hugo, por exemplo. Na leitura de Oehler, a ironia e o satanismo que deram a Baudelaire um lugar especial na história da literatura se devem à sua capacidade de figurar a própria impotência, perante a violência da história dos vencedores, como algo revoltante, e ao decorrente desejo de instigar nos leitores um sentimento de incômodo diante da trivialização do mal no cotidiano burguês e da mentira oculta sob a imagem dos homens cândidos que impõem sua ordem ao mundo com práticas brutais. A violência poética e simbólica de Baudelaire se insurgia contra a violência repressiva, não apenas aquela da censura e despotismo do 2° Império, “mas a violência exercida por um esprit de perversité que atua tanto no indivíduo quanto na sociedade, violência que ameaça destruir a sede de conhecimento, a razão, o propósito de salvação moral do Renascimento e do Iluminismo e consagra a humanidade ao ocaso.”13 Seminal neste gesto de analisar criticamente a modernidade através dos olhos do poeta, a obra de Walter Benjamin – especialmente os textos reunidos no volume intitulado em português Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo – abriu a via para inúmeros outros trabalhos que foram adensando uma vertente que procura resgatar a experiência do homem moderno, encontrando nela elementos traumáticos significativos. Deste modo, a 13 OEHLER, idem, p.281. 26 poética de Baudelaire se consagrou como modelar para a compreensão da poesia moderna e contemporânea, especialmente em sua vertente crítica, e o olhar do poeta passou a contribuir para o aprendizado da história sobre a modernidade. Com efeito, todos as grandes movimentações da modernidade evidentemente afetaram os conceitos literários construídos pela crítica para interpretar seu objeto poético. De variados prismas – a crítica materialista, formalista, existencialista, sociológica etc. – os conceitos críticos foram revistos, sobretudo o conceito de mímese/representação estética e a questão da função social da arte, recentemente instigados pelas proposições da assim chamada virada lingüística. Muito sumariamente (o tema será melhor desenvolvido nos próximos itens), tratou-se de discutir o tipo de referencialidade abrigada na palavra poética e sua expressividade específica, bem como o lugar de fala do poeta como indivíduo e as – que se releve a simplicidade – “causas e conseqüências” sociais do seu dizer, como uma voz resistente às tendências hegemônicas da sociedade burguesa moderna, ou antes, aderente a elas. De todo modo, a questão da experiência, cada vez mais concebida em sua dimensão cotidiana, não deixou de permanecer relevante, mais latente ou mais expressamente, conforme o contexto literário e histórico, adquirindo uma força renovada nos anos recentes. Paralelamente, também as concepções historiográficas sofreriam necessárias modificações. Em busca de apreender e conferir sentido(s) à experiência humana no espaço e no tempo, a historiografia passou a valorizar crescentemente a memória e as artes, como fontes históricas que configuram movimentos de registro, associação e ordenação dos elementos temporais experimentados. A escrita da história dos dois últimos séculos (XIX e XX), como sintetiza Ariès, havia-se tornado tendencialmente abstrata, distanciando-se da experiência concreta e local dos homens, de suas raízes na cidade e na família, de sua memória pessoal. Isto não se devera apenas a um movimento “autônomo” da historiografia, mas ao próprio processo vivido pelas sociedades capitalistas industriais, em que o desenraizamento esfacelou a experiência local, familiar, e com isso as tradições, e a concorrência embrutecedora desintegrou o sentido de uma história comum14. Em decorrência, a historiografia se dedicará ao movimento inverso, acompanhando a onda de preocupação geral com a experiência que teve lugar a partir da segunda metade do século XX, como bem demonstram os existencialismos, as releituras marxistas e psicanalíticas, a teoria crítica frankfurtiana. 14 Cf. ARIÈS, op.cit., p.23 ss. 27 Entre os historiadores, segundo Martin Jay, a preocupação com a experiência se tornaria dominante em diversos países, nos anos 60-70, em busca de maneiras de dar voz às “classes subalternas”, conforme denominação gramsciana, ou à história dos vencidos, na linhagem benjaminiana. O recurso privilegiado à história oral se tornava fundamental, ao lado de antigos autores que serviam de inspiração para o estudo de existências cotidianas nas culturas passadas, fossem marxistas, como Henri Lefèbvre, nos anos 30, fossem não-marxistas, como Fernand Braudel e Lucien Febvre, da Escola de Annales, entre outros que investigaram as “mentalidades compartilhadas”. Na Grã-Bretanha, a querela dos historiadores marxistas reunidos na New Left – envolvendo althusserianos em oposição aos assim chamados “culturalistas” ou “marxistas-humanistas”, liderados por E.P. Thompson e Raymond Williams – mostra a importância da questão nos anos 70. Os debates se davam em torno da tentativa destes últimos em conceitualizar a “experiência comum” e a “estrutura de sentimentos” ou estrutura de experiência como um dado da cultura, e esta, por sua vez, como dinâmica intrínseca à sociedade, abolindo as determinações que dividem infra-estrutura e superestrutura, em nome da totalidade da vida social. Em sua visão, a vida cotidiana e mundana de massas esquecidas de homens e mulheres se tornava objeto valioso para o estudo da história, sem que se deixe de reconhecer (em resposta às acusações) os limites impostos pelas condições sócio-econômicas e ideológicas, que constrangem a ação e a reflexão de camadas sociais cuja experiência ordinária registra sobremaneira o poder desses constrangimentos, ainda que eles tenham tentado lutar para superá-los15. Nos anos 80, este debate da esquerda foi migrando para um novo terreno, que veio a constituir a área dos estudos culturais, adquirindo novas configurações. Ainda na mesma época, autores como Agnes Heller, na filosofia; Yi-Fu Tuan, na geografia; Michel de Certeau, dialogando com Foucault; e toda a “nova história cultural”, tendo por base a “descrição densa” advogada por antropólogos da cultura, como Clifford Geertz e Victor Turner, de certa forma substituíram a história social dos anos 60 e se aprofundaram na esfera da vida diária, bem como na auto-reflexão sobre a própria experiência do historiador em relação a seu trabalho e nos complexos laços que unem passado e presente16. Ao que tudo indica, a tônica na experiência era uma questão de época – partícipe do que hegelianamente se chamou de 15 Cf. JAY, M. Politics and experience. In: Songs of experience., especialmente os itens “Raymond Williams and the Marxist humanist version of experience”, “E.P.Thompson and history from below” e “The quarrel over experience in British Marxism”, p.190-215. Vários trabalhos relativos à querela, de Terry Eagleton, Perry Anderson, E.P.Thompson e R.Williams encontram-se traduzidos em português. Para o esforço de R.Williams em constituir teoricamente um materialismo cultural, ver CEVASCO, M.E. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 16 Cf. JAY, M. History and experience. In: Songs of experience, p.242-243. 28 Zeitgeist ou o espírito do tempo, ou do que autores mais recentes têm chamado de Stimmung, uma “sensibilidade cultural comum”, segundo Traverso, ou uma vaga “impressão de inscrição existencial no mundo das coisas”, nos termos de Grumbrecht17 – que se manifestava de múltiplas formas, certamente em correspondência ou contraponto aos efeitos da velocidade moderna e o que ela faz escapar por entre os dedos. Assim, a historiografia encontrou seus meios para se aproximar e resgatar a dimensão experiencial, em grande medida voltando-se para a literatura, no seio da qual a experiência foi preferencial e tradicionalmente acolhida. O texto literário – no caso desta reflexão, o poético – , portanto, torna-se um lugar privilegiado para a história pensar, analisar e narrar as experiências humanas no mundo e no tempo. 1.2. A Experiência como elo uma difícil conceituação A palavra experiência, do latim experientia relativo ao verbo experiri, conforme os dicionários quer dizer prática de vida, vivência; habilidade ou perícia adquirida com o exercício constante de um ofício ou arte. Etimologicamente, diz Agamben, ex-per-iri tem o sentido de “provir de” e “ir através”, mantendo uma correlação possível com o grego dialégesthai (dialética) que significa “reunir e dialogar atravessando”. Em termos filosóficos, traduz em linhas gerais o conhecimento que nos é transmitido pela faculdade perceptiva dos sentidos, consistindo também no conjunto de conhecimentos individuais ou específicos que constituem aquisições acumuladas historicamente pela humanidade18. Diferentemente da filosofia, que se dedica à experiência procurando defini-la e conceituá-la, os historiadores – salvo poucas exceções, como no caso da querela mencionada 17 Cf. TRAVERSO, Enzo. La historia desgarrada, ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Barcelona: Herder, 2001, p.56. Por sua vez, Hans Ulrich Gumbrecht, na mesa de abertura do X Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), de 31 jul a 4 ago 2006, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), dedicou parte de sua preleção à discussão do significado do termo alemão Stimmung, como proposta para o desafio epistemológico de traduzir o discurso literário em conceitos filosóficos: como a experiência estética na modernidade oscila entre efeitos de sentido, mais estudados, e efeitos de presença, estes poderiam encontrar abrigo na idéia de Stimmung, palavra cuja raiz significa “voz”, e que designa a velocidade de uma peça musical, o clima de um dia, uma paisagem geral, o humor da bolsa de valores. É algo que nos rodeia e abrange, como parte da experiência humana, mas independente da intenção. Logo, possui um sentido mais existencial do que político, porém não se confunde com o sentimento, que tem um objeto intencional, diferentemente do Stimmung, mais vago, como uma “impressão de inscrição existencial no mundo das coisas”, que a literatura é capaz de produzir mas não de formular. 18 Cf. verbete “experiência”, no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2.ed. revista e ampliada. E AGAMBEN, Giorgio. Enfance et histoire. Destruction de l’experience et origine del’histoire. Paris: Payot & Rivages, 2002, p.62-63. 29 – não investem prioritariamente na explicação do conceito, mas no seu uso prático para a historiografia, ou na maneira como a experiência humana se dá no tempo-espaço e como a história pode tratá-la, descrevendo-a e analisando-a. O extenso trabalho de Martin Jay19 demonstra, contudo, o quanto uma conceituação de experiência é espinhosa, não havendo jamais chegado a uma definição unânime, mesmo entre os filósofos. O tema, carregado de paixão e abordado por pensadores das mais diversas tradições e escolas – Jay o pesquisou entre os gregos, renascentistas, empíricos, idealistas, entre teóricos da religião, da estética, da política, da história, da epistemologia, entre pragmáticos, marxistas, frankfurtianos, pós-estruturalistas –, tornou o termo impreciso e rodeado de uma aura que disfarça sua obscuridade. A ubiqüidade e infinitude de significados e contextos de experiência, além das variações que o conceito pode sofrer em virtude de mudanças na experiência vivida dos autores, impedem a composição de uma história única do termo, de modo que Jay estabeleceu como recorte a indagação acerca da autoridade que a idéia adquiriu ao longo de um vasto percurso histórico e da perda de sua força na recente crítica pós-estruturalista. O valor quase absoluto que a experiência havia adquirido sob o Iluminismo e a crença na possibilidade de experiências compartilhadas no tempo e através dele passam a ser questionados após a chamada “virada lingüística”: à imediatez da experiência são contrapostos processos impessoais de formação da subjetividade, que apontam para as mediações culturais e discursivas do sujeito, não mais concebido como autosuficiente. Em conclusão, o autor propõe – e sua proposta fica aqui assumida – que se mantenha a frutífera “tensão criada pelo paradoxo” da experiência, isto é, trata-se de uma noção coletivalingüística, mas que escapa a qualquer homogeneização, residindo no “ponto nodal de interseção entre linguagem pública e subjetividade privada, entre instâncias comuns expressáveis e a inefabilidade da interioridade individual”, entre o que parece mais “autêntico” e “genuíno” e as mediações dos modelos culturais. Quando dolorosa, pode ser compartilhável por narrativas, mediante processos de elaboração secundária no sentido freudiano, ou se manter impronunciável pela ação de um bloqueio traumático. Pode tratar de uma mudança ou de um acontecimento restrito a um momento, referindo situações sincrônicas ou diacrônicas. E ainda que seja concebida como uma possessão pessoal, é “inevitavelmente 19 Cf. JAY, Martin. Introduction. Songs of Experience, p.1-8. 30 adquirida mediante um encontro com a alteridade, seja humana ou não”, sendo portanto relacional20. Mas a carga normalmente positiva que se conferiu à idéia, concebida como não fungível, não transferível e não comunicável, preocupou uma série de autores, diz ainda Jay, que então se dedicaram a mostrar, inversamente, a crise e o peso da experiência no mundo moderno, com fizeram Walter Benjamin, Theodor Adorno, Peter Bürger, Giorgio Agamben21, entre outros. A base dessas reflexões decorre em geral do trabalho de Benjamin, que havia buscado compreender a experiência em relação aos processos modernizadores do capitalismo, a cidade moderna, os diferentes tipos de memória, a perda da aura poética, a linguagem. Em “Sobre Alguns Temas em Baudelaire”, ele discorrera sobre o treinamento dos sentidos realizado pela técnica, afetando a experiência: como na indústria se perde a conexão entre as etapas do que se faz, cindindo-se o trabalho corporal e o pensamento, produz-se uma perda igualmente da capacidade de estabelecer nexos e relações complexas. O movimento uniforme e autômato promove adestramento, mas não experiência. Esta exigiria uma aquisição processual, o estabelecimento de relações mediante um tempo de maturação e labor que a voragem da vida urbana moderna já não permite, bem como exigiria memória, desejo e a devolução do olhar do outro. Ao invés disto, as características do adestramento consistem na automatização, o condicionamento, rapidez e especialização, degradação maquinal, comportamento reativo e movimento reflexo, repetição e disciplina como uma “selvageria automatizada”. A imagem do homem que segue uma estrela cadente é substituída, na modernidade, pela ávida destreza do jogador22. Derivam também dessas considerações as duas noções de experiência que serão desenvolvidas pela troca de idéias entre Adorno e Benjamin, a partir de conceitos da hermenêutica e da filosofia germânica: Erlebnisse, anunciando uma vivência única e irrepetível, próxima da filosofia da vida, cuja memória jamais seria automática ou involuntária, mantendo com o passado uma relação simbólica; e Erfahrung, de corte mais kantiano, relativo ao que se repete para os sentidos no espaçotempo, remetendo ao mesmo e envolvendo uma memória capaz de traduzir traços do passado no presente de modo alegórico, reconhecendo a distância e a memória, sem mergulhar nela. A 20 JAY, M. idem, citações da p.6-7: “‘Experience’, we might say, is at the nodal point of the intersection between public language and private subjectivity, between expressible commonalities and the ineffability of the individual interior. […] it is inevitably acquired through an encounter with otherness, whether human or not.” 21 Sendo objetivo desta tese mostrar como a poesia se relacionou com a experiência histórica nos anos de chumbo no Brasil, tais autores se mostram particularmente relevantes. Suas concepções, em linhas gerais, aparecerão ao longo dos capítulos, conforme se mostrem elucidativas, mas não me deterei em expô-las seqüencialmente e analisá-las, o que exigiria por si só uma outra tese. Para JAY, ibidem. 22 BENJAMIN, W. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Obras Escolhidas III. São Paulo: Brasiliense, 1989, p.125-128 e 139. 31 partir de ambas, decorrem modalidades distintas e interpenetráveis de formas estéticas e linguagem23. De maneira abrangente, não é esta a via priorizada por historiadores quando pensam a experiência. No capítulo de Jay referente à relação entre esta e a historiografia, destacam-se as preocupações com o conhecimento do passado enquanto tal, sempre mediado pela visão do historiador imerso em seu presente, de modo que se dá um inevitável entrelaçamento entre subjetividade e objetividade, julgamento e construção, temporalidades passadas e presentes, cuja irredutível interação exige negociações complexas e uma tensão que preserve o máximo de espaço possível para a alteridade do que foi, mas já não se mantendo mais a crença na idéia de re-atualização ou reconstrução fiel de outro tempo. Isto que Jay chama de “paradoxo da experiência histórica” é tratado de variadas maneiras pelos historiadores, derivando em diversos caminhos, como a vasta discussão teórico-política que se engendrou à volta das obras dos “marxistas-humanistas” ingleses, já mencionada, ou o modo engenhoso como alguns pesquisadores – como Le Roy Ladurie, Carlo Ginzburg, Roger Chartier, Natalie Davis, Robert Darnton et al. – desenvolveram métodos para trabalhar com o cotidiano medieval e moderno.24 Não consta da obra de Jay, entretanto, o esforço teórico de Reinhart Koselleck para compreender o que seja a experiência histórica. Em L’Expérience de l’Histoire, este autor procura discutir como se organiza a experiência na história e pela história, ou seja, quais as principais características disto que podemos chamar de experiência humana e sua transformação, e como a historiografia se relaciona com o tema, sendo também ela experiência e fruto de mutações de experiência. As linguagens conferem memorabilidade à experiência (“mise en memoire”), e embora estejam ambas, sensibilidade e formas lingüísticas, submetidas à mudança histórica, seus ritmos de transformação são manifestamente diferentes. Por isso, para além da volubilidade da modernidade, constata-se que é difícil a transmissão de experiências entre gerações, para o que são necessárias instituições sociais que garantam esta transmissão sensível25. 23 Não pretendo esgotar a longa discussão sobre estas duas noções, cuja história envolve uma série de autores, mas apenas apontar sua existência como parte dos embates da conceituação da experiência, e mesmo da vivência. Cf. JAY, M. Lamenting the crisis of experience: Benjamin and Adorno, in: idem, p.336-341. 24 Restam em qualquer dessa vias, diz Jay, os problemas sempre atuais de saber como os construtos do presente se relacionam com o passado; o quanto do passado pode ser compreendido pela categoria de “experiência”; qual a história ou as histórias da própria experiência, já que tampouco seu passado é homogêneo; e se a capacidade mesma para a experiência teria mudado nos tempos modernos. Cf. JAY, M. History and experience, op.cit., p.222. Para o restante dos comentários, passim. 25 Cf. KOSELLECK, R. L’expérience de l’histoire. Paris: Gallimard/Seuil, 1997, p.118; 158. Os parágrafos que se seguem, expondo o pensamento de Koselleck, seguem especialmente as reflexões contidas nos capítulos “Les 32 Na Grécia antiga o termo experiência significava exploração, pesquisa, verificação, num sentido próximo ao do verbo historein. O sentido moderno tende a restringir a acepção ativa do termo, concentrando-se no domínio da percepção sensível e do vivido, a simples percepção sensorial das coisas, de modo que se dissocia a experiência como realidade vivida e como atividade intelectual. Seria, entretanto, no conceito moderno de história, a partir de fins do século XVIII, que se reuniria novamente a antiga duplicidade do termo, de informação sensível e exploração cognoscitiva da realidade. Assim, traduzindo uma realidade dada em enunciados historiográficos, a história se mantém uma “ciência da experiência”, na qual conhecimento e experiência são articulados um sobre o outro, a efetuação de um pressupondo a aquisição do outro, numa imbricação recíproca de vivência e pesquisa no cotidiano. Contudo, os desenvolvimentos metodológicos ocorridos a partir do século XIX exigiram separá-las no plano analítico, para efeito de melhor compreensão. Com base nestas considerações, o autor estabelece sua hipótese, de que há traços comuns mínimos (que ele chama de dados antropológicos), anteriores a toda mutação de experiência e a toda mudança de método historiográfico, e que permitem estabelecer um laço entre estes dois níveis, sem que se abandone a unidade da história (Geschichte). Trata-se, portanto, de descobrir as condições antropológicas – características comuns que atuam como fundamento – das experiências, de seu enriquecimento e de seu estudo metódico26. Para narrar e poderem ser narradas, as histórias precisam se descolar das próprias experiências dos protagonistas – condição prévia da mise en récit –, as quais são efetuadas, coletadas e transformadas, diz Koselleck, segundo três modos possíveis, tanto de experiência quanto de fazer historiográfico: 1. a experiência original ou única, tem origem na diferença temporal mínima entre o que foi antes e o depois, é o acontecimento que sobrevém como que de surpresa e se impõe de um modo que marca o indivíduo. 2. a repetição ou consolidação das experiências, que são adquiridas e recolhidas como resultado de um processo de acumulação, que rearranja as existências individuais do nascimento à morte. Entretanto, nenhuma experiência se transmite diretamente a uma pessoa, pois embora os indivíduos singulares a granjeiem, ela depende de um conjunto de outras pessoas à volta, envolvidas nesse processo de estabilização das experiências acumuladas. monuments aux morts, lieux de fondation de l’identité des survivants”, “Histoire, droit e justice”, “Mutation de l’expérience et changement de méthode”. 26 Cf. Ibidem, p.202-206. 33 Deste modo, alguns tipos de experiência dependem de gerações, o que se pode observar em dois grandes planos: a) o dado biológico: a diferença temporal entre pais e filhos marca as histórias individuais, que se formam pela tensão reinante entre educação e emancipação, entre a palheta de experiências disponíveis num determinado momento histórico e a experiência pessoal. b) o peso dos eventos políticos: as experiências acumuladas podem empalidecer ou se intensificar conforme estes eventos sejam vividos mais ou menos ativamente. As “ondas de experiência política” são percebidas de formas muito diversas em função da idade ou de posição social. Mas, ao mesmo tempo, essas ondas suscitam características comuns mínimas que transcendem grupos etários, de sorte que, para além da idéia de geração no sentido biológico e social, pode-se falar de unidades políticas geracionais. Não obstante haver fatos únicos diferenciais (as experiências originais), cada experiência pode ser aproximada de experiências semelhantes vividas pelos contemporâneos, pois existem ritmos e limiares de experiências específicas a gerações que, uma vez institucionalizados ou ultrapassados, engendram histórias comuns. Formam o conjunto de homens que vivem uma mesma época reunidos no que se pode chamar de “comunidades de ação”: famílias, corporações profissionais, cidadãos de uma mesma cidade, soldados de um exército, membros de diversas camadas sociais, de partidos políticos, credos, círculos, conselhos etc. Estabelecem-se assim unidades geracionais políticas e sociais, tendo por traço comum o fato de haver efetuado e recolhido experiências únicas ou repetidas, mas de ter regulado ou provado estas ondas de experiências coletivas. Estas, contudo, são percebidas e assimiladas distintamente pelos diferentes grupos e indivíduos, sobretudo pelos vencedores e vencidos dos processos políticos. Toda história que se constitua a partir da experiência tem, por conseguinte, um duplo aspecto: os indivíduos têm experiências únicas e estas se articulam em função de gerações, ou seja, existem condições e desdobramentos históricos que se dão em torno da história dos indivíduos, mas que remetem a ritmos mais amplos, os quais fundam um espaço de experiência comum. A história social moderna recorre a estes traços comuns concretos que delimitam, no tempo, as unidades de experiência condicionadas pelas gerações. Por isso, diz Koselleck, “qualquer que seja o espírito do tempo, é aqui que o encontramos”27. 3. a mutação das experiências na longa duração, atravessando a vida de pessoas e gerações, e que apenas uma reflexão histórica pode apreender retrospectivamente. Trata-se de um 27 Ibidem, p.206-211, citação à p.210. 34 processo que se apresenta na forma de uma “experiência de pano de fundo”, e que, lentamente ou por golpes, substitui inteiramente o capital de experiências tornadas constantes e aceitas por gerações. A título de ilustração, temos a dissolução do império romano, a cristianização de cultos pagãos, o surgimento de um novo sistema econômico mundial, quando a totalidade do sistema social conheceu mutações tais que foi praticamente impossível aos sujeitos sociais traduzi-las senão em termos metafóricos (como declínio ou espera escatológica de redenção). Uma mutação sistêmica de longa duração é estritamente diacrônica, pois se baseia em seqüências que vinculam gerações e se subtrai à percepção direta dos indivíduos, não podendo então ser transmitida oralmente, de avô a neto, por exemplo, porque isto pressupõe certa sincronia. Assim, do ponto de vista antropológico, este processo consiste em um conjunto de experiências feitas por outros, atravessando gerações e sendo incorporado por mediação ao capital de experiência de cada um, ou seja, por meio do passado que é solicitado tanto para explicar as particularidades do presente, quanto para tematizar a alteridade específica da história recente. Do ponto de vista da experiência histórica, estritamente, a mutação transgeracional – antigamente conservada nas imagens míticas – apenas pode ser tratada pelos métodos de investigação histórica que recorram ao raciocínio analógico, ou melhor, àqueles que se estabelecem segundo o princípio da analogia de experiências, como já fora feito por Heródoto, Tucídides, Tácito... Estas três modalidades permitem concluir que os diferentes ritmos de experiência correspondem à curta, média e longa duração e tornam possível a existência de histórias. Em outras palavras, os homens vivem e agem sob pressão da experiência, que se estrutura no tempo em profundidades variáveis, o que também atua sobre os métodos historiográficos, os quais apresentam em si uma estrutura de experiência temporal28. A partir disto, Koselleck propõe três grandes tipos de história, ou de “condições minimais de métodos historiográficos”, que organizam seu modo de narração, de representação escrita e de tratamento metódico em função das estruturas temporais da experiência histórica: 1. a história que registra: trata dos acontecimentos primeiros, cujo caráter incomensurável é vivido como único; relata a singularidade dos eventos, as realizações e sofrimentos dos homens, tendo como motivo principal o ganho de experiência que convém lembrar. Neste sentido, aproxima-se do historismo em sua busca pela unicidade dos fatos históricos, das experiências originais que são julgadas dignas de registro. Pelo fato de contar ou escrever, 28 Cf. Ibidem, p.211-213. 35 constitui-se como uma história impregnada pela experiência direta do historiador, de onde a predominância disto que se chama história contemporânea ou crônica do presente. Contudo, não se trata apenas do relato de experiências, mas de colocá-las em questão mediante procedimentos de pesquisa, sem o quê não há método nem conhecimento. O único modo de converter cada experiência singular em conhecimento passível de sobreviver ao fato de origem consiste em interrogar explícita ou implicitamente como as coisas se passaram e como foi que se tornaram possíveis. Perguntar como uma realidade pôde dar-se e como pôde provar-se excepcional, como fazem os historiadores desde a Antigüidade, exige uma dupla abordagem, que opera a distinção entre os elementos detonadores de uma situação, que dão conta de um evento singular, e as causas relevantes da longa duração. As diversas camadas temporais determinam diversas modalidades de experiência, que por sua vez permitem a pluralidade de abordagens metodológicas. Todavia, há uma condição mínima, constante antropológica de todo método, base da argumentação sem a qual não há conhecimento histórico: a distinção temporal entre a singularidade das situações e as causas que remetem à longa duração. Dos deuses à ambição pelo poder, da fortuna às condições de produção ou determinações institucionais, os historiadores sempre buscaram princípios de experiência repetíveis, ou instâncias que garantem a repetibilidade das experiências e que permitem sua interpretação, encontrando na longa duração as causas estruturais que as tornaram possíveis29. 2. a história que desenvolve: uma vez que o acúmulo quantitativo não significa acréscimo de experiência – pois “os homens são esquecidos e facilmente tendem a tornar as coisas que viveram pessoalmente como a fonte única de sua experiência”30 –, para que este se proceda é necessário um método histórico que disponha o desenrolar diacrônico dos acontecimentos de forma sistemática. Este consiste na história que recopila e amplia histórias já existentes, organizando-as num quadro geral que permita uma visão de conjunto, com uma tendência à sincronização de diversos lugares e histórias particulares num mesmo todo, seguindo-se daí uma “história mundial”, como fez Políbio ao integrar a geografia de diversas províncias à história de Roma. Esta prática permite o desenvolvimento das comparações e dos paralelos como instrumentos de pesquisa, isto é, da busca dos elementos regulares estruturais inerentes a histórias semelhantes ou análogas. Decorre daí uma dupla leitura histórica, que considera o particular e o geral ao mesmo tempo, dada a projeção dos casos particulares num diagrama de desdobramentos históricos a mais longo prazo, sem que desapareça a particularidade do casos em questão. Essa dupla leitura, urdindo intrincamentos geográficos e concordâncias 29 30 Cf. Ibidem, p.215-220. Ibidem, p.220. 36 temporais, constitui a história como tal, pois “a tais abordagens corresponde um acréscimo real de experiência que se volatilizaria se não fosse transformado em conhecimento por um mínimo de método, e se não adquirisse, com isto, uma duração potencial”31. Assim, a história não é objeto de uma só transcrição, mas é recopilada e desenvolvida por ocasião de cada acréscimo de conhecimento, correspondente ao afinamento metodológico. 3. a história que reescreve: trata-se de um olhar crítico retrospectivo que reconstitui o que foi feito antes, opondo-se deliberadamente à história já relatada ou escrita e estabelecendo uma nova seleção e articulação de fatos. O ato da revisão e da reescrita resulta de mudanças experienciais em virtude de uma mutação do sistema e dos limiares epistemológicos no conjunto do capital da experiência, equivalendo a uma nova experiência histórica que se afirma, e se dá conforme as três durações que organizam os ganhos e perdas sócio-culturais. O modelo “clássico” de reescrita da história – o autor lembra a relação entre Tucídides e Heródoto – fundamenta-se no desencantamento com o quadro vigente, na análise estrutural e diacrônica, no modo como as vivências pessoais são assimiladas e na maneira, específica a novas gerações, de tratar as experiências multisubjetivas a partir de novas condições políticas e formulações lingüísticas. Segundo Koselleck, o dado antropológico prévio, que possibilita que se reescreva a história, é a consciência da contradição entre o real e sua interpretação32. A reinterpretação remete à procura de novos testemunhos, projetando novas luzes sobre a tradição, ao estabelecimento de novas questões e interrogações, com maior acuidade no trato das fontes, e à nova leitura dos testemunhos já existentes. Em geral, a reescrita da história será feita segundo os interesses existenciais e ideológicos dos vencedores ou vencidos nas contendas políticas, sendo que os primeiros tendem a se concentrar na curta duração para legitimar os eventos que lhes deram a vitória, enquanto os últimos dedicar-se-ão à longa duração para procurar provas que expliquem sua derrota imprevista. Desde modo, diz Koselleck, as perdas pessoais ou geracionais permitem, e permitiram ao longo da história ocidental, julgamentos, inovações de métodos e interpretações históricas capazes de conferir àquele singular ganho de experiência imposto aos vencidos – que consiste no aprendizado da derrota – uma existência durável33. 31 Ibidem, p.224. Cf. ibidem, p.229-230. Esta questão, hermenêutica por excelência, vai além do que Koselleck discute neste capítulo: a percepção desse hiato e as novas interpretações dependem também do horizonte de visão possível do historiador em sua época; os limites de seu olhar mudam conforme o acúmulo ou o decréscimo de experiência e conhecimento, pois isto delimita o que se pode ou não ver em cada momento histórico. 33 Cf. Ibidem, p.225-241. Pode-se observar no trabalho realizado por autores que deram configuração à “poesia marginal” dos anos 70, como Heloisa Buarque de Hollanda, Marcos Augusto Gonçalves, Carlos Alberto Messeder Pereira, o primeiro tipo de historiografia de que fala Koselleck, a história que registra, dá à luz uma 32 37 três trabalhos historiográficos acerca de experiências históricas34 Estas considerações teóricas de Koselleck encontram ressonância, e talvez tenham sido elaboradas justamente a partir disso, na forma inovadora ou peculiar como diversos historiadores trabalham suas temáticas. Em um capítulo intitulado “Tensão geracional e mudança cultural”, Schorske35 analisa a mudança na experiência e o conflito entre gerações criadoras da alta cultura em Viena, na passagem do século XIX para o XX, observando como o fracasso do liberalismo austríaco na era da unificação e depressão germânica, sobretudo na década de 1870, altera o que denomina de “centro geracional de gravidade dos criadores de cultura”. Uma definição de Dilthey para “geração” é útil ao autor, para quem as verdades eternas não se expressam de modo uniforme na vida histórica, sendo sucessivamente submetidas a alterações formais conforme as novas gerações experimentam novas condições sociais, políticas e econômicas: “[Uma] geração é constituída por um círculo restrito de indivíduos que estão ligados a um todo homogêneo por sua dependência dos mesmos grandes eventos e transformações que aparecem em sua época de [máxima] receptividade, apesar da variedade de outros fatores subseqüentes.”36 Marcados por um senso de identidade geracional e por uma tensão e mesmo hostilidade edipiana contra a derrota política dos seus pais liberais, os autodenominados Die Jungen (Os Jovens) do final do século XIX viveram situações de decepção com a geração anterior e com a sua própria, e por causa da desilusão trilharam um caminho de deriva existencial, despolitização ou recolhimento na vida psíquica – de onde o próprio Freud vai retirar as forças motrizes da psicanálise –, passando em muitos casos a romper com a história e a pensar sem ela: “a subordinação do social ao psicológico como arena onde se deveria encontrar o sentido foi a contribuição especial da geração dos Jungen de Viena à cultura liberal tardia.”37 A geração seguinte, dos jovens expressionistas, mostra menos coesão geracional e tensão edipiana, pois à sua revolta coube dar uma formulação final e drástica à experiência de desestruturação social e abandono psicológico que seus predecessores já haviam proclamado, como o fundamento possível do ser no mundo liberal em desintegração. experiência e a torna passível de conhecimento, ao passo que esta tese se incluiria no terceiro tipo, a história que reescreve, reinterpretando aquelas experiências desde outro ângulo. 34 Estes trabalhos/autores foram selecionados por sua importância para a análise do contexto histórico-poético que se seguirá. 35 SCHORSKE, C. Pensando com a história: indagações na passagem para o modernismo. São Paulo: Cia. das Letras, 2000, p.162-178. 36 Apud SCHORSKE, op.cit., p.177. 37 Ibidem, p.178. 38 Em E.P.Thompson se encontram algumas reflexões de cunho semelhante. Empenhado em compreender uma crise na cultura inglesa no século XIX – quando se configura a cisão entre experiência e linguagem “letrada”, por um lado, e “popular”, por outro, ao que se associa a difícil relação entre consciência intelectual e sentimento intenso –, o autor vê a primeira eclosão dessa crise no romantismo dos fins do século XVIII, quando, sob o impacto da Revolução Francesa, dos Direitos do Homem e das reivindicações políticas por igualdade, a idéia de subordinação cultural às tradições foi radicalmente posta em questão. Até então, o arcabouço cultural inglês se alicerçava numa espécie de paternalismo realista, que “presumia uma diferença qualitativa essencial entre a validade da experiência educada – cultura refinada – e a cultura dos pobres”, de modo que “a cultura de um homem, exatamente como seu prestígio social, era calculada de acordo com a hierarquia de sua classe”38. A visão de mundo romântica, especialmente a manifesta na criação poética, é um divisor de águas nesta tradição, afirmando-se, se nem tanto pelo que é dito, pela intensidade com que as coisas são ditas. Em Wordsworth, por exemplo, a frivolidade e vulgaridade dos “educados” são denunciadas e o sentimento de fraternidade universal, como uma sorte de transmutação em vida interior das reivindicações políticas da igualdade, o aproxima do homem comum, afastando-o da cultura refinada e da estrutura paternalista. Sua experiência o levou a uma crise intelectual, em que rejeitava as postulações iluministas abstratas e a psicologia mecânica de um Godwin, mas não o ardor republicano. Wordsworth, assim como Coleridge, foram colhidos no vórtice das contradições entre os ideais revolucionários e a realidade; haviam rompido com a cultura tradicional mas ficaram horrorizados com alguns aspectos da nova cultura, desejavam abraçar a causa do povo, mas receavam que a multidão se voltasse contra homens de seu tipo. Uma “busca de síntese em um momento de suspensão dialética; uma centelha de idéias que surge a partir dessa tensão”39 alimentou sua criatividade poética por algum tempo, enquanto o impulso criativo surgia da tensão entre uma aspiração ilimitada – por liberdade, razão, igualdade, perfectibilidade – e uma realidade agressiva e incorrigível. Assim, diz Thompson, não foi a desilusão, mas o conflito que os impulsionou; quando este foi substituído pelo completo desencanto político, sobreveio aos poetas um fracasso moral e imaginativo que os conduziu à apostasia, o que significa esquecer ou mutilar, por manipulação inadequada, a autenticidade da experiência existencial anterior. Interrogando o que aconteceu para tal, o autor os situa num contexto histórico mais limitado – recorrendo ao 38 THOMPSON., E.P. Os Românticos: a Inglaterra na era revolucionária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p.17. 39 Ibidem, p.56. 39 que chama de “fragmentos de tempo” que marcam a vida das pessoas e são instrumentos úteis aos historiadores – e encontra entre os anos de 1797-1798 e 1800 uma série de situações de desapontamento pessoal e político que conduziu os poetas jacobinos à capitulação diante da tradicional cultura paternalista. Gradualmente, estes homens desapontados foram empurrados para dentro de si mesmos, para a autocontemplação. Quando os ideais engendram seus opostos – a fraternidade, o fratricídio; a igualdade, o império; a liberdade, o liberticídio – e se perde a esperança de inserção em um mundo real comum a todos, então as aspirações se transformam numa espécie de fé interior invertida e a decepção engendra a interiorização. Contudo, este processo é uma faca de dois gumes, pois se pode permitir o aprofundamento da sensibilidade, também pode gerar um autocentramento nocivo, com o conseqüente declínio da capacidade de observação, menor receptividade ao mundo e maior obsessão com a perda da inspiração poética. O fato de a Revolução Francesa haver-se distanciado de seus próprios princípios produziu conseqüências traumáticas no jacobinismo internacional, e na Inglaterra pouca coisa sobrou além da derrota de um dos impulsos mais generosos da cultura ocidental. Derivou disso um padrão cultural em que a cultura humanista foi depreciada, as gerações seguintes das esquerdas caíram em precipitada rejeição do passado, os poetas se tornaram capazes de passar rapidamente a um repúdio irrefletido da política e do mundo sem propriamente sofrer as etapas de desencantamento anterior. De todo esse movimento poético romântico, dois impulsos se estendem pelo século XIX e XX, marcando a cultura européia: primeiramente, a valorização da experiência do homem comum, cuja possibilidade de igualdade repousa em atributos morais e espirituais, desenvolvidos mediante experiências no trabalho, no sofrimento e nas relações humanas básicas. O conhecimento que daí deriva é menos fundado em impulsos racionais e na educação formal do que num desenvolvimento calcado na experiência, o que levou os românticos a superestimar a sensibilidade e o sentimento em detrimento do intelecto, confundindo-os com o conflito entre educação letrada/refinada e a experiência. O segundo impulso envolve o conjunto de reações provocadas pelo medo do potencial revolucionário da gente comum, derivando tanto em ondas contra-revolucionárias quanto em movimentos de reformadores educacionais apoiados na disciplina social e na recuperação moral, passando pelas atitudes cerceadoras dos homens instruídos em relação aos hábitos e divertimentos tradicionais do povo. O temor ante as espontaneidades populares e a perda de controle social produziu políticas de educação, cultura e impostos voltados aos pobres, nutrindo o desejo de moldar o desenvolvimento intelectual e cultural do povo na direção de objetivos 40 predeterminados e seguros, da época vitoriana até hoje. Nenhuma das duas atitudes, porém, se mostra assaz conveniente e é necessário manter e ampliar um intercâmbio dialético40 entre educação letrada e experiência comum se quisermos conservar os ganhos culturais que as sucessivas gerações, a duras penas e a despeito de tudo, conquistaram. Preocupando-se justamente com estas questões, Carlo Ginzburg se dedicou a estudar parâmetros de conhecimento da experiência por parte da história. Já em 1986, no conhecido ensaio “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”, discutia o quanto o paradigma galileano havia, desde o Renascimento, impresso as ciências naturais com uma tendência antiantropocêntrica e marcado a epistemologia com a primazia das abstrações matemáticas e a exclusão da dimensão sensível dos odores, cores, sons, promovendo um “rasgo no saber” que só se alargaria com o tempo. A tradicional concepção de verdade, associada à autenticidade de uma experiência inimitável, e contrariamente, de falsidade atribuída à imitação/repetição – clara nas artes plásticas que valorizam o original em detrimento da cópia – foi invertida na modernidade: com a possibilidade de reprodução técnica, inicialmente com a imprensa, o caráter irrepetível das experiências sensíveis, bem como a singularidade irreprodutível das escritas individuais, foram postos sob suspeita como fonte de conhecimento em prol daquilo que é reproduzido e disseminado socialmente, e portanto, mais passível de mensuração e de significância social pela quantificação. Os traços individuais presentes na experiência singular põem em cheque o conhecimento científico rigoroso, visto que o saber individualizante é sempre antropocêntrico e alicerçado nos órgãos sensoriais. Especialmente o olhar, sobre o mundo e os outros seres humanos, é um canal privilegiado dessa experiência e conhecimento individuais e irredutivelmente qualitativos, no qual as disciplinas humanísticas, às quais estava vedado “o olho supra-sensível da matemática”, se mantiveram ancoradas a despeito de tudo. Assim, afirma Ginzburg, com base em sintomas e sinais, desenvolveram-se formas de saber indiciário que eram mais ricas do que qualquer codificação escrita; não eram aprendidas nos livros mas a viva voz, pelos gestos, pelos olhares; fundavam-se sobre sutilezas certamente não formalizáveis, freqüentemente nem sequer traduzíveis em nível verbal; constituíam o patrimônio, em parte unitário, em parte diversificado, de homens e mulheres pertencentes a todas as classes sociais. Um sutil parentesco as unia: todas nasciam da experiência, da concretude da experiência. Nessa concretude estava a força desse tipo de saber, e o seu limite – a incapacidade de servir-se do poderoso e terrível instrumento da abstração.41 40 41 Para as observações de Thompson, cf. especialmente p.25, 31-38, 41-44, 52-61, 89-98. GINZBURG, C. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”, op.cit., p.167. 41 Desde o século XVIII, porém, a experiência e os saberes qualitativos adquirem um novo estatuto, uma vez que a burguesia, em sua ofensiva cultural, apropria-se e codifica grande parte do saber, indiciário ou não, dos camponeses e artesãos, organizando uma coletânea sistemática desses “pequenos discernimentos”. Em especial, o romance fornecerá à burguesia um meio substitutivo, e uma espécie de rito de iniciação, de acesso à experiência em geral42. Isto alimentou, ao longo dos séculos XVIII e XIX, as novas formulações de antigas formas de conhecimento que incluíam o individual e o qualitativo – as quais, conforme o contexto, podem ser intituladas de venatórias, divinatórias, indiciárias ou semióticas –, compondo um novo modelo epistemológico de cunho mais concreto-descritivo do que abstrato-matemático, mais alinhado à tradição baconiana de ciência experimental43, e permitindo novos desenvolvimentos para as ciências humanas que, por lidarem com causas não reproduzíveis, só podem inferi-las a partir dos efeitos, como na psicanálise, na arqueologia, na paleontologia e na história, entre outras. Se este modelo concreto-descritivo-experiencial foi utilizado para elaborar formas sutis e minuciosas de controle social – como os sistemas de identificação de assinaturas ou registros policiais que serviram ao controle dos analfabetos e presidiários, acompanhando a tendência à criminalização da luta de classes44 –, ele também pode converter-se, ressalva Ginzburg num instrumento para dissolver as névoas da ideologia que, cada vez mais, obscurecem uma estrutura social como a do capitalismo maduro. Se as pretensões de conhecimento sistemático mostram-se cada vez mais como veleidades, nem por isso a idéia de totalidade deve ser abandonada. Pelo contrário: a existência de uma profunda conexão que explica os fenômenos superficiais é reforçada no próprio momento em que se afirma que um conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la.45 Por este motivo se desenvolveu, nos dois últimos séculos, uma literatura aforismática, que Ginzburg percebe de Nietzsche a Adorno, traduzindo-se como tentativa de formular juízos sobre o homem e a sociedade com base em sintomas e indícios: os de um mundo que está em crise, doente na dimensão individual e social. O resgate do valor da experiência e de formas de conhecimento que lhe sejam pertinentes possui, enfim, um forte conteúdo político cujo papel, seja no campo epistemológico ou pragmático, não convém à história esquecer. * 42 Cf. Ibidem, p.167-168. Cf. nota 79 referente ao capítulo, ibidem, p.269. 44 Cf. ibidem, p.172-173. 45 Ibidem, p.177. 43 42 Em suma, pesquisar a experiência histórica que se encontra testemunhada na poesia implica observar nos textos os diversos tipos de tempo e de experiência; os diversos vetores que se cruzam compondo o quadro delimitador das experiências possíveis para os indivíduos e grupos num determinado contexto sócio-cultural, tendo em vista que num espaço-tempo dado se cruzam vetores econômicos, políticos, éticos, sociais, estéticos, as tradições herdadas, as expectativas de futuro, e tantos mais. Portanto, tratar historicamente dessa experiência, quer priorizando a sensibilidade, quer o legado cultural da espécie humana, significa considerar o conjunto de situações que envolvem a relação dos seres humanos consigo mesmos e com o universo circundante, logo, as dimensões da espacialidade, da temporalidade (onde se inclui a memória), da sociabilidade (que abrange a linguagem em todas as suas formas) e, como desdobramento, a dimensão do aprendizado e sua expressão e transmissão. Deste modo, como ponto de condensação de situações vividas em diversos âmbitos, a experiência requer ser considerada nestas quatro dimensões interpenetrantes46: a) espacialidade: o local de situação do fazer poético, incluindo as imagens da cidade, da natureza ou cultura regional e do país. Inclui-se aqui a problemática pertinente à dimensão nacional da literatura e às fronteiras do fenômeno literário, a dialética do localismo e cosmopolitismo, da terra natal e do exílio, bem como o grande número de imagens poéticas e trabalhos críticos acerca da relação entre o poeta e a urbe, uma vez que a modernidade, sob a pena da figura exemplar de Baudelaire, introduziu as experiências da urbanidade no traçado poético. O tema diz respeito, igualmente, aos processos de criação de lugares e monumentos comemorativos, ao modo como os diferentes grupos sociais se relacionarão com eles, bem como aos desdobramentos culturais e afetivos promovidos pelas transformações dos lugares de memória ocorridas nas obras de modernização. b) temporalidade: diz respeito a todas as possibilidades de vivência temporal, a tradição como herança do passado, o presente cotidiano, os projetos de futuro ou sua falta. Portanto, inclui temporalidades diversas e que podem apresentar-se em inúmeras combinações nos textos: as três durações do tempo histórico e a cronologia; o tempo interno-psíquico do fluxo ou fragmentos de consciência; os tempos da memória; o tempo objetivo da ordenação social e o tempo físico da natureza. No contexto literário da modernidade, como apontado, foi marcante a valorização constante do novo, freqüentemente em detrimento da experiência acumulada pela tradição, do valor do passado e da memória social, mas não individual. Quanto à história recente, cabe 46 Faço aqui tanto um mapeamento conceitual quanto um levantamento de questões pertinentes à temática específica da pesquisa. 43 perguntar em que medida há uma mudança na relação dos sujeitos sociais, na figura dos poetas, com a temporalidade, apontando para a passagem de um tempo com perspectiva de profundidade, dada por linhas de horizonte no passado e no futuro, para um tempo imediato, apenas presente, achatado no agora, sem preocupações com as tradições, a memória coletiva e os projetos de futuro47. Com respeito a estes, interroga-se a experiência de derrota dos projetos utópicos, cujos desdobramentos se vêem em vários autores que tratam das ditaduras militares latinoamericanas, e a frustração dos projetos socialistas de revolução. É preciso indagar, igualmente, acerca da relação entre as manifestações estéticas da modernidade tardia e essa experiência de derrota; da crise das utopias estéticas e políticas e o abandono das discussões sobre a função social da arte, o que influi (e vice-versa) no modo como se dá a percepção do teor político dos textos e do poeta como agente histórico imerso numa formação coletiva e, ao mesmo tempo, capaz de inventar novas possibilidades e sentidos por meio de sua expressão, o que remete à dimensão da sociabilidade. Em decorrência, dois conjuntos de questões se colocam à análise: a) as conseqüências do sentimento coletivo de derrota: da (auto)censura e esquecimento à predominância simbólica da ironia e da melancolia na contemporaneidade; b) a tendência à presentificação e a perda da noção/sentimento de pertencimento a uma tradição coletiva, sua memória e seu legado, disso derivando certa espacialização e imediação da experiência em detrimento da profundidade temporal. c) sociabilidade: abrange o modo como as relações sociais se manifestam nos textos, em especial as questões da subjetividade/objetividade e individualidade/coletividade. Em grandes linhas, remete às experiências do pertencimento e da solidão, que por sua vez se desdobram nas temáticas da integração e rejeição do sistema social, da participação ativa ou contemplativa na dinâmica política etc. À guisa dos “quadros sociais da memória”, como uma moldura em que se movem as lembranças pessoais, de que falava Halbwachs, pode-se falar nos quadros sociais da experiência, fazendo desta, assim como da memória, um cruzamento de vivências que são simultaneamente individuais e coletivas. No que concerne à cultura contemporânea recente, duas questões demandam trato cuidadoso: a) a fratura do pertencimento e o paroxismo da vivência subjetiva, com a inclinação simultânea dos sujeitos ao narcisismo e à dissolução, e o decorrente processo de “intimidação” da voz lírica, que se torna tímida ante a esfera pública e se volta para o 47 Cf. PAZ, O., idem. Considerações teóricas sobre a relação entre tempo, poesia, memória e modernidade foram por mim trabalhadas no mestrado em literatura brasileira. Cf. VIEIRA, B. Itinerários da memória na poesia de Manuel Bandeira. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 1997. [mimeo]. 44 universo privado, gerando crescente desinteresse pela história e pela memória social; b) a deslegitimação do conceito de formação cultural, social e nacional, no contexto das sociedades de massas, o que tende a destruir valores éticos e empobrecer a vida pública como um todo. d) materialidade e imaterialidade da cultura: nas três dimensões anteriores, há uma possibilidade de experiência mais propriamente material ou mais simbólica (“espiritual”, como se costuma dizer na tradição hegeliana), assim como mais imediata e circunscrita ou em perspectiva temporal mais ampla, segundo a concepção de cultura que se esteja adotando. Tem sido bastante sublinhado, a partir da Escola de Frankfurt, o quanto se reduziu na contemporaneidade a compreensão e vivência da cultura a uma materialidade reificada, em que os valores de troca mercantil se sobrepõem a quaisquer outras formas culturais, dominando inclusive o mundo das manifestações simbólicas, delas retirando crescentemente o teor abstrato-espiritual, num processo que se traduz como a faceta cultural do capitalismo tardio e se agrava com o império das políticas neoliberais no mundo globalizado, a partir dos anos 1970. Neste contexto situa-se o problema do impacto da indústria cultural na literatura e do aprofundamento do processo de utilização do poema como mercadoria, cabendo analisar em que medida isto repercute sobre a qualidade do fazer poético e sobre a expressão de uma experiência humana por meio do poema – no sentido benjaminiano-adorniano, de uma experiência não reificada pela repetição mimética e maquinal do mundo mecânico e mercantilizado. Ao lado disto, situa-se também neste terreno o problema da perda da dimensão espiritual da cultura contida no conceito de formação (em relação com a Bildung alemã, ou a paidéia grega) e a conseqüente desvalorização do patrimônio cultural não material. Trata-se da dificuldade ou impossibilidade de restituir à cultura seu papel de qualificação da vida humana como tal. Para que o poema, como testemunho da mais sensível experiência humana, possa quem sabe ser, como queria o poeta Mario Quintana, como um gole d’água bebido no escuro, ferido de mortal beleza. 1.3. A poesia lírica como fonte Ao estudar as condições da história da linguagem, Pocock observa que não se separam a história da linguagem e a história da experiência, mas ambas se conectam, uma vez que as linguagens usadas por atores sociais produzem informação acerca do que essa sociedade experimenta, e podem ser vistas, na maior amplitude possível, como desdobramento dessa 45 experiência. Ainda que se atribua certo grau de autonomia à linguagem, isto não significa abstração com respeito ao vivido. Todavia, o fato de as linguagens se formarem ao longo do tempo, em resposta a muitas pressões internas e externas, não significa que sejam reflexo direto ou efeito denotativo da experiência do momento. Antes, a linguagem “interage com a experiência; proporciona as categorias, a gramática, e a mentalidade através das quais a experiência deve reconhecer-se e articular-se”48. Estudá-la permite ao historiador se inteirar de como os habitantes de uma sociedade puderam conhecer a experiência, o que foram capazes de conhecer e que repostas foram capazes de articular e, em continuação, efetuar. Ou seja, pode-se aprender o que se passou no discurso de modo articulado ao que passou na experiência. Mas ambos transformam-se, e o historiador sabe que as coisas sucedem aos seres humanos antes que estes possuam os devidos meios de verbalizá-las, bem como sabe que o processo de responder a novas experiências leva tempo e se decompõe em muitos outros processos com diferentes modulações e velocidades, de modo que a relação entre linguagem e experiência é ambivalente e problemática, exigindo que se observem diversos ângulos, tanto sincrônicos quanto diacrônicos. Dois tópicos são de especial utilidade para a compreensão desses processos: “a percepção de que o novo se leva a cabo no tempo e na forma de um debate sobre o tempo”49, de maneira que estes debates são boas fontes de informação, e a conseqüente constatação de que as linguagens de segundo grau – os discursos críticos, por exemplo –, em sociedades complexas o bastante para tê-las, também respondem à nova experiência com a realização de debates sobre os problemas que surgem em seu discurso. Assim, para compreender as experiências predominantes de uma época, bem como as novidades que introduzem transformações, a enunciação poética, sua fortuna crítica, e os debates que ambas – e outras disciplinas e instâncias, como a filosofia, o discurso jornalístico etc. – estabelecem sobre o tempo, no mais lato sentido do termo, e sobre seus problemas discursivos são fontes úteis ao historiador. Deste modo, vale trazer aqui algumas considerações específicas da crítica literária, para colocá-las em contato com a historiografia, buscando intercambiar estas duas formas de ler o mundo e trabalhar com o texto. As questões teóricas e metodológicas modernas, concernentes à relação entre poesia e história, inserem-se evidentemente no amplo leque dos diálogos entre literatura e história, mas por definição centram-se nas discussões sobre o que é específico à linguagem poética-lírica, 48 Cf. POCOCK. Historia intelectual: un estado del arte. In: Prisma. Revista de historia intelectual, Buenos Aires, n.5, p.145-173, 2001. p.168. 49 Ibidem, p.169, grifo meu. 46 isto é, o caráter peculiar de sua mímese, digamos mais “apresentativo” que representativo, e o problema da legitimidade da voz subjetiva, individualizada – característica distintiva da lírica quanto à épica e ao drama – como testemunho sócio-histórico. Em última instância, trata-se da problemática originária da verdade dos testemunhos artísticos, discutida desde Tucídides, Platão, Aristóteles, mas com as renovações necessárias de sua roupagem moderna e contemporânea. a questão do real e do imaginário: o problema da referencialidade e da mímese De modo resumido, as visões predominantes na crítica literária a respeito da peculiaridade do dizer poético o distinguem das formas prosaicas e narrativas por ser uma forma de expressão intrinsecamente polissêmica, reiterativa e mais próxima da dimensão vivencial, visto que busca diminuir a distância entre a palavra e a experiência a que se refere. Desde Platão, a despeito de suas ressalvas à poética, diversos autores concebem a linguagem poética como linguagem inaugural, no sentido de primordial, pelo que mantém da relação entre a palavra e a dimensão originária da experiência. No século XVIII, Giambattista Vico concebeu uma história da linguagem dividida em três momentos sucessivos e recorrentes, indo da expressão motivada para o signo institucional: a era divina, a era heróica ou poética e a era civil-racional. Comentando a obra de Vico, Alfredo Bosi50 aponta como se instaura, nos tempos mitopoéticos, uma conaturalidade entre palavra e cosmos, configurando interjeições, onomatopéias, metáforas, metonímias e fábulas antropomórficas que guardam, entretanto, sua lógica peculiar de transformações internas ditadas pela imaginação. A relação pouco convencional e polissêmica que assim se estabelece entre significante, significado e referente sofrerá um processo de ajustes e restrições, à medida que se consolidam as praxes semânticas do sistema social e se estabilizam as normas de comunicação, para se adequar à produção dos universais abstratos ou gêneros lógicos, que marcam o saber das eras ditas racionais. Buscando entender a natureza da linguagem poética, cuja ordem imanente reúne os sentidos, a memória e a imaginação, Vico assume a hipótese de que os tropos classificados pelos retóricos, metáfora, metonímia, antonomásia, etc., seriam modos necessários e primeiros de explicação, de modo que o falar do verso seria anterior ao falar da prosa. Deriva daí uma concepção teórica da poesia como linguagem múltipla que se abre ao dinamismo da expressão motivada primordial: sendo por si só conotativo e polissêmico, o uso poético da 50 Cf. BOSI, A. O ser e o tempo da poesia, p.202-215. 47 linguagem abarca modos diferentes de significar, desde o selvagem/sacral – que irrompe no gesto, no tom, no olhar, no corpo que fala –, passando pelo mitopoético de teor analógico, até o institucional, unívoco e denotativo. A convivência que Vico postula de sistemas assimétricos de expressão na poesia, segundo Bosi, é a base dos traços de ambigüidade, desvio e estranhamento que as teorias de hoje conferem à palavra poética. Sob essa convivência, a diversidade da expressão é dada, entre outras coisas, pela relação mais ou menos íntima que estabelece com a experiência primeira, que se pode chamar de dimensão vivencial, o hálito e o ritmo da existência, dos pequenos movimentos da vida que, em silêncio, fazem os passos do tempo. Para Ricoeur51, esta realidade pré-conceitual a que todos pertencemos originalmente é o ser referente de toda linguagem – uma dimensão experiencial que constitui uma reserva ou excesso de sentido, cujas potencialidades semânticas jamais se deixam esgotar pelas tentativas humanas de nomeação –, e a linguagem poética articula essa referência antepredicativa e pré-categorial, capaz de dar expressão a modos de ser que a visão comum oblitera, suspendendo os valores referenciais da linguagem ordinária e científica. De modo semelhante se constituem as concepções de Bosi e Octávio Paz sobre a linguagem poética. Nas palavras de Paz, a poesia lida com o paradoxo fundamental da linguagem, com o fato de que “a realidade é irredutível à palavra e, no entanto, somente a palavra a exprime”52. Por isso, mesmo que tudo já tenha sido dito, o poeta retoma o ato originário de criar através do verbo, buscando superar a insuficiência da palavra e apresentar a “essência viva” das coisas. Por meio da imagem, o poeta busca recuperar a riqueza original da palavra, a vida das palavras, a palavra viva, e esta volta da linguagem à sua natureza fundamental é o primeiro ato da operação poética. Mais do que servir-se das palavras, o poeta é aquele que sabe como servi-las, devolvendo-as ao seu estado original de pluralidade de sentidos, dada por seus valores plásticos e sonoros, afetivos e significativos. A linguagem em si, por conseguinte, tem natureza polissêmica e poética, e a poesia é a operação lingüística de retorno a esta sua condição, de (re)construção do estado “natural” da linguagem, de imersão nas águas originais da existência, da inseparável existência do homem e da palavra. No dizer de Bosi53, a diferença é constitutiva do signo e, conseqüentemente, a distância que se coloca entre a palavra e a coisa está inscrita desde sempre na língua. A linguagem não é filha da plenitude e da unidade, mas da falta e do desejo de suprir a ausência, existindo a 51 Cf. RICOEUR, P. A metáfora viva, passim. Cf. PAZ. O arco e a lira; especialmente p.31, 58 e 133. 53 Cf. BOSI, A. O ser e o tempo da poesia, p. 21-29, 61 e 114. 52 48 poesia justamente em função dessa distância. O modo imagístico e o modo discursivo de acesso ao real se reúnem na poesia para presentificar o mundo, sendo que à imagem é permitida a simultaneidade das coisas, a representação da estabilidade das figuras ou da espacialidade das cenas, enquanto o modo encadeado do dizer discursivo, extensivo no tempo, vai urdindo gradualmente os significados. No texto poético, por conseguinte, o discurso serial busca a imediatez da matriz “atemporal”, mediante a constituição de imagens através de jogos de reiterações e analogias: a recorrência, que nos distrai da consciência do tempo e da contradição, que são presos à serialidade, torna-se ferramenta da memória; as figuras de linguagem, por sua vez, como procedimentos que evocam aspectos materiais e sensíveis do referente, contribuem para observarmos a relação sensível do homem com o mundo. O modo poético de falar das experiências vitais do homem ficou na “memória infinitamente rica da linguagem” como um modo que subverte o senso comum, uma vez que o belo poético é o que deixa entrever, pela novidade da aparência, o originário e o vital da essência. Nessa perspectiva, conclui Bosi, a instância poética parece tirar do passado e da memória seu direito à existência; não de um passado cronológico puro – o dos tempos já mortos –, mas de um passado presente cujas dimensões míticas se atualizam no modo de ser da infância e do inconsciente. A épica e a lírica são expressões de um tempo forte (social e individual) que já se adensou o bastante para ser evocado pela memória da linguagem.54 O jogo temporal que as composições poéticas realizam permite um entrelaçamento dos tempos que vem a remodelar a fixação moderna no tempo só futuro ou só presente. Diz Octavio Paz que a modernidade é uma época para a qual o homem é tempo, e essa temporalidade quer “contemplar-se a si mesma”: por isso o homem se imagina e, ao se imaginar, se auto-revela. Partindo da situação humana original e de sua precariedade, dada por sua contingência e finitude, qualquer que seja o conteúdo expresso do ato poético, ele é mais que uma interpretação da existência humana, pois é uma revelação de nossa condição original: “O poema nos faz recordar o que esquecemos: o que somos realmente”.55 Para diversos críticos literários, portanto, há uma íntima relação entre poesia e a condição humana. Schiller dizia que o conceito de poesia “não é outro senão o de dar à humanidade a sua expressão mais completa possível”, pois que a arte pode ser expressão de uma natureza humana plena, concebida como desenvolvimento de todas as suas 54 55 Idem, p.112. PAZ, O. O arco e a lira, p. 165-183. A citação encontra-se na p.133. 49 potencialidades, racionais e sensíveis56. Distante do contexto romântico de Schiller, o olhar de historiador contemporâneo de Paul Zumthor vê a poesia como um discurso social diversificado, porém homogêneo e coerente em suas profundezas, que “engloba e representa todas as práticas simbólicas do grupo humano”, por ser eminentemente “uma arte da linguagem humana, independente de seus modos de concretização e fundada sobre estruturas antropológicas profundas.”57 Isto se explicaria pelo fato de a poesia, ainda segundo Bosi, poder ter – mas nem sempre, como qualquer realização humana – a virtude de instigar nas pessoas uma consciência mais aguda do mundo, do outro, de si mesmas: Projetando na consciência do leitor imagens do mundo e do homem muito mais vivas e reais do que as forjadas pelas ideologias, o poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela. E aproximando o sujeito do objeto, e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta função de suprir o intervalo que isola os seres.58 Deste prisma, retoma-se a função social da poética, de pôr em relação sujeitos e mundo. É assim que Merquior – de maneira paralela, mas menos “essencialista” – vê a poesia lírica atravessar, no quadro de racionalização da vida que caracteriza a cultura ocidental moderna, um processo crucial em que adquire autonomia intelectual, passando a interpretar a realidade por conta própria, sem subordinação às correntes filosóficas da época. Na visão do autor, isto que seria um amadurecimento da reflexão lírica permitiu que a poesia do século XX alcançasse penetração problematizadora, configurando-se como uma “poesia do mundo”, voltada a uma interpretação do real que muitas vezes se fez contra a corrente geral, em resposta às transformações sociais e culturais do Ocidente, bem como ao quadro interno do discurso artístico59. Esta poesia seria ainda uma resposta contemporânea ao que Weber chamava de “desencantamento do mundo” trazido pela modernidade. Se, como pensa Luís Costa Lima, o racionalismo instrumental moderno é tão restritivo que restringe até mesmo o campo dos sentidos possíveis e acaba por instituir o controle do imaginário, num processo que inibe a liberdade da imaginação e a criatividade das composições mnêmicas e artísticas60, então a poesia se torna um bastião de “descontrole” do imaginário ao buscar a constante pesquisa formal e ao trabalhar com procedimentos construtivos de imagens e sentidos. 56 SCHILLER. Poesia ingênua e sentimental, p.61 e notas de Márcio Suzuki, p.122. ZUMTHOR, P. A letra e a voz. p.147; e Performance, réception, lecture. p.13. 58 BOSI, A. O ser e o tempo da poesia, p.192. 59 Cf. MERQUIOR. Formalismo e tradição moderna, p.56-64. 60 Cf. LIMA. Pensando nos trópicos, p.58, 74-76. 57 50 As duas últimas visões apontam para um certo teor político da linguagem poética, no sentido de sua capacidade de “resistência” às ingerências estéticas, ideológicas e históricas como um todo, do contexto de produção e recepção da poesia. De modo diverso se apresenta a concepção de mímese, no início da obra de Adorno. Segundo o estudo de Gagnebin, acerca do conceito em Benjamin e Adorno, este e Horkheimer teriam partido da censura política de Platão à poiesis, da psicanálise e da etnologia para caracterizar a mímese como um comportamento regressivo, uma vez que promove a identificação entre sujeito-objeto, isto é, para se liberar do medo e se salvar de perigos, o sujeito renuncia a se diferenciar do outro que teme para aniquilar a distância ameaçadora e, ao fazê-lo, desiste de si e se perde, num mecanismo de identificação perversa. A razão ocidental teria nascido da recusa desse tipo de pensamento mítico-mágico, que em última instância também ameaça o processo de construção e formas civilizatórias, sendo por isso simultaneamente prazeroso e perigoso61. A civilização ocidental, dizem estes autores, havia substituído a magia pelo trabalho e pela reflexão, mas não conseguiu erradicar de todo a lembrança originária da mímese arcaica, que se manteve de modo recalcado e eventualmente retorna, quando o medo/prazer de retorno ao amorfo engendra em determinados momentos históricos uma regressão coletiva, cujo exemplo mais acabado é o fascismo, quando a identificação social e dissolução dos sujeitos, dadas pela repetição automatizada e inconsciente por parte dos indivíduos de comportamentos marcados pela reificação, à maneira anímica dos rituais das sociedades primitivas. A concepção adorniana sofrerá inflexões, no final de sua obra, diz Gagnebin, quando o autor, a partir de um diálogo com Benjamin e do desenvolvimento de sua “dialética negativa”, vê a possibilidade de uma mímesis redimida que escapa tanto à magia quanto à regressão, indicando uma dimensão essencial do pensamento, metafórica e lúdica, quando capaz de manter a distância e a delicadeza exigidas pelo mais profundo respeito à alteridade62. A filosofia benjaminiana, por sua vez, desdobraria uma teoria da mímese que é simultaneamente uma teoria da linguagem, com base na idéia aristotélica de que o homem não apenas reconhece como produz semelhanças, reagindo àquelas já existentes no mundo. Como estas mudam no decorrer do tempo, a capacidade mimética também mudará, de modo que as leis de similitude se transformam historicamente: havendo determinado outrora o saber da astrologia, da adivinhação, das práticas rituais, não chegaram a desaparecer na maneira de pensar abstrata e racional do mundo moderno, mas se refugiaram e concentraram na 61 A idéia de dissolução prazerosa é desenvolvida por Freud, de onde os autores a retomam. Cf. GAGNEBIN., “Do conceito de mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin”, in: op.cit., p.81-104. 62 O tema será retomado no cap.7. 51 linguagem e na escrita. Benjamin tenta pensar a semelhança ou correspondência, não como uma comparação entre elementos iguais, mas sim como “uma relação analógica que garanta a autonomia da figuração simbólica”63, de modo que a atividade mimética funciona como uma mediação simbólica, não se reduzindo è mera imitação. A imagem de um relâmpago, que ilumina e desaparece num instante doador de sentido, caracteriza, além da linguagem, a experiência histórica, em que se mantém uma dimensão mimética da relação entre passadopresente, pois – se pensamos o tempo pleno, já mencionado, e não a cronologia linear – as semelhanças afloram e permitem a reconfiguração de ambos. Deste conjunto de concepções, a poesia sai pronta a dialogar com a história. Justamente por sua especificidade como forma de expressão, organiza sentidos sobre o real e para o real, muitas vezes sentidos até então inéditos, dada sua capacidade de estranhamento do mundo conhecido, abrindo sendas para novos possíveis. Constituindo imagens fundadas na experiência, no tempo-espaço vivido e na memória, a linguagem poética contribui para tornar significativo o mundo; a organização sensível do conhecimento que daí advém é compreensível para o leitor em virtude de um repertório cultural compartilhado, de uma experiência prévia do mundo e seus signos, permitindo a interpretação. Neste ponto em especial, como aponta Schorske, reside o interesse do historiador que, diferentemente do crítico literário, não busca tanto na poesia seus aspectos formais autocontidos, mas sua significação, observando o poema em sua relação com outros objetos numa série temporal. A análise da particularidade do objeto-poema interessa até o ponto em que fornece elementos para tecer um padrão coerente de mudança histórica64. Não se trata de cair na dicotomia forma/conteúdo, mas de priorizar o aspecto significativo e significador da linguagem poética, como instância de revelação – ou ainda melhor, de testemunho – seja da condição humana em geral, seja das mais diversas situações e experiências humanas, no plano real ou imaginário. De maneira um pouco diversa, Lemaire destaca o caráter histórico do texto literáriopoético que, visto como mise-en-forme da realidade, apresenta uma verossimilhança, imaginável, imaginária ou imaginada do fato estudado; como processo de organização da realidade, oferece uma coerência, na qual se podem descobrir relações e conexões entre os dados representados, isto é, oferece a plausibilidade de uma significação possível, que talvez se traduza melhor no que “poderia ter sido” do que propriamente “no que foi”65. As palavras 63 GAGNEBIN, idem, p.98. Cf. SCHORSKE. Pensando com a História, p.242. 65 Cf. LEMAIRE, L. O mundo feito texto. In: LEMAIRE, L. e DE DECCA, E. Pelas margens. p.9-11. 64 52 da historiadora nos remetem à discussão da poética aristotélica, a respeito da mímese artística, de sua verossimilhança e caráter geral em contraponto à particularidade da história: o que aqui vemos, entretanto, consiste num movimento de inversão desta lógica, fazendo a história se voltar para o geral e o verossímil poético, a engendrar outras possibilidades de diálogo com seus objetos. Do ponto de vista da historiografia, o que está em jogo é eminentemente o problema da referencialidade ao real, desdobrando-se em dois eixos temáticos, sobre os quais se debruçaram inúmeros autores: as indagações sobre o referente das diversas linguagens, aí incluída a da história, e sobre a abrangência do conhecimento histórico, sua particularidade ou universalidade. Koselleck, debatendo o problema dos conceitos históricos, tece sugestões que em diversos momentos se aproximam das discussões filosófico-literárias acima mencionadas: se não há experiência, não há palavra ou conceito; todo termo tem um referencial histórico, de modo que a experiência humana, histórica por definição, é o referente último de toda linguagem. Os conceitos históricos, assim, mantêm uma relação tensa com seu conteúdo, com aquilo que se quer tornar inteligível e compreender. Com o objetivo de “dar conta das experiências de vida”, o historiador as identifica com a “história concreta” e estipula a necessidade de separar e analisar cuidadosamente a diferença entre esta e as afirmações lingüísticas presentes nas fontes textuais, para as quais se pergunta então o que indiciam em relação à história concreta. O próprio conceito de história é, assim, “altamente sofisticado do ponto de vista teórico, capaz de articular experiências individuais numa totalidade abstrata”, pelo motivo de que contém tantos aspectos sincrônicos, relativos a situações temporais e espaciais específicas, quanto aspectos diacrônicos, relativos à longa duração, de modo que “a compreensão de fatos históricos únicos demanda o estabelecimento de relações múltiplas com outros fatos, constituindo-se num todo altamente agregado de partes, cuja inteligibilidade escapa à experiência individual particular”.66 A concepção de Koselleck aponta para uma visão de história que supera qualquer unilateralidade e a situa num campo de articulação dialética entre diacronia e sincronia, particular e geral, experiência e linguagem conceitual. Esta articulação se torna ainda mais fundamental em se considerando que a tensão entre o real e sua interpretação é constitutiva não só da reflexão historiográfica, como também da própria experiência histórica. Em outros termos, esta tensão estaria presente em três níveis: na experiência concreta e cotidiana dos sujeitos sociais, ou seja, naquilo que vivenciam; na experiência da linguagem, também 66 KOSELLECK, R. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.5, n.10, 1992. p.143. Cf. também p.135-36 e 145. 53 cotidiana, em que estes sujeitos elaboram o que vivem, como sentem e vêem o que foi experimentado, estabelecendo uma interpretação sensível, no que se insere a dicção poética; na experiência historiográfica, em que a linguagem interpretativa de teor conceitual e racional busca compreender e explicar os níveis anteriores, articulando-os. De forma esquemática, pode-se imaginar estes níveis como as três partes de um triângulo ou cone: A) na base, o nível dos acontecimentos, o chamado real, da materialidade do mundo e da efetividade das relações sociais, que existe por si objetivamente, sem sentido ou razão teleológica obrigatória, a história-vivida que os alemães denominam Geschichte; B) no meio, o nível da ordem simbólica, das representações lingüísticas e artísticas, dos sentidos e imagens constituídos pelos sujeitos sociais para refletir-se no mundo e refletir sobre os acontecimentos. Composto de discursos e composições imaginárias, muitas vezes em fragmentos, constitui um nível também real, porque também vivido, compartilhado e experimentado, mas consiste em um outro teor de realidade e experiência, talvez menos tangível. É prioritariamente subjetivo na sensibilidade, na apreensão dos fatos, na interpretação imaginativa e na atribuição de sentidos, racionais ou não; mas tem a objetividade do que é comum, socialmente compartilhado, e a objetividade necessária para o historiador, que o trata como objeto; C) por fim, no topo, o nível da historiografia, que quer conhecer o acontecimento objetivo de (A) e atribuir-lhe sentido histórico; quer conhecer as representações imaginárias e simbólicas de (B) e compreender suas articulações, funções e porquês; e conhecer também as construções da própria historiografia, consistindo na Historie alemã. Neste esquema, portanto, o nível (A) apenas acontece; o nível (B) remete a (A) e circunstancialmente a si mesmo; e o nível (C) remete obrigatoriamente aos dois anteriores e a si próprio67. C B A 67 Esta esquematização em forma de triângulo que proponho não pretende estabelecer níveis de importância, mas uma diferença qualitativa nas relações de experiência-linguagem, até mesmo em função do número de pessoas que as articulam. Em recente entrevista, Fernando Novais formulou algo semelhante: “Toda esfera de existência pode ter vários níveis de realidade. [...] a história trata sempre de todos os níveis de existência, não só de um”. Não que o historiador precise tratar todos os níveis em seu trabalho, mas é atento a eles porque está em busca de reconstituir acontecimentos humanos, e não só fenômenos econômicos, ou políticos, ou religiosos em separado. “A história, porque quer reconstituir, sempre fala da totalidade.” NOVAIS, Fernando. No meio do caminho, uma colônia. Nossa História, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional/Vera Cruz, ano 1, n.6, abr. 2004. Entrevista. p.55. 54 Imersa no segundo nível de realidade e experiência, a linguagem poética se revela rica fonte textual para a história pela referencialidade que comporta, dizendo respeito tanto a experiências humanas concretas, sensíveis e objetivas, e por isso reais, quanto a experiências simbólicas e representativas, também elas reais. Em recente entrevista, o escritor uruguaio Benedetti ilustra esta questão ao responder porque se dedica tanto à poesia nos últimos tempos: Sinto-me mais cômodo, sou mais eu mesmo. A poesia é o gênero no qual o escritor intervém com sua vida. Os outros gêneros são ficção; a poesia, não. [...] Na poesia, o que se inventa é a forma, se adota uma ou outra forma para dizer a verdade. Às vezes o soneto funciona melhor, às vezes o verso livre.68 Invertendo a preocupação platônica, a verdade poética é reafirmada como uma expressão do real. Claro está que não se trata de considerar a representação poética como espelho dos acontecimentos – questão já por demais contestada nos meios literários e já incorporada pelas discussões historiográficas69 –, mas de compreender que a mímese, ainda que transformadora, contém em si e é por si mesma uma experiência humana significativa e necessariamente histórica, uma vez que suas condições de realização, material e imaginária, são delimitadas pelos horizontes de possibilidade de um tempo-espaço. Logo, não se espera que o poema tenha obrigatoriamente que “refletir” o real, nem falar diretamente da história ou da vida social, mas que – por ser uma linguagem de aguda sensibilidade – permita uma compreensão de vivências históricas, mais cotidianas ou menos, a partir daquilo que Raymond Williams procurou definir mediante o conceito de “estrutura de sentimentos”, ou estruturas de sentido, remetendo a “significados e valores tal como são vividos e sentidos ativamente, e as relações entre eles e as crenças formais ou sistemáticas”70, que, como parte de um processo social vivo, emergem de uma relação tensa entre sentimento e pensamento, e de todos os fatores constitutivos entre si. As estruturas de sentimento se articulam mediante as 68 69 BENEDETTI, M. [Entrevista]. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 jul. 2003. Ilustrada, p.E6. A imagem ótica da “refração”, em oposição ao “reflexo”, já proposta por Bakhtin, é retomada por diversos historiadores. Ver, p.ex. BURKE, P. A história social da linguagem. In: A arte da conversação. p.40, e GINZBURG, C. Introdução. In: Relações de força. p.44. A própria escrita da história, na expressão de Ginzburg, é um espelho distorcido da realidade, que cabe ao historiador reconhecer e ajeitar o melhor possível. Burke, por sua vez, considera a participação da linguagem na construção social da realidade e da sociedade mesma, sem contudo discutir suficientemente os limites disso, pois construir o real é diferente de interpretar ou imaginar o real. Como a linguagem constrói o real? Se é interpretando e imaginando, trata-se então de um tipo específico de criação simbólica e imagética, o que nos remete à discussão dos distintos níveis ou tipos de realidade. 70 WILLIAMS, R. Estruturas de sentimento. In: Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p.130-137. Citação da p.134. O termo “estrutura de sentidos”, que aparece no topo da página deste capítulo, da tradução brasileira de Waltensir Dutra, talvez seja mais explicativo do que o já consagrado “estrutura de sentimentos”. Isto provavelmente decorre do termo inglês “sense” designar ambas as coisas, que em português são um pouco diferentes. 55 formas e convenções artísticas, concebidas como elementos inalienáveis do processo material social, em que todas as relações estão “engrenadas e em tensão”. Nas palavras de Williams: Uma definição alternativa seriam as estruturas de experiências: num certo sentido a melhor palavra, a mais ampla, mas com a dificuldade de que um dos seus sentidos tem o tempo verbal do passado, que é o obstáculo mais importante ao reconhecimento da área da experiência social que está sendo definida. [...] uma experiência social que está ainda em processo, com freqüência ainda não reconhecida como social, mas como privada, idiossincrática [...]71 É em virtude disto que as imagens poéticas construídas nos textos podem ser lidas como indícios da sensibilidade de uma época, ou seja, a percepção poética – o que a poesia sente, vê, ouve, lembra, afirma e nega, isto é, capta, transforma em sua linguagem específica e manifesta como belo ou como “digno”72 de ser selecionado como matéria de poesia, registrado e tornado memorável poeticamente – pode ser concebida como experiência histórica num dado contexto. Contudo, como todas as linguagens e fontes históricas, o texto poético se insere numa tradição ou cruzamento de tradições, que cada época e cada estilo legitima ou não, afirmando ou silenciando os conteúdos experienciais, valorativos ou formais precedentes, estabelecendo filiações e rupturas que cabe ao historiador investigar e interpretar no seio da cultura que lhe cabe historiar. O olhar do poeta, assim, é um testemunho sensível de tempos históricos – quer o passado das tradições, quer o presente da experiência em curso, quer o futuro dos projetos utópicos, estéticos ou políticos – para o olhar do historiador. testemunho, testimonio e teor testemunhal O trabalho de Marcio Seligmann-Silva – História, Memória, Literatura: o testemunho na era das catástrofes – busca não apenas compreender como operam as formas testemunhais de pessoas que viveram experiências históricas de grande violência, como também formular o testemunho como um conceito, que designa ora um tipo específico de gênero literário, relativo especialmente à América Latina, ora uma função ou elemento literário partícipe de diversos gêneros, sempre alocado entre a literatura e a história. Duas significações básicas contribuem para a formação do conceito: o sentido jurídico, e por derivação histórico, derivado do latim testis, o “terceiro” que viu ou participou de um fato e é capaz de assegurar sua veracidade; e o 71 Ibidem, p.134. Grifo do autor. Estas considerações se coadunam perfeitamente à poesia aqui em questão, convergindo para observações feitas na época pelo poeta-crítico Cacaso, como se verá. 72 Recorro aqui a uma bela imagem de Pierre Nora, acerca daquilo a que é conferida a “dignidade do memorável”. 56 sentido de superestes, “sobreviver”, passar por um evento-limite como quem “atravessa a morte”, o que conforma uma experiência radical que problematiza a relação entre a linguagem e a realidade, pois “não existe discurso que esgote a dor, [...] não existe explicação para a animalização do homem”73. Configura-se, em decorrência, uma forma de escritura do trauma em que se mesclam o estranhamento com o vivido e seu recalque a uma imperiosa necessidade de narrar e, paradoxalmente, de calar, pois se tem consciência da impossibilidade de construir um sentido coerente para o horror experimentado, e conseqüentemente, de transmitir ao outro a realidade daquilo que foi. Deste modo, continua o autor, o conceito de testemunho possibilita uma nova abordagem do fato literário, ao levar em consideração a especificidade da experiência (o “real”, em suas palavras) que o originou, bem como as modalidades de marca, rastro, índice que essa experiência imprime na escritura. Diferentemente da concepção jurídica de testis, que precisa eliminar qualquer sentido de ficcionalidade, a literatura de testemunho reivindica que não se elida sua relação com as ações humanas e o mundo extraliterário, pois tenta justamente resgatar o que há de mais terrível no real para apresentá-lo. Como a fronteira entre ficção e realidade histórica não é claramente delimitável, o testemunho subjetivo precisa freqüentemente dos recursos literários. No entanto, é mister esclarecer, ficção não significa mentira, mas a especificidade da verdade estética, assim como a narração e a construção do real não são o mesmo que mera invenção: Na literatura de testemunho não se trata mais de imitação da realidade, mas sim de uma espécie de ‘manifestação’ do ‘real’. É evidente que não existe uma transposição imediata do ‘real’ para a literatura: mas a passagem para o literário, o trabalho do estilo e com a delicada trama de som e sentido das palavras que constitui a literatura, é marcada pelo ‘real’ que resiste à simbolização. Daí a categoria do trauma ser central para compreender a modalidade do ‘real’ de que se trata aqui. Se compreendemos o ‘real’ como trauma – como uma ‘perfuração’ na nossa mente e como uma ferida que não se fecha – então fica mais fácil de compreender o porquê do redimensionamento da literatura diante do evento da literatura de testemunho.74 Isto não quer dizer que se deva “psicanalisar” a literatura, diz o autor, mas de compreender que o testemunho, reunindo testis e superestes, traz uma reivindicação de 73 SELIGMANN-SILVA, M. (org). História, Memória, Literatura. O testemunho na era das catástrofes, p.15. O testemunho na literatura e a escritura do trauma são desenvolvidos por diversos autores neste livro. Acompanho aqui os raciocínio do próprio Seligmann, que, mais do que uma análise de casos, efetua organização teórica do tema, nos seguintes artigos: Introdução; Apresentação da Questão; Reflexões sobre a memória, a história e o esquecimento; O testemunho: entre a ficção e o “real”; Catástrofe, história e memória em Walter Benjamin e Chris Marker: a escritura da memória. 74 Ibidem, p.386-387. Ver também p. 40, 378, 379, 385. A literatura de testemunho exige igualmente o redimensionamento da historiografia, o que também é discutido por Seligmann em outros momentos. Note-se que o autor dialoga com as principais correntes modernas e pós-modernas, não se inserindo propriamente em nenhuma delas, de onde a novidade de seu trabalho. 57 verdade, a qual diversas vezes confere à ficção o caráter de documento. Se o estabelecimento da relação entre texto e mundo histórico depende da leitura realizada, o que inclui críticos e historiadores, o comprometimento com a experiência real que é intrínseco ao testemunho exige de todos, autores e leitores, um compromisso ético para com a experiência passada a ser formulada75. Tal compromisso, porém, não se refere apenas à veracidade histórica, mas igualmente à qualidade da mímese realizada, ao modo de tratar os problemas da representação. A tendência ao realismo e ao documental é fortemente presente na tradição literária latino-americana, onde, desde início dos anos 60, a reflexão sobre a função testemunhal da literatura sofreu uma inflexão em direção à conceitualização de um novo gênero literário propriamente dito: a literatura de testimonio76. Em linhas gerais, esta é marcada pela “tradição documental” que se constituiu em reposta à história violenta da América Latina, encontrando no romance realista e nos textos jornalísticos os recursos expressivos mais afeitos à denúncia pretendida, sobretudo a partir do momento em que as ditaduras militares se implantam, elevando a violência a um grau inusitado, como já dito. A estreita ligação que então se estabelece ente literatura e política, verdade e práxis, faz que o sujeito testemunhal funcione como sujeito coletivo, traduzindo por meio de sua “voz” – oral ou escrita, ou oral mediada por um outro que escreva, dado o índice elevado de analfabetismo na região – a verdade de todos. O tom quase jurídico que essa literatura adquire a vincula ao testemunho no sentido etimológico de testis, o que se tem mostrado típico de produções literárias efetuadas durante e 75 Esta discussão é desenvolvida pelo autor no artigo O testemunho: entre a ficção e o ‘real’, tendo por base a comparação entre testemunhos verdadeiros e falsos, isto é, obras ficcionais que se apresentaram – ou foram assim interpretadas – como memórias verídicas da Shoah ou traduções, como Les Chansons de Billits, de Pierre Louis (1895), Fragmentos, de Binjamin Wilkomirski (depois revelado Bruno Doessekker, 1995), Yossel Rakover dirige-se a Deus, de Zvi Kolitz (publicado diversas vezes em periódicos entre 1946 e 1965, só tendo sido aceito como ficção no final da década de 50, quando Levinas o legitima como “beu et vrai, vrai comme seule la fiction peut être”). Cf. ibidem. p.382-384. Vale lembrar o texto ficcional de Luciano de Samóstata, em fins do Império Romano, apresentado como um relato historiográfico, para se perceber a longa trajetória da discussão sobre os limites entre literatura e história. Quanto à afirmação da leitura como ato que conclui a compreensão da relação entre texto e mundo, a Teoria ou Estética da Recepção tem desenvolvido bastante este estudo, aqui apenas mencionado rapidamente. 76 Seligmann mostra como, nesta época, o teor testemunhal ainda era pensado como idêntico ao documental e só gradualmente se firmou a noção de um gênero, institucionalizada a partir de 1970, quando a revista Casa de Las Américas, de Cuba, criou o Prêmio Testimonio Casa de las Américas e a literatura chilena de resistência e exílio realizou um colóquio em que o gênero foi definido, como uma modalidade de contra-história, visando à denúncia e à busca de justiça. As categorias teóricas e os problemas do testimonio são discutidos por SELIGMANN, op.cit., p.34-35; 83-85, e por Camillo Penna (neste mesmo livro, p.355-374), no artigo “Este corpo, esta dor, esta fome: notas sobre o testemunho hispano-americano”. Seligmann observa em nota que a literatura brasileira não tem sido contemplada pela teoria do testimonio que se desenvolveu na Hispano-América. No mesmo período, pensava-se no Brasil prioritariamente a teoria do romance e suas relações com o realismo. Daí sua opção em manter em espanhol o termo testimonio, afirma ele, acrescentando que a teoria da literatura ainda tem o enorme desafio de pensar o teor testemunhal na literatura brasileira. Cf. nota 32, relativa à Introdução, p.424. 58 logo após eventos histórico de ruptura77. Entretanto, isto não exclui as características do testemunho daqueles que atravessam experiências traumáticas e vivem a dificuldade de sua expressão. Por isso, Seligmann-Silva propõe a noção de “teor testemunhal” como denominador comum dos dois conceitos, de testemunho e testimonio, uma vez que as características fundamentais são as mesmas, permitindo paralelos estruturais, semânticos e históricos, no sentido de uma moldura histórica assemelhada, residindo o diferencial nas abordagens analíticas que ambos propiciam78. É este teor testemunhal que nos permite compreender o significado de uma série de elementos literários, poéticos ou prosaicos, surgidos no Brasil nos anos 70 para tratar da experiência histórico-subjetiva sob a ditadura militar. Enfim, sob estes auspícios teóricos, especialmente do “testemunho e do “teor testemunhal”, o cruzamento de olhares, de horizontes de visão, entre o historiador e o poeta pode, quem sabe, contribuir para a configuração de uma paisagem – a da interpretação historiográfica justaposta à interpretação poética da experiência, com direito a todas as luzes e sombras, cores e sons que compõem as possibilidades do existir humano – em que a poesia seja também histórica e a história também poética. a questão da relação subjetividade-objetividade-coletividade Este segundo eixo é concernente à validade da voz individual como testemunho histórico, uma vez que a lírica se caracteriza por uma enunciação individual e subjetiva. A questão torna-se especialmente pertinente na modernidade, quando o gênero lírico adquire destaque, acompanhando a afirmação da individualidade que foi traço marcante do período. Estudando A Poesia de Brecht e a História, Leandro Konder busca compreender como o poeta representava a história de seu tempo, o seu presente como história79, e para tal acaba por estabelecer um mosaico de observações e constatações que nos permitem ir compondo o quadro desta relação entre o indivíduo-poeta e a história de seu tempo: percebendo que há coisas historicamente essenciais que dependem dos indivíduos, o poeta não estava isolado, pois o sentimento que expressava era similar ao de muitas outras pessoas, de modo que, debruçando-se sobre si mesmo, procurava analisar desde sua própria experiência o processo 77 Cf. Ibidem, p.40. Cf. ibidem, p.30. 79 O objetivo do autor não é um estudo biográfico, mas analisar as tensões presentes nos poemas, a percepção da história que se expressa na poesia; atenta, portanto, às imagens, às representações, tanto da história que o poeta queria conhecer criticamente, quanto de uma história que ele ansiava por inventar. Cf. KONDER. A Poesia de Brecht e a História, p.12-14. 78 59 da construção de um ser humano, atento ao movimento contraditório pelo qual os sujeitos individuais e a sociedade simultaneamente se constituem. Konder reafirma a dialética da formação individual-social: uma vez que o sujeito adulto que adquire consciência da sua subjetividade é alguém que toma decisões, suas escolhas determinam seu modo peculiar de se inserir no mundo, sendo um desafio para os sujeitos individuais confirmar ou recusar os valores da classe social em que se vêem inseridos. Assumir-se, ajustar contas consigo, questionar sua própria autenticidade são atribuições existenciais e imperativos éticos que não se podem delegar à coletividade alguma. No poeta, a dimensão da solidão convive com a sociabilidade, à moda kantiana de conceber o homem (moderno) como um ser “social insociável”80, que existe em sociedade mas existe se individualizando, um ser social que não se dissolve na sociabilidade. A dimensão social, portanto, não atenua mas instiga a individualidade que, por sua vez, pressupõe decisivamente o social. Assim, embora o velho Goethe considerasse que toda poesia é poesia de circunstância, a elaboração da linguagem, social por definição, dá à lírica seu caráter coletivo. Nas palavras de Konder: o poeta trabalha suas vivências e lhes confere uma forma capaz de lhes atribuir densidade significativa. Transfigura suas sensações, seus sentimentos, elevando-os a um plano no qual outras criaturas podem se reconhecer neles. Realiza, portanto, um movimento universalizador que parte sempre da circunstância para transcendê-la na linguagem.81 Na dinâmica histórica em que efemeridade e duração se alternam, o que faz alguns poemas sobreviverem, preservando sua eficácia poética, não é o fato de estarem pretensamente situados acima ou fora da história, mas de passarem pelo teste de serem submetidos a novas leituras, reavaliações, reinterpretações, e conseguirem sensibilizar novos leitores em novas circunstâncias. Portanto, diferentes instâncias se articulam na obra poética, formando um movimento complexo, marcado tanto por rupturas significativas quanto por recorrências sistemáticas, de valores, comportamentos, ideais etc. A poesia lírica, historicamente o gênero literário que abre espaço para o testemunho inédito de cada personalidade e, simultaneamente, do seu tempo, apresenta a vantagem de constituir um espaço de liberdade de pensamento, de espontaneidade para expressão de sentimentos indefinidos – sejam hesitações, impressões caóticas, cismas, perplexidades, sensações gratuitas, fantasias “inexplicáveis” do indivíduo 80 81 Cf. Idem, p.102. Idem, p.87. 60 contraditório – em oposição às crispações doutrinárias que poderiam constranger um poeta engajado como Brecht. Um conjunto de questões similares preocupa Gadamer, que se indaga acerca da necessidade ou possibilidade da arte na civilização contemporânea – se há ainda tempo e lugar para a arte numa época em que por toda parte se vê desconforto com a vida social, em uma sociedade de massas anônimas, e que demanda urgentemente o restabelecimento de verdadeiras solidariedades. Perguntando se a arte poética é ainda possível, se mantém o poder e a possibilidade de criar comunicação social, o autor busca o substrato que ainda permite o “espírito comum” ser expresso em versos, ou como se dá a relação entre o verso e o todo82. Gadamer parte de uma questão geral, que diz respeito diretamente à temática aqui em pauta: na composição do gênero lírico, não se encontra propriamente o eu do poeta, mas uma voz em que o eu de todos nós se reconhece, o mesmo ocorrendo para o tu a quem o eu se dirige, um “tu” que são todos. Isto porque o poeta sempre lida ansiosamente com a questão de obter, ou não, que da profundeza da experiência humana, sedimentada na linguagem, eleve-se e perdure a palavra radiante que ilumine tudo, o poema. Logo, aquilo que o poeta capta tem um alcance para além da experiência poética particular: O poeta é o arquétipo do ser humano. Esta é uma das metáforas centrais mais poderosas dos tempos modernos. Portanto, o mundo que o poeta capta [...] também representa a essência de experiência humana possível. Isto permite que o leitor seja o eu do poeta, porque o poeta é o eu que todos nós somos.83 Assim, o poema é uma expressão de todos; ler, dizer, ouvir versos é entrar em uma relação em que cada qual tem sua parte a fazer para que o poema seja completo. No ensaio “Lírica e Sociedade”, Adorno retoma estas questões e estabelece uma espécie de síntese dialética que tem sido fundamental para a crítica contemporânea: como já indicado, as formações líricas trazem simultaneamente algo de social e de pessoal, pois o conteúdo de um poema lírico não é mera expressão de emoções e experiências individuais, dado que estas só se tornam artísticas, tomando forma especificamente estética, quando “adquirem participação no universal”. Tampouco a poesia é mero reflexo da sociedade, pois a sua referência ao social revela, ao contrário, algo do fundamento de sua qualidade, de sua essencialidade: 82 Gadamer vai encontrar este elemento comum na “discrição indescritível” de que falava Rilke, a voz poética cada vez mais discreta que é preciso saber ouvir. Cf. Are the poets falling silent? e The verse and the whole. In: MISGELD e NICHOLSON (ed). Hans Georg Gadamer on education, poetry and history, NY: State of University New York Press, Albany, 1992. p.75-79. 83 Idem, p.77. 61 Não que aquilo que o poema lírico exprime tenha de ser imediatamente aquilo que todos vivenciam. Sua universalidade não é uma volonté de tous, não é a da mera comunicação daquilo que os outros, simplesmente não são capazes de comunicar. Ao contrário, o mergulho no individuado eleva o poema lírico ao universal porque põe em cena algo de não desfigurado, de não captado, de ainda não subsumido, e desse modo anuncia, por antecipação, [...] o universal humano. Da mais irrestrita individuação, a formação lírica tem esperança de extrair o universal. [...] Essa universalidade do conteúdo lírico, todavia, é essencialmente social.84 Preocupando-se em manter e defender a complexidade da relação entre arte e sociedade, o autor explica porque o pensamento está autorizado a perguntar pelo conteúdo social da arte: porque a composição de linguagem, intrínseca à arte, é por definição social e ideológica, e porque “a própria solidão da palavra lírica é pré-traçada pela sociedade individualista”, a qual promove a individuação com tal intensidade que vem alimentar, inversamente, a postulação de validade universal do lírico. Então, para se estabelecer uma interpretação social da lírica, é preciso pensar não apenas a obra de arte por dentro, mas também a sociedade fora dela – e sendo a sociedade considerada como um todo contraditório que aparece na obra artística, é necessário mostrar em que aspectos esta a obedece ou a ultrapassa. Assim, para Adorno, a obra de arte participa da ideologia não tanto por escamotear interesses particulares, mas por deixar falar aquilo que a ideologia esconde, e nisto reside sua grandeza. A própria exigência de individualidade feita à lírica é em si mesma social: a idiossincrasia do espírito lírico se deve à reificação dominante no mundo moderno, configura um protesto contra um estado social hostil em que se sente a coisificação do mundo, uma reação ao valor dominante da mercadoria sobre os homens que se difundiu e apoderou da vida desde a revolução industrial. Na concepção adorniana, a subjetividade da voz lírica é, então, expressão de um eu em oposição ao coletivo reificado, e o animismo que se lhe associa é a mediação de quem busca restabelecer a perdida unidade com a natureza. Aquilo que sugere ausência de ruptura, unidade e harmonia nas formações líricas atesta seu justo contrário: o amor e o sofrimento por uma existência alheia ao sujeito. Deste modo, o espírito subjetivo da poesia lírica é a materialização de uma relação histórica – “exatamente o não-social no poema lírico seria agora seu social”85 –, sem que se perca a espontaneidade individual. Considerando-se, como já fizera Hegel, que o individual é mediado pelo universal e viceversa, a resistência às pressões sociais não é um fenômeno estritamente individual, mas impelido por forças de conjunto que se resolvem artisticamente através do indivíduo e sua espontaneidade. 84 ADORNO, T. Lírica e sociedade. In: Textos Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1980.p.194. (Os Pensadores). Grifos meus. 85 Idem, p.197. 62 Pode-se falar, então, em conteúdo lírico como “conteúdo objetivo em virtude da subjetividade que lhe é própria”, pois o afastamento do gênero lírico em relação à superfície social foi historicamente motivado, além de ter sido permitido pela duplicidade da função da linguagem, que se presta à configuração de emoções subjetivas, garantindo a preeminência e o retorno sobre si mesma da forma lingüística na lírica, ao mesmo tempo em que mantém “a referência irrenunciável ao universal e à sociedade”. É assim que a linguagem estabelece uma mediação intrínseca, se cabe a expressão, entre lírica e sociedade. Longe de anular-se ou sacrificar-se a um ser abstrato (Adorno é contra as teorias ontológicas que “absolutizam” a linguagem, conforme se vê em Heidegger e Staiger86), o sujeito está presente e soa na linguagem, pois a espontaneidade de sua expressão e seu auto-esquecimento – quando ele se põe ao dispor da linguagem como de algo objetivo – conformam, em última instância, um mesmo movimento: O instante do esquecimento de si em que o sujeito submerge na linguagem não é o sacrifício dele ao ser. Não é um instante de violência, nem sequer de violência contra o sujeito, mas um instante de conciliação: só é a própria linguagem quem fala quando ela não fala mais como algo alheio ao sujeito, mas como sua própria voz. Onde o eu se esquece na linguagem, ali ele está inteiramente presente [...] No poema lírico o sujeito nega, por identificação com a linguagem, tanto sua mera contradição monadológica à sociedade, quanto seu mero funcionar no interior da sociedade socializada.87 Para além da dicotomia que contrapõe indivíduo e sociedade, portanto, pode-se ver na poesia lírica subjetiva a expressão de “uma corrente subterrânea coletiva”: participar dessa corrente subterrânea é inerente à substancialidade da lírica individual. O diálogo da poesia lírica com a história, assim, é passível de ser palmilhado, sem que a interpretação trate da psicologia ou da ideologia do poeta, mas sim “do poema mesmo tomado como relógio solar histórico-filosófico”88 de um tempo-espaço. Tendo por alicerce esta metáfora, da consideração do texto lírico como medida de instâncias que também são sociais, porta de acesso a experiências humanas plausíveis, na voz de um sujeito poético que responde pela relação que um sujeito muito mais amplo e coletivo mantém com uma realidade social complexa, é possível pensar a incorporação da poesia lírica no conjunto de fontes para a história, dada sua participação no processo de instauração de imagens e sentidos que constituem o mundo simbólico e a memória social, no contexto do(s) imaginário(s) da modernidade. 86 Neste ponto o pensamento de Adorno difere de alguns autores acima apresentados, como Bosi, Gadamer e Ricoeur, que estão mais próximos da concepção heideggeriana de linguagem. 87 ADORNO, idem, p.199. 88 Idem, p.201-2. 63 Desse conjunto de concepções, por fim, depreendem-se alguns pontos centrais para uma metodologia qualitativa da história. Todas apontam para a interação dialética entre os âmbitos individual e coletivo, entre subjetividade e objetividade, de modo que o indivíduo pode ser visto como cruzamento de experiências cotidianas ao mesmo tempo subjetivas e sociais, solitárias e coletivas, únicas e comuns. Por sua vez, a objetividade, tão desqualificada hodiernamente, sobretudo em certas leituras pós-modernas, pode ser compreendida como aquilo que é socialmente compartilhado, ou seja, não uma objetividade dada pela natureza humana ou dos objetos, que fala por si, mas em virtude do que é comum a todos, seja a dimensão da condição humana historicamente condicionada, sejam os valores e visões de mundo implícitos aos comportamentos dos sujeitos sociais, sejam as ingerências econômicas, políticas e institucionais herdadas e reatualizadas. Trata-se, como discute Gadamer, do fenômeno do “pertencimento” que se traduz como o fator-tradição que interfere no comportamento histórico e nas antecipações – noções, conceitos e pré-conceitos – que todos compartilhamos e que nos permite divisar um “significado unitário”, mas não unívoco, para os acontecimentos, no sentido de referência comum às coisas, o que resulta para o historiador numa relação de tensão entre a familiaridade e a estranheza que seu objeto lhe oferece89. Assim, ao largo da questão da genialidade, que foi bastante tratada pelos românticos, as obras poéticas, como obras artísticas, são frutos também de um trabalho coletivo, de várias tradições que se entrecruzam entre si e com as novas tendências que se abrem a cada novo tempo. O poeta, como todo artista, compartilha com seus contemporâneos as tradições e desejos de renovação que caracterizam uma sensibilidade de época. Deste modo, também o trabalho poético expressa uma relação tensa entre uma sensibilidade individual e a que constitui o substrato cultural geral, tanto do criador quanto do receptor da arte. Igualmente, as mudanças que ocorrem nas formas poéticas correspondem a algum tipo de sensibilidade social em transformação que cabe à história investigar. Em especial, considerando que a experiência histórica está presente na expressão poética, que por sua vez nela se embebe, num movimento complementar e dialético, pode-se buscar, nos textos poéticos utilizados como fonte, particularmente indícios – quem sabe “um perfume de florestas/de cedros ou diamantes esquecidos?” – sobre a experiência humana do tempo histórico contemporâneo ao poeta, a história conforme vivida por aquele que se manifesta poeticamente, mediante as imagens poéticas que traduzam os debates sobre o tempo-espaço, as curtas e longas durações, e a relação do sujeito poético-social com seu mundo circundante. É então como “antena”, 89 Cf. GADAMER, H.G. Esboços dos fundamentos de uma hermenêutica. In: O Problema da consciência histórica, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p.59-67. 64 “sismógrafo”, “relógio solar” ou amostra qualitativa deste processo que a poesia serve à historiografia à maneira de uma esfinge, uma fonte confiável desde que se saiba decifrá-la – como de resto ocorre, aliás, com todos os tipos de fonte. 65 Excurso: Para Ler a Experiência Histórica no Brasil nos Anos 1970 Tratar historicamente da experiência significa considerar o conjunto de situações de ser e estar no tempo-espaço do mundo, as ingerências relacionais, circunstanciais e estruturais que isto pressupõe, e buscar os sentidos criados para os sofrimentos e alegrias que isto implica. É compreender a condição do homem imerso na existência, abrangendo desde os aspectos mais cotidianos e comuns aos mais sublimes ou espantosos; dos mais corporais aos mais etéreos, abstratos ou espirituais, para lembrarmos apenas algumas designações do que há de impalpável na experiência. Esta, quer como sensibilidade, intelecção ou como legado cultural da espécie humana, envolve a relação – escolhida ou não, mais consciente ou menos, mais traumática e recalcada ou menos – das pessoas com o universo circundante, logo, as dimensões da espacialidade, da temporalidade (onde se inclui a memória), da sociabilidade (que abrange a linguagem em todas as suas formas) e, como desdobramento, a dimensão do aprendizado e sua expressão e transmissão. Pesquisar a experiência histórica que se encontra testemunhada na poesia implica observar nos textos os diversos vetores que se cruzam, compondo o quadro delimitador das experiências possíveis para os indivíduos e grupos num determinado contexto sócio-cultural, tendo em vista que num espaço-tempo dado se cruzam vetores econômicos, políticos, éticos, sociais, estéticos, as tradições herdadas, as expectativas de futuro, e tantos mais. A leitura ou interpretação da experiência, entretanto, é inexoravelmente efetuada segundo perspectivas que são também elas históricas, isto é, mediante instrumentos conceituais disponíveis em cada época e mais correntes conforme satisfaçam mais ao gosto estético, às demandas de ideário e imaginário, ou ao rigor teórico que quer adequar os conceito à realidade. Nos anos 60 e 70, no Brasil, predominaram – na leitura das fontes literárias aqui em questão – ao menos cinco grandes meios de configuração conceitual das visões de mundo e explicação do vivido: a teoria marxista; a psicanálise freudiana; o existencialismo sartriano; o formalismo e estruturalismo90; o pensamento frankfurtiano, além da análise literário-sociológica de Antônio Cândido, que seguia um caminho original. Às vezes se embatendo em virulentas polêmicas, que se faziam sobretudo nas revistas culturais e nos poucos suplementos literários da imprensa que haviam restado, às vezes se mesclando em visões sincréticas, estas perspectivas forneciam aos artistas e intelectuais os recursos 90 Formalismo e estruturalismo apresentam convergências e distinções, mas foram freqüentemente confundidos e são aqui tratados conjuntamente por concentrarem-se ambos nas estruturas formais. 66 interpretativos para sua leitura de mundo e, conseqüentemente, para a discussão de seu lugar social e do significado de sua obra. O existencialismo teve grande prestígio no país entre os anos 50 e meados dos 60. Afirmando-se no período entre-guerras, e sobretudo após a 2ª. Guerra Mundial, a filosofia da existência (Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Camus etc.) expressa e faz ver a situação histórica de uma Europa dilacerada física e moralmente, manifestando a crise do otimismo romântico que havia dado, por todo o século XIX e início do XX, o sentido da história em nome da Razão, do Absoluto, da Idéia ou da Humanidade, fundamentando valores estáveis e um progresso incontível. Enraizado no movimento fenomenológico que marcou decisivamente a filosofia contemporânea, o existencialismo propunha a análise das relações da existência com o mundo das coisas e o mundo dos homens, considerando que a existência não deve ser deduzida a priori, mas conforme se manifestam as variadas formas de experiência humana efetiva. Na formulação sartriana, que tanto marcou o mundo intelectual, inclusive o brasileiro, neste período, não há um ser, entendido como essência definida, com sentido ou destino estabelecido, que preceda a existência humana, mas ao contrário, esta existência gratuita, de um indivíduo “lançado” no mundo e continuamente dilacerado por situações problemáticas ou absurdas, só adquire sentido(s) a partir daquilo que este indivíduo fez ao longo de sua vida com base em suas livres escolhas. Contudo, se nas primeiras obras de Sartre a liberdade e a responsabilidade são absolutas – não estando o homem sujeito a qualquer determinismo, é condenado a cada instante a inventar a si mesmo –, a partir de Crítica da Razão Dialética e da Revista Temps Modernes, quando Sartre modifica a tese da liberdade em resposta à crítica dos marxistas, passam a ser discutidos os condicionamentos da liberdade pessoal: tanto a liberdade dos outros quanto as situações objetivas, que dependem estritamente da realidade social e histórica, constituem limites que é preciso considerar. Assim, as condições materiais de existência circunscrevem o campo das possibilidades do homem e este não se define mais por sua liberdade apenas, mas por suas possibilidades; o campo do possível é o objetivo a atingir, ultrapassando as condições objetivas91. Some-se a isto a figura de Sartre como intelectual engajado, atuante na esfera pública francesa e internacional, e certa transformação do existencialismo em moda, na medida que influenciava comportamentos e atitudes, não apenas como filosofia, mas também literatura e teatro, em que se questionavam as virtudes, as paixões, a má-consciência e qualquer forma de sentido já 91 SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. In: Jean Paul Sartre. São Paulo: Abril Cultural, 1987. (Os Pensadores). E também REALE, G. e ANTISIERI, D. História da da filosofia: antigüidade e idade média. São Paulo: Paulus, 1990. v. 3. p. 553-612. 67 pronto para a existência. Resultava uma recepção ambígua por parte do público que, por um lado encontrava nesta corrente elementos para a elaboração das questões existenciais e políticas então prementes e, por outro, escandalizava-se com o que considerava desengano com o ser humano, imoralidade e dissolução de costumes, inaceitáveis para um certo tipo de intelectual, alguns conservadores, de direita ou esquerda. De fato, ao questionar os progressos da história ocidental e problematizar a consciênciaracional e a liberdade, os sartrianos obtiveram a reação também da teoria marxista, que por sua vez operava um movimento de renovação nos anos 60. Tendo em vista os esforços de reatualização do marxismo e do movimento comunista internacional – em contraposição ao stalinismo e à imposição das concepções zdanovistas à cultura –, ao lado da situação específica da esquerda brasileira, derrotada e perseguida sob a ditadura militar; da crítica à experiência frustrada dos CPCs92; do combate às tendências de comodismo ou de “desvario” irracionalista na sociedade, jovens intelectuais comunistas (Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, Michael Löwy, entre outros) introduziram Lukács no pensamento brasileiro, tornado-o referência obrigatória nos debates e resgatando um veio hegeliano do marxismo. Refugiados na crítica literária, reestudavam a literatura com novo ângulo crítico e pensavam temas da realidade brasileira. Opondo-se às visões mecanicistas, os lukacsianos recusavam a relação direta entre a base econômica da sociedade e a produção cultural, destacando a implicitude entre texto e contexto e o papel central da forma na arte, uma vez que só através desta se realiza efetivamente a matéria artística, como também a experiência aliás, pois tampouco podem ser desprovidas de forma a sensibilidade, a memória ou a observação. Deste modo, a visão formal do artista é um fator da vida espiritual que opera em continuum com o 92 Esta crítica inclui o pensamento isebiano que – calcado nos conceitos de alienação e situação colonial, aos quais se opunha o nacionalismo em luta contra o imperialismo, e propondo um programa objetivo de desenvolvimento nacional – fundamentava os CPCs e se havia disseminado a ponto de se tornar senso-comum nos anos 50 e 60. Cf. ORTIZ, R. Alienação e cultura: o ISEB. e Da cultura desalienada à cultura popular: o CPC da UNE. In: Cultura brasileira e identidade nacional. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.45-67 e 68-78, respectivamente. Vale lembrar que também se configurou como crítica ao pensamento político e ideológico do ISEB a teoria da dependência, desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso, Enzo Falleto e posteriormente, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, modificando a tradicional leitura das possibilidades de transição do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, uma vez que as classes dominantes nativas dos países latinoamericanos não seriam vítimas da imposição imperialista, e sim sócias menores do capital internacional, de modo que uma superação da situação de subdesenvolvimento não exige apenas a conquista da autonomia nacional, mas também a ruptura das relações internas de dominação. Para os pensadores da cultura que seguem esta linha, se a dependência é um fator historicamente constitutivo das sociedades latino-americanas, a “racionalidade de suas ordens institucionais significativas” atinge o processo cultural, cuja compreensão não pode então prescindir desta teoria. Esta visão, embora não unânime nas esquerdas, está presente em alguns dos autores aqui considerados, como Cacaso, Roberto Schwarz, Heloisa Buarque de Hollanda. Cf. BRITO [Cacaso]. Tropicalismo: sua estética, sua história. In: Não quero prosa. Org. e seleção: Vilma Arêas. Campinas/Rio de Janeiro: UNICAMP/UFRJ, 1997, p.139-152. Publicado originalmente na Revista de Cultura Vozes, ano 66, v.LXVI, nov. 1972. 68 modo como ele se coloca diante das coisas da vida e é por elas afetado. Igualmente estava em jogo a busca de suporte teórico para a defesa de uma concepção complexa do realismo e do valor da razão, compreendidos como herança cultural humanista, em oposição ao irracionalismo que grassava, na sua opinião, com a filosofia existencialista e, posteriormente, nos anos 70, com o formalismo e estruturalismo. No entanto, neste quadro, deixavam-se de lado questões importantes, como a liberdade individual, o inconsciente, os problemas comportamentais, o feminismo, as minorias etc., que preocupavam a juventude e a nova esquerda. No período pós-68, o realismo dialético lukacsiano perderia espaço para as correntes estruturalistas, incluindo sua versão marxista, com as proposições de Althusser, as quais rompiam com o legado hegeliano e suas derivações. No final dos anos 70, com a descompressão política, uma nova mudança de foco redefinia o olhar e a militância dos marxistas, que incluíam agora o pensamento de Gramsci, o qual lhes parecia permitir interpretações mais maleáveis e propícias à reflexão especificamente da esfera política que se reabria, prescindindo de sua vinculação com a reflexão sobre a cultura, tão necessária nos tempos mais sombrios da ditadura93. Todavia, jamais se deixou de defender o engajamento político do intelectual e do artista, o que derivava no debate correlato das questões da alienação, da desistência e da mudança de opção ideológica ou comportamental, na época considerada como capitulação ao “desbunde irracionalista” ou ao subjetivismo. O problema dizia respeito também à voga do estruturalismo nos anos 70. Observando que todo modismo responde a algum tipo de necessidade, social stictu senso ou artíticaliterária, Costa Lima aponta como o estruturalismo, ao construir modelos a-históricos e enfatizar o conhecimento da “máquina do texto” em suas diversas combinações, acabou por servir de “pretexto para o apoliticismo de seus praticantes”, num momento que a paranóia se apossara do país, onde a tortura, a delação e a insegurança eram constantes cotidianas. LéviStrauss partira do formalismo russo (Jakobson, Trubetzkoy) e da lingüística de Saussure para pensar as estruturas lógicas presentes em toda sociedade ou cultura, independentemente de suas construções racionais, aquém da história e da consciência individual. Estudando o mito, o antropólogo localiza uma lógica inconsciente, uma espécie de infra-estrutura formal que estabelece o desenho de todas as relações sociais. Isto o levou a pensar o inconsciente para além do parâmetro freudiano, em que é visto como produto de recalques e repressões sofridos pelo indivíduo, ampliando-o para identificá-lo com um enquadramento lógico e natural, sobre 93 Cf. FREDERICO, C. A presença de Lukács na política cultural do PCB e na universidade. In: MORAES, J. Q. (org). História do marxismo no Brasil, v.2. Campinas: Unicamp, 1995, p.193-222., e também COSTA LIMA, L. A análise sociológica da literatura. In: Teoria da literatura em suas fontes. 2.ed. Rio de Janeiro: F.Alves, 1983, p.105-133, ver especialmente, p.122-126. 69 o qual se fundam as instituições humanas. Regras inconscientes, portanto, estruturam a própria rede sintática (relacional), condicionando a língua e todo tipo de linguagem e pensamento, o que conduziu autores como Barthes, Todorov e Greimas a partir em busca de uma gramática geral da narrativa e dos elementos estruturantes dos discursos – Barthes, por exemplo, dizia que a língua é sujeição, não pelo que nos impede de dizer, mas pelo que nos obriga a dizer94. Com isto, rompe-se com a leitura semântica tradicional, de corte hermenêutico ou empírico, que considera ser o processo de atribuição de sentido realizado intencional e individualmente. Ao contrário, porém, a interpretação semântica apreendida pelo exame da organização estrutural-sintática revela elementos inconscientes alheios à intenção autoral e ao receptor que crê reviver o propósito do autor. Em decorrência, questionava-se também o processo de seleção e interpretação dos fatos operados pela historiografia tradicional e, por conseguinte, a sua objetividade. Entretanto, ao abrir fogo contra a história linear e factual, problematizando a questão sempre crítica da consciência histórica, os estruturalistas fecharam as alternativas à compreensão da historicidade, e não chegaram a resolver satisfatoriamente as próprias indagações formais que levantaram. Deste modo, a moda estruturalista no Brasil cumpria um papel especial – não isento de severas críticas por todos, fossem os conservadores (as demonstrações complicadas e o jargão especializado substituíam as leituras intuitivas e esmagavam o prazer); a direita (o indivíduo perde o rosto e a espiritualidade nas formações sistêmicas); ou a esquerda (a crítica centrada na obra minimizava a função social e raramente alcançava articular bem a sociedade e o texto) –, qual seja, o papel de acompanhar a própria função da literatura que se modificara. No caso brasileiro, o poeta tradicionalmente via sua rebeldia neutralizada em nome da aceitação pela classe dominante, o estado-mecenas, os padrinhos, a carreira pública, a cátedra, quando então se cumpria como cultor da língua e formulador dos sentimentos nacionais. Contudo, a racionalização capitalista e seu uso utilitário do tempo deslocaram este lugar do poeta, tornando a literatura um instrumento como outro qualquer. Ante a perda de seu prestígio e a necessidade de se sustentar por si só, os literatos têm que estabelecer sua função contra as funções legitimadas pela sociedade capitalista, assumindo uma postura de negatividade. É deste modo que “o favor que o estruturalismo em literatura recebeu está ligado ao 94 BARTHES, R. Aula. 6.ed. São Paulo: Cultrix, 1992, p.14. Para toda a discussão sobre estruturalismo, cf. COSTA LIMA, L. Estruturalismo e crítica literária. In: op.cit., p.217-254. Segundo Costa Lima e Silviano Santiago, o estruturalismo foi uma corrente bem mais difundida no Rio de Janeiro do que em São Paulo, onde se desenvolviam os estudos de Antônio Cândido e seus alunos, Roberto Schwarz, Walnice Galvão, Davi Arriguci Jr. etc. Cf. entrevista de ambos In: NOVAES, A. (org). Anos 70: ainda sob a tempestade. 2.ed. revista. Rio de Janeiro: Aeroplano/Senac Rio, 2005, p.139-145. 70 desaparecimento da função que a burguesia assegurava ao objeto literário”95, ou seja, era preciso conhecer a estrutura do objeto porque este já não contava com o devido respaldo social, logo, a escolha do poeta precisava se apoiar em sua própria força argumentativa, o que torna a teoria da literatura também um exercício político, um pensar sobre a sociedade. Na concepção de Antônio Cândido, este quadro era fruto de um longo processo, em que a literatura perdia, em torno dos anos 40-50, a função sociológica e cognitiva que tradicionalmente ocupara na cultura brasileira, como meio prioritário de pensar e produzir conhecimento no, do e sobre o país. As melhores expressões do pensamento e sensibilidade quase sempre assumiram no Brasil a forma literária, de modo que a literatura foi fenômeno central da vida do espírito, mais do que a filosofia e as ciências humanas, propriamente ditas, que aqui surgiram tardiamente e também elas imantadas pelo literário, originando um gênero misto de ensaio como forma bem brasileira de investigação. Deste modo, o verbo literário foi o padrão de cultura durante muito tempo. Quando este padrão mudou, reagindo ao crescimento da divisão de trabalho intelectual e do conhecimento especializado, surgiu um conflito no interior do campo literário, que então veria a diferenciação de papéis dos cientistas sociais e literatos. A literatura se voltou sobre si mesma, retraindo sua ambição de dar forma à realidade nacional e buscando configurações puramente estéticas. Logo, deixou de ser viga mestra da cultura para se alinhar em importância com outras atividades do espírito. As “modernas tendências estetizantes”, com inclinação ao formalismo, à gratuidade ou mesmo ao solipsismo literário, significavam uma reação de defesa e delimitação do campo, que se fez acompanhar da gradual elaboração de novos meios expressivos e da consciência artesanal. Assim, diante dos acirrados debates da crítica literária dos anos 60-70, opondo a análise sociológica e a estruturalista, Cândido defende reiteradamente uma crítica dialética, que considere tanto os problemas internos quanto externos à obra, e propõe um método reversível em que se estabeleça o circuito do texto à sociedade e vice-versa, realizando “a passagem do dois ao três”, isto é, superando uma visão dicotômica. Em “A literatura e a formação do homem”, uma bela conferência na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1972, o autor expunha as motivações em que radica seu pensamento: a função humanizadora da literatura consiste na sua capacidade de confirmar a humanidade do homem, o que inclui uma função psicológica (que responde à necessidade de ficção, mediante formas diversas de sistematizar a fantasia); uma função formadora da personalidade (em que a arte atua sobre o inconsciente, para além da pedagogia oficial, como uma força indiscriminada de iniciação à 95 COSTA LIMA, idem, p.227. O grifo é do autor. 71 vida, que tratará tanto do bem quanto do mal, nem corrompendo, nem edificando, mas humanizando “porque faz viver”); e uma função cognitiva do mundo e do ser, porque a literatura é também, em alguma medida, representação do real, que está presente seja na forma de expressão pessoal do artista, seja na construção de objetos semiologicamente autônomos. Em qualquer desses planos, a literatura como experiência humana, do autor e do leitor, exige que se conheça a história/contexto e a estrutura da obra, buscando a dialética entre a expressão e a formação96. Nestas chaves, a compreensão intelectual da experiência foi fortemente marcada pela tensão entre subjetividade e objetividade, liberdade e necessidade, responsabilidade e alienação, estrutura e historicidade, inconsciente e consciência, cujas correlações de forças se compõem numa gama de variações. Mas a violência que caracterizou o século XX, com tantas guerras, genocídios, barbaridades cometidas em nome do progresso e da razão, trouxe elementos complicadores não só às concepções de experiência como à vivência mesma e sua expressão. A compreensão psicanalítica de trauma e recalque, em que as dinâmicas do inconsciente e do esquecimento se urdem junto ao consciente e à memória, se tornou, neste quadro, elementar para o entendimento do que se passa com a vida humana na modernidade tardia, embaralhando ainda mais a tensão acima apontada. Na análise da arte, os esboços de leitura estética realizados por Freud, tendo como modelo o sonho, vê a obra como um enigma a decifrar, porque o sentido, embora sempre postulado, nunca está presente em sua plenitude, mas só se dá mediante mecanismos de deslocamento e deformação, através de uma cadeia de significantes substitutivos. Deste modo, todo texto é ao mesmo tempo lacunar e tecido para esconder as lacunas, num jogo em que a continuidade e o sentido falam da descontinuidade e do não-sentido, e vice-versa, dissimulando e protegendo aquilo que não se apresenta: o desejo censurado, a transgressão e o castigo-culpa correspondente. Em outras palavras, “todo texto é produto de um conflito de forças”, diz Kofman97, resultado de um compromisso entre as forças de Eros, pulsões de vida, de ligação, e as pulsões de morte, sombra em que habitam as rupturas de sentido. Logo, toda obra é sintomática, e não apenas representação simbólica, visto que representação e afeto, assim como forma e conteúdo, são indissociáveis. Nas formações substitutivas, como a arte e o sonho, se estabelece uma relação complexa entre conteúdo manifesto, como imagem-lembrança-encobridora, e conteúdo latente, como 96 Cf. CÂNDIDO, A. Literatura e sociedade. 8.ed. São Paulo: T.A.Queiroz/Publifolha, 2000 (Grandes nomes do pensamento brasileiro), p.119-125; e também Duas vezes a ‘passagem do dois ao três’; A literatura e a formação do homem. In: CÂNDIDO, A. Textos de Intervenção. (seleção e notas Vinícius Dantas). São Paulo: Duas Cidades/Ed.34, 2002, p.51-76 e 77-92, respectivamente. 97 Cf. KOFMAN, Sarah. O Método de leitura de Freud. In: A infância da arte: uma interpretação da estética freudiana. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996, p.67-125. Citações p.69; 79. 72 impressões vividas: a lembrança é “uma construção do sentido da experiência vivida a partir de traços que são tudo o que resta do passado e que a censura tenta fazer desaparecer”, e, portanto, o recalcado só pode ser lido indiretamente, como uma revelação em negativo desses traços frágeis e obscuros como pistas a serem seguidas por um detetive, nos detalhes do texto. Entretanto, a arte funciona como uma memória específica, em que não apenas se dá o retorno do recalcado, pela reelaboração de material psíquico arcaico-universal ou fantasmáticoindividual mediante a tradução de conteúdos latentes – e o caráter enigmático ou de estranheza inquietante, como característica de toda a arte, é sinal de retorno do recalcado –, como também é uma elaboração originária mesmo, ou seja, uma construção de conteúdos latentes ou fantasmas, pela escrita figurativa que lhes dá forma, da mesma maneira como a tensão realidade-fantasia se constrói nos jogos infantis, que a poesia substitui. Neste caso, a obra de arte é inscrição originária de uma história pessoal, como se vê em Leonardo da Vinci, e não a projeção de um fantasma; ao contrário, é um substituto que permite que ele se estruture e se liberte, liberando o artista da neurose. Mas a psicanálise participava da vida cotidiana nos anos 70 igualmente no que tange ao comportamento. Se por um lado se tratava de buscar instrumentos para lidar com a dor e os enganos da memória, por outro se tratava de resguardar-se do sofrimento provocado pelo estado catastrófico do mundo no refúgio aparentemente seguro do universo subjetivo. Pesquisando o ethos e as representações da assim chamada geração 68, especificamente a classe média da zona sul do Rio de Janeiro que havia participado ativamente da esfera política, Gilberto Velho observa a tendência à crescente constituição de uma cultura subjetiva, pois à medida que a vida pública se tornava cada vez mais difícil sob a ditadura, as pessoas se voltavam para a esfera privada, não sem conflitos e auto-acusações. Crendo na possibilidade de realização genuína de um indivíduo, era preciso encontrar um ponto intermediário entre ser revolucionário ou apolítico, entre o comodismo e o sacrifício em nome de causas coletivas, posto que a valorização da felicidade ou do bem-estar individual não chegava a torná-los conservadores nem cínicos. A aflição daí decorrente encontrava na psicologia, particularmente na psicanálise, um meio privilegiado de reflexão e expressão, ao qual se associavam também os discursos contraculturais, num sincretismo que podia ir do trotskismo ao zen-budismo. Fosse como fosse, buscava-se uma auto-coerência, que impedisse, ou tentasse, a fragmentação interna, em contraposição à descontinuidade externa, institucional, profissional etc. Revelava-se certa nostalgia de uma unidade perdida, ao lado de novas auto- 73 imagens, que passavam a incluir os temas do hedonismo responsável, da paixão e do aperfeiçoamento pessoal, quase sempre via elaboração psicanalítica98. Na verdade, a questão é de fato mais vasta, uma vez que Benjamin já via, desde o século XIX, um caráter contraditório e traumático próprio ao mundo moderno, cujas configurações são, em meio ao progresso, destruidoras e violentas, a tal ponto catastróficas que a história se torna ruína de si mesma; os sujeitos se vêem perdidos, destituídos das bases referenciais de sua formação e vivência; os laços sociais de tal forma esgarçados que a transmissão cultural é afetada e, por conseguinte, as possibilidades de experiência se empobrecem99. Num Brasil que se modernizava aceleradamente, sob a violenta bandeira nacionalista da ditadura militar, num contexto internacional terceiromundista, de dependência econômica e dominação política imperialista, o pensamento da Escola de Frankfurt – unindo a psicanálise ao hegelianomarxismo para tratar dos problemas do homem contemporâneo, desde a crise da subjetividade a novas formas de sexualidade, desde a relação trabalho-natureza ao domínio da indústria cultural e à mercantilização dos valores – tornava-se um bem-vindo meio de leitura de mundo, ganhando terreno crescentemente à medida que a problemática da experiência moderna e suas violentas contradições ficava mais clara para os intérpretes da vida social e artística, mesmo para os adeptos de outras correntes que, na ânsia de compreender a modernidade brasileira, dialogavam com as concepções que aqui chegavam, primeiramente de Marcuse, depois de Benjamin e Adorno. Até hoje importantes no mundo intelectual – embora anteriores à “virada lingüística” no Brasil, quando outras linhas de pensamento se tornaram predominantes, mais voltadas à linguagem propriamente e aos condicionamentos lingüísticos da experiência, e críticos das formulações anteriores100 – estas cinco vertentes teóricas marcaram a época em estudo, deixando seus fortes traços nos artistas e críticos que a viveram e expressaram, e ao fazê-lo, contribuíram para criar e embasar tais vertentes, de modo que as encontraremos reiteradamente nas páginas que se seguem, misturadas aos poemas, às polêmicas e às visões de mundo, dos quais são inextrincáveis. 98 Cf. VELHO, G. Subjetividade e sociedade: uma experiência de geração. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986, passim. 99 Cf. BENJAMIN, W. Experiência e Pobreza; O narrador. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre história da cultura. Obras escolhidas I. Cf. também SELIGMAN-SILVA, M. (org). História, Memória, Literatura. O testemunho na era das catástrofes. p.130-137. 100 Martin Jay mostra como as preocupações com a experiência perderam espaço a partir da “virada lingüística”, cujas preocupações centram-se na linguagem, salvo nas obras de Foucault, Bataille e Barthes, que, em sua visão, realizaram uma reconstituição pós-estruturalista da experiência, à qual ele dedica seu último capítulo. Cf. History and experience. In: JAY. Songs of experience: modern American and European variations on a universal theme. Berkeley/Los Angeles/Londres: University of California Press, 2005, p.247. 74 Assim, esta pesquisa se volta para a poesia e sua crítica como antenas sensíveis para captar e dizer vivências sociais de mundo e tempo, dando forma e expressão a vivências e percepções informes ou de difícil delineamento em um determinado contexto. Trata-se, em termos simbólicos, de pôr a voz poética em praça pública e ouvir o que ela tem a dizer a partir daquilo que sente e vê deste lugar, operando um deslocamento na maneira como, grosso modo, a poesia costuma ser considerada pela historiografia, ou seja, como voz líricaindividual, sem maior vinculação com o universo coletivo. Inversamente, contudo, podemos considerá-la como uma das vozes sociais – que mesmo em sua subjetividade, está simultaneamente a falar de si e do corpo social, uma vez que compreendamos que as dimensões do ser pessoal e social são indissociáveis. Como mostra Antônio Candido, o que se torna matéria de poesia em determinada sociedade e período, garantindo seu valor e impacto emocional, é algo singularmente prezado pelo grupo a que pertence o poeta, cuja expressão pessoal adquire sentido genérico à medida que ele passa de sua estrita emoção a uma concepção de vida. É mister, insiste o autor, superar a visão dicotômica entre texto e contexto, para buscar compreender sua interpenetração numa forma orgânica, averiguando como a realidade social e histórica se torna componente mesma de uma estrutura literária, ou seja, compreender a dialética pela qual fatores sociais e psicológicos são constituintes intrínsecos da estrutura da obra, e como tal, fatores estéticos101. Neste caso, é evidente, não se trata de repetir a já tão contestada tese da linguagem artística como reflexo especular da história102, mas, antes, afirmar uma qualidade imanente, um intrincamento entre sujeito e sociedade que se estabeleceu desde os primórdios da modernidade, criando em decorrência inúmeras formas de enredamento e enredos, em prosa ou verso... Pôr a poesia em praça pública, então – mesmo que ali ela não se tenha intencionalmente proposto, pois isto varia conforme o grau de maior ou menor politização do poeta –, significa resgatar este ato de ouvir/ler a historicidade na voz lírica e a subjetividade na visão histórica, em busca de uma melhor apreensão das formas de expressão e silêncio assumidas pela sensibilidade na época em questão. 101 Cf. CÂNDIDO, A. Literatura e sociedade, passim. E talvez nem mesmo como refração, como propõem diversos autores. Cf, p.ex., BURKE,P. A história social da linguagem. In: A arte da conversação, p.40 e GINZBURG C. Introdução. In: Relações de força. p.44. 102 2. Vozes Interrompidas e Subterrâneas I: Em torno de 1968: um grito e tantos (m)ais Já é de praxe dizer que a década de 1970 iniciou-se em 1968. Um ano vertiginoso em muitos sentidos, um marco no contexto histórico internacional, tanto do ponto de vista político quanto cultural. Vivia-se a guerra fria, a guerra do Vietnã, o macartismo, os golpes militares na América Latina; atos de terrorismo internacional; a decepção com os rumos do socialismo soviético-stalinista, com a atuação submissa dos partidos comunistas europeus e com as notícias de repressão às artes em Cuba, após o fim da guerrilha boliviana e a morte de Che Guevara em 1967. Vivia-se também uma certa euforia com a Revolução Cultural Chinesa e, paralelamente, com a proposta de um novo modelo comportamental e político dos movimentos pacifistas, estudantis e contraculturais. Embora estes principiassem a fenecer naquele fim/início de década, haviam disseminado entre os jovens de quase todo o mundo um senso crítico quanto aos valores da cultura ocidental, naquele momento identificados com o racionalismo cientificista, o capitalismo e a institucionalidade liberal; um senso de liberdade contra qualquer forma de autoritarismo e disciplina; um desejo de obter, no presente imediato, uma forma de vida diferente dos seus pais e avós, livre das amarras da cultura preestabelecida e defendida pelos “quadrados” e “caretas”, fora daquilo que então se chamava “o sistema” e “o establishment”1. Desde os anos 50, mas sobretudo ao longo dos 60, o rock havia-se afirmado, mais do que como gênero musical, como um ritual que oferecia às novas gerações uma sensibilidade outra e outra postura diante do mundo; os escritores beatnicks e os hippies haviam semeado uma “cultura psicodélica” que, misturando o uso de drogas para “ampliação da consciência”, estética pop, misticismo oriental, amor livre, produção e consumo comunitários, acabou por disseminar um certo estilo político, o flower power, gay power, black power, women’s lib2, aos quais veio se somar uma Nova Esquerda que se formava, 1 Segundo Messeder Pereira, tratava-se da “filosofia do drop-out”, ou do “cair fora”, fugindo aos limites espaciais, institucionais e lógicos do mundo ocidental, numa rebeldia com três eixos de fuga: da cidade/máquina para o campo/natureza; da família para a vida comunitária; do racionalismo para o psicodelismo. Significava uma busca por vezes desesperada e nem sempre consciente de um novo espaço e jeito de viver. Ver MESSEDER PEREIRA, C.A. O que é contracultura. São Paulo: Brasiliense, 1983 p.82; e também Retratos de Época, do mesmo autor; artigos diversos de jornais e revistas sobre cultura pop e rock. 2 Para Messeder, a cultura hippie-psicodélica, jovem e branca, era simpática a qualquer movimento de grupos étnicos ou culturais em posição de desvantagem ou marginalidade ante as promessas da sociedade industrialocidental, cuja luta fora dos espaços políticos tradicionais os unia, além de exigir de todos grande inventividade. Cf. O que é contracultura, p.42. 76 especialmente a partir do movimento estudantil, buscando, como se dizia à época, mais envolvimento pessoal do que “idéias abstratas”, de acordo com o clima anti-institucional e anti-acadêmico da época. Fornidas de uma utopia revolucionária, em nome da liberdade e do prazer, questionando os benefícios da sociedade industrial, a corrida armamentista, as lutas raciais, a guerra do Vietnam, realizavam-se ondas de protesto, passeatas, marchas pacifistas, manifestações em que se sentava na rua (sit-in) e se ocupavam órgãos públicos europeus e americanos. Entre todos, destacaram-se os movimentos estudantis e operários de maio de 68, na França, na Itália, em Praga, na Cidade do México3, nas universidades alemãs e norteamericanas, cujos desdobramentos se fizeram sentir em toda parte. Um manifesto, afixado na entrada principal da Universidade Sorbonne, em Paris, apontava a amplitude das intenções: a revolução que está começando questionará não só a sociedade capitalista como também a sociedade industrial. A sociedade de consumo tem que morrer de morte violenta. A sociedade da alienação tem que desaparecer da história. Estamos inventando um mundo novo e original. A imaginação está tomando o poder.4 A estruturação política e econômica tanto do mundo capitalista quanto do socialista demandava revisão, bem como o campo epistemológico, o ensino universitário, o comportamento pessoal, as repressões psíquicas e corporais, a consciência de si e do mundo, a forma de apreender o outro, a realidade, a arte... Transformar o mundo, naquele contexto e prisma, significava transformar o indivíduo e a cultura, além de (e por vezes em detrimento de) relações sócio-econômicas estruturais. A proposta de ampliação do significado da revolução havia marcado os movimentos de 1968, vistos pelo ângulo da contracultura como uma germinação revolucionária comme il faut. Nas palavras de Marcuse, cujos escritos críticos sobre a natureza da sociedade ocidental eram vistos como fundamento da rebelião estudantil, tratava-se potencialmente de um protesto total [...] uma recusa a continuar aceitando e a se conformar com a cultura da sociedade estabelecida, não só com as condições econômicas, não só com as instituições políticas, mas com todo o sistema de valores que eles sentem estar apodrecido no âmago. Penso que a esse respeito pode-se de fato falar também de uma revolução cultural.5 Mas o ano de 1968, como já dito, trazia também os limites destes projetos, junto com o assassinato de Martin Luther King, a Primavera de Praga, a derrota dos movimentos 3 Cf. FUENTES, C. Los 68, Paris, Praga, México. Buenos Aires: Debate, 2005. p.14-20. Citado por MESSEDER PEREIRA,. idem, p.92. 5 MARCUSE, H. Herbert Marcuse fala aos estudantes. In: LOUREIRO, I. (org). A grande recusa hoje. Petrópolis: Vozes, 1999, p.64. Entrevista. Trata-se de um relato que Marcuse, tendo testemunhado as primeiras barricadas estudantis em Paris, fizera a estudantes nos EUA, em 23 de maio de 1968. 4 77 estudantis6, o arrefecimento do movimento hippie – cujo enterro simbólico foi realizado em 1967 em São Francisco, Califórnia, onde havia justamente surgido –, a crescente repressão por parte dos governos liberais àqueles cabeludos que confrontavam “o sistema”. Os movimentos pacifistas e contraculturais respondiam, reavaliando o pacifismo (dos estudantes ao movimento anti-racista dos Panteras Negras norte-americanos se discutia a necessidade de certa agressividade ante a truculência sistêmica) e intensificando a crítica política e comportamental contra a burocratização da vida social. Um desejo de responsabilidade existencial parecia surgir, diz Messeder, onde antes só havia uma linguagem contestatória um tanto anárquica. Em dezembro de 1970, em entrevista à revista Rolling Stones, John Lennon fazia o balanço das – relativamente pífias – mudanças contraculturais, afirmando que “o sonho acabou”7. E em 1971, entrevistado por Tarik Ali e Robin Blackburn para a New Left Review, Lennon reavaliava as pressões sofridas pelos Beatles para que se mantivessem calados sobre a política internacional, e como ele e George Harrison se rebelaram e se pronunciaram contra a Guerra do Vietnam, por perceberem a existência de uma opressão generalizada e desejarem fazer algo a respeito: É muito difícil escapar disso e dizer: ‘Bom, não quero ser rei, quero ser real’. [...] A terapia afastou tudo isso e me fez sentir minha própria dor. A arte é apenas uma maneira de expressar a dor. [...] O que estou tratando de fazer é influenciar a todos os que posso, a todos que seguem sonhando, e sozinho provocar um grande sinal de interrogação em suas mentes. Já passou o sonho ácido, é o que trato de lhes dizer. [...] Quando comecei, o próprio rock and roll foi a revolução para as pessoas da minha idade e situação. Precisávamos de algo forte e claro para irromper através de toda a falta de sentimento e a repressão que haviam caído sobre nós quando éramos pequenos [...]8 São claros os indícios neste discurso de que se iniciavam tempos de sentir e, no melhor dos casos, se os devidos recursos fossem encontrados, expressar a dor daquela experiência pessoal-histórica de derrota de um projeto, talvez ainda diáfano como as imagens oníricas, mas que alimentara grande parte da juventude ocidental, de uma transformação tão profunda na existência que alcançasse não apenas a esfera política e econômica, mas também a estrutura dos afetos e da libido, das relações sociais mais cotidianas, do trabalho e do amor, integrando corpo e espírito de modo a esperar superar a tradicional dicotomia que os separava. 6 Para Fuentes, entretanto, trata-se de uma “derrota pírrica” (jogando com a expressão “vitória de Pirro”), ou seja, uma derrota imediata, mas, a longo prazo, os efeitos de Maio de 1968 ter-se-iam feito sentir. Cf. FUENTES, op.cit., p.11. 7 A conhecida frase de Lennon é citada integralmente por MESSEDER PEREIRA, idem, p.50: “Eu acordei pra isso também. O sonho acabou. As coisas continuam como eram, com a diferença que eu estou com trinta anos e uma porção de gente usa cabelos compridos”. 8 Entrevista reproduzida no jornal Brasil de Fato, LENNON, J. [Entrevista]. Brasil de Fato, são Paulo. p.16, 1218 jan. 2006. 78 2.1. O significado de 1968 no Brasil Aqui estão os arcanjos: o nome dele, sacrifício; o meu, clemência. E eu grito entre meu gesto e o precipício. Por que não digo E não exalto a vertigem? Por que não digo que minha juventude se fecha atrás do refúgio de um poema? (José Carlos Capinan, trecho de “Anima”) Outros tempos traziam outras exigências e o peso da violenta história do século XX se fazia sentir – também na história brasileira. Além das questões que assolavam o contexto internacional, foi o momento em que o regime militar ditatorial implantado no Brasil em 1964 controlou as resistências políticas e reforçou a coerção e violência do Estado, através do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que conferia ao Executivo poderes excepcionais para reprimir quaisquer manifestações políticas, sociais e culturais que considerasse subversivas à ordem vigente, afetando profundamente o modo de vida: No Brasil, a década de 70 pede licença poética e começa, de fato, a 13 de dezembro de 1968 com a edição do AI-5. [...] Falava-se dos erros daqueles que viveram o grande sonho dos anos 60, agora silenciados, exilados, desencantados. Falava-se da precipitação da juventude radicalizada na guerrilha, da viagem da loucura e do desbunde, da incompetência, da inércia e da alienação da geração AI-5. Falava-se, sobretudo, do silêncio de um “vazio cultural” que teria dado o tom da época na área das artes e da literatura. [...]9 A introdução do “quinto ato”, como foi então apelidado, considerava “imperiosa a adoção de medidas” contra aquilo que frustrasse “os ideais superiores da Revolução”, que preservavam a segurança, o desenvolvimento e “a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária”. A presidência recebia poderes para suspender as casas parlamentares em nível federal, estadual e municipal; nomear interventores nos estados e municípios; assumir a função legislativa em caso de recesso; suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos e cassar mandatos; suspender garantias constitucionais de funcionários públicos; decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, entre outros. Além disto, conforme o texto legal10, colocavam-se as medidas de segurança aplicadas fora da apreciação do poder judiciário e a garantia de habeas-corpus, instrumento 9 HOLLANDA, H.B. e MESSEDER PEREIRA, C.A. Poesia Jovem Anos 70. São Paulo: Abril Educação, 1982. (Literatura Comentada), p.11, nota 1. 10 Documento reproduzido e comentado em BITTAR, E. História do direito brasileiro, p.269-271. e CASTRO, F. História do Direito, p.552-557. 79 essencial – e tão duramente conquistado – de defesa do cidadão moderno contra a violência de Estado, foi suspensa “nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular”, excluídos também da apreciação judicial todos os atos praticados em conseqüência do Ato, o que abria precedentes e respaldava legalmente o (ab)uso da força estatal, deixando os opositores do regime em situação totalmente frágil. Três meses após a edição do AI-5, foi estabelecido que os encarregados de Inquéritos Policiais poderiam prender qualquer indivíduo por 60 dias, dez dos quais em regime de incomunicabilidade, tempo suficiente para facilitar a prática da tortura... Um novo momento, de grande violência, acrescentava-se à já violenta história do Brasil. No seio da guerra fria, em nome do desenvolvimento econômico e dos ideais ocidentais – liberdade republicana e livre iniciativa capitalista, contra os “perigos” do comunismo – criminalizava-se a atividade política, quer sindical-popular, quer das classes médias intelectualizadas, ou seja, os setores estudantis, universitários e de divulgação cultural11. Desde o golpe civil-militar12 de 1964, a reação social – daqueles que não haviam articulado e/ou apoiado o golpe – havia-se apresentado de duas formas prioritárias: a maior parte da população, trabalhadora em geral, acomodou-se à nova situação, devotando-se à luta pela sobrevivência e ao entretenimento nas horas de lazer, encantando-se sobretudo com os programas de televisão, que iniciava sua trajetória de sucesso como meio de comunicação de profunda penetração nas massas (com suas novelas, festivais musicais, shows humorísticos ou de variedades), e, como tal, capaz de produzir uma integração cultural em âmbito nacional13. Já aqueles setores que haviam sido mais participantes nas lutas anteriores pelas reformas de base, agora desorientados e desmoralizados pela desestruturação de suas referências partidárias e sindicais, cujas lideranças haviam sido presas ou exiladas, quedaram-se inicialmente “mudos, atomizados, envolvidos na amargura das ilusões perdidas”, derrotados. Com efeito, o Estado protetor do período 1930-1964 agora se tornava algoz, suspendendo as lutas sindicais e criando uma nova legislação restritiva para a greve, estipulando o arrocho salarial e revogando a estabilidade e o poder normativo da Justiça do trabalho. Confusos com a nova situação e reprimidos, tendo sua luta criminalizada, os trabalhadores tornaram-se atores secundários na resistência molecular que sobreveio, liderada pelos estudantes 11 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES. idem. Utilizo o conceito de R. Dreyfuss, já consagrado pela historiografia, para destacar que os movimentos políticos, em especial os da envergadura dos golpes militares da América Latina, não se dão sem um apoio social. A análise sobre os atores sociais da reação ao golpe que se apresenta neste parágrafo segue em geral o trabalho de AARÃO REIS, D. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. e também 1968, o curto ano de todos os desejos. Acervo, op.cit., p.25-38. 13 Sobre o papel integrador da televisão, cf. ORTIZ, R. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 2001. 12 80 universitários que acompanhavam a grande onda de renovação política e comportamental realizada pela juventude internacional (a despeito de todos os problemas que isso implicava), contando com a colaboração dos meios de comunicação de massa, jornais e televisões que veiculavam imagens de todo o mundo, sensibilizando o público para o que ocorria de novo e criando um mal-estar difuso; com a colaboração de setores progressistas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), inspirados pelo processo de atualização que a Igreja Católica então experimentava; da atuação subterrânea das “vanguardas” dos partidos revolucionários, clandestinos, que debatiam a conjuntura, nem sempre acertadamente, e tentavam preparar focos guerrilheiros; e de artistas e intelectuais que recusavam o Brasil oficial e incentivavam a crítica e a rebeldia. Esta reação da sociedade civil se subdividia em grupos mais radicais – cuja vontade e/ou necessidade de agir conduziu à luta armada – e aqueles que permaneceram exercendo uma resistência pacífica, com os instrumentos de que dispunham por profissão ou habilidade. Em sua maioria, foi o caso dos artistas e intelectuais, cujas manifestações críticas ao governo também variavam de uma certa complacência à resistência engajada, passando pela arte de protesto. Em especial, entre estudantes e artistas se criou um chão comum de interesses e gostos, levando-os a compartilhar a experiência de formular novos valores, concernentes não apenas ao poder, mas aos costumes e práticas cotidianas. Eivados de insatisfação, todos se envolveram nos protestos dos anos 1967-68, em apoio aos últimos movimentos públicos de operários e estudantes anteriores ao AI-5. Desde que o general Costa e Silva tomara posse, em março de 1967, uma Nova Lei de Segurança Nacional fora promulgada, atendendo a corrente dos militares “linha-dura” que agora chegavam ao poder, em substituição aos chamados “sorbonistas” ou “castelistas” do período 1964-67, no governo Castelo Branco, que faziam questão de manter uma aparência de legalidade democrática. Depois, sob a chefia do general Emílio Garrastazu Médici, o Serviço Nacional de Informação (SNI) mudava de função, sendo o órgão e suas representações nos ministérios civis remodelados e fortalecidos para se tornarem uma ampla rede de espionagem. Embora a comunidade de segurança e informações não se envolvesse diretamente nas “operações de segurança”, seu anseio punitivo gerava um “ethos da segurança” que passava a orientar as instâncias repressivas já existentes ou que seriam criadas em breve14. 14 As operações de segurança eram o eufemismo usado para designar as prisões, interrogatórios, torturas, extermínios praticados pelos departamentos de ordem política e social estaduais, pelos órgãos de informação dos ministérios militares (CIE, CISA, Cenimar) e pelo “sistema DOI-CODI” implantado em 1970 em unidades militares no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília; em 1971 em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Belém e Fortaleza; em 1974 em Porto Alegre. Cf. FICO, C. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de História, São Paulo: ANPUH, v.24 (Brasil: do ensaio ao golpe - 1954-1964), n.47, p.29-60, jan./jun. 2004. 81 Conforme o regime endurecia, as reações ditas subversivas aumentavam e, junto com elas, os conflitos com a polícia e a repressão. Operários de Osasco (SP) e Contagem (MG) lograram fazer greves; manifestações de estudantes na Universidade de Brasília (UNB) davam vivas a Che Guevara; em todo o país ocorriam protestos estudantis contra o Acordo MECUSAID, que propunha uma reforma universitária de caráter técnico e a desarticulação política do movimento estudantil. No mundo judicial, a Lei de Segurança Nacional dificultava os trâmites processuais para a defesa daqueles que respondiam Inquéritos Policial-Militares (IPMs) e crescia uma campanha de setores de direita para o “expurgo no Judiciário”, como clamava o jornal Estado de São Paulo, o que significava cassar do Supremo Tribunal Federal os ministros favoráveis à concessão de habeas-corpus e resistentes às arbitrariedades do regime, em especial Evandro Lins e Silva e Hermes Lima, bem como Peri Constant Bevilacqua, do Supremo Tribunal Militar15. Em 28 de março de 1968, a invasão pela polícia do restaurante universitário Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro, com a morte imediata do estudante Edson Luis de Lima Souto, provocara comoção geral e o apoio, aos estudantes e contra a ditadura, de setores progressistas da Igreja Católica e juristas e parlamentares insubmissos, além de intelectuais, artistas e numerosos cidadãos comuns que acompanharam o enterro. Nos dias posteriores, sucederam-se passeatas de protesto no Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Curitiba. Os protestos do 4° aniversário do golpe, em 01 de abril de 1968, tiveram como saldo um estudante morto em Goiás, dois mortos e muitos feridos e presos no Rio de Janeiro. O dia de 21 de junho foi apelidado de Sexta-Feira Sangrenta devido a um sério confronto entre estudantes e policiais, ao longo de todo o dia, nas ruas do Centro do Rio de Janeiro, quando ocorreram mais de mil prisões e 4 mortes (na versão oficial) ou 28 mortes (segundo informações dos hospitais aos estudantes), além das dezenas de feridos. Dias depois, a Passeata dos Cem Mil paralisava esta cidade durante quase todo o dia de 25 de junho, congregando não apenas as entidades representativas dos estudantes universitários, mas toda uma série de categorias descontentes, tais como escritores/poetas, religiosos, professores, músicos, cantores, cineastas, estudantes secundaristas, comerciários, bancários, políticos, em protesto contra a violência policial, as prisões, as mortes. Em praça pública foi escolhida uma comissão, a “comissão dos 100”, para uma reunião com o presidente da república em uma semana, que resultou infrutífera16. 15 Cf. FERNANDES, F. A. Voz humana, a defesa perante os tribunais da república. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p.217-220. Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal foram aposentados compulsoriamente em janeiro de 1969, logo após o AI-5. 16 A comissão era composta pelo psicanalista Hélio Pelegrino, Irene Papi como representante das mães, o padre João Batista Ferreira e dois estudantes, Marcos Medeiros e Franklin Martins. Reivindicavam a libertação dos 82 É esta espécie de movimento de respiração dos setores politicamente ativos da sociedade brasileira – que Aarão Reis qualifica como um oásis em meio ao deserto17 – que será duramente golpeada pelo maior endurecimento do regime a partir de 1968. Em agosto deste ano, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) era fechada e a UNB, tomada pela polícia pela primeira vez. Em outubro, o 30° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado num sítio em Ibiúna, interior de São Paulo, para eleição da nova diretoria da entidade, foi invadido pela polícia, havendo a prisão de mais de 700 delegados. As principais lideranças foram levadas ao Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS18 SP) e, posteriormente, banidas do país . No segundo semestre de 1968, os movimentos de resistência já arrefeciam, dominados pela repressão ao embates travados, cuja desproporção de forças era brutal. Sem apoio social mais amplo e diante do projeto militar de aprofundar o estado de exceção, a oposição ficou “na contramão da história”, como diz Aarão Reis. Mudavam as reações perante a repressão: indignação e ira cediam à intimidação e ao medo. “O curto ano de todos os desejos”, na bela expressão deste autor19, de fato terminava mais cedo. A partir 1968 e nos anos que se seguiram, a legislação recrudesceria os instrumentos de censura e repressão, fechando de vez os canais de articulação política civil. No que se refere ao setor cultural, além da Lei de Imprensa nº 5.250 de fevereiro de 196720, que em nome de regular “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” estipulava forte censura nos meios de comunicação, a universidade, o grande foco de resistência no período anterior, era profundamente atingida a partir de 1968: a tão combatida reforma universitária se presos, a reabertura do restaurante Calabouço, que fora fechado, o fim da repressão policial e da censura artística. O governo pedia em troca que as passeatas cessassem. Não houve acordo e a repressão continuou. Sobre o movimento estudantil, cf. Romagnoli e Gonçalves. A volta da UNE, de Ibiúna a Salvador. Ver também: Oliveira, Gil Vicente. Fotojornalismo subversivo, 1968 visto pelas lentes do Correio da Manhã. In: Revista Acervo, op.cit., p.117-136. 17 AARÃO REIS, In: Acervo, op.cit., p.29. 18 Entre os líderes, Luís Travassos, Wladimir Palmeira e José Dirceu foram banidos no ano seguinte, em setembro de 1969, trocados pelo embaixador norte-americano, Charles Elbrick, seqüestrado por organizações de luta armada. A UNE ficaria na clandestinidade por alguns anos. O presidente clandestinamente eleito, em abril de 1969, foi Jean Marc van der Weid, preso em setembro do mesmo ano e banido em 1971, em troca do embaixador suíço, Giovani Bucher, também seqüestrado (pela VPR, com a participação de Alex Polari). Para substituir Jean Marc, assume a presidência da entidade Honestino Guimarães, da Federação dos Estudantes de Brasília. Honestino foi preso mais de uma vez, torturado, e recebeu diversas ameaças de morte depois de libertado. Antes de ser preso, em outubro de 1973, deixou uma carta intitulada “Mandado de Segurança Popular”. Segundo dados da Anistia Internacional, foi visto pela última vez na OBAN (Operação Bandeirantes, depois DOI-CODI), em abril de 1974, e depois sumiu. Seu nome consta das listas de desaparecidos de várias organizações de luta por anistia. Cf. Romagnoli e Gonçalves, op.cit., p.11-18. Para a invasão da UNB e o caso de Honestino, ver também o documentário Barra 68, de Wladimir Carvalho. 19 AARÃO REIS, idem, p.25 e 36. 20 Trechos das leis aqui tratadas podem ser encontrados em CASTRO, Flavia. História do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. Diversos textos legais também se encontram no sítio eletrônico <htpp://planalto.gov.br/> 83 efetivou (lei nº 5540/68), reduzindo sua função à formação de quadros técnicos burocráticos, para o setor produtivo da economia e para a administração estatal ou empresarial. Além dos expurgos, demissões, aposentadorias compulsórias, proibições de leituras e discursos críticos, espionagem policial nas salas de aula, delações e desarticulação da UNE e do movimento estudantil em geral, o Estado obtém êxito em atrair setores da massa de estudantes para o projeto de ascensão social via uma melhor remuneração do trabalho técnico21. Ademais, o decreto-lei 477, de fevereiro de 1969, ao definir “infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou particulares”, proibia a atuação política e penalizava severamente os “infratores”, o que incluía as longas listas de cassação de professores universitários e a suspensão por três anos de alunos e professores considerados subversivos. Nas palavras do ex-padre João Batista Ferreira, integrante da comissão dos 100 mil, Quatro anos haviam-se passado desde o golpe de 1964; mas 68 já tinha uma larga consciência diante de 64. Foi o tempo do arrocho salarial, da desmobilização sindical, das cassações, do fantasma da tortura. Tudo isso fez 68 encontrar um forte anseio popular. Na realidade, 68 foi um grito. Ousado, desorganizado. Mas foi um grito congregador. Foi também um grito ufânico, porque de jovens que, jogando apenas a palavra contra as armas, tornaram autêntico um movimento que, em essência, era nacionalista. E esse movimento se expandiu de tal maneira que, não sendo fácil lidar com tanta força, o Governo precisou adotar medidas extremas como o AI-5, e o decreto-lei 477 e a Lei de Imprensa.22 Certamente 1968 era um grito, em muitos sentidos. No entanto, malgrado esta visão do recrudescimento repressivo como resposta da ditadura à movimentação social tenha-se tornado comum, o historiador Carlos Fico demonstra que o endurecimento não decorria circunstancialmente dos episódios políticos, nem de um “golpe dentro do golpe” derivado das disputas internas nas Forças Armadas, mas era fruto do amadurecimento de um processo há muito iniciado, em que a doutrina de segurança nacional se aliava à velha tradição do pensamento autoritário brasileiro para reafirmar um projeto de nação baseado numa “utopia autoritária”, a qual unia as diferentes correntes militares e cimentava sua ideologia, ou seja, “a crença de que seria possível eliminar quaisquer formas de dissenso (comunismo, ‘subversão’, ‘corrupção’) tendo em vista a inserção do Brasil no campo da ‘democracia ocidental cristã’.”23 Tal era a perspectiva do General Golbery do Couto e Silva que servia como diretriz 21 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, op.cit., p.94-95. Depoimento de 1978, reproduzido em ROMAGNOLI e GONÇALVES, op.cit., p.7. 23 FICO, C. Versões e controvérsias..., p.34. 22 84 à Escola Superior de Guerra (ESG), que formava tanto militares quanto civis, em cursos externos24. No embate de forças e projetos, vencia e se impunha a ordem autoritária militar. Gerava-se um novo momento de apatia, sentimento de derrota e confusão, e uma nova tentativa de reação e resistência, desta vez reunindo também uma parte do grupo que apoiara o golpe como medida cirúrgica, mas não concordava com a continuidade dos militares no poder e os rumos da ditadura. A partir de então, porém, as condições eram mais difíceis. Por um lado, desenvolvera-se desde o golpe um tipo de “ethos persecutório” não apenas entre os militares, mas na própria sociedade, em que se disseminara a prática da delação. Primava uma obsessão pela vigilância, como forma de prevenir aquilo que se denominava, com base na Doutrina de Segurança Nacional, de “propaganda subversiva” ou “guerra psicológica contra as instituições democráticas e cristãs”, criando um fenômeno típico das sociedades autoritárias, em que a lógica da produção da suspeita importa mais que a informação propriamente25. Com efeito, o aparato repressivo acolhia acusações de subversão sem investigar a veracidade dos fatos ou a confiabilidade dos informantes, bastando-lhes enquadrar o testemunho do delator anônimo no conceito de opinião pública, vaga e indefinida, como convinha. As delações, por vezes com escusas motivações, haviam sido alvo privilegiado dos humoristas, como se vê nas crônicas satíricas de Stanislaw Ponte Preta, entre 1964-68, cujo Febeapá (Festival de Besteiras que Assolam o País, vol.1, 2 e 3) narrava histórias de denúncias infundadas e adesismo cego. A esfera da cultura era especialmente atingida, posto que tida a priori como suspeita, meio de atuação de comunistas e “subversivos”. Informantes pertencentes aos setores de informação do Estado infiltravam-se nos meios culturais e elaboravam relatórios sobre eventos e artistas, sobretudo os da MPB, em que reuniam peças acusatórias que mobilizavam toda uma estratégia discursiva para representar o inimigo interno. A corrupção, a delação, o oportunismo, a alienação revelavam o autoritarismo impregnado na tessitura social. Acompanhavam esta atmosfera sentimentos de intimidação e paranóia, tanto por parte de civis quanto de militares. Como exemplo, o jornalista Inimá Simões relembra o papel das esposas de coronel como sentinelas avançadas na censura de filmes que não apreciavam, ou ainda o policial que interrompeu, em Londrina (PR), uma declamação de “Vou-me embora para Pasárgada”, de Manuel Bandeira, 24 Cf. SCALERCIO, M. A Têmpera da espada, os fundamentos do pensamento das lideranças do Exército em 1968. In: Acervo, op.cit., p.101-116. 25 A respeito da suspeição na esfera da cultura, ver NAPOLITANO, M. A MPB sob suspeita: a censura musical vista pela ótica dos serviços de vigilância. Revista Brasileira de História, op.cit., p.103-126. Neste artigo, a idéia de “ethos persecutório” é desenvolvida a partir dos trabalhos de Carlos Fico e a de “lógica da suspeição” a partir de Marionilde Magalhães. 85 desconfiado das intenções subliminares do poeta... que em 1966 já havia recebido a Ordem do Mérito Nacional das mãos do presidente marechal Castelo Branco, quando das festividades de seus 80 anos, antes de falecer, naquele turbulento 196826. Por outro lado, aumentavam as listas de cassação e a suspensão do habeas-corpus dificultava a atuação dos advogados dispostos a atuar politicamente, isto é, em defesa dos direitos civis. Como as prisões passaram a ser executadas nos moldes de um seqüestro, com brutalidade e sem vestígios, impetravam como recurso extremo um “habeas-corpus de localização”, alegando que a prisão não fora feita por motivos de segurança nacional, e pediam que ofícios fossem expedidos a todos os órgãos de repressão, para localizar o cliente preso. Era comum que obtivessem respostas mentirosas, como no caso dos desaparecimentos de Rubens Paiva e Stuart Angel, por exemplo27. Além disto, como observam Hollanda e Gonçalves, o debate político na intelectualidade crítica e/ou de esquerda se pulverizaria por um bom tempo, oscilando entre a inércia e o voluntarismo, e o que restava só podia se manter de modo restrito e subterrâneo. Imperava a dispersão e o isolamento. Registrou-se um bloqueio crítico e criativo no cotidiano cultural28. Experimentava-se, as gerações mais jovens em especial, um momento de desânimo, muitos se auto-exilavam ou eram obrigados a tal, outros preferiam o silêncio. Em um rico artigo, que não deixa de ser depoimento, o poeta e crítico literário Antônio Carlos de Brito, o Cacaso, dizia: ... a melhor porção da juventude brasileira é induzida a uma despolitização gradativa e segura das paixões e das ambições. Pressionada por todos os lados e desalojada de sua função costumeira, a intelligentsia brasileira se desorganiza e entra em crise 26 Para a crítica de Stanislaw Ponte Preta ao discurso oficial e ao autoritarismo social, ver Moraes, D. Z. “E foi proclamada a escravidão”: Stanislaw Ponte Preta e a representação satírica do golpe militar. Revista Brasileira de História, op.cit., p.61-102. A autora cita trecho dos manuais de orientação dos agentes de informação: “Quando o fato é notório, este independe de provas, conforme preceito geral do direito, que aboliu o sistema de certeza legal, libertando o julgador de preconceitos textuais”. De SIMÕES, I. ver Sessenta e oito começou bem antes. Acervo, op.cit., p.39-56; os fatos mencionados constam na p.49. Quanto à premiação de Manuel Bandeira, cf. Estrela da vida inteira. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p.26 (Cronologia). 27 Cf. FERNANDES, op.cit., p.224. Tratava-se de um grupo relativamente pequeno de advogados, reunidos em torno de Heleno Fragoso, que testemunha a sensação de impotência e a coragem deste grupo que não se recusava a denunciar a tortura, “numa época em os mais fortes silenciaram” e muitos bacharéis se tornaram coniventes. Destacam-se os nomes de Lino Machado, que defendeu Alex Polari, Augusto Sussekind de Morais Rego, Evaristo de Morais Filho, Técio Lins e Silva, Marcelo Cerqueira, Nélio Machado, Nilo Batista, entre outros. Em pequeno depoimento sobre sua rápida detenção, quando visitava um cliente na prisão da Ilha das Flores, Evaristo de Morais Filho argumenta que isto ocorreu por haverem estranhado o fato de ele não cobrar este serviço profissional, quando ele apenas seguia uma tradição da advocacia política brasileira, vinda de seu pai, de Sobral Pinto, de Evandro Lins e Silva, que compreende a defesa do preso político como um serviço à nação, para ajudar a deter a violência desencadeada pelo Estado. In: idem, p.223. 28 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, idem. O historiador Aarão Reis também vê ineficácia nos debates da esquerda, sobretudo das vanguardas dos partidos clandestinos, que teriam tido dificuldade para analisar as bases históricas da derrota, passando a caçar culpados internos, especialmente o PCB e o PTB, o que resultou no estilhaçamento da esquerda em múltiplas frações hostis entre si. Cf. “O curto ano...”, op.cit., p.33. 86 profunda. O desprestígio do esforço e do trabalho intelectuais será um dos traços mais salientes desse período. O desmoronamento de tantas expectativas alimentadas mais o endurecimento atual da vida favorecem um clima ideológico que combina frustração e medo; descrença em relação aos projetos de antes e às chances futuras. Daqui e dali vão surgindo os primeiros hippies; o pessoal começa a emagrecer; a vaga irracionalista toma corpo; o consumo de drogas faz carreira fulgurante e se instala; proliferam grupos e seitas orientalistas; um vocabulário novo e cifrado é posto em circulação; tudo em consonância com o clima evasivo e de introspecção que reina. Muitos da geração mais moça abandonam a universidade; outros nem chegam a tentar; parte considerável dos que se formam esbarra com a falta geral de oportunidades e perspectivas.29 Salvo a luta armada – vista com um misto de admiração pelo heroísmo daqueles jovens e profundo desalento pelo sacrifício inútil (?) das suas vidas –, não parecia haver “alternativa ao sistema”, e a tradicional política de esquerda não se oferecia mais como opção30. Todo este quadro vinha fortalecer, no contrapé do refluxo internacional, o florescimento da contracultura brasileira após 1968: o recurso às drogas como experiência possível de alargamento da sensibilidade; a transgressão comportamental, no campo da vestimenta, do sexo, do gosto estético; uma busca de alteridade e sinceridade nas relações sociais, valorizando o que se considerava uma “marginalização”; a crítica à família tradicional (em grande parte adepta do novo regime que lhe oferecia os ganhos do milagre econômico); a recusa do discurso teórico-intelectual, que se tornava tecnicista e vazio; o desejo de “viajar” e “ir fundo em si mesmo” como uma valorização da experiência existencial, que muitas vezes se tornou dramática, atingindo a situação-limite da loucura e do desajuste – tudo isto dava o tom contracultural do que se apelidou na época de “desbunde”, “udigrudi” e cultura underground.31 Haviam-se cerrado os caminhos, inclusive os “espaços de dizer a dor”. Mas estranhas cintilações luziam em meio à derrota, como testemunham personagens da época: aquelas pessoas tinham uma inusitada auto-confiança, uma forte crença em sua capacidade de 29 BRITO, A. C. Tudo da minha terra. In: BOSI, A. Cultura Brasileira, temas e situações. 4.ed. São Paulo: Ática, 2004, p.129-150. Citação na p.132-133. O artigo foi publicado originalmente na Revista Almanaque, n.6, São Paulo: Brasiliense, 1978 e encontra-se também no livro póstumo de Cacaso, Não quero prosa. (org e seleção: Vilma Arêas). Campinas/Rio de Janeiro: Unicamp/UFRJ, 1997. p.18-43. 30 No premiado romance Em liberdade, do final dos anos 70, o escritor e crítico Silviano Santiago discute de forma muito interessante tais questões. O livro é construído em três planos, que tratam da relação entre arte e autoritarismo: as fictícias reflexões de Graciliano Ramos ao sair da prisão nos anos 30; o suposto suicídio na cadeia do poeta árcade e membro da Inconfidência Mineira, Cláudio Manuel da Costa, no século XVIII; e as inúmeras questões políticas enfrentadas pelos artistas sob a ditadura militar. Na verdade, estas não aparecem explicitamente, mas como temas de discussão imbricados nos outros dois planos, o que foi um inteligente artifício do autor para discutir as questões de sua época. O tema do sacrifício heróico e inútil é um dos problemas abordados. 31 HOLLANDA e GONÇALVES, ibidem. 87 transformar suas condições de vida e a si próprias...32 Estratégica ou intuitivamente, novas sendas foram abertas, agora não mais na esfera da política, mas na da cultura, que se tornou o locus de resistência da década de 70 por excelência. Não sem dificuldades, porém. A área da produção cultural assistia ao crescimento da indústria cultural no país, em sintonia com um projeto de modernização cuja meta era atingir o valorizado “padrão internacional de qualidade”. Haviam-se desenvolvido os meios de comunicação de massa: brotaram as redes de televisão, especialmente a Rede Globo, os fascículos semanais vendidos nas bancas de jornal, a indústria fonográfica; as marchinhas exaltativas da nação, o “sambãojóia embranquecido e repetitivo”, as reportagens propagandísticas de obras governamentais e riquezas naturais do Brasil, a literatura ligeira e pausterizada criavam um “misto de entertainement e ufanismo” que era peça fundamental do “espetáculo da superficialidade e do consumo” 33 que começava a ganhar espaço por aqui. Paralelamente, via-se a articulação institucional da cultura mediante dois fatores: a criação e ação de empresas privadas, que incrementavam o conceito e a concreção do mercado cultural, e as agências estatais, cuja atuação era intrinsecamente contraditória – como aponta Ventura, ao mesmo tempo em que tentavam incentivar, amparar e oficializar a cultura por meio de diversos institutos (começavam a aparecer o Instituto Nacional do Livro, Instituto Nacional de Cinema, Comissões de Teatro), promoviam a censura que a estreita; ao mesmo tempo em que objetivavam “descolonizar” a cultura (era uma das bandeiras de discurso do ministro Jarbas Passarinho), abriam espaço para as produções externas, sobretudo norteamericanas, e não conseguiam garantir a reconquista do mercado interno para a produção nacional. Dados mencionados por Ventura indicavam que cerca de 50% dos livros editados no Brasil consistiam em traduções; mais de 50% das músicas lançadas eram estrangeiras; apenas 10% do cinema veiculado era nacional34. Configurava-se no Brasil um quadro cultural complexo: ao lado do analfabetismo em massa, dos baixos índices de escolarização e de poder aquisitivo, a emergência de uma cultura industrializada e mercantilizada, condicionada pelas leis da produção (fabricação em série, consumo em massa, altos custos) e propiciadora de “ilhas de consumo”. O processo cultural sofria as vicissitudes de buscar acompanhar as 32 Cf. SILVA, Francisco Carlos Teixeira, “Memórias, esquinas e canções” [uma espécie de artigo-depoimento do autor, sobre o fechamento “dos espaços de dizer a dor” e a cultura como resistência], e sobre as cintilações da resistência, AARÃO REIS, “O curto ano...”, ambos na Revista Acervo, op.cit., p.14 e 36, respectivamente. 33 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, idem, p.95-96. 34 Para a discussão deste parágrafo e do que se segue cf. o artigo de Zuenir Ventura, “O vazio cultural”, que saiu na revista Visão em julho de 1971. O artigo encontra-se reproduzido na coletânea de Gaspari, E., HOLLANDA, H.B. e VENTURA, Z. 70/80 Cultura em trânsito. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. Para os dados mencionados, ver p.49, Ventura não menciona sua fonte. 88 alterações estruturais que se afirmavam com o modelo capitalista de desenvolvimento fortalecido pelo regime militar, mas mantendo resquícios artesanais das épocas anteriores. A resposta dos artistas e intelectuais seguiria as ambigüidades do processo: manifestando em comum uma grande perplexidade, alguns se adaptariam melhor às novas contingências da massificação; outros, considerando-se criadores e não produtores de cultura, combateriam o novo processo em nome da qualidade e da liberdade de criação, que acreditavam incompatíveis com a subordinação às demandas do mercado. Ao longo dos anos 60 e 70, as discussões se polarizavam entre o industrialismo ou o marginalismo; a gratuidade ou o consumo; as manifestações de vanguarda ou do “nacional-popular”; a expressão lógica ou a expressão intuitiva-surreal; racionalismo ou irracionalismo; o underground ou a comunicação de massa; arte ou indústria; som “universal” ou ligado às raízes brasileiras... até que explodiu em 1968 o movimento tropicalista, que embaralhou estes temas e complicou as discussões. 2.2. O grito tropicalista ...Poetar é simples, como dois e dois são quatro sei que a vida vale a pena etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, pra quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que, pensando bem, não é nada, se você está sempre pronto a temer tudo [...] E fique sabendo: quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. (Torquato Neto, coluna Geléia Geral, jornal Última Hora, 14/9/1971) Não obstante as controvérsias em torno da origem e significado sócio-cultural do tropicalismo, parece predominar a idéia de que o movimento, iniciado de forma não planejada em torno de 1967, trouxe à tona uma nova forma de sensibilidade e de relação entre arte e política, diversa das tendências culturalmente hegemônicas até então, embora esta poesia continuasse a manter vínculos com as vanguardas estéticas e, sobretudo, com a música (o que não deixa de ser um retorno à origem histórica da poesia), seguindo uma tendência da cultura popular – lembremos, por exemplo, Cartola – que se sistematiza com o que passou a se chamar de MPB, com a Bossa Nova nos anos 50, e posteriormente com a passagem do poeta Vinícius de Morais ao mundo musical. O tropicalismo teria um de seus marcos precursores em 1967, na exposição de artes plásticas em que de Helio Oiticica apresenta a série de instalações-parangolés, um dos quais intitulado “tropicália”, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), e no Manifesto Nova Objetividade Brasileira, também redigido por Hélio para o catálogo da exposição de mesmo nome. Outras fontes residiriam na 89 contracultura; no cinema novo de Glauber Rocha a partir de Terra em Transe; no teatro de José Celso Martinez, recuperando O Rei da Vela de Oswald de Andrade; na música popular de Caetano, Gil, Capinam, Torquato Neto, Tom Zé... Em todos, uma recuperação da proposta antropofágica oswaldiana para conceber a cultura brasileira, ao lado de uma atitude de carnavalização diante do mundo, seja em seu próprio comportamento, seja em sua expressão, gerando inicialmente bastante incompreensão. Em um artigo no Jornal do Brasil, Affonso Romano de Sant’Anna35 avaliava que o jovem brasileiro, “impossibilitado de participar da vida política nacional a seu modo e com uma carga vital desperdiçada”, descobria o tropicalismo, criando um movimento ainda meio confuso, mas autêntico, cuja ideologia e estética ainda estavam em elaboração. Em 1968, José Carlos Capinam e Torquato Neto escreveram um programa para a rede Globo de televisão intitulado Vida paixão e banana do tropicalismo, em que definiam: Tropicalismo é o nome dado pelo colunismo oficial a uma série de manifestações culturais espontâneas surgidas durante o ano de 1967 e portanto logo destinadas à deturpação e à morte. [...] é uma forma antropofágica de relação com a cultura, senhores e senhoras. Devoramos a cultura que nos foi dada para exprimirmos nossos valores culturais. Não tem nada a ver com doces modinhas, nem surgiu para promover o xarope Bromil. Isso é que é. A estrutura desse programa se assemelha a um ritual de purificação e modificação. E utiliza, para isso, as formas mais fortes da comunicação de massa, tais como: missa, carnaval, dramalhão, candomblé, teatro, cinema, sessão espírita, poesia popular, Chacrinha, inauguração, discurso, demagogia, sermão, orações, ufanismo, revolução, transplante, saudosismo, regionalismo, bossa, americanismo, turismo, getulismo, construção e destruição tipo Judas em sábado de aleluia. [...] grande patrono do tropicalismo, inesquecível e soberbo escritor Oswald de Andrade e a filosofia espontaneamente tropicalista do pára-choque de caminhão nacional.36 Estava explicado!... Mas a imprensa daria sua contribuição, cumprindo um papel relevante na própria construção do movimento enquanto tal, o que foi atestado diversas vezes por Caetano e Gil em entrevistas a jornais e revistas de então, afirmando que respondiam a uma demanda que os transformava em sucesso após o III Festival da Canção, realizado pela 35 Cf. SANT’ANNA, A. R. Música Popular e Moderna Poesia Brasileira, p.88-95. [a 1ª edição é de 1978]. Este artigo de 1968 encontra-se reproduzido no livro, p.88, não há menção à data precisa. 36 Roteiro do programa, In: TORQUATO NETO. Os últimos dias de paupéria (Do Lado de Dentro). Ed. póstuma, organizada por Waly Salomão e Ana Maria Silva de Araújo Duarte. São Paulo: Max Limonad, 1982, p.296-297. No texto “Tropicalismo para principiantes”, do mesmo ano, Torquato complementava: “... à procura de um movimento pop autenticamente brasileiro, um grupo de intelectuais reunidos no Rio – cineastas, jornalistas, compositores, poetas e artistas plásticos – resolveu lançar o Tropicalismo. O que é?// Assumir completamente o que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra, ainda desconhecido. Eis o que é. [...] os ídolos continuarão os mesmos: Beatles, Marilyn, Che, Sinatra. [...] como adorar Godard e Pierrot Le Fou e não aceitar Superbacana? Como achar Fellini genial e não gostar de Zé do Caixão? Por que o Mariaaschi Maeschi é mais místico do que Arigó?//O Tropicalismo pode responder: porque somos um país assim mesmo. Porque detestamos o Tropicalismo e nos envergonhamos dele, do nosso sub-desenvolvimento, de nossa mais autêntica e imperdoável cafonice. Com seriedade.” Idem, p.309-310. Não há no livro informações sobre a publicação prévia deste texto. 90 TV Record, de São Paulo. Quer estivessem unidos por uma proposta política, quer por afinidade estética, os tropicalistas certamente tinham algo mais a dizer do que frases-feitas de pára-choque de caminhão, por mais que elas revelassem toda uma dimensão da cultura popular a resgatar, como se vê neste poema-canção de Torquato, musicado por Gilberto Gil: um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia resplandente cadente fagueira num calor girassol com alegria na geléia geral brasileira que o jornal do brasil anuncia ê bumba iê, iê boi ano que vem mês que foi ê bumba iê, iê iê é a mesma dança meu boi “a alegria é a prova dos nove” e a tristeza é teu porto seguro minha terra é onde o sol é mais limpo e mangueira é onde o samba é mais puro tumbadora na selva-selvagem pindorama, país do futuro [...] é a mesma dança na sala no canecão na TV e quem não dança não fala assiste a tudo e se cala não vê no meio da sala as relíquias do brasil: doce mulata malvada um elepê de sinatra maracujá mês de abril santo barroco baiano superpoder de paisano formiplac e céu de anil três destaques da portela carne seca na janela alguém que chora por mim um carnaval de verdade hospitaleira amizade brutalidade jardim [...] um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido pego um jato viajo arrebento como roteiro do sexto-sentido foz do morro, pilão de concreto tropicália, bananas ao vento [...]37 “Geléia Geral”, um dos expoentes da estética tropicalista, realiza na forma o que sugere no título: superpõe uma miríade de elementos arcaicos e modernos constitutivos do Brasil contemporâneo, num tom ao mesmo tempo pungente e alegremente-irônico que acentua as 37 TORQUATO NETO, Geléia Geral., In: Os últimos dias de paupéria., página não numerada. 91 contradições da vida brasileira. Entre as numerosas citações de que lançava mão, Torquato repetia insistentemente a imagem do meio nacional como “geléia geral” – retirada de Décio Pignatari, em um dos manifestos do concretismo: “Na geléia geral brasileira, alguém tem de exercer as funções de medula e de osso” –, tanto como crítica política e cultural, quanto como busca de explicação de suas crises pessoais. Entre a forma e o informe, a ordem e o caos, o passado e o futuro, o poeta de sentimentos ambíguos procura sinais reveladores de uma dimensão mais originária de si próprio e do país (o sol mais limpo, o samba mais puro), desfolhando insígnias, não restritas e oficiais, mas aspectos corriqueiros da vida brasileira transformados em riqueza (relíquia) por um olhar baseado em valores plurais (“me sinto melhor colorido”), capaz de prezar nos signos mais cotidianos uma mistura complexa e não maniqueísta de fatores, compondo uma sensação de estranha beleza: é doce e malvada a mulata, que rima com sinatra, que não rima com maracujá nem o céu do mês de abril... o paisano [militar] abusa de seu poder, alguém chora, o samba desfila, o carnaval é real, como as amizades, e no cômputo final, vive-se num jardim de girassóis e brutalidade, que se repete ao longo da história (“é a mesma dança meu boi”)... É plausível também associarmos o verso de abertura, depois repetido, com o episódio das bandeiras vivido por artistas plásticos, amigos do poeta: movidos pela preocupação com a comercialização da arte e pelo projeto de um contato mais estreito com o público, os paulistas Flávio Mota e Nelson Leirner produziram uma série de bandeiras para expor em plena rua, em fins de 1967, quando foram confundidos com camelôs sem alvará e confiscados. Resolveram então trazer a proposta para o Rio, convidando uma série de artistas para criar bandeiras, que desta vez foram apresentadas sem problemas num happening na praça General Osório (18/2/68), animado pela Banda de Ipanema e passistas da Mangueira, amigos de Oiticica. Nesta ocasião, Cláudio Tozzi fez a bandeira “Guevara, vivo ou morto” e Hélio homenageou o bandido carioca Cara de Cavalo com a frase “Seja marginal, seja herói” – estas bandeiras provocariam grande celeuma quando utilizadas, em outubro de 1968, nos cenários de um show de Caetano, Gil e os Mutantes38. As bandeiras desfolhadas na canção de Torquato, efetivamente, desdobravam-se em muitos sentidos. Mas se outras interpretações são possíveis, não é provável que difiram muito deste conjunto geral de idéias, bem características do polêmico movimento que lançou “bananas ao vento” no final dos anos 60. Talvez a imagem da geléia geral seja mesmo a mais propícia para figurar a própria Tropicália, ressalvando-se que esta não era homogênea – as diferenças já principiavam, 38 Cf. PEDROSO, F.E. e VASQUEZ, P.K. Questão de ordem, vanguarda e política na arte brasileira. In: Acervo, op.cit., p.76. 92 preparando rupturas –, tendo em Hélio Oiticica e Torquato Neto seus formuladores mais empenhados39. As principais tendências se delineavam aos poucos, consistindo exatamente em justapor, de modo propositalmente festivo, elementos diversos da cultura, assim obtendo, no dizer de Celso Favaretto, uma suma de caráter antropofágico em que as contradições históricas, ideológicas e artísticas eram expostas e desmistificadas. Em outras palavras, realizava-se uma mistura de gêneros, referências culturais, índices político-sociais, elementos eruditos e populares, imagens da cultura de massa e da história nacional – associando, por exemplo, moda e psicodelismo, música pop e comportamento hippie, sons e cores, arte moderna e arcaísmos brasileiros, que se denominaram de “cafonismo” –, utilizando-se procedimentos plásticos, cinematográficos, poéticos, teatrais e de música contemporânea, provenientes das experiências de vanguarda (cubistas, dadaístas, surrealistas e concretistas), o que resultava em um processo de composição híbrido e de grande impacto. Empregando habilmente a paródia, a sátira e o humor, os tropicalistas produziam uma figuração alegrealegórica até então desconhecida no Brasil. O momento tropicalista efetuava, na visão deste autor, o que havia sido obstado pelas polarizações e preconceitos políticos e estéticos dos anos 50 e 60, isto é, “a realização da modernidade cultural, da atualização das artes, de renovação dos modos de significação do social e de questionamento do seu uso político”40. A singularidade do tropicalismo advinha, além dos procedimentos alegóricos, da maneira inovadora como se aproximava da realidade nacional, pois não tratava referencialmente deste tema e operava uma descentralização cultural que acabava por esvaziá-lo. Ou seja, a “mistura tropicalista” inseria-se de forma sui generis no processo de revisão cultural que se desenvolvia desde o início dos anos 60 no Brasil – quando nossas vanguardas artísticas mantinham a polêmica acerca da oposição entre arte alienada e arte participante, em acirrados debates em que se indagava até que ponto o imperativo de falar do país podia suplantar a pesquisa estética –, e esta diferença ocorria na medida que o tropicalismo enfrentava certa 39 Diz Décio Pignatari que criou a expressão em 1963, numa discussão com Cassiano Ricardo, e que Torquato a tornou “num mini-programa crítico criativo” e a disseminou, utilizando-a na letra da canção e na coluna que manteve no jornal carioca Última Hora, entre 1971 e 1972, de um modo programático, pois “Torquato não confundia Oswald de Andrade com Zé Celso[...] Seu repertório cultural era mais amplo, seus roteiros mais seguros. [...] Seu modo de proceder na montagem/colagem/bricolagem tinha uma certa orientação, não era errático”. Entrevista ao poeta Regis Bonvicino em 4/8/1982, in: Os últimos dias de paupéria, páginas iniciais não numeradas. 40 FAVARETTO, C. [Sessão de entrevistas.] Cult, Rio de Janeiro: Lemos Editorial, ano 5, n.49, ago. 2001 p.4-9. Entrevista. Citação na p.8. O trabalho de Favaretto, considerado basilar para a compreensão do fenômeno, retoma e amplifica trabalhos anteriores de leitura do tropicalismo, tanto de seus próprios agentes quanto de críticos da hora, como Cacaso, Augusto de Campos, Mário Chamie, Walnice Galvão, Affonso R. Sant’Anna, Silviano Santiago, Roberto Schwarz, entre outros. Cf. para as questões aqui tratadas, FAVARETTO. Tropicália: alegoria, alegria. São Paulo: Kairós, 1979. passim. 93 agressividade existente contra a experimentação estética e se lançava a tentar novos ritmos e estilos. Para tal, contava com o apoio das vanguardas, especialmente do concretismo. Segundo o poeta Armando Freitas F°41, em torno de 1968 a poesia brasileira havia chegado a um impasse, insatisfeita entre o “populismo” desgastado da poesia engajada, por um lado, e o fim da palavra, para o qual tendiam as vanguardas, por outro. Em janeiro daquele ano, os defensores do poema-processo, para o qual a poesia é semiótica, imagem-útil dos meios de comunicação de massa subvertida em contexto poético, haviam até mesmo realizado um happening nas escadarias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando rasgaram livros de poemas discursivos. O impasse remontava a antigas questões. Desde os anos 50, a arte brasileira havia-se engajado nos debates acerca da modernização do país e do caráter, ou ilusão, libertário da industrialização e dos movimentos de massa contra o poder remanescente das oligarquias agrárias e suas manifestações culturais típicas, como diz Marcelo Ridenti42. Antes de 1964, o meio artístico se ramificara em dois grandes grupos: primeiramente, os do movimento nacional e popular – ligados ao CPC, Teatro de Arena, Cinema Novo em sua primeira fase –, também chamados pejorativamente de “populistas”, empenhavam-se em combater o arcaísmo oligárquico do campo brasileiro, identificando-se ao camponês explorado, cuja figura encarnava, a seu ver, a genuína arte e sabedoria do povo. Numa interpretação política demarcada pelo PCB, vinculavam o progresso técnico à libertação popular, entendida como superação do imperialismo norte-americano e das relações “feudais” oligárquicas. No campo poético, foi expoente nos anos 60 a coleção Violão de Rua: poemas para a liberdade, composta de três livros-de-bolso com poemas organizados pelo poeta e filósofo Moacyr Félix; eram edições extraordinárias da coleção mais ampla e bem sucedida, Cadernos do Povo Brasileiro, editada pela Civilização Brasileira, editora pertencente ao comunista Ênio Silveira. Naqueles tempos em que o tema da revolução estava na pauta do dia, este grupo amalgamava a utopia marxista com a utopia romântica da identidade nacional, afinando-se com o “romantismo revolucionário”43 que fundamentava o 41 Cf. FREITAS F°, A. Poesia vírgula viva. In: NOVAES, Adauto (org). Anos 70..., op.cit, p.161-203. Para as vertentes estético-políticas ver os seguintes trabalhos de RIDENTI, M. Em busca do povo brasileiro, p.113-121; O fantasma da revolução brasileira, p.77-86; Cultura política: os anos 60-70 e sua herança. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L. (org). O Brasil Republicano: o tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (O Brasil republicano, v.4). p.135 ss. 43 A visão de Ridenti é baseada em concepções de Michael Löwy a respeito do teor romântico-libertário e anticapitalista de certos pensadores de esquerda. Quanto ao pré-capitalismo no Brasil e sua substituição pelo capitalismo em sua completude, a discussão é vasta e não cabe aqui. Sigo a linha que vê a modernização brasileira, e seus problemas, como um lento processo de maturação ao longo da República, tendo nos anos 60-70 sua estabilização nos moldes capitalistas. 42 94 projeto de emancipação social nos princípios de dignificação do humanismo. Após o golpe de 64, os defensores desta corrente tenderam a uma postura defensiva em relação à modernização industrial-tecnológica e seus desdobramentos culturais impostos pelo regime militar, mantendo as propostas estéticas anteriores e se apegando às “tradições populares précapitalistas” como forma de resistência política. Diversamente pensava a outra ramificação dos debates estético-políticos, a vertente dos formalistas, composta pelos concretistas e outras vanguardas. Eram adeptos de uma estética modernizante, segundo eles, cuja prática política consistia na própria renovação formal, uma vez que conteúdo e forma na linguagem são unos e, por conseguinte, não seria possível uma prática política transformadora sem uma nova estética, como se aprendia do poeta russo Maiakovski: “sem forma revolucionária não há arte revolucionária”. Empunhavam inicialmente a bandeira do moderno sem restrições, vendo no avanço técnico e industrial um valor positivo intrínseco, independentemente de seu caráter de classe ou das injunções de poder e dominação que portasse. Cabia à linguagem artística se modernizar, pois uma revolução estética formal carregada em si mesma de uma mensagem politicamente rebelde e anárquica se fazia necessária diante da nova realidade do mundo. O transe na filmografia de Glauber Rocha (o filme Terra em Transe, discutindo o populismo e o lugar do intelectual-poeta, é de 1967), a antropofagia do modernismo oswaldiano retomada pelos concretistas – de onde os tropicalistas a beberam –, seja na música, teatro, artes plásticas ou poesia, tornavam-se instrumentos para tentar ler os paroxismos e paradoxos da sociedade brasileira. Para isto, o poema concreto deveria seguir “exato, preciso, industrialmente projetado. Um poema reluzente, limpo, objeto industrial de padrão internacional: um produto nacional para exportação”, como sugerira Haroldo de Campos um dia, numa frase que renderia muitas críticas no futuro. Nascida destas discussões, que inclusive já se exauriam, até mesmo por força da repressão, a tropicália propunha um tipo diverso de debate e tática cultural, ao assumir outros matizes ideológicos e se relacionar com o público de forma mais definidamente artística/formal, rompendo com o discurso explicitamente político para retomar a tradição de pesquisa do modernismo e olhar o país com novos olhos. Este novo olhar exigia novos procedimentos estéticos e novas categorias para compreendê-los, de onde o recurso dos críticos aos conceitos de carnavalização (Bakhtin) e de alegoria (Benjamin), que se tornariam muito adequados, talvez mesmo necessários, para as leituras da cultura brasileira a partir do final dos anos 70. Em especial, o conceito benjaminiano de alegoria se tornaria útil, visto que seu autor, ao ampliá-lo de uma categoria do barroco alemão para toda a modernidade, apresentava-o como uma figura de linguagem e 95 pensamento composta de fragmentos e colagens, em que a imagem modelada adquire múltiplos sentidos possíveis, numa forma estética típica da arte moderna, diversa dos sentidos únicos derivados da soma harmônica das partes que caracteriza o símbolo, não mais possível nestes tempos44. Em artigo de 1970, em meio a uma das primeiras leituras críticas do tropicalismo, Schwarz já o considerava como eminentemente alegórico, sendo justamente neste esforço de encontrar matéria sugestiva e datada – com a qual alegorizam a ‘idéia’ intemporal de Brasil – que os tropicalistas têm o seu melhor resultado. [...] A imagem tropicalista encerra o passado na forma de males ativos ou ressuscitáveis, e sugere que são o nosso destino, razão pela qual não cansamos de olhá-la.45 A imagem tropicalista, que amalgama alegoricamente elementos técnicos, sociais e históricos, rasgando uma face idealizada do Brasil e recompondo-o em facetas fragmentadas, em que arcaico e moderno formam um fluido mosaico nacional, relaciona-se com uma experiência espacial-temporal de profundas raízes na cultura brasileira, e latino-americana em geral, sucessivamente retomada e revista, ao menos desde que os modernistas a explicitaram: como observa Antônio Cândido, em razão da sua história, que teve que lidar com a colonização e a descolonização, esta cultura-literatura foi desde sempre marcada pela heterogeneidade de relações sociais, materiais e espirituais, tanto nas vivências dentro de uma mesma geração quanto entre gerações, como é típico de sociedades muito desiguais. As discussões sobre a superação do passado arcaico e do que significa ser moderno no futuro – cujo modelo é dado pelos países colonizadores, de onde derivam inclusive as línguas-matrizes em que se solidificaram as literaturas pós-coloniais –, num presente sempre dilacerado por contradições em que se cruzam diferentes tempos, espaços de convivência e formas de sobrevivência, de sociabilidade e leitura de mundo, imprimem em tais culturas um traço não linear, que prepara as descontinuidades cronológicas e formais quando o momento cultural é propício. Tal dinâmica se relaciona com a dialética do localismo-cosmopolitismo, que Antônio Cândido considerou como elemento fundante dos sistemas literários na América Latina, os quais têm, estruturalmente, que lidar com valores e formas dos colonizadores, ao mesmo tempo em que buscam ser e expressar suas peculiaridades nacionais. Daí derivam dois 44 BENJAMIN, W. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. Ver também o trabalho de Gagnebin, Sete aulas sobre linguagem, história e memória citado no cap.1, sobre o conceito de modernidade em Benjamin. 45 SCHWARZ, R. Cultura e política 1964-1969. In: Cultura e política: 1964-1969. In: Cultura e política. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p.34. Trata-se também de uma das primeiras recepções de Benjamin no Brasil. Cf. resenha de PINTO, M. C. Benjamin nos Trópicos. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 out. 2006, Ilustrada, p.E2. Note-se que Celso Favaretto, ao tratar da música, e Ismail Xavier, estudando o cinema tropicalista, também recorrerão aos conceitos benjaminianos. 96 aspectos componentes dessas literaturas, particularmente a brasileira: primeiro, a problemática da expressão, pelo fato de que, num país de contrastes, “onde tudo se mistura e as formas regulares não correspondem à realidade”, a possibilidade dos autores se manifestarem com mais propriedade é a expressão livre, de forte traço poético46. Segundo, uma consciência de atraso, que por sua vez se subdivide em dois tipos: uma espécie de consciência amena, surgida nos momentos iniciais da independência e conduzida pela idéia de país novo e promissor, onde a pátria e a natureza se fundem num desejo de grandeza e manifestações exóticas, tentando-se compensar o atraso com uma ideologia, ou ilusão, de ilustração; e uma consciência catastrófica do atraso, pessimista e pouco eufórica, correspondente à noção de país subdesenvolvido, criando uma visão agônica e politizada, afeita à idéia de revolução para superação dos problemas econômicos e da debilidade da cultura. Discutindo a ambivalência do escritor latino-americano diante da dependência cultural e do público iletrado, que no século XX passou rapidamente da dinâmica oral para a cultura de massas, muitas vezes estes pensadores do atraso – entre os quais muitos poetas e intelectuais do período em estudo – incorreram em equívocos, substituindo a dialética do nacional-estrangeiro pelo dilema do domínio imperialista, desconsiderando que a práxis revolucionária demanda uma visão matizada do desenvolvimento cultural, compreendendo em amplitude as relações culturais com o mundo, europeu sobretudo, e as relações estruturais internas a serem superadas47. A busca de superação dos problemas culturais por via de uma luta nacionalista contra o imperialismo havia selado fortemente a arte engajada brasileira, entre as décadas de 40 e 60. Em decorrência, formaram-se grupos defensores de uma (imaginária) identidade culturalnacional, que comumente apresentava uma visão dualista do Brasil, partido entre um país rural, matriz da identidade nacional, e um país urbano, onde a cultura se descaracterizava por conta da invasão da mídia internacional. Isto era recusado pelos tropicalistas, em nome de uma noção mais pluralista, às vezes confusa, das relações culturais, nacionais e internacionais. Era o caso, então, de resgatar o Brasil macunaímico e a proposta antropofágica de Oswald de Andrade – análoga, por exemplo, ao conceito de transculturação desenvolvido pelos uruguaios Fernando Ortiz e Angel Rama –, que havia lidado (nos limites de seu contexto, 46 Cf. Antônio Cândido, nos diversos artigos de Literatura e sociedade, frase citada, na p.112. Este raciocínio pode ajudar a compreender também o realismo fantástico latino-americano. Um comentário sobre o tempo não linear da literatura brasileira aparece também em artigo de Ettore Finazi-Agró, Caderno Mais!, Folha de S.Paulo, 9/5/2004. Sobre a literatura latino-americana, uma visão abrangente é oferecida na obra do uruguaio Angel Rama, A cidade das letras. O trabalho de Mario de Andrade, especialmente Macunaíma, também é importante para se entender este processo; embora fosse menos aludido que Oswald, estava presente no Cinema Novo, tendo sido filmado por Joaquim Pedro de Andrade, na crítica de Cacaso e em diversos poemas. 47 Cf. CÂNDIDO, A. Literatura e subdesenvolvimento. In: Educação pela noite e outros ensaios. 2.ed. São Paulo: Ática, 1989, p.140-162. 97 evidentemente) com tais questões, o que o tornava candidato eleito a patriarca do tropicalismo: este, diz Ismail Xavier, operava uma montagem de signos extraídos de diversos contextos, linguagens e tradições, efetuando em suas colagens uma contaminação mútua do nacional e do estrangeiro, da alta e da baixa cultura, do moderno e do arcaico, numa dinâmica cultural feita de incorporações do Outro, em contraposição a uma idéia mítica de raízes nacionais. Ao fazê-lo, e ao mobilizar o dinamismo do mercado – para usar o poder deste em dissolver tradições indesejáveis, ao mesmo tempo em que introduzia neste dinamismo uma leitura das tradições, por irreverente que fosse –, apresentava uma modernização do entendimento da questão nacional48. No entanto, esta modernização da experiência histórica – com base no processo substitutivo de importações e no nacional-desenvolvimentismo ocorrido entre os anos 30 e 60 – e de sua compreensão era problemática. Na visão de Roberto Schwarz, endossada por Cacaso, as contradições da imagem tropicalista, somando o novo e o arcaico nacional, figuravam um abismo histórico real, mas as tensões e indefinições do estilo oscilavam entre a crítica ao conservadorismo patriarcal-subdesenvolvido e a integração à modernidade, percebendo, sem propriamente entender, que esta pressupõe e exige a coexistência do arcaico/subdesenvolvido e do novo/moderno de forma indissolúvel, posto que isto é funcional para o capitalismo em âmbito internacional e, nos países periféricos, tal coexistência adquire força central e emblemática. Como na imagem tropicalista a oposição dos termos é insolúvel, sem haver possibilidade de uma superação dialética – que poderíamos chamar de Aufhebung – fixa-se uma imagem de Brasil de contradições irreconciliáveis. Apenas um pensamento descolonizado e descolonizador poderia conceber um país distinto, mas o tropicalismo não o fez, uma vez que se encantava pelo modelo técnico internacional e o estabelecia como parâmetro comparativo para toda a América Latina, enxergando a história, portanto, com a lente do colonizador. Em última instância, os tropicalistas assumiam a visão de mundo das teorias desenvolvimentistas, já muito criticadas à época pelas concepções da teoria da dependência. Em suma, ao sugerir um destino imutável para este Brasil multifragmentado, determinado pela reatualização dos males do passado, e cuja superação só se daria segundo um modelo desenvolvimentista de história, marcado pela cópia do parâmetro técnico do primeiro mundo, o movimento se revelaria mais conservador e mais ligado ao “populismo” do que gostaria.49 48 Cf. XAVIER, I. Cinema brasileiro moderno. 2.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p.30-31. Cf. SCHWARZ, R. Cultura e política 1964-1969, op.cit., passim. No artigo Tropicalismo: sua estética, sua história, supracitado, Cacaso retomava e explicava as críticas que Roberto Schwarz fizera ao tropicalismo neste 49 98 A despeito desta crítica, contudo, para o grande público o tropicalismo parecia oferecer uma saída, nem populista nem vanguardista, segundo os termos da época. Por sinal, as vanguardas, acusadas de elitistas por conta de sua linguagem e pressionadas por uma necessidade de maior comunicabilidade e participação política, modificavam-se em certa medida, aliando-se à nova movimentação, de setores do cinema novo (mais próximos da poesia-práxis), da MPB, do tropicalismo, com o fito – diz Armando Freitas F°50– de ampliar seu público e acessar os meios de comunicação de massa. Para além dessa demanda, porém, cabe perguntar se não há um “algo a mais” contido na busca de melhor comunicar: não se trataria, também, de tentar encontrar meios de dizer o que não se sabia ou conseguia dizer? Como indicam as epígrafes acima, de Torquato Neto e Capinam, que eram significativas personagens poéticas da Tropicália, esta era um grito, e as pessoas gritam quando não mais cabem nas formas convencionais ou polidas de falar. O grito, dizem os dicionários, resulta de um esforço para se fazer ouvir ao longe, é um brado de socorro, um protesto, um clamor por atenção, um modo de exprimir dor, raiva ou qualquer forte emoção. O grito é um rasgo da voz. O grito “entre o gesto e o precipício” de Capinan, que tenta expressar o fechamento de toda uma geração “atrás do refúgio de um poema”. A espécie de poética decorrente, gritante, rasgada e caleidoscópica, era então concebida, por seus próprios atores, como um modo “marginal”, tanto pela sua diferença estilística quanto por seu vínculo com a contracultura em geral. Tal “marginalidade” era valorizada positivamente, em consonância com as leituras que os artistas brasileiros principiavam a fazer de Herbert Marcuse, cujos livros estavam sendo traduzidos no país51. Em correspondência de 1968, Hélio Oiticica, sentindo-se “sufocado” e reclamando da “barra pesada” e do “terrorismo de direita” que censurava suas obras, bem como da “gente mesquinha e idiota” que sabotava a vanguarda artística, compreendia o comportamento marginal como aquele em que ocorre o descondicionamento burguês e a incorporação do princípio do prazer. O momento era “de síntese e reposição de valores”, havendo que se buscar a autonomia da arte e uma expressão própria em contraponto às pressões do mercado e dos rivais, uma vez que compreendia a arte como “outro ‘plá’ [...] Não somos comerciantes de arte para termos competição, nem trabalho, cuja primeira publicação se deu em Paris, em Les Temps Modernes, n.288, 1970. Cf. BRITO/CACASO, Não quero prosa, p.139-152. 50 Cf. FREITAS F°, op.cit., p.167-178. Sobre a “nova poesia” ver o próximo capítulo. 51 Ente 1968 e 1973 publicaram-se no Brasil: A ideologia da sociedade industrial, O homem unidimensional, Eros e civilização, Idéias sobre uma teoria crítica da sociedade, Contra-revolução e revolta, O fim da utopia, O marxismo soviético, Razão e revolução. Há divergências acerca desta recepção de Marcuse no Brasil, pois alguns autores discordam que haja no próprio Marcuse uma relação com a idéia de cultura e comportamento “marginal” do modo como certos intelectuais brasileiros o interpretaram, especialmente Luis Carlos Maciel, considerado um dos gurus daquela geração. 99 ideólogos”. Entre inúmeras considerações sobre arte contemporânea e arte no Terceiro Mundo, retomava de Marcuse a idéia de que a liberação de forças imprevisíveis era um problema central da atualidade e que, portanto, a especificidade da arte brasileira se constituía pela dramaticidade de se lidar com a violência e as pesadas dificuldades, derivando daí uma projeção de futuro anticapitalista em que o artista autêntico seria um “desclassificado” como um marginal marcuseano52. Na leitura de Cacaso, o significado do marginal era um conflito com os valores e comportamentos representativos do mundo oficial, com o qual se sentia incompatibilizada boa parte da juventude, intelectuais e artistas – a propaganda ideológica, que lançava mão de refrões como “Brasil, ame-o ou deixe-o” e “Este é um país que vai p’ra frente, com uma gente amiga e tão contente” eram especialmente irritantes para a oposição. A tensão que se experimentava se traduzia na forma de dispersão e espontaneidade imediata de cada um, já que se havia interrompido a comunicação com as camadas populares e a vida cultural se represara “nos limites de classe da pequena burguesia e em setores médios ilustrados. Mas até 69, por aí, o tom predominante era crítico, a vivacidade era grande, as áreas intelectuais e artísticas se procuravam e interligavam, as pessoas trabalhavam e pensavam juntas. O tropicalismo, por exemplo [...]”. Assim, estar em contraposição era estar “marginal”, e esta marginalidade se manifestava em duas esferas, no que concerne à produção cultural e artística: torna-se vigente na cultura uma ideologia de contestação, ensaiando valores e atitudes alternativos e assumindo formas variadas e mesmo contraditórias, ao lado do problema material de fechamento do mercado editorial aos novos autores, que se viam na situação de assumir a edição e distribuição de seus trabalhos com risco próprio53. Ao longo da década de 70, a situação decorreu em iniciativas culturais que se tornaram conhecidas como “marginais”, a despeito da imprecisão ou inadequação desta nomenclatura, como se verá. Tais iniciativas se traduziram tanto numa imprensa “alternativa” (Pasquim, Movimento, Opinião, entre inúmeros outros), quanto no teatro, na literatura, no cinema e, de certo modo, nas artes plásticas. No entanto, se alguns setores do cinema, mormente os afinados com os primórdios do Cinema Novo, dos anos 60, sintonizaram com este veio mais marginal (o “cinema do lixo”, do período 1969-73, com Bressane, Ivan Cardoso, Sganzerla etc.), a produção cinematográfica em geral era mais obrigada às exigências da indústria e do 52 Cartas de Hélio Oiticica para Lygia Clark, de 15/10 e 8/11/1968. In: LEMOS, R. (org). Bem Traçadas Linhas: a história do Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2004. p.410-431. Vale lembrar que é de Hélio a autoria do termo “tropicália” e do lema “seja marginal, seja herói” (usado na bandeira já mencionada e em um bólide) que encantava os jovens de então. Parte da correspondência entre Torquato e Helio, também discutindo o tema, encontra-se reproduzida em Os últimos dias de paupéria. 53 BRITO, A.C. Tudo de minha terra, op.cit., p.134, ver também nota 4 para a citação. 100 mercado em virtude dos custos e da complexidade de sua produção e divulgação, e o que mais cresceria na época seria a cinematografia pornográfica. Igualmente nas artes plásticas o mercado daria o tom, com o crescimento dos leilões e galerias de arte54, malgrado a pujança da “antiarte” de Hélio Oiticica, da estética pop-crítica de Rubens Gershman, Antônio Dias, Carlos Zílio e outras correntes afins ao tropicalismo. Entre o mercado e a autonomia estética e política, a derrota e a festa, o passado tradicional e a modernização, os desdobramentos e significados de 1968 têm sido continuamente reinterpretados e ressignificados. Por diversos motivos, este ano parece ser mesmo uma vertigem e um grito, um grito na vertigem, que tanto propicia a imagem do tempo curto demais para todos os desejos ali postos, como sugere Aarão Reis, quanto a imagem inversa do “ano que não terminou” que intitula o livro de Zuenir Ventura. Seja como for, o grito vertiginoso adentrou os tempos que se seguiram com suas línguas de fogo e, ainda os dias de hoje, com sua verve desconstrutiva. 2.3. Um marco historiográfico No caso do Brasil, à data “1968” é conferida uma importância historiográfica especial, uma vez que se entenda uma data histórica não estritamente como um dia, mês ou ano, mas como um processo complexo em que interagem questões sociais, políticas, econômicas e culturais, nacionais e internacionais, cujas tensões convergem em um dado contexto, do qual a data é expressão. Em outras palavras, é o signo de uma constelação histórica, como diria Benjamin, e seus desdobramentos. No 1968 brasileiro, como apontado, convergem influxos do movimento contracultural internacional, da Nova Esquerda, das ditaduras militares latinoamericanas e sua relação com a política internacional, especialmente o projeto norteamericano para a América Latina, da violência de Estado atingindo índices inusitados, do processo de modernização nacional-desenvolvimentista e suas teorias econômicas, dos instrumentos jurídicos envolvidos, das ações e reações dos movimentos sociais, das propostas estéticas de atualização cultural e seus embates, do estado das artes em todos estes itens... Dentro dos vinte anos da ditadura militar brasileira, como se procura mostrar neste capítulo e nos que se seguem, 1968 simboliza este ponto de confluência de tensões de diversa ordem – ainda que a ditadura date de 1964, o processo sócio-político-cultural desses quatro primeiros anos desemboca posteriormente – e, como tal, pode ser visto como uma baliza histórica. 54 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, op.cit., p.96-97 e VENTURA, loc.cit. Para o cinema marginal, cf. XAVIER, op.cit., p. 67-72. 101 Especialmente no que concerne à história da cultura, o momento foi marcante. O Ato Institucional n°5, de final de 1968, aumentando o nível de repressão estatal sobre o processo político que vinha dos anos anteriores e derivando em violência crescente nos anos seguintes, tem sido continuamente citado como divisor de águas na experiência cultural brasileira, de modo que o conjunto “1968/AI-5” se configura como um marco. Nas palavras do poeta e crítico Cacaso, referindo-se a este momento, Entre 64 e fins 68, por exemplo, polemizou-se ardorosa e fartamente. A vida cultural, nos primeiros cinco anos de ditadura, manifestou-se pra valer.Uma cultura de esquerda, não sendo impedida, floresceu e radicalizou-se num regime de direita. Foi a partir de fins de 68, com o AI-5, que a coisa mudou. Do ponto de vista da cultura, de certa forma, a ditadura começou de 69 em diante. É este o momento da brutalidade, do esmagamento. Por questões de cultura, corria-se perigo de vida. Durante mais ou menos cinco anos, nossa vida cultural silenciou, cessaram as divergências, as diferenças foram momentaneamente suspensas.55 Ou ainda: Nossa vida cultural, cheia de viço e ideais, foi, do dia pra noite, reduzida a escombros. O período que se abre a partir daí inaugura um capítulo novo em nossa história cultural, que ainda não se esgotou nos dias que correm. É o tempo do 56 grande desbunde. A percepção de que ocorreram, no passado recente, transformações profundas a ponto de reorientar a vida e a cultura chama a atenção do historiador. A história do tempo presente, desenvolvendo-se na segunda metade do século XX, tem seu marco na 2ª. Guerra Mundial, cujas decorrências provocaram tão grande impacto que permaneceram por um tempo invisíveis, até se tornarem objetos de numerosas investigações, que procuram compreender seu caráter social traumático, além do econômico e político. A necessidade de lidar com tais questões trouxe uma série de modificações à historiografia, que se viu chamada à construção de novas percepções e novos conceitos, como já havia ocorrido com a arte e a filosofia. Um processo semelhante se deu no Brasil, com respeito ao significado da ditadura militar e seu momento de consolidação da violência, sobretudo a partir do AI-5. Carlos Fico observou o quanto foi notável, no ano de 2004, o amplo interesse despertado pelos eventos de reflexão sobre os quarenta anos do golpe militar no país, “diferentemente de dez anos atrás, quando seminários acadêmicos sobre os trinta anos do golpe de 64 tiveram que ser cancelados ou contaram com baixa freqüência de público”.57 Durante quarenta anos permaneceram pouco visíveis para a sociedade brasileira, com exceção dos meios especializados ou particularmente 55 BRITO/CACASO. Você sabe com quem está falando? (As polêmicas em polêmica). In: Não quero prosa, p.104. A visão de uma cultura tendencialmente de esquerda florescendo no regime ditatorial encontra-se em SCHWARZ, Cultura e política 1964-1969, op.cit., e será retomada adiante. 56 BRITO, Tudo de minha terra, op.cit., p.131. Grifo meu. Vale lembrar que o texto é de 1978. 57 FICO, C. Versões e controvérsias..., op.cit., p.30. 102 interessados, os acontecimentos históricos que haviam criado impasses e exigido mudanças deveras significativas na arte e no pensamento crítico, assim como no comportamento e na ação política. Isto nos convida a pensar seriamente sobre a dimensão traumática que tal momento significou entre nós, compreendendo-se o trauma como uma cesura na experiência que tem repercussões tardias. Mais especificamente, derivado do termo grego para designar “ferida”, o trauma é o desdobramento tardio de um acontecimento ocorrido quando os sujeitos não estavam preparados para sentir angústia, uma desorganização psíquica que viola a capacidade de enfrentamento e domínio prático e simbólico do que foi dolorosamente vivido. Deste modo, produz-se um “apagamento” da dinâmica mental que permitiria a elaboração “cicatrizante”, por assim dizer, reduzindo então o poder de ordenar, estabelecer ligações, suportar afetos e representar o acontecido, seja pela memória ou expressão. Individual ou coletivo, o trauma como uma “experiência impronunciável” ou obscura é difícil de ser apreendido, pois sua condição tardia (todo trauma compreende um período de latência e uma repetição, como uma resposta traumática) e sua irrepresentabilidade estrutural frustram a possibilidade de formação subjetiva e social (Bildung), vista como aprendizado experiencial, bem como o processo de normalização contextual58. Assim, coloca-se para os historiadores uma dupla questão: lidar com os numerosos problemas advindos daquilo que Dominick La Capra denomina “trauma histórico”59, e, como condição para a história do tempo presente, estipular os fatos balizadores de uma transformação que tenham atingido o plexo de uma geração, afetando sua experiência e transmissão. Em ambos os casos, a ditadura militar, em especial os influxos de 1968, merecem ser, e têm sido, cuidadosamente considerados, isto é, trata-se de investigar a 58 Cf. DA POIAN, C. A psicanálise, o sujeito e o vazio contemporâneo. In: Formas do vazio: desafios ao sujeito contemporâneo. São Paulo: Via Lettera, 2001, p.15-16; LA CAPRA, D. Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva visión, 2005, p.100 ss.; JAY, M. Songs of experience, modern American and European variations on a universal theme. Berkeley/Los Angeles/Londres: University of California Press, 2005. p.259. Jay, La Capra e quase todos aos autores que tratam da relação história-trauma, remetem ao trabalho de Cathy Caruth. Unclaimed experience: trauma, narrative and history (Baltimore, 1996), ao qual não consegui ter acesso no período deste trabalho. 59 Dominick La Capra sugere a distinção entre trauma estrutural, como uma perda ou ausência universal, que encontra sua formulação no mito (como Édipo, ou a Queda do Paraíso), e trauma histórico, que é específico no tempo e no espaço, e produz vítimas cujo testemunho obscuro, como uma espécie de simulacro virtual do acontecimento traumático, cabe ao historiador investigar. Neste ponto La Capra diverge de Caruth, para quem esta experiência é inexprimível. Cf. LA CAPRA, op.cit., p.96-97. Para a sugestão de 1968 e suas derivações como marco da história do tempo presente no Brasil, ver TEIXEIRA, F.C. Memórias, esquinas..., op.cit., p.10. 103 importância daquele momento como marco, traumático, da história cultural do tempo presente60 no país. E como recordar o passado recente é particularmente difícil, pois que pede o enfrentamento de memórias dolorosas, nem sempre já cicatrizadas, bem como um posicionamento político assumido e equilibrado, nem sempre já encontrado, cabe a este processo de compreensão historiográfica, lembrar, registrar e novamente lembrar de “quem não dança [e] não fala/assiste a tudo e se cala”, no coração do Brasil. 60 Para as discussões sobre os marcos e problemas da história do tempo presente, ver CHAVEAU, A. e TÉTARD, PH. (org). Questões para a história do tempo presente. Bauru: EDUSC, 1999. E também: Uma história presente, de René Remon, e Os intelectuais, de Jean-François Sirinelli, In: Remond. (org). Por uma história política. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 13-36 e p.231-270, respectivamente. O artigo supra citado de Francisco Carlos Teixeira também discute a questão. 3. Vozes Interrompidas e Subterrâneas II: Palavras e ciladas, vazio e fim de mundo (1968-1972) Tude a paranóia os assaxinatos têm me persg Timamente não sei razão não devo deixar pis Ercito principmente a insegurança a total fal Tias polítiquis mínimis no mais nu sem sol Emos partir viver no exilis (Luis Olavo Fontes, “Fug 42”) 3.1. Dos trópicos à margem... passagem à experiência A dura tarefa de estabelecer o divisor de águas entre a Tropicália e a poesia que se seguiu se revela até na dificuldade de nomeá-la, e todos que o fizeram ressalvaram que se tratava mais de um nome, na falta de algo melhor, do que de uma classificação: “poesia póstropicalista”, para Heloisa Buarque de Hollanda; “nova poesia” para Armando Freitas F°; “marginália” ou “pós-vanguardas marginais”, para Affonso Romano de Sant’Anna. Este, entre os primeiros críticos desta transição, a partir de 1968 veria sobrevir, a uma poética tropical e solar, “uma música e uma literatura underground, mais mórbida, esotérica, penumbrista e decadentista, onde não faltam os orientalismos hippies”, efetuando uma apologia da “curtição do momento” e do “lado sujo e sórdido da vida” como modo de se opor ao sistema e se diferenciar da limpeza característica da bossa nova1. As opiniões de Sant’Anna acerca desta “lixeratura”, como ele a chamou, recebidas como desabonadoras ou pouco sensíveis ao fenômeno em questão, acarretou inúmeras reações por parte de poetas, leitores simpáticos e críticos mais afins com sua linguagem, que passaram a procurar compreender e legitimar aquela nova forma de fazer poesia. Ao longo da década de 70, os jornais alternativos, como Opinião, Movimento, Gam etc., e mesmo a grande imprensa, veicularam entrevistas, depoimentos, artigos e matérias diversas, de Cacaso, Silviano Santiago, Bernardo Vilhena, Ana Cristina César, Eudoro Augusto, Leila Míccolis, entre outros tantos, que, como Hollanda e Messeder Pereira, trabalharam “no sentido de demonstrar como essa poesia, desmentindo o senso comum, foi extremamente atenta às crises político- 1 SANT’ANNA, A. R. Música Popular e Moderna Poesia Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980.p.180 e 246. 105 existenciais da história de seu tempo, e ainda como se empenhou, em verso e prosa, em redefinir a maneira de pensar e viver a poesia”2. Naquele quadro, contudo, sob o jugo da censura política e das contradições e respostas polêmicas à emergência da indústria cultural, as transformações do processo cultural não se davam de maneira imediata, tampouco linear. Armando Freitas F° vê, neste momento em que as vanguardas se desmontavam, articulando-se com a música tropicalista e o cinema novo, o surgimento da “nova poesia” mediante a atuação de poetas que, ao participar dessa discussão, transformaram-se e, como “mutantes em transe e em trânsito”, realizaram a transição do tropicalismo para a poesia marginal, ou melhor, prepararam o terreno para esta à medida que abriam os jogos formais à experiência. Se o “eixo drummond-cabral” que referenciava as vanguardas já começara, com os tropicalistas, a ser mudado para o eixo da “lição de 22” dos primeiros modernistas – especialmente a obra oswaldiana que, junto com Luis Aranha, trazia para o texto escrito as técnicas cinematográficas do corte e montagem, além da rapidez do poema-minuto e do poema-piada –, agora se retomaria ademais a lição de outros modernistas, como Jorge de Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, e ainda João Cabral de Melo Neto e Cecília Meireles, e, sobretudo, Manuel Bandeira3. Paulo Leminski sintetizaria, muitos anos mais tarde: “isso de querer/ser exatamente aquilo/que a gente é/ainda vai/nos levar além”4 Três conjuntos de questões se desdobram neste ponto, merecendo atenção. Em primeiro lugar, a (re)tomada da experiência como matéria de poesia. A modernidade, diz Martin Jay5, estabeleceu uma diferenciação entre forma e conteúdo e produziu uma espécie de fetiche da forma auto-suficiente como lugar privilegiado da significação e do valor da arte. Acompanhando este movimento, o próprio discurso crítico centrou-se nas questões formais, de modo que a história da estética modernista (no mundo europeu/norte-americano) foi freqüentemente escrita como o triunfo da forma sobre o conteúdo, ou o tema ou a experiência. Problematizando esta configuração, Jay discute a existência do amorfismo e do disforme como contra-tendência moderna – com base nos trabalhos de Georges Bataille, Rimbaud, fotógrafos surrealistas e na música atonal, em que se apresenta o que não é comumente 2 HOLLANDA, H. E MESSEDER PEREIRA,C.A. Poesia Jovem Anos 70. São Paulo: Abril Educação, 1982. (Literatura Comentada), p.11, nota 1. 3 Cf. FREITAS F°, A. Poesia vírgula viva. In: NOVAES, A. (org). Anos 70, ainda sob a tempestade, p.167-178. Para a transição, ver esp. p.172. 4 Incenso fosse música., In: Distraídos Venceremos. 5.ed. 3.reimpr. São Paulo: Brasiliense, 2002, p.93. 5 JAY, M. El modernismo y el abandono de la forma. In: Campos de fuerza, entre la historia intelectual y la critica cultural. Buenos Aires: Paidós, 2003, p.273-291. Cf. também BÜRGER, P. Theory of the Avant-guarde 10. impressão. Minneapolis/EUA: University of Minnesota Press, 2002 (Theory and History of Literature, v.4). Há uma edição em português: Teoria da Vanguarda. Trad. Ernesto Sampaio. Lisboa: Vega Universidade, 2003. 106 formalizável no âmbito da tradição ocidental – e defende o modernismo como um campo de tensões entre os impulsos formais, que têm como parâmetro “o olho do espírito”, e os impulsos amórficos ou disformes, cuja referência é o corpo realmente existente, perecível e marcado pela experiência do tempo, da deformação e da dor, que não é representável. Além disto, como mostram os estudos de Peter Bürger, as vanguardas européias de início do século XX, em contraposição ao formalismo modernista, voltaram-se ativamente para a experiência, em sua dimensão existencial e política. Deste modo, uma arte que afirma a experiência encontra-se perfeitamente dentro do conjunto de problemas da modernidade tanto quanto da estética modernista. No caso do Brasil, há distinções a serem sublinhadas. Em virtude de nossa história (pós)colonial, como já observado, o modernismo brasileiro não se mostrou, ao contrário do europeu, adepto do formalismo ou da arte-pela-arte, mas, em busca da face nacional, pensou com vigor a relação entre arte e experiência histórica. Inversamente, foram nossas vanguardas estéticas dos anos 50-60 que, em nome da atualização das artes para acompanhar o processo de modernização do país, tornaram-se mais propriamente esteticistas, isto é, promotoras de um desenvolvimento da linguagem artística como um setor mais isolado de outros setores da vida. Assim sendo, um movimento de reaproximação da experiência significa, no Brasil, estabelecer laços com modernismo local, especialmente em sua primeira geração, e com as vanguardas européias onde nossos modernistas beberam. Entretanto, como já observado, uma preocupação generalizada com a experiência, teve lugar a partir da segunda metade do século XX6, revelando-se uma questão de época ou Stimmung, correlacionada aos efeitos da fugacidade moderna. Os poetas brasileiros teriam-no sentido e partido em busca de referências que os permitisse elaborar poeticamente – com variadíssimos níveis de qualidade – o que viviam, encontrando-as especialmente em Manuel Bandeira e seus “alumbramentos”, ou seja, nas pequenas iluminações dos fatos cotidianos que os tornavam imantados de carga poética e sentido vital. Um segundo ponto se desdobra das reflexões de Antônio Cândido sobre o modernismo brasileiro. Este movimento teria significado um novo, e particularmente forte, momento da dialética universal-local que marca nossa cultura, pois ao realizar uma pesquisa lírica, temática e formal, e indagar sobre os destinos humanos, sobretudo no Brasil, retomaram temas que haviam até então ficado no ar, mas num plano diverso, de onde deriva seu teor de ruptura: reconheceram a ambigüidade fundante da cultura brasileira, sua herança “latinaeuropéia” ao mesmo tempo que “mestiça-tropical”, derivada de culturas ameríndias e 6 Cf. comentário no cap.1, com base em Songs of experience, de Martin Jay. O mesmo vale para o Stimmung, com base em Traverso e Gumbrecht. 107 africanas, e ao fazê-lo, moveram camadas profundas do inconsciente coletivo e pessoal e culminaram por criar uma consciência literária liberta de recalques históricos, sociais e étnicos. As tradições populares que antes eram vistas como “deficiência” da cultura local, eram agora valorizadas e adquiriam estado de literatura7. Assim sendo, pode-se indagar se a possibilidade de um desrecalque promovido pela literatura não estaria, sutil ou obscuramente, compreendida no bojo da lição que os poetas dos anos 70 aprendiam com os modernistas? E neste caso, o que havia a desrecalcar naquele novo momento? Em terceiro lugar, trata-se de discutir os poetas da transição à poesia marginal, a “linha média”, diz Armando8, para quem Torquato Neto, Waly Salomão (que por vezes assinava Sailormoon, o navegante da lua) e Chacal seriam os mais representativos, junto com a revista Navilouca organizada pelos dois primeiros. Chacal, porém, embora tenha feito algum poema concreto e participado da revista, está entre os iniciadores da “geração mimeógrafo” e os mais atuantes poetas marginais de meados dos anos 70, de cuja linguagem é um dos grandes representantes. Menos conhecido no Rio de Janeiro no início daquela década, o curitibano Paulo Leminski, no entanto, aproxima-se da linha média, por sua afinidade com os concretistas de São Paulo, com os músicos tropicalistas e, sobretudo, por seu modo particular de ver a poesia, optando por uma via transversal “entre a precisão da forma e a descompressão do verso, a consciência do dizer e a paixão da palavra”, que o conduziu a uma espécie de liberdade de linguagem atenta às exigências da construção formal, tanto quanto às contingências do vivido, permitindo-lhe contaminações diversas e um caráter expressional marcado pelo humor irreverente e coloquial, de feição oswaldiana9, conforme a necessidade 7 8 CÂNDIDO, A. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: Literatura e sociedade. p.109-112. FREITAS F°, idem, p.185. Uma discussão semelhante a esta se encontra em Brito/Cacaso, em artigo publicado no jornal Opinião, junho de 1976, em que comenta a antologia de Heloisa Buarque, 26 poetas hoje, apresentando a opinião de Silviano Santiago (no artigo “Poesia jovem: roteiro de velhas vanguardas ao Tropicália e ao marginal mimeografado”, Jornal do Brasil, 20/12/1975), para quem o ponto de inflexão é Chacal, e a visão de Heloisa, com que Cacaso parece concordar, situando a virada em Torquato e Waly. Armando engloba os três. Estou aqui “selecionando” Torquato e Waly, aos quais acrescento a figura de Leminski. Cf. BRITO/CACASO, Não quero prosa, p.46-47. 9 Cf. MACIEL, M. E. Nos ritmos da matéria, notas sobre as hibridações poéticas de Paulo Leminski. In: DICK, A. e CALIXTO, F. (org). A linha que nunca termina, pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. p.171-179., citação na p.172. A autora analisa o poema “Limites ao léu” em que o poeta apresenta seu próprio paideuma. O poeta nasceu em Curitiba em 1944, descente de polacos e negros, motivo pelo qual se autointitulava “mestiço curitibano”. Estudou no mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde conheceu os clássicos gregos e latinos. Abandonou dois cursos universitários, Letras e Direito, desenvolvendo seu auto-didatismo. Poeta, judoca, tradutor, letrista de MPB, pai de três filhos, foi professor de Literatura e História em cursinhos de pré-vestibular durante muitos anos. Também trabalhou em agências de publicidade e no Jornal de Vanguardas, da TV Bandeirantes (1988). Ligado ao grupo concretista e aos tropicalistas, publicou em numerosos jornais e revistas literárias, sendo os anos 80 seu período mais profícuo, a despeito do abalo sofrido pelo suicídio de seu irmão e pela morte precoce de seu filho mais velho. Faleceu de cirrose hepática, em 1989. Uma curiosidade, acerca da postura “marginal” de Leminski, além do descuido com a aparência e a saúde, é mencionada em sua 108 da época. Desse modo, se por um lado o poeta não se considerava marginal e fazia restrições à falta de rigor dessa poesia, havendo até mesmo conflitado com Cacaso em uma mesa-redonda sobre literatura10, por outro lado seu comportamento era caracteristicamente “à margem” e “contra o sistema”, e suas declarações comportavam os problemas comuns de sua geração – ele mesmo se afirmava pertencente à “geração 68” –, como se vê: Já fui marxista. Mas acho que tudo está amarradinho demais na teoria marxista. Hoje acho a ideologia nociva à poesia. Ela é apenas um dos instrumentos para entender a realidade. A poesia é algo que deve obedecer apenas à sua sensibilidade e inteligência […] eu não agüento mais pessoas que têm um estoque enorme de certezas. Eu quero é a incerteza. […] A boa poesia nunca se impõe num primeiro momento. Ela tem que se impor depois. A poesia é a surpresa, é o antidiscurso.[…] Não vejo consistência na poesia marginal. Você pode ser contra a poesia concreta, mas pelo menos ela tem o mérito de ser clara.11 Leminski, que por essa época escrevia em guardanapos de bar e qualquer retalho de papel as notas para seu primeiro livro Catatau (1975), só encontraria contudo ampla ressonância como poeta a partir de 1980, quando publicou uma reunião de seus poemas escritos até então12, tornando-se uma das tônicas do meio intelectual, com seus poemas, traduções, resenhas, programas televisivos. Assim, a melhor imagem constelar daquele momento parece ser a figura controversa, angustiada e fértil de Torquato Neto. Torquato Neto et al e tal biografia O bandido que sabia latim., por seu amigo Toninho Vaz, que relata a recusa do poeta em ter carteira de identidade, o que apelidava de uma bobagem freudiana. 10 Cf. VAZ, T., idem, p.58. A mesa foi promovida e realizada na redação da revista Isto É, em São Paulo, em 9/6/1982, para um balanço da arte de então, integrada por Cacaso, Ana Cristina César, Arrigo Barnabé, Régis Bonvicino, Buza Ferraz, Carla Camurati, estudantes da USP, além de Leminski, que teria abandonado o debate abruptamente por seu “baixo nível”. Depois, procurou aparar as arestas declarando que “nenhum lance de dados abolirá o Cacaso”, numa referência a Mallarmé (“un coup des dés jamais n’abolira le hasard”), que era um dos poetas do paideuma concretista. É provável que a situação se tenha criado em torno de poemas como “Estilos de época”, em que Cacaso atacava o concretismo: “Havia/os irmãos concretos/H. e A. consangüíneos/e por afinidade D.P.,/um trio bem informado:/dado é a palavra dado/E foi assim que a poesia/deu lugar à tautologia (e ao elogio à coisa dada)/em sutil lance de dados:/se o triângulo é concreto/já sabemos: tem 3 lados.” Cf. também SALGUEIRO, Wilberth Claython. Forças & formas: aspectos da poesia brasileira contemporânea (dos anos 70 aos 90). Vitória: EDUFES/CCHN, 2002, p.44. Uma opinião diversa encontra-se em SUSSEKIND, Literatura e Vida Literária, para quem Leminski situa-se entre os marginais, por sua dicção próxima ao cotidiano, sendo mais semelhante a Cacaso do que ele gostaria. 11 Entrevista ao jovem poeta Rodrigo Garcia Lopes, em 1982, citado por este em Meu encontro com a “besta dos pinheirais”., p.51, In: DICK e CALIXTO, op.cit., p.49-53. Quanto à clareza, trata-se de uma opinião controversa, uma vez que há poesia marginal clara e poesia concreta hermética. 12 O livro Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase, de 1980. Anteriormente, foi realizado o livro de fotopoemas, Quarenta clics em Curitiba, com o fotógrafo Jack Pires, em 1976, pela editora Etcetera, Curitiba. 109 A vida breve deste poeta, diz José Castello, serve de “síntese da grandeza, mas também dos abismos, que definem a cultura alternativa e rebelde dos anos 60 e 70”13. Nascido no Piauí, viveu em Salvador, onde integrou o chamado grupo baiano, e depois no Rio de Janeiro; se auto-exilou em 1968-69 (quando do decreto do AI-5, estava a bordo de um cargueiro, indo para Londres e Paris, com a ajuda de Helio Oiticica), sofrendo, na volta, diversas internações em sanatórios por depressão crônica e excesso de álcool e drogas. Um dos principais poetasletristas do tropicalismo, afastou-se após dolorosa desavença com Caetano. Sua coluna “Geléia Geral”, no jornal Última Hora (RJ), era considerada underground por seu tom polêmico e iconoclasta. Na verdade, com veemente desejo de chegar ao “osso das coisas”, criticava com língua ferina a ditadura – tanto a de Estado quanto a da classe média, que dizia odiar, a indústria fonográfica e seus festivais “inautênticos”, o conformismo e a arte engajada de modo ingênuo. Sua experiência parecia se alternar entre um entusiasmo vanguardista e contracultural, por um lado, e uma realidade triste e vazia, por outro: o “poeta da ruptura”, como gostava de se definir, era também um poeta despedaçado14. Em diversos poemas e canções, Torquato trazia à tona um sentimento de silenciamento e incomunicabilidade, como em “literato cantabile”15: agora não se fala mais toda palavra guarda uma cilada e qualquer gesto pode ser o fim do seu início agora não se fala nada e tudo é transparente em cada forma qualquer palavra é um gesto e em minha orla os pássaros de sempre cantam assim, do precipício: a guerra acabou quem perdeu agradeça a quem ganhou não se fala. não é permitido mudar de idéia. é proibido. não se permite nunca mais olhares tensões de cismas crises e outros tempos está vetado todo movimento [...] 13 CASTELO, J.T., uma figura em pedaços. No mínimo. Disponível em: <http://www.nominimo.com.br/>. Acesso em: 18 mai. 2005., resenha da biografia do poeta escrita por Toninho Vaz. 14 Estas informações sobre Torquato derivam de CASTELLO, op.cit., como também de Os últimos dias de paupéria, obra póstuma do poeta. 15 TORQUATO NETO. In: Os Últimos Dias de Paupéria. São Paulo: Max Limonad, 1982. [1ª edição pela editora Eldorado Tijuca, 1973], p.369-370. Há duas versões deste poema no livro (utilizo a primeira), como de vários outros, uma vez que a obra foi organizada post-mortem, a partir inclusive de manuscritos. Na antologia de HOLLANDA, 26 poetas hoje, encontra-se a segunda versão, ainda com ligeira modificação: “toda palavra guarda uma cidade”. 110 agora não se fala nada, sim. fim. a guerra acabou e quem perdeu agradeça a quem ganhou. Começando por afirmar a linguagem como uma armadilha no tempo presente, o texto continua exemplificando, com ironia de teor político e lingüístico, como isto se procede: se todo gesto pode ser final, fatal, e se toda palavra é um gesto, resta não falar, não mover, não mudar. Os pássaros anunciam do precipício (na outra versão se lê: “os pássaros sempre cantam/nos hospícios”) a derrota das tensões, das crises e dos cismas – no duplo sentido – de outros tempos. Eram certamente difíceis, pois “toda palavra envolve o precipício”, diz um outro verso, mas eram tensões e cisões oriundas da vida em movimento, eram gesto e palavra, agora imobilizados em uma cilada. Os versos que iniciam a segunda estrofe indicam ambiguamente tanto que os derrotados devam agradecer aos vencedores e que não se fale disto, quanto que a gratidão não é endereçada (o verso não rima, não tem ressonância interna) e não se deve falar com os vencedores. A retomada dos versos, no final, sublinha com sarcasmo a relação entre derrota, palavra de gratidão e silêncio. O poema, circular, se fecha como inicia: com a impossibilidade de dizer, característica de uma condição traumática e melancólica. Torquato era um poeta a quem o sentido de um trauma não era estranho, e costumava associá-lo a seu nascimento a fórceps e à difícil conjugação de um mundo paterno kardecista com um mundo materno católico, ao que se soma, em certa medida, na sua percepção, sua migração para os centros urbanos-culturais do país e da Europa, e a lide com o mundo de todos, vicejante e cão. Mas, neste poema, a incomunicabilidade traumática ultrapassa a dimensão pessoal, pois a referência político-militar se explicita no signo da guerra e, portanto, a derrota é coletiva e histórica. Trata-se do âmbito do trauma histórico caracterizado por La Capra, que, conjuntamente ou para além das condições pessoais e estruturais do humano, produz cisões específicas em experiências sociais e, conseqüentemente, produz vítimas16 cujas formas testemunhais apresentam um jogo de luz e sombras, necessidades de falar e simultaneamente calar, de grande complexidade. As sociedades modernas, continua o autor, não possuem processos sociais e/ou rituais eficazes para elaboração de um trauma mediante o luto coletivo; as perdas históricas, como qualquer perda, geram fantasmas ou vazios, que 16 Não se trata aqui de criar uma vitimização onde ela não existe, ou de exagerar uma dinâmica traumática que é comum ao humano. Como diz La Capra, ao trauma estrutural – ausências fundamentais e fundantes do ser humano – estamos todo expostos. Mas o trauma histórico, sim, cria vítimas específicas, com problemas específicos, e fazer a distinção entre vítimas e perpetradores é crucial para a compreensão e elaboração do processo traumático. A categoria de vítima neste caso não é psicológica, mas social, política e ética. Cf. LA CAPRA, D. Escribir la historia, escribir el trauma, p.98. Para as demais discussões, cf. idem, p.85, 95, 197-198. A respeito da anomia, cf. DURKHEIM, É. O suicídio. In: Durkheim. (Os pensadores). A questão é tratada adiante. 111 exigem ser nomeados e especificados para que as feridas se sanem. Nesse processo, ou na ausência dele, as formas de expressar costumam ser confusas e imprecisas, os termos vagos, os gêneros híbridos, os excessos e as hipérboles adquirem forte apelo, uma vez que significam uma recusa das normas, sentidas como especialmente restritivas. Seria, possivelmente, mais uma indistinção característica da reação traumática, visto que não se distingue a regra ética, legítima e flexível, fundante de qualquer forma de vida em comum, sem a qual o humano se atrofia e cai numa desorientação anômica, dos limites normativos injustos, que impingem uma normalização em nome da exploração e de uma falsa conciliação, calando, prendendo ou matando os transgressores como bodes expiatórios no altar da ordem autoritária. É interessante notar que Torquato retirou, na segunda versão do poema, os versos sobre a guerra e o precipício, rearranjando-os de modo mais lapidar e mais concentrado na questão dos limites: “está vetado qualquer movimento”. Talvez os tenha considerado hiperbólicos ou excessivamente irônicos ou ainda pouco passíveis de remodelagem poética, mas o fato é que os calou e, se acentuou a violência contida na impossibilidade de dizer, vigente nos hospícios e na “república do fundo”, retirou as alusões aos seus porquês e seus abismos. Com isso, o sujeito lírico, também ele, cai na cilada das palavras... Uma sensibilidade semelhante se encontra na letra da música “Marginalia II”17, com Gilberto Gil, em que adquire um tom pungente: eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado meu sonho desesperado meu bem guardado segredo minha aflição eu, brasileiro, confesso minha culpa meu degredo pão seco de cada dia tropical melancolia negra solidão: aqui é o fim do mundo aqui é o fim do mundo ou lá [...] aqui meu pânico e glória aqui meu laço e cadeia conheço bem minha história começa na lua cheia e termina antes do fim [...] No fim do mundo, aqui ou lá (o poema também faz referência ao terceiro mundo), reina a aflição da vida sem a abundância de suas fontes nutritivas (o pão seco), o desespero e a 17 TORQUATO NETO. Os últimos dias de paupéria, página não numerada, a partir da p.387. 112 incomunicabilidade (segredo) acerca de sonhar uma outra situação, a culpa dos degredados, cuja condição inativa na pátria mergulha o poeta em melancolia e solidão, ironicamente em contraste com a pujança dos trópicos (o texto faz referências a cascatas, palmeiras, araçás, juritis etc.). O pânico e glória (in)confessáveis do brasileiro se abriga num núcleo de experiência espacial-temporal, eivada de dor e beleza, pois que fortemente marcada pelo signo do fim: o lugar é o “fim do mundo”, expressão que também significa algo reprovável, que não tem cabimento; e o tempo é uma história inconclusa... 3.2. O “vazio cultural” e a palavra subterrânea A percepção melancólica de uma história brasileira que terminava inacabada possuía ampla ressonância social. O período logo após o AI-5 foi caracterizado à época como um momento de “vazio cultural” e “falta de ar”. A questão foi nomeada e discutida em artigos de Zuenir Ventura publicados na revista Visão, em julho de 1971 e agosto de 1973, como um diagnóstico retrospectivo do estado da cultura brasileira naqueles anos, provocando impacto no meio cultural. O balanço era realizado em contraposição à grande criatividade artística dos decênios anteriores e oferecia uma perspectiva sombria: a quantidade suplantando a qualidade, o desaparecimento da temática polêmica e da controvérsia na cultura, a evasão de nossos melhores cérebros, o êxodo de artistas, o expurgo nas universidades, a queda de venda dos jornais, livros e revistas, a mediocrização da televisão, a emergência de falsos valores estéticos, a hegemonia de uma cultura de massa buscando apenas o consumo fácil. [...] Sem germes e sem herança, sem promessas e sem caminhos, sem busca e sem questionamento crítico, sem o fermento da inquietação e sem a livre disposição criadora, o que seria da cultura brasileira na década de 1970? 18 O jornalista considerava que a crise da cultura não advinha apenas da censura política, mas também das próprias contradições, acima expostas, de uma cultura híbrida e em transição, para as quais os artistas não encontravam saídas e respostas definidas. Transferir a responsabilidade daquela cultura “anódina e insossa” somente para a censura estatal denunciava uma certa infantilização e arrefecimento crítico da intelligentsia nacional, que encobria seu “aviltamento qualitativo” e “descenso estético”, derivados de sua perplexidade e, quem sabe, de seu próprio movimento de introjeção repressiva e autocensura. Traduzindo as discussões culturais, os artigos caracterizavam a atmosfera cultural da época como “perplexa diante de perguntas”, “desencorajada pela censura”, “impotente diante do AI-5”, “dilacerada por dentro” e “pressionada por fora”. A arte de “fisionomia polimórfica, incrivelmente 18 VENTURA, op.cit., p.41. 113 camaleônica” era criticada em todas as suas formas, o que demonstra a confusão de valores que imperava no Estado e na sociedade, não só entre os artistas, como entre seus críticos e entre o público receptor em geral: Se se apresenta eufórica, conformada, concessionária ou aderente, falando uma linguagem vulgar, inofensiva, e pensando como uma retardada mental, ainda assim a arte é acusada: ou de maus modos ou de baixo nível. Se se mostra descabelada, marginal, distante e alheia, fugindo subterraneamente dos caminhos conhecidos e sonhando com paraísos artificiais, é olhada como a perdição dos bons costumes. Se finalmente assume um ar mais sério, crítico e resistente, não submisso, é censurada como portadora do mal e da destruição.19 Parecia não haver saída e novos tratados teóricos se faziam necessários para dar conta daquela “inexistente estética do silêncio e do medo”, que se apresentava como sintoma das dificuldades de expressão, da emergência da censura interna ao lado da externa, da opção pelo silêncio em alguns casos. O próprio “vazio” era uma metáfora para tentar descrever o quadro cultural daqueles anos, cujo sentido se revela pelo fato de as correntes críticas dominantes no período anterior, de imensa politização da cultura (1964-68), haverem perdido em boa parte a possibilidade de influir diretamente sobre seu antigo público, marginalizando-se na nova pauta cultural. Tratava-se, principalmente, da vertente estético-política de cunho nacional-popular – de matriz romântica e modernista, valorizando e mesmo idealizando “a nação” e “o povo” cujas tradições buscava resgatar – que não suportava os golpes dos novos tempos modernos, conservadores e autoritários, e para qual a censura, as prisões e exílios, ao lado da crescente passividade política do público, significaram uma estocada praticamente fatal. Essa produção cultural engajada, uma vez fracassada em seus intentos revolucionários e impedida de chegar aos setores populares, acabou por ter de integrar-se aos circuitos do sistema cultural burguês (teatro, cinema, disco, TV) e a ser consumida por um público já “convertido” de intelectuais e estudantes de classe média20. Sofria-se a desfiguração das utopias emancipadoras, realizada pelo contra-ataque ideológico do regime militar, que recorria tanto à espionagem, à polícia política e à censura como à propaganda estatal, utilizando os meios de comunicação de massa para veicular mensagens “saneadoras” anti-comunistas ou “pedagógicas”, visando a educar a população moralmente dentro do universo de concepções que a Assessoria Especial de Relações 19 20 VENTURA, idem, p.57. Cf. SCHWARZ, R. Cultura e Política 1964-1969., op.cit., passim. A questão é retomada em HOLLANDA, H.B. Impressões de viagem, p.35. Essa discussão da integração/cooptação será aprofundada no cap.5. 114 Públicas (AERP, instalada em 1969) considerava civilizatório21. Mas para tal desfiguração utópica contribuía também o refluxo da ação política contestatória em todo o mundo após 1968, acompanhado de revisões no pensamento crítico, sobretudo no que concerne às leituras de mundo marxistas, e suas derivações no campo intelectual. Afinava-se com esta revisão crítica os princípios gerais das vanguardas, especialmente o concretismo e o movimento tropicalista. O grande equívoco do esforço político da vanguarda, diz Hollanda, consistia em ter caído na armadilha desenvolvimentista, acreditando que o subdesenvolvimento nacional seria apenas uma etapa em fase de superação para um patamar desenvolvido, cujo modelo de modernização eram as economias capitalistas centrais, o que os colocava “numa posição colonizada e colonizadora”, embora o movimento tivesse o mérito de haver discutido a modernidade e ampliado o debate cultural nos anos 50-60. Outro erro residiria na onipotência da linguagem, em que se supõe que a palavra é de capaz de dizer fielmente o real e transformá-lo, o que seria um equívoco das vanguardas: “Essa crença no poder e na onipotência da palavra, quando levada a extremos, termina por revelar-se em impotência, provocando a chamada ‘crise das vanguardas’, que promove violentas cisões e revisões em muitos de seus integrantes”.22 Assim, o período sofria o abalo decorrente tanto da retração da vertente popularnacionalista, já mencionado, quanto da vertente oposta, dos concretistas-tropicalistas, que se via, ademais, atingida pela prisão de Gil e Caetano, o silenciamento de outros companheiros como Tom Zé, a ruptura de Torquato com o tropicalismo, bem como por sérias críticas, como a de Schwarz, que os considerava ambíguos e por demais moldáveis às ingerências da indústria cultural, em nome da modernidade, confundindo democratização com massificação e conferindo ao seu verbo um poder demasiado: um dos problemas da atitude tropicalista consistia em não perceber que “os elementos de uma alegoria não são transfigurados artisticamente: persistem na sua materialidade documental, são como que escolhos da história real, que á a sua profundidade”23. Como se vê, o debate sobre o vazio dizia respeito a um inventário de perdas e danos relativo ao passado recente. Àqueles que viam um esvaziamento da cena cultural se 21 FICO, C. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L. (org). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (O Brasil Republicano, v.4), p.193-205. Utilizo o termo utopia com valor positivo, pois, na linha de ressignificação conceitual realizada pelos frankfurtianos – inspirados em Ernst Bloch em Princípio Esperança, – é compreendido como projeção futura e coletiva das melhores possibilidades humanas em uma dada sociedade, e que, como tal, impulsiona a ação presente. 22 HOLLANDA. Impressões de Viagem, p.46-47. Citação da p.53. 23 SCHWARZ, R. Cultura e política..., op.cit., p.33-34. Trata-se de uma questão análoga à onipotência da linguagem. Outros problemas serão discutidos adiante. 115 contrapunham os defensores da vitalidade e heterogeneidade do campo literário num novo momento, sobretudo com o florescimento das tendências pós-tropicalistas24 e marginais, que se colocavam, em graus diversos, mais ou menos próximas das vanguardas, do modernismo, da contracultura e da questão nacional, mas todas efetuando uma revalorização da discursividade, ao lado da canção. Surge o verbo “underground” Na linha tropicalista e contracultural, os pós-tropicalistas25 buscavam aprofundar a atualização da linguagem e a relacionavam a uma opção existencial, de modo que a descontinuidade e o mundo fragmentado, característicos da modernidade, marcavam visceralmente sua estética e sua experiência de vida. Além da estirpe poética escolhida pelos concretistas, passava-se a incorporar os poetas beatnicks norte-americanos e autores como McLuhan, Marcuse, Norman Mailer. Uma “imprensa alternativa” surgia – Pasquim, Bondinho, Flor-do-Mal – guardando um tom underground. A coluna jornalística de Torquato louvava tais publicações e procurava enfatizar o significado prefixal (sub, sob) daqueles qualificativos que entravam em circulação, num tempo em que a palavra necessária havia que ser subjacente, pois não se podia protestar em voz alta sobre o chão: Pois é: a palavra subterrânea debaixo da pele do uniforme de colégio que me vestem, apareceu primeiro no pasquim, num Pasquim do ano passado, lançada às feras e aos olhares tortos por Hélio Oiticica, o tal. A palavra subterrânea na seção Underground, de Maciel. Simplifico e explico que subterrânea deve significar underground, só que traduzido para o brasileiro curtido de nossos dias, do qual se fala tanto por aí. [...]26 A referência a Luis Carlos Maciel não era fortuita. Utilizando sua formação marxista, existencialista e contracultural, ele mantinha uma espécie de tribuna em sua página do Pasquim, e passava a cumprir um papel de divulgador e líder geracional. À preocupação com o “aqui e agora”, com a “revolução” do corpo e do comportamento, e o decorrente deboche 24 Ambos os termos, pós-tropicalista e marginal, são insuficientes ou inadequados para a compreensão do fenômeno. Sigo aqui a denominação de Hollanda, que também a fez por mera “conveniência expositiva”, para tentar dar conta da diferenciação das duas principais tendências novas, após o tropicalismo. Em especial, a designação “pós-tropicalista” não se tornou muito corrente, mas parece válida para as vozes que vêm imediatamente depois e ainda bem ligadas à dicção da tropicália e do concretismo. Affonso Romano falaria de uma “pós-vanguarda”, em que a poesia se soltava tanto da música quanto dos recursos autoritários e esterilizantes [sic] da vanguarda concretista e retornava à palavra escrita, deixando porém de ser um artefato erudito para ser “curtição existencial”. Cf. SANT’ANNA, op.cit., p.113. 25 Como os vê HOLLANDA. Impressões de viagem, p.61-77. 26 TORQUATO NETO. A palavra subterrânea. Geléia Geral, Última Hora, 21/09/1971. In: Os Últimos Dias de Paupéria, p.70. 116 contra os “caretas”, somavam-se agora as drogas, a psicanálise, o rock, gerando um sentimento de forte recusa dos projetos políticos anteriores, tanto populistas quanto de esquerda, e um progressivo desinteresse pela política, ou um interesse bastante enviesado, configurando um dos veios daquela forma de viver que pejorativamente se apelidou então de “desbunde”27. Na visão de Carlos Nelson Coutinho, à época um combativo lukacsiano, a idéia marcuseana da “Grande Recusa”, que num primeiro momento servira de estímulo à “impaciência revolucionária” da luta armada no Brasil, foi rapidamente transformada – graças sobretudo à peculiar recepção de Maciel – em negação irracionalista de todo o legado da cultura ocidental, inspirando a contracultura, ou mais precisamente aquela “versão tropicalista da Kulturkritik romântico-anticapitalista” que vicejou no início dos anos 70 no Brasil28. Na opinião de outros críticos, diversamente inseridos naquela movimentação juvenil, tratava-se de uma crise típica da modernidade, que o tropicalismo já expressara e os póstropicalistas aprofundaram. A crise da razão no Brasil, dizia Messeder Pereira, devia-se às mudanças sofridas, a partir dos anos 60, no projeto desenvolvimentista de nação, que aglutinara diversos setores sociais num pacto populista que garantiria um certo compartilhamento social dos ganhos. Os limites desse projeto, e sua ruptura pela instauração da ditadura militar, trouxeram uma crise de confiança, inclusive na racionalidade tecnológica que acompanhava a modernização, agora transformada em uma racionalidade estritamente tecnocrática, em que a técnica se torna mero instrumento de dominação e repressão, num projeto de desenvolvimento excludente e concentrador, conduzido, com violência, por um Estado autoritário. Desenvolver-se-ia, a partir de então, de forma nebulosa e muitas vezes dolorosa, uma nova percepção do processo modernizador como obrigatoriamente contraditório, onde o arcaico não era mais contingencial e superável, mas contrapartida estruturante do moderno29. De fato, vivia-se o fim de um mundo, como dizia a letra-poema de “Marginália II”, cujo título também pode ser lido como referência aos que ficariam de fora dos novos rumos modernizadores do país, ou àqueles que, na contracorrente, enxergavam o avesso desastroso deste processo. Em tal quadro, os três eixos do debate cultural no Brasil, 27 A título de exemplo, segue trecho da coluna de Maciel, no Pasquim de 13/11/1969: “2) Se a conversa for sobre psicanálise, pode ser contra, sem medo. No dia seguinte, você conta ao seu analista e ele próprio saberá compreender. Ele é tão bacana, não é? Diga, portanto, que a psicanálise é uma invenção do século passado, que não tem mais sentido no mundo de hoje. Quando lhe perguntarem por uma alternativa [...] responda com simplicidade que são as drogas alucinógenas. [...] 3) ...Você deve referir-se à maconha, principalmente, como se fosse coca-cola, tratando-a carinhosamente por ‘fumo’, para revelar seu grau de intimidade. [...] 6) ... Prefira filosofar sobre a inutilidade histórica do teatro. Condene o cinema à mesma sina. Diga até que Godard já acabou e que a única coisa que existe é o underground.” Citado por HOLLANDA, Impressões de viagem, p.73. 28 Cf. COUTINHO, C.N. Marcuse e a contracultura tupiniquim. In: Cultura e sociedade no Brasil, ensaios sobre idéias e formas. 2.ed. Rio de Janeiro, DP&A, 2000, p.84-88. Cf. também Hollanda, idem. 29 Cf. MESSEDER PEREIRA, Retrato de época, p.78. 117 entre os anos 50-70, ainda conforme Messeder, sofrerão uma rotação de ângulo, tendo nos pós-tropicalistas o ponto medial desse movimento: a) no eixo da relação entre arte e progresso/tecnologia industrial, a mudança de sentido social do instrumento técnico provocou uma desconfiança para com a modernidade semelhante ao que se via nas rebeliões contraculturais de todo o mundo. Deriva daí a experiência chamada de “desbunde”, vista como crise da juventude ocidental em oposição aos ideais capitalistas. O estilo de vida baseado no hedonismo, da ludicidade, na erotização das relações sociais, na psicanálise e no psicodelismo significavam um redimensionamento das formas consagradas de apreensão da realidade e de experiência; b) no eixo do engajamento político-cultural, a derrota do projeto político das esquerdas sob a ditadura e o estrangulamento dos canais de discussão e engajamento pós-68 – restando as situações-limite da clandestinidade e da luta armada – traziam dúvidas a respeito do encaminhamento e da natureza da luta política. Em resultado, esta foi redimensionada, tornando-se o cotidiano uma alternativa sentida como concreta, para ser o vértice da experiência cultural, de sua crítica e da política, de onde a politização do cotidiano como marca das realizações daquelas gerações; c) no eixo da relação entre arte e teoria, a derrota do pensamento de esquerda por um lado gerava insegurança e acusações de “teoricismo” e “vanguardismo”, fazendo muitos jovens se precaverem contra a “retórica intelectual”; por outro lado, as posturas contraculturais, contrárias a qualquer discurso institucionalizado, criticando a lentidão no agir implicada pela reflexão teórica e afeitas ao pensamento místico e ao uso de drogas como estados de consciência alternativos à racionalidade ocidental, levavam a uma recusa do modo intelectual de leitura do mundo. Em suma, o anti-intelectualismo, o anti-tecnicismo e a politização do cotidiano eram os três focos da reorientação cultural ocorrida ao longo dos anos 7030. Deste modo, diz Hollanda, a valorização da “marginalidade” urbana e psicodélica, a recepção do pensamento místico e seitas orientais, a liberação erótica incorporando a bissexualidade, a festa combatendo a seriedade existencial foram percebidas por aqueles poetas como um comportamento descolonizado e ilegal, e portanto, como um gesto perigoso e contestatório, assumido como político. Estava em curso uma mudança de foco nos interesses, bem como um remapeamento na realidade31. De fato, deslocava-se em todo o mundo o eixo da crítica política de uma idéia-práxis de “revolução” para uma atitude de “rebeldia” diante do 30 Idem, p.85-92. Note-se que a tendência ao anti-intelectualismo merece ressalvas: não se pode dizer que eram refratários ao mundo intelectual poetas como Cacaso, Leminski, Torquato, Waly Salomão, Armando Freitas F°, Chico Alvim, Carlos Saldanha, Haroldo Costa, Carlos Ávila, Ana César, entre outros, sem falar dos poetascríticos literários, como Schwarz, Silviano Santiago, Affonso Romano... o tema do anti-intelectualismo será tratado no cap.4. 31 HOLLANDA, Impressões de viagem, p.75. 118 mundo, conforme os termos sugeridos por Otávio Paz para analisar as transformações sóciopolíticas em curso na época32. Esta questão, desdobrando-se da contracultura e dos movimentos de maio de 68, associava-se, de um prisma mais econômico, a uma rebeldia dos intelectuais e profissionais liberais contra sua própria proletarização, gerando como tal posturas distintas em relação à modernização capitalista, à indústria cultural, ao comportamento social, sexual e afetivo. Na concepção de Marcuse, as condições objetivas do capitalismo naquele momento exigiam a incorporação de todos os trabalhadores, inclusive a intelligentsia, promovendo a integração das diversas classes sociais na sociedade de consumo e, portanto, arrefecendo a consciência revolucionária. Entretanto, grupos minoritários, mais de classe média do que operários propriamente em sua composição, mantiveram um espírito de ruptura em nome da autodeterminação e da emancipação, rebelando-se contra as engrenagens capciosas da satisfação administrada, do poder brutal – já despido das formalidades, hipócritas que fossem, da cultura liberal33 que demandava aparência de verdade e justiça –, e da mercantilização de todos os valores. Para a compreensão do quadro, contribui ainda a leitura de Hollanda sobre os processos que afetam o poeta moderno: com base em Benjamin, Auerbach e Otávio Paz, a autora vê as angústias pós-tropicalistas em relação com a crise do herói moderno, justamente num tempo de fatalidade e horror que o exigiria; com a crise da figura arquetípica do poeta, como “grande criatura” de dons especiais, ao mesmo tempo objeto de desejo e ridículo na modernidade, conduzindo, como se vê em Baudelaire, a uma luta desesperada e à mescla do desprezível com o sublime; com a crise dos sujeitos e dos significados dada pela fragmentação da imagem do mundo, uma vez que o progresso técnico rompeu a continuidade de tempo e espaço, acarretando também a desagregação do eu, que, obstinado em si mesmo, separou-se do outro como elemento constitutivo da consciência, de modo que a poesia moderna se lançaria em busca da alteridade, para reunir o que foi separado, e para isso tentaria devolver à linguagem sua capacidade metafórica, como figura necessária para dar presença ao outro. No entanto, a chave das representações artísticas modernas, já mostrara Benjamin, residiria no procedimento alegórico, que, mostrando profunda desconfiança tanto da realidade quanto da imagem, apresenta o mundo, o sujeito e seu outro – vários outros – em fragmentos, mas não no todo34. 32 Cf. observações de Otávio Paz em diversos textos, como Convergências. Cf. MARCUSE, H. A esquerda sob a contra-revolução. In: Contra-Revolução e revolta. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, p.14-23. Ver também RIDENTI, M. a partir de Mandel, O fantasma da revolução brasileira, p.98-99. 34 HOLLANDA, Impressões de viagem, p.64-67. Heloisa diverge da crítica de Schwarz ao tropicalismo, para quem a nova proposta sensível-formal, em última instância, não superava os impasses do populismo que 33 119 Embora a figura da alegoria sirva para melhor compreender o que se fazia, é preciso lembrar que o caráter fragmentário e fragmentador daqueles sujeitos e suas obras poéticas continha uma força de cisão muito profunda, chegando em diversos casos ao ponto limite da loucura e da morte, que abrangiam naquele contexto uma carga de significação deveras particular. Enquanto meio de (auto)superação de limites, a “loucura” era vista, e até valorizada, como um modo de romper com a lógica sistêmica e com a racionalidade, fosse do pensamento de direita ou de esquerda, porém ultrapassava uma atitude literária – que tem tradição na história da literatura –, pois os pós-tropicalistas viviam visceralmente suas opções estéticas, trazendo-as para o centro de suas vivências: “a partir da radicalização do uso de tóxicos e da exacerbação das experiências sensoriais e emocionais, vimos um sem número de casos de internamento, desintegrações e até suicídios, bem pouco literários”, lamenta Hollanda35. A dor psíquica e as pulsões de morte falavam alto no mundo da palavra subterrânea. São sempre situações extremamente difíceis para quem as vive ou com elas convive, que, se têm raízes nos meandros insondáveis do inconsciente pessoal e familiar, radica outrossim nos meandros da vida social e histórica. Novamente, e tristemente, é a vida, obra e morte de Torquato Neto quem ilustra e fornece indícios dessas sofridas interseções: ... em sociedade tudo se sabe e eu estou é muito louco, viva deus, amigo. compreenda: não está na hora de transar derrotas. é pelo outro lado: nós lidamos com a indústria da inflação: vamos envenená-la, amigo: do lado de dentro, morrendo: olhe, porque uma vez eu saí pra passear as pessoas não me chamaram de volta nem fizeram a menor questão de obscurecer a transa: foi na base da família brasileira: disseram: é covarde: eu passei três meses nos hospício, logo em seguida. acusação – alcoolismo. e tomei injeção pra caralho. eu não fecho, almir, com essa linguagem. eu lhe garanto que na geléia geral brasileira, aqui e agora, o demônio está vencendo, mas eu não posso é desistir. escrevi lá: abaixo a geléia geral. três vezes. as pessoas pensaram que era a coluna. tradução: não sabem onde é que vivem e a alienação grassa.36 Navilouca como a vida pretendia ultrapassar, não havendo portanto, um remapeamento da realidade propriamente. Segundo a autora, Schwarz ainda estaria preso à visão de Lukács, que criticava Benjamin por sua valorização da alegoria, a qual significaria, em sua concepção, uma perda da visão do todo, e conseqüentemente, perda do horizonte do futuro e uma linguagem do desespero, incapaz de suprir as necessidades universais e históricas da arte. Cf. p.67 ss. 35 HOLLANDA, idem, p.78. Ver também Flora SUSSEKIND, Literatura e Vida literária, para a discussão sobre literatura e loucura. 36 Carta para Almir. In: Os últimos dias de paupéria, p.346-348. Ver também, os excertos: D’Engenho de dentro., de forte carga confessional. 120 Mesmo em sua dor, ou justamente por havê-la assumido na medida do possível, o poeta mobilizou grande parte de uma geração de artistas. A revista experimental Navilouca, ou “Almanaque dos Aqualoucos”, publicação-síntese desse grupo, em “primeira edição única” de 1974, foi concebida e organizada por Torquato e Waly Salomão desde bem antes (a coluna Geléia Geral já a anunciava em 1971-72), com inspiração na Stultifera Navis medieval, navio que circundava a costa européia recolhendo os desajustados de todos os tipos. Analogamente, Navilouca abrigava os que consideravam marginais àquela ordem, e se fazia sob a égide de uma nova sensibilidade, com um trabalho coletivo e multifacetado, empenhado na experimentação radical de linguagens e na recusa do discurso institucional ou acadêmico. Além dos organizadores, participavam da revista artistas plásticos, cineastas, poetas concretistas, jovens poetas, músicos37. O primeiro poema, o soneto “sonoterapia” de Augusto de Campos, trazia como último verso o índice esfíngico da revista: “só o incomunicável comunica”. Com efeito, a maior parte dos textos levava a experimentação de sua linguagem ao maior grau possível, às vezes a ponto de esgarçamento, como em Rogério Duarte, cujos trabalhos – de músico, poeta, designer, cineasta, ator – guardavam o signo da experiência limítrofe no sentido acima apontado: Brutalmente a qualquer momento pode surgir a vida, eu sei que não estou preparado. O medo que é sombra da luxúria, aproveitou-se do meu corpo inteiro como morada do seu escuro. Eu sinto, quando estou falando com alguém, nitidamente a sensação de não controlar a espontânea linguagem de loucura e sofrimento que torna como que desconcertantemente ridícula (já que a cobre e nega) a comunicação esboço-vomitada. [...] Hereafter all will be different, you need to get a very human face [...]38 Entre a vitalidade expansiva, até mesmo brutal em seu brotar, e a obscuridade do medo, um discurso permeado simultaneamente de dor, desrazão e coerência escolhe uma língua estrangeira para a afirmação utópica de um mundo de face mais humana. Por que certas enunciações são efetuadas em outra língua, seja por opção consciente ou intuitiva, é toda uma questão a ser considerada. Em geral, trata-se de dizer algo que soaria ao sujeito enunciador impossível ou por demais estranho em sua língua materna. A questão se complica quando se 37 Sobre a Stultífera Navis ver HOLLANDA, Impressões de viagem, p.82. Há um exemplar da revista na biblioteca do CCBB, Rio de Janeiro. A obra contou com trabalhos de: Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Rogério Duarte, Torquato Neto, Waly Salomão, Jorge Salomão, Duda Machado, Chacal, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Stephen Berg, Luis Otávio Pimentel, Óscar Ramos, Ivan Cardoso, Luciano Figueiredo, Caetano Veloso. Ver NAVILOUCA Nova Cultura, Almanaque dos Aqualoucos. Primeira edição única, especial para Phonogram. Guanabara: Edições Gernasa, [1974]. Organização e coordenação editorial de Torquato Neto e Waly Salomão. Editor responsável Lúcio Ubiratan de Abreu. 38 Segundo Hollanda, Rogério Duarte era uma figura importante neste grupo, “investido de um ‘saber superior’ avalizado por um bom número de leituras e de um ‘poder’ conferido pela experimentação sensível limite, até mesmo próxima da loucura”, idem, p.81. Era amigo de Oiticica, em cuja correspondência encontram-se observações deferentes a ele. 121 pergunta o quê é enunciado desta maneira enviesada em correlação com seu momento histórico. Decerto, um bloqueio de outro tipo, que não a censura política, impedia o autor de afirmar tempos humanamente melhores, a não ser que um sentido elíptico estivesse a subentender uma intenção revolucionária. Ou talvez, o desejo do melhor do humano tenha-se tornado, aos olhos daqueles tempos brutais, uma singeleza impronunciável, absorvida pela dinâmica da incomunicabilidade traumática, uma vez que, observa Adorno, “as coisas mais delicadas, abandonadas à sua própria inércia, tendem a culminar numa brutalidade inimaginável”39. Ou quiçá se tratasse de um problema especificamente artístico, o de tentar formular, nas palavras de Pignatari “os passos leves do vento/por entre/nos interstícios”. No dizer de Hélio Oiticica, que criticava a tacanhez da sociedade brasileira, incapaz de compreender obras experimentais, o gesto experimental, como um ato cujo resultado é por definição desconhecido, consistia em algo mais do que arte experimental e precisava ser positivado: “Criar não é tarefa do artista. Sua tarefa é mudar o valor das coisas”. Este parecia ser o âmago da proposição poética de Waly Sailormoon, que em “Planteamiento de Cuestiones”, reclamava: Quueu não estou disposto a ficar exposto a cabecinhas ávidas quadradas ávidas em reduzir todo esforço grandioso como fosse expressão de ressentimentos por não se conformar aos seus padrões culturais: Atento para que aquilo que se sentia como um gesto de grandeza – lutar contra padrões culturais considerados ultrapassados e mesquinhos – não fosse reduzido ou pervertido em sua intenção, o poeta numerava suas preocupações, manifestando a intenção de que sua poesia fosse lida como experimentação de novas estruturas, isto é, como “um modo de composição não naturalista. Alargamento não ficcional da escritura”, pois não lhe bastava mimetizar o real circundante, era preciso ampliá-lo. Por isso, “eu preciso de um sonho muito grande MUITO GRANDE para não me acabar ou [repete] para não me acabar SUBDESENROLADO”, para o que é preciso “produzir o melhor de mim pari passu com a perda da esperança [...] a Inteligência não pode muito; é preciso PIQUE, resistência ao desgaste, ao estraçalhamento, à devagareza, ao medo, ao (+) acanhamento, etc etc etc etc etc.” O recurso ao espanhol e à intercalação de maiúsculas e minúsculas não eram igualmente ocasionais. Na derrota do projeto de uma revolução sul-americana unificada, restava a palavra explorada em todas as suas possibilidades vocais e gráficas, para dizer, quem sabe?, o que não se diz. Em “(Prosseguimento do discurso Huracán – do mesmo autor; Waly, o fedayin)”, o poeta, 39 ADORNO, T. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. 2.ed. São Paulo: Ática, 1993, p.68. 122 disposto a “limpar o lixo emocional – remover o empanamento dos sentidos”, sobrepunha assertivas, aparentemente díspares, como “A HISTÓRIA NÃO NOS ABSORVERÁ” e “ABAJO LOS GÉRMENES DE POBREDUMBRE” ou ainda “Tenho fome de me tornar em tudo que não sou”... A proposta do “Marinheirin da Lua (alma lírica paquidérmica)” almejava mares mais vastos40. Mas não era tempo de singrá-los. Por ora, o que era cabível daquele projeto estéticopolítico-existencial da Navilouca talvez apenas se descortinasse, entre véus, como sugere o verbo, no poema de Haroldo de Campos: e nesta margem da margem há pelo menos margem [...] uma garrafa ao mar pode ser a solução botelheiro de más botelhas [...] e quando a manhã for saindo você virá sendo [...] e ainda tenho uma vez esta história é muito simples é uma história de espantar não conto porque não conto porque não quero contar[...] Poder e cilada da linguagem – sociedade e sujeito em crise Ainda que se quisesse contar, o que se vê prioritariamente é uma linguagem entre a dificuldade de dizer e a abertura de veredas, o que bem se traduz na imagem de cilada levantada por Torquato. No entanto, isto não significa concordar com a crítica jornalística – e sempre vale pensar em que medida ela não reflete o senso-comum – que se mostrava dura com o comportamento “udigrudi”, cujas conseqüências políticas e existenciais não lhe pareciam promissoras, pois se a palavra subterrânea considerava a sociedade como o reino da desumanização, acabaria por se retrair, movida por um estado de espírito simultaneamente crítico, abstrato e individualista: “embora marcada originalmente por uma inconformidade, essa atitude vai resultar objetivamente numa aceitação resignada de que o mundo e as coisas não podem ser modificados”41. Mas não era exatamente o caso dos poetas pós-tropicalistas, entre os quais predominava a percepção da linguagem como artifício eficaz para driblar padrões literários e políticos, para questionar formas dissimuladas de poder de qualquer tipo, constituindo como caminho possível uma poesia que se queria combativa. A voz paranaense de Paulo Leminski ressoava: “originalidade. radicalidade. marginalidade. como se comporta o poeta no mundo industrial, no universo das linguagens industriais?” O poeta paulista Regis 40 Em matéria jornalística incluída na revista, sobre seu 1° livro, Waly faz várias referências a Marx, como p.ex.: “tento cumprir os manuscritos econômicos, filosóficos, utópicos de 44. E ao mesmo tempo, supero a boemia intelectual da época (o mal da época) tentando assumir a responsabilidade com a minha produção, percebendo os seus limites, o tacanhamento dos editores e todos os etcéteras”. A leitura dos Manuscritos EconômicoFilosóficos situava Waly numa esquerda atípica para o momento – quando predominavam no cenário brasileiro as orientações do PCB, vinculado à URSS –, bem como mostrava sua preocupação com os processos de alienação e, decorrentemente, o desejo de uma experiência-consciência de um humano mais amplo. Note-se que também Torquato falava em alienação, ver última citação (relativa à nota 36). 41 VENTURA, op.cit., p.64. 123 Bonvicino respondia com sua “descoberta, aprendizado, alegria e batalha. Sempre uma batalha. Num período pobre e idiota. A força e a beleza da poesia concreta revolucionária”42. A palavra poética, nua e insinuante, poderia e deveria ser trabalhada como instrumento de comunicação de idéias e formas renovadoras e, enquanto tais, elementos de transformação social. E os tempos eram propícios a isto, tempos em que os signos possuíam grande ressonância social, quando, diz um testemunho, “palavras cantadas e rimas valiam tanto quanto fuzis”43. Exagero que fosse, porquanto incomparáveis em sua força destrutiva, estava dada a crença no poder de fogo do verbo. “Uma palavra é mais que uma palavra, além de uma cilada”, e por isto, dizia Torquato em numerosas variações, “a poesia é a mãe das artes/& das manhas em geral”, “o poeta é a mãe das armas/& das artes em geral”, “a poesia é o pai das ar/timanhas de sempre [...] poetemos pois”44. Assim sendo, se aquela poesia underground não foi além do que poderíamos chamar de uma vontade de potência, tampouco cabia no lugarcomum simplificador que lhe fora atribuído. Waly Salomão redargüiria peremptório: “Desbunde e desbundado são o que pode refletir o olho reificador do sistema”. Adorno observa como a crítica burguesa, especialmente a crítica reacionária, chega a compreender a crise da sociedade e do indivíduo, mas busca causas ontológicas, imputando a responsabilidade disso ao indivíduo em si, sua vacuidade, mecanicidade ou fraqueza neurótica, em vez de criticar o princípio social da individuação em crise. Contudo, a sociedade não é um todo derivado da atitude imediata de homens em convivência, mas um sistema de que os encerra, (de)forma e os penetra até a medula daquela humanidade que um dia os determinou como indivíduos. A dialética do sujeito contemporâneo consiste em que o ser, já em alguma medida reduzido e degradado pelo domínio da esfera de produção sobre o corpo e os valores, é capaz de resistir enquanto esta esfera não se torna absoluta. Neste interregno, em que um tipo de sujeito se dissolve sem que outro tenha emergido, a experiência individual necessariamente se apóia no antigo sujeito. O valor da experiência subjetiva na era de sua decadência, na modernidade tardia, reside em que a força do protesto passou para o indivíduo que, por um lado, havia-se tornado mais enriquecido e diferenciado, mas por, outro, enfraquecido pelo esvaziamento do mundo sócio-político, que é o outro pólo condicionante da construção da subjetividade, num processo complexo que atinge seu ápice em estados 42 As citações dos poetas encontram-se em HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA. Poesia Jovem Anos 70, p.29. O trabalho contém pequenos depoimentos de diversos poetas, que utilizo aqui como testemunhos de época. 43 TEIXEIRA, Memórias, esquinas..., op.cit., p.13. 44 Os últimos dias..., p.366, 372, 373. Um desses poemas tem a data de 8/11/71/&sempre, o que não parece indício de retração da linguagem. 124 ditatoriais. Além do mais, se a história é uma sucessão de vitórias e derrotas, há que se considerar, como fizera Benjamin, o que não se inseriu nessa dinâmica e ficou a meio caminho, “os resíduos e pontos sombrios [....] é da essência do vencido aparecer em sua impotência como inessencial, marginal, ridículo”45. Pode-se compreender, assim, o marginaldesbundado em relação às feridas da derrota política e da crise do sujeito no mundo contemporâneo. Igualmente indagado sobre os “desbundados”, Abel Silva, escritor e letrista de música, observou haver mais de um tipo de desbunde, sendo o de Torquato especial, uma vez que em sua fragilidade e solidão, realizava uma “obra de sintoma”, pessoal e cultural, que sua morte veio sacramentar como testemunho de uma verdade, “a verdade do poeta no momento secreto”, aquele poeta que havia sido marginalizado e sabia pensar no fim. A sensação exposta por Abel ultrapassava uma vida particular, sua percepção da existência no início dos anos 70 era a de um barco que afundara para todos em “um momento histórico completamente original no Brasil [...] Foi o maior trauma coletivo brasileiro, foi a nossa guerra civil espanhola, nossa Guerra o Vietnã [...] um envolvimento total, uma implosão”46. A falta do trágico no mundo triste – testemunho de um poeta A implosão incluiria os símbolos catalisadores do que se havia apresentado como as duas opções da juventude politizada na virada dos anos 60 para os 70, a luta armada e o comportamento contracultural. Conforme a percepção do estudante-guerrilheiro e presidiáriopoeta, Alex Polari, à medida que o regime ditatorial estreitava os espaços de participação político-social, os caminhos-do-meio ficavam mais difíceis, de modo que Foi isso precisamente que minha geração escolheu em 1969. Desbunde, piração ou guerrilha, já que a militância ao nível do reformismo era negada. Quem optou por alguma coisa intermediária optou geralmente pela integração total, pela corrupção ou pela mediocridade. Resistência marginal só houve essas duas.47 A recusa do mediano ou da conciliação colocava aquela “geração” no limiar de uma dimensão trágica – compreendendo-se a tragicidade no sentido goethiano de conflito irremediavelmente inconciliável, dado ao homem que se enfrenta com as aporias do destino, 45 ADORNO, op.cit., sobretudo Dedicatória, p.8-10; aforismos 97 e 98, p.131-133. Citação na p.133. Grifo meu. Entrevista de Abel Silva e Waly Salomão a HOLLANDA E GONÇALVES, A ficção da realidade brasileira. In: NOVAES, Adauto (org). Anos 70, ainda sob a tempestade. Rio de Janeiro: Aeroplano/Senac Rio, 2005, p.13146 132 e 136, respectivamente. Grifo meu. Depoimento de Alex Polari, no texto de HOLLANDA e GONÇALVES. A ficção da realidade brasileira., op.cit., p.138. 47 125 com as experiências-limite e com a difícil constituição do elo entre dor e conhecimento – de impossível viabilização social na modernidade e, ainda menos, na cultura brasileira nela inserida, desenhada grosso modo por um traço antitrágico e por uma longa trajetória de conciliações políticas48. As duas opções radicais de então se viam constrangidas entre o salto trágico e o recuo diante do choque violento produzido pela morte de Lamarca, no sertão da Bahia, em dezembro de 1971, e pelo suicídio de Torquato Neto, no Rio de Janeiro, em 197249. A sensibilidade aguda e desajustada de Torquato constituiu, na época, uma das principais antenas dos bloqueios postos à vida social. O poeta apresentava um certo senso trágico que exercia entre seus receptores um misto de fascínio e repulsa, que se comprova pelos momentos em que ficou isolado, mesmo por seus pares. Quando de sua desavença com o tropicalismo, definira o movimento como “a ausência de consciência da tragédia em plena tragédia”50, o que significava ter uma visão peculiar da experiência histórica em curso, tornando-o incompreendido por sua concepção incomum ou, ao menos, “adiantada” em relação aos que com ele se afinaram. Roberto Vecchi observa ter havido duas faces na modernidade do Brasil, uma “rutilante” e outra “sombria e até tenebrosa”, tendo a segunda ocupado um lugar menor em comparação às representações culturais dominantes da nação, permanecendo na forma de resíduos trágicos nos tecidos narrativos. Na virada do século XIX para o XX, portanto na aurora do moderno brasileiro, teria ocorrido um processo social de “remitologização da cultura” – evidentemente vinculado ao nacionalismo – que os modernistas, em suas expressões mais canônicas, acabaram por incorporar, relegando os códigos trágicos nas manifestações modernas fundadoras na nação. Neste sentido, se o modernismo desrecalcou elementos populares e étnicos, como sugere Antônio Cândido, por outro lado contribuiu para recalcar em nossa história cultural a compreensão trágica da existência, a lide social com os extremos e as aporias, especialmente na modernidade, que se mantém entre nós como cacos discursivos que eventualmente se reativam, mas desprovidos de sua profundidade genealógica. Assim, a forma trágica passível de ser configurada na literatura brasileira mostra uma insuficiência, a insuficiência mesma da tragicidade, que deixa “os rastros de uma presença que foi tentada e não vingou”, como um 48 Para o caráter antitrágico da cultura brasileira, cf. STERZI, E. Formas residuais do trágico, alguns apontamentos. e VECCHI, R. O que resta do trágico: uma abordagem no limiar da modernidade cultural brasileira. In: FINAZZI-AGRÒ, E. e VECCHI, R. (org). Formas e mediações do trágico moderno, uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004, p.103-112 e 113-126, respectivamente. Estes e outros artigos do livro também trazem toda uma discussão do significado residual do trágico na modernidade e na literatura brasileira. 49 Cf. HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, idem, p.101. 50 Cf. CASTELLO, idem. 126 esvaziamento51. Os textos de Torquato Neto se enquadram nesta dinâmica, havendo funcionado, em seu momento, como uma espécie de pára-raios. Em “Cogito”, um dos seus poemas mais belos, o sujeito lírico tematizava novamente a impossibilidade de continuar um projeto humano iniciado: eu sou como eu sou pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível eu sou como eu sou agora sem grandes segredos dantes sem novos secretos dentes nesta hora eu sou como eu sou presente desferrolhado indecente feito um pedaço de mim eu sou como eu sou vidente e vivo tranqüilamente todas as horas do fim Em um jogo de metonímias e metáforas – em que as relações de contigüidade (a parte pelo todo) metonímicas se entrelaçam às aproximações metafóricas do que é diverso –, o poeta constrói o texto em três partes, de acordo com os três tempos básicos da experiência, passado, presente e futuro. Na primeira parte-estrofe, o sujeito lírico se qualifica como “pronome/pessoal intransferível”, ou seja, o eu é irrevogavelmente si mesmo e também um pro-nome, algo anterior e propenso ao nome que o designa. Neste espaço-tempo prévio, como um prólogo, está aberta a possibilidade para algo que ainda não é, mas se anuncia. Tal como na concepção de Oiticica o projeto da obra de arte é o pró-objeto, o homem de Torquato é um projeto de si, iniciado em medida tão ampla que não coube nas limitações do seu momento histórico. Neste sentido, a medida humana se restringiu ao parcial, o homem é pro-préhomem, parte metonímica de si. Em estudo sobre a arte brasileira contemporânea e sua relação com o momento autoritário, Jaime Ginzburg chama a atenção para a experiência inconclusa como uma característica dos contextos de catástrofe e desumanização, quando os artistas e escritores buscam formas que, de algum modo, estejam vinculadas a uma experiência delicada e fragmentária de constituição subjetiva52. Entre essas formas 51 52 Cf. VECCHI, op.cit., p.116-117, 123-124. Para Antônio Cândido, cf. as observações acima (nota 7). GINZBURG, J. Cegueira e literatura. In: FINAZZI-AGRÒ,E. e VECCHI, R. op.cit., p.91. 127 expressivas, justamente a metonímia ocupa um lugar de destaque. O trabalho de Márcio Seligmann-Silva53 acerca da memória traumática nas literaturas de testemunho demonstra como o autor de testemunhos de acontecimentos excessivamente dolorosos é um ser repleto de símbolos culturais que, como tal, domina em algum grau artifícios poetológicos, isto é, uma lógica poética de se expressar, necessária nesses discursos que apresentam eventos-limite vividos. A dificuldade dos testemunhos, porém, reside justamente em traduzir o teor particular da experiência histórica experimentada ao universal da discursividade, de modo que as formas de dizer testemunhais são mais indexais que simbólicas, nem sempre havendo clara separação entre a mímese e o objeto mimetizado. A metonímia é justo o topos de linguagem dessa contigüidade e da parcialidade. Por isso, as erupções metonímicas na dicção testemunhal são como as ruínas da catástrofe, a figura demandada pela encenação da incompletude na poética das ruínas, em que os silêncios, também eles, mimetizam as lacunas insuperáveis desses falares – “destes dizeres tão calares” de Leminski: “É quando a vida vase./É quando como quase./Ou não, quem sabe.”54 Na segunda parte, composta pela segunda e terceira estrofes, é o tempo presente que perfaz o sujeito. Ainda metonimicamente, a subjetividade, cuja constituição depende das articulações de todos os tempos, fica reduzida ao agora, sua parcela imediata, excluindo a memória que ativa o passado (“sem grandes segredos dantes”) e as projeções que chamam o futuro, que por não ser, carrega sempre a perspectiva do novo (“sem novos secretos dentes”). O signo dos dentes se reitera nos textos de Torquato e cumpre aqui o papel de elo de ligação deste poema com outros textos e do eu com o outro. Nos excertos “D’Engenho de Dentro”, repetem-se as digressões que relacionam o eu intransferível ao nome, seja pela alusão ao pronome, seja ao anonimato. A idéia de intransferibilidade do sujeito remete obrigatoriamente à alteridade, a quem ou àquilo que não se é e para o qual seria desejável, embora inexeqüível, transferir-se. Deste modo, o sujeito se vê nas fronteiras de seu próprio nome, seu pronome pessoal reto (não há nenhum oblíquo, no poema) é fatalmente “eu” e não pode ser “ele” ou “tu”... Igualmente o outro é si mesmo e se apresenta desdentado: “a melhor sensação é a de 53 Utilizo aqui, especificamente, As literaturas de testemunho e a tragédia: pensando algumas diferenças. In: FINAZZI-AGRÒ e VECCHI, op.cit., p.24-25. 54 “Transmatéria contrasenso”, introdução datada de janeiro 1987, ao livro Distraídos venceremos. Há na obra de Leminski diversos textos sobre a experiência da inconclusão-interrupção, como em Campo de sucatas: “saudade do futuro que não houve/aquele que ia ser nobre e pobre/como é que tudo aquilo pôde/virar esse presente podre/e esse desespero em lata?”, do seu livro póstumo, O ex-estranho. Mas o poeta traz ainda uma outra face dessa circunstância, ao tratar das dificuldades colocadas aos sujeitos do terceiro mundo: “um dia/a gente ia ser homero/a obra nada menos que uma ilíada//depois/a barra pesando/dava pra ser aí um rimbaud/um ungaretti um fernando pessoa qualquer/um lorca um éluard um ginzberg//por fim/acabamos o pequeno poeta de província que sempre fomos/por trás de tantas máscaras/que o tempo tratou como a flores”. Do livro Polonaises, 1980. 128 reconquistar inteiramente o anonimato no contato diário com meus pares de hospício. posso gritar: ‘meu nome é torquato neto, etc. etc.’; do outro lado uma voz sem dentes dirá: meu nome é vitalino; e outra: meu nome é atagahy! aqui dentro só eu mesmo posso ter algum interesse: minhas aventuras, nem um pingo.”55 Naquele contexto vale não o que se fez ou faz, mas o que se é – e quem conhece o próprio ser, senão apenas o nome próprio? Não há outra forma de reconhecimento social, de si e do outro, de si através do outro e vice-versa, a não ser (aqui cabe o trocadilho) pelo nome, que o outro enuncia com ausência de dentes. O outro é introduzido no poema através desta imagem, índice da loucura dominada, do homem destituído de sua agressividade, mas também da capacidade de morder os nacos da vida, do brasileiro pobre desprovido de saúde mental e oral. Neste ponto, a metonímia se intercala ao jogo metafórico, pois a história do homem singular é a história de todo um povo e este não pode expressar-se com todas as articulações possíveis da fala, pois é configurado como “voz sem dentes”. A rima que se estabelece entre os termos dentes, presente e indecente, liga a segunda à terceira estrofe, ainda sob a dimensão temporal do agora. Se a indecência remete a formas eróticas não aceitas pelas convenções sociais, a sugestão é invertida – indecente é ser convencional neste moldes – mediante a associação do indecente ao ser em pedaços, fragmentado e sem ferrolhos que unam as partes do objeto corporal ou mental (analogamente, os “parafusos soltos” são uma expressão coloquial que designa a loucura). A sensação de abjeção ou obscenidade está vinculada à aparição do que foi recalcado e esquecido, cujo retorno, na leitura freudiana, surte o efeito do ominoso, daquele “estranho-familiar” sentido como insólito e nefasto. Na linguagem dos testemunhos, é comum o surgimento do abjeto, diz Seligmann-Silva56, quando o desrecalque encena o obsceno, isto é o que está fora de cena, mas que faz parte da voz de um sujeito que se enuncia como resto de um mundo destruído. Assim, “indecente/feito um pedaço de mim” tematiza a indignidade da “vida danificada”, conforme a formulação adorniana, nas várias facetas do dano, do pedaço que não se completa, do que foi pré-concebido mas não encontrou as formas de se realizar ou se formulou fora dos padrões em cuja circunscrição opera o reconhecimento social, do sofrimento derivado de tudo isto, que não encontra remédio na sociedade que o gerou. 55 Sem título, datado de 12/10, encontra-se em Os últimos dias... bem como em HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.66-67. 56 Cf. SELIGMANN-SILVA, op.cit., p.26. Para o ominoso, também traduzido como sinistro, cf. FREUD, S. O sinistro. In: Obras completas. v.3. 4.ed. Madri: Biblioteca Nueva, 1981, p.2483-2505. Freud deriva suas reflexões do Unheimlich de Schiller: “tudo que deveria ter permanecido oculto, secreto, porém se manifestou”, p.2487. 129 Alterou-se a fórmula cartesiana prometida no título: penso, mas não existo como pensei ou como pensaram. Isto, porém, possui contraditoriamente inestimável valor. Em sua crítica à condescendência inocente, Adorno considera que as manifestações de pequenas alegrias e beleza sem responsabilidade reflexiva são expressão de ignomínia para a existência que se constituiu de maneira diferente do comum, e que não encontra mais beleza ou consolo algum senão dentro do olhar que encara o horrível, para resistir e sustentar, não obstante, a possibilidade de algo melhor, o que exige uma implacável consciência da negatividade57. Aos que desafinam o coro dos contentes – a imagem é do próprio Torquato – há um tipo de redenção possível, na vida rasurada que ainda assim mantém laivos de dignidade humana diante da destruição de seu mundo e da morte. É o que se vê na última estrofe de “Cogito”, na terceira parte em que o eu se identifica com o tempo futuro pela vidência, a visão prognóstica do porvir e do fim que, contudo, diferentemente da angústia profética, permite ao sujeito lírico a experiência do presente pacificado, do homem quite com sua dimensão possível, sua mescla de grandeza e ruína, sem ter perdido, no roldão destruidor do seu tempo histórico, a consciência trágica da morte – apenas o homem e seu nome, diante do incomensurável, segurando o valor da existência. Com os dentes. A propósito, Torquato gostava de associar sua imagem ao vampiresco e havia mesmo desempenhado o papel de vampiro no filme super-8 Nosferatu no Brasil, de Ivan Cardoso. No cartaz do filme, como em Navilouca e no fotopoema “gélida gelatina-gôsto de mel”58, a imagem da gilete chama a atenção. Conectavam-se nesta poética, os dentes vampirescos que sugam das artérias a seiva vital e a gilete passível de cortá-las e esvair a vida. Associam-se os instrumentos que sangram, pois que o sangue da vida e da morte é um só: é a própria imagem do início e do fim, que tanto se repete nos seus textos. O suicídio do poeta foi um espanto para amigos e leitores, mas faz sentido em sua poética e sua-nossa história. Apesar de ser inútil tentar desvendar os motivos de um suicida, alguns estudos sobre a relação existente entre o suicídio e a vida social são deveras interessantes, uma vez que se trata da eliminação de um corpo que é ao mesmo tempo individual e coletivo, uma escolha subjetiva em meio às múltiplas determinações do corpo social. Pensando os quadros sociológicos do suicídio, Durkheim os insere numa das dinâmicas que participam da “corrente coletiva exterior às consciências particulares”, uma vez que nem 57 58 ADORNO, op.cit., aforisma 5, p.19. De autoria de Torquato, Luciano Figueiredo, Oscar Ramos e Ivan Cardoso, reproduzido em Os últimos dias de paupéria, páginas iniciais não numeradas. Nos excertos D’Engenho de dentro também consta, em 7/4/71: “– Eles não deixam ninguém ficar em paz aqui dentro. são bestas. Não deixam a gente cortar a carne com faca mas dão gilete pra se fazer a barba”. 130 todos os aspectos da vida social são materializados, nem pela arte, nem pela moral, restando sentimentos vivos e difusos, espalhados pela sociedade como ecos de emoções e impressões concretas. Não se trata, frisa o autor, de confundir o tipo coletivo com o tipo médio de uma sociedade, mas de compreender que os indivíduos, e com eles os suicídios, são tensionados pelo duplo movimento de serem conduzidos pelo fluxo social tanto quanto por suas propensões pessoais. Como toda sociedade alia, em proporções que variam consoante sua cultura, “o egoísmo, o altruísmo e uma certa anomia”, quando o equilíbrio destes elementos se desfaz, aquele que prepondera se torna suicidogêneo. Entretanto, nem toda sociedade apresenta especial propensão ao suicídio como ocorre na sociedade burguesa, onde a “hipercivilização” que origina a tendência anômica e a tendência egoísta resulta também no afinamento dos sistemas nervosos, “tornando-os excessivamente delicados; por isso, são menos capazes de se dedicarem fielmente a um objeto definido, mais contrários à disciplina, mais acessíveis tanto à irritação violenta quanto à depressão exagerada”, inversamente ao que ocorre nas sociedades “primitivas”, onde se desenvolvem o altruísmo excessivo e uma insensibilidade que facilita a renúncia59. Em suma, as condições sociais do suicídio são dadas pelos excessos deste tipo de civilização, que produz momentos de ausência de regras e uma tal interação entre subjetividade e objetividade que os indivíduos se tornam especialmente suscetíveis a alterações emocionais patológicas. Os estudos de Marx-Peuchet, de modo semelhante, perguntam pela natureza dessa sociedade que propicia um número tão elevado de suicídios, considerando-os sintomas da organização social deficiente, cuja contra-face é a insuficiência das vidas privadas, ou seja, “um dos sintomas da luta social geral”, da qual os combatentes se subtraem, ou por estarem cansados de serem vitimados, ou por se insurgirem contra a idéia de virem a figurar entre os carrascos. Se a miséria é o maior motivo do suicídio, não é todavia o único: as classes mais favorecidas também o praticam, impulsionadas pelos mais diversos fatores, das doenças aos amores traídos, dos sofrimentos familiares às rivalidades, e mesmo “o desgosto de uma vida monótona, um entusiasmo frustrado e reprimido [...] e até o próprio amor à vida, essa força enérgica que impulsiona a personalidade, é freqüentemente capaz de levar uma pessoa a livrar-se de uma existência detestável.”60 59 Cf. DURKHEIM, É. O suicídio. In: Durkheim. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.163-202. (Os Pensadores)., citação p.201 60 MARX, K. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006. p.24 e 29. Grifo meu. Trata-se de um capítulo das memórias de Jacques Peuchet, diretor dos Arquivos da Polícia de Paris sob a Restauração francesa, que Marx, ao traduzir para o alemão, alterou, introduzindo interpolações de próprio cunho. 131 Mantidas as devidas diferenças, ambos os autores observam a impossibilidade do indivíduo permanecer isento à patologia social do mundo burguês. Para safar-se, diz Adorno, seria preciso viver de tal modo que se fosse capaz de pôr termo à vida a qualquer momento, o que faria emergir como triste verdade a doutrina niestzschiana da morte livre. De maneira diversa do que pensavam os artistas do Jugenstil ou artnouveau, para quem era possível morrer belamente, a morte “reduziu-se ao desejo de abreviar a infinita humilhação do existir, bem como o infinito sofrimento de morrer em um mundo no qual há muito tempo há coisas piores a se temerem do que a morte.”61 A morte, nestes casos, é concebida de maneira tal que é possível aproximá-la de uma dialética trágica: morrer por amor à vida, dentro dos limites antitrágicos impostos na modernidade, gerando irresolúvel tensão. Aquele “poeta das elipses desconcertantes, dos inesperados curto-circuitos, mestre da sintaxe descontínua que caracteriza a modernidade”, nas palavras de Leminski, era também um visionário da decadência e um poeta das interrupções, inclusive de sua existência mesma62. E de certo modo, também a morte do próprio Leminski, no final dos anos 80, aproximava-se desse campo de tensões, havendo sido considerada por diversos amigos e críticos como um lento suicidar-se, na medida que se conceba haver escolha no vício que arruinou sua saúde. Sua poética, nos últimos anos, foi assinalada pelo tema da morte. 3.3. Efervescência cultural interrompida Já bem antes, ao homenagear o amigo em “Coroas para Torquato”63, o poeta curitibano fornecia indícios sobre as possíveis razões do sofrimento de toda uma geração de artistas no modo como o contexto histórico era sentido: um dia as fórmulas fracassaram a atração dos corpos cessou as almas não combinam esferas se rebelam contra a lei das superfícies [...] abaixo o senso das proporções pertenço ao número dos que viveram uma época excessiva 61 ADORNO, op.cit., aforisma 17, p.31. Encontra-se no fotopoema “– EX – PIRA – L –”, de Waly Salomão em homenagem a Torquato, um sentido de teor semelhante: “Torquato suicida [...]/Torquato não perdeu/Torquato per DEU/ DEU a vida”. Reproduzido em Os últimos dias..., páginas iniciais não numeradas. Leminski citado por José CASTELLO, op.cit. 63 In: HOLLANDA, H.B. e MESSEDER PEREIRA, C.A. Poesia Jovem Anos 70, p.16. 62 132 Desalinhando os versos consagrados com que Manuel Bandeira terminou o poema “Arte de amar” – “Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo./Porque os corpos se entendem, mas as almas não” – bem como os ensinamentos pitagóricos acerca da proporcionalidade (o poeta freqüentou, durante um período de sua vida, um templo pitagórico), afirma o sujeito lírico o fracasso das fórmulas que um dia sustentaram um mundo, que também foi seu. A “medida do impossível” e a “época excessiva”, agora fracassadas, remetiam ao projeto de transformação social, política e humana que se fortalecera nos anos 50 e início dos 60, sob o populismo trabalhista (e a despeito ou em virtude dele), que se manteve clandestino e ferido mas ainda pulsante na primeira fase da ditadura militar (1964-67), e que fora golpeado de morte pelo AI-5 e seus desdobramentos ditatoriais. Consistia, nas palavras de Marcelo Ridenti, no projeto dos “homens que se faziam novos, e tiveram o desabrochar impedido pela modernização conservadora do capitalismo”, a qual obstaculizou a formação de homens criadores e ativos, criativos portanto, em prol da (de)formação de homens consumidores e passivos diante da história64. A experiência democrática e nacionalista dos anos 1945-1964, quando também se propagaram idéias socialistas misturadas às trabalhistas, configurando as ambigüidades e a complexidade do populismo brasileiro, havia selado fortemente com um cunho anticapitalista a formação dessa geração interrompida, por assim dizer. Como aponta Roberto Schwarz, se em 1964 o governo militar chegara a preservar o meio cultural, tendo-lhe bastado cortar seu contato com a massa operária e camponesa, em 1968 seria “necessário liquidar a própria cultura viva do momento”, pois os estudantes e o público dos melhores filmes, livros, teatro, música, já constituíam uma população “politicamente perigosa”, de modo que era preciso substituir ou censurar os professores, encenadores, escritores, músicos, editores... Na visão deste autor, o grande dilema do movimento cultural nos anos 70 consistia numa espécie de dor de “floração tardia”, ou seja, num amadurecimento democrático na área cultural após dois decênios de elaboração e trabalho –os anos 50 e 60 –, justamente sob o regime ditatorial, quando as condições sociais que o propiciaram não mais existiam, derivando em uma crise aguda da intelectualidade progressista65. Em numerosos testemunhos de época, os termos-chave, como um denominador comum para rememorar o fenômeno, são uma “efervescência” que foi brutalmente “interrompida” e 64 65 RIDENTI, M. O fantasma da revolução brasileira, p.18 (no “Prefácio Pessoal e político”). Cf. SCHWARZ. Cultura e Política..., op.cit., p. 50. 133 terminou por se perder66. Esta efervescência testemunhada pelos sujeitos ativos daquele processo histórico indicam uma experiência de sociabilidade aprofundada, um compartilhamento de idéias, projetos e atitudes, traduzindo-se em expressão criativa e ação política de grande intensidade – “a sensação de tocar com o dedo a História”, no dizer de Jean Marc Van Der Weid –, cuja interrupção foi dolorosamente sentida. Deste modo, a mobilização, a expressão artística e as projeções utópicas que antes se encontravam no plano do plausível, agora eram sentidas como excessos e impossibilidades, ainda que mesmo assim afirmadas pelos poetas. Um belo depoimento do professor e filósofo Leandro Konder contribui para elucidar a percepção e o movimento poético de então: [...] a minha primeira impressão, quando olho para trás, é a de ver ruínas arqueológicas de uma cultura dizimada pelo AI-5, pela repressão, pelas torturas, pelo “milagre brasileiro”, pelo “vazio cultural”, pela disciplina tecnocrática e pela lógica implacável do mercado capitalista. [...] Quantas ilusões se desfizeram! [...] Mas é evidente que nem tudo se perdeu: ficou o esforço, ficaram gestos de grandeza, preocupações fecundas. E onde o pensamento político carecia de lucidez, a sensibilidade dos artistas produzia criações cheias de encanto, livros, poemas, filmes, canções. Obras cuja vitalidade não pode ser negada, porque ainda hoje circulam entre nós e nos emocionam.67 Este encanto e vitalidade da arte, entretanto, não significavam uma lúcida vidência nem um conjunto homogêneo de proposições, ao contrário, a pujança advinha de um esforço de reação às ruínas, compondo um variado mosaico de vertentes, caminhos, busca de respostas. No campo poético, o momento veio exigir a mudança de rumo e dicção não apenas dos “póstropicalistas”, como se viu, mas outrossim de poetas que vinham surgindo no final dos anos 60, como Armando Freitas Filho, Chico Alvim e Cacaso, entre outros, os quais transitariam dos meios intelectuais para as ruas agitadas da poesia alternativa e “marginal”, que surgia paralelamente e se afirmaria nos anos subseqüentes68. Em depoimento no aniversário dos 40 anos do golpe militar, que considerava uma festa fúnebre, Armando elegeu avaliar as perdas daquela geração, cuja juventude foi cortada, segundo ele: “Vencemos um tempo, mas 66 Estes testemunhos se deram em seminários comemorativos dos 40 anos do golpe militar, realizados no primeiro semestre de 2004 em diversas instituições universitárias e culturais, e acompanhados pela imprensa. Recolhi pessoalmente informações, esta em especial, naqueles realizados pela UFF/URFJ/CPDOC-FGV e pela UFRJ-CFCH/Praia Vermelha nos meses de março/abril, quando se realizaram diversas mesas-redondas com a presença de escritores/poetas, cineastas, teatrólogos, professores, jornalistas, membros de movimentos sociais, estudantis e da luta armada de então. Inúmeros são os termos para nomear esta “efervescência”: Schwarz dizia que a sociedade brasileira estava “irreconhecivelmente inteligente”, op.cit.; Walnice Galvão fala em “ensaio geral de socialização cultural” e Ridenti chama de “agitação e florescimento cultural e político”. Cf. RIDENTI. O fantasma da revolução brasileira, p.152. 67 O depoimento foi recolhido, junto com diversos outros, por HOLLANDA, H.B. e GONÇALVES, M.A. Cultura e participação nos anos 60, São Paulo: Brasiliense, 1982, p.91-92. Para o supracitado depoimento do então líder estudantil exilado, já mencionado aqui, Jean Marc Van Der Weid, ver p.83-85. 68 O assunto será tratado nos capítulos 4, 5 e 6. 134 pagamos um preço, às vezes alto. [...] eu poderia ser uma pessoa mais completa do que sou hoje”69. A alusão à incompletude nos remete novamente aos problemas da constituição da subjetividade e dos discursos testemunhais na contemporaneidade brasileira. O projeto autoritário de formação social no Brasil, recorda J.Ginzburg70, afetava os sujeitos, que se vêem impedidos de conduzir suas próprias trajetórias, acusando em seus textos o impacto agônico dos processos de desorganização de suas referências e sentidos para o que seja a relação indivíduo-sociedade e a própria constituição histórica do humano. 3.4. No campo das palavras minadas – trauma e reação na linguagem No Brasil, como em toda parte, os poetas buscaram no humor e em diversos subterfúgios da linguagem alguns recursos para lidar com tal estado de coisas. Antes de mais nada, havia que combater um processo de perversão de sentidos posto em curso pelos governos militares, não apenas mediante a propaganda oficial, veiculada nos sistemas de rádios e televisão, como também nos documentos governamentais, nos textos jurídicos e nos discursos presidenciais. A começar pelo golpe de 1964, que o regime militar auto-intitulou de “revolução”, invertendo e chamando para si uma das idéias fundamentais do processo político anterior, tradicionalmente assumida pelas esquerdas, para as quais a revolução significa a modificação profunda da ordem capitalista vigente, e não sua manutenção71. O termo “democracia” sofria também semelhante inversão. Segundo o discurso oficial, fazia-se uma revolução militar para impor uma ditadura que garantiria a democracia e o desenvolvimento no país desordenado por subversivos comunistas, em nome da segurança nacional, conforme se deduz, a título de exemplo, do seguinte trecho do preâmbulo do Ato Institucional n° 2, promulgado pelo governo Castelo Branco em outubro de 1965: A revolução está viva e não retrocede. Tem promovido reformas e vai continuar a empreendê-las, insistindo patrioticamente em seus propósitos de recuperação econômica, financeira, politica e moral do Brasil. Agitadores de vários matizes [...] já ameaçam e desafiam a própria ordem revolucionária, precisamente no momento em que esta, atenta aos problemas administrativos, procura colocar o povo na prática e na disciplina do exercício democrático. Democracia supõe liberdade, mas não 69 Anotado por mim no Seminário 64+40 do CFCH/UFRJ, já indicado. Nascido no Rio de Janeiro, em 1940, o poeta é considerado entre os melhores dessa geração pela crítica especializada, vencedor do prêmio Jabuti de 1985, com o livro 3x4, e do prêmio Alphonsus de Guimaraens, em 2000, com Fio Terra. Foi pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Fundação Biblioteca Nacional, Secretário da Câmara de Artes no Conselho Federal de Cultura, assessor da presidência da Funarte, onde se aposentou. 70 Cf. GINZBURG, J., op.cit., p.98. 71 Para uma discussão da apropriação do termo “revolução” pela ditadura militar, ver os livros de M.Ridenti. 135 exclui responsabilidade nem importa em licença para contrariar a própria vocação política da Nação. Não se pode desconstruir a revolução, implantada para restabelecer a paz, promover o bem-estar do povo e preservar a honra nacional.72 Tratava-se de produzir meios discursivos de convencimento da sociedade, ou seja, elaborar uma argumentação lógica e fundamentada em noções de direito constitucional e teoria política73. Na verdade, o regime militar recorria a diversas áreas de conhecimento para esta fundamentação argumentativa. Ao estudar o significado do tema da “humanização do desenvolvimento” e “desenvolvimento psicossocial”, que os presidentes Costa e Silva e Médici, respectivamente, introduziram nos discursos acerca do planejamento econômico, contrapondo-se aos planos governamentais anteriores que tratavam estritamente da dimensão econômica, Renato Ortiz aponta sua incongruência contextual. Desde o golpe de 1964, mudanças econômicas substanciais reorientavam a sociedade brasileira para um modelo de desenvolvimento capitalista bastante específico, adquirindo o processo de modernização uma dimensão sem precedentes. Não só o planejamento estatal se incrementava com uma nova sistemática e organização, como se difundia em toda a sociedade um ethos capitalista, de modo que o processo de racionalização não se confinava aos limites da esfera administrativa, mas se estendia ao comportamento dos indivíduos. As técnicas de planejamento, como parte dessa racionalização, inicialmente aplicadas na área econômica, difundem-se para todas as esferas governamentais, alcançando a cultura, seja mediante a reforma universitária voltada para a implantação do ensino técnico, seja mediante a criação de órgãos estatais de fomento cultural que passam a organizar a esfera cultural. O Conselho Federal de Cultura do MEC, instituído em 1966, havia consolidado concepções que abrigavam uma tensão entre o progresso material do país, de um lado, e a cultura “espiritual”, de outro. Havendo incorporado intelectuais tradicionais, recrutados em Institutos Históricos Geográficos e Academias de Letras, o Conselho desenvolvera uma visão de cultura alicerçada, particularmente, na obra de Gilberto Freyre, cultivando o passado nacional com base nos grandes nomes da história e nas tradições folclóricas, compondo um conjunto de valores materiais e espirituais acumulados ao longo do tempo, a ser preservado por sua condição de patrimônio cultural. Derivam dessa idéia de patrimônio duas dimensões distintas: a primeira, de natureza ontológica, concernente ao ser nacional brasileiro, como um substrato filosófico invariável no decurso do tempo; a segunda, de natureza objetiva e material, traduzida pelo acervo de bens legados pela história, cuja preservação requer uma estrutura de 72 Cf. trechos dos Atos Institucionais em CASTRO, F. História do Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p.523-559. Documentos disponíveis em: <htpp://pt.wikipedia.org/wiki/> Acesso: 9 ago. 2007. 73 Cf. MORAES, D. “E foi proclamada a escravidão”: Stanislaw Ponte Preta e a representação satírica do golpe militar. Revista Brasileira de História. n.47, p.68. 136 museus, arquivos e projetos, responsáveis pela conservação de uma memória asseguradora da identidade nacional. Ao se adequar o discurso tradicional, regionalista, patriarcal e de preocupações “qualitativas”, à ideologia de segurança nacional, ao espírito de cálculo do planejamento econômico e à impessoalidade do trato capitalista, desenvolve-se um descompasso que se expressaria na polaridade cultura/técnica. No discurso do Conselho, esta polaridade se reproduzia pela categoria de “humanismo”: o homem brasileiro, tido como naturalmente humanista, era contraposto à sociedade moderna, dominada pelo “economicismo” e pelo “tecnicismo” da máquina, de forma que seria preciso separar o que é singularidade popular daquilo que é massivo, fruto do processo de uniformização cultural segundo modelos estrangeiros74. A expressão freyriana, “asfixia do humanismo”, foi retomada para descrever o que ocorria com a cultura ante o avanço técnico típico de uma sociedade que se industrializa rapidamente, como o Brasil de então. Tal debate certamente orientou as falas presidenciais supracitadas, bem como os discurso dos ministros da cultura no período, Tarso Dutra e Jarbas Passarinho, que incorporaram a tensão entre a dinâmica cultural e o progresso, ao afirmarem a necessidade de emparelhar a cultura, concebida como valores espirituais que elevariam a nação à condição de civilização, como complemento do desenvolvimento tecnológico e econômico. De qualquer maneira, a defesa governamental do humanismo naquele momento ditatorial e de extremada violência, praticada como razão de Estado, soava suficientemente despropositada para atingir as raias do absurdo. Ademais, uma vez incorporados pelo regime ditatorial, os argumentos humanistas se veriam rasurados pela pecha do autoritarismo e do tradicionalismo. Para além da defesa de conceitos, então, tratava-se de acusar o golpe-baixo de se torcerem sentidos a torniquete, como uma crueldade exercida na carne semântica da linguagem. Alguns autores argentinos discutem o trauma a que a língua foi submetida durante a ditadura militar em seu país (1976-1983), quando as possibilidades lingüísticas de intercâmbio social ficaram calcificadas, posto que palavras, sintagmas e enunciados diversos foram degradados pela ação repressora, que não se sustentara apenas na censura, mas também em uma espécie de língua estatal que culpava a sociedade e que produzia enunciados corrompidos, fazendo-os perder seu valor de designação. Slogans, eufemismos, toda uma fraseologia que ocultava a violação dos direitos humanos são paradigmáticos deste processo, 74 Ortiz observa que estas discussões do CFC não apresentam afinidade com o pensamento da Escola de Frakfurt, tratando-se de outro veio de raciocínio. Cf. ORTIZ, R. Estado autoritário e cultura. In: Cultura brasileira e identidade nacional., São Paulo: Brasiliense, p.104. Para o restante da análise, p. 80-105. 137 percebido pelos argentinos como um arruinamento de sua língua por parte do regime ditatorial. “As palavras [foram] forçadas a articular o horror mais inumano imaginável, para o quê primeiramente foram transtornadas, desvirtuadas por meio de diversos procedimentos de manipulação e degeneração, como os clichês ou frases contagiantes com o regime bombardeava qualquer conjectura de discursividade dissidente”, diz Lespada75. A torpeza brutal com que se corrompeu a linguagem se relaciona ao que foi definido por Hannah Arendt como a impotência das palavras e do pensamento diante da banalidade do mal. No que tange à arte – à função estética da linguagem que é criadora, geradora de novos objetos, contribuindo para a fecundidade da língua –, esta também pôde ser mutilada, transformada em objeto de repressão e aniquilamento, menos por ter sido esvaziada do que por saturada, pervertida, vendo afundados na lama seus mecanismo de criatividade e retroalimentação. A saída possível para a poesia foi tentar se formalizar como uma voz outra, alternativa à voz central que o Estado se autogarantia pela censura: buscou-se um discurso de alteridade, nem politicamente militante nem tampouco servil, criando um âmbito difuso, indômito, um tipo de resistência como uma lógica enviesada, mas real, na contramão da cena desolada da época. Teria emergido aos poucos dos próprios poetas um discurso crítico, num processo lingüístico que buscava restituir uma nova capacidade enunciativa, tentando reorganizar discursivamente os sentidos. Este processo de reparação, restituição e ressemantização lingüísticas, que não estivera alheio a violentas polêmicas entre os poetas, veio a se desenvolver em amplitude, na Argentina, no início do período democrático. Não obstante as diferenças culturais entre as sociedades argentina e brasileira, algumas semelhanças se fazem notar, visto que os poetas do Brasil tiveram igualmente que lidar com uma linguagem corrompida e saturada, cujos sentidos retorcidos participavam da banalização do mal e – o que se não for pior, é tão ruim quanto – da banalização das idéias de cunho humanista que poderiam erigir-se em força contrapositiva. Eram tempos em que primava “uma impossibilidade terrível nas palavras”, segundo o verso de Afonso Henriques Neto, em “Seis percepções radicais”76. Restou aos poetas buscar, nem sempre com sucesso, um lugar “alternativo” para sua voz indômita e sua lógica enviesada. Em estudo sobre a resistência poética no contexto da 75 “Las palabras [foram] forzadas a articular el horror más inhumano imaginable para lo cual primero se las trastocó, desvirtuandolas por medio de diversos procedimientos de manipulación y bastardeo como los clisés o frases pegadizas com que el régimen bombardeaba cualquier atisbo de discursividad disidente”. Gustavo Lespada. Manifestaciones literárias de la sombra. In: MANZONI, C. (org). Violencia y silencio: literatura latinoamericana contemporânea. Buenos Aires: Corregidor, 2005, p.225-226. Para estas reflexões, ver também Carlos Battilana. Diario de Poesía: el gesto de la masividad. In: idem, p.148-149. 76 In: O Misterioso Ladrão de Tenerife, p.38. 138 modernidade, Alfredo Bosi considera que à poesia restou somente ou a colaboração com o sistema industrial ou maneiras específicas de objeção. Reagir literariamente passou a consistir na criação de condições para a produção de sentidos contra-ideológicos, como forma de resistência simbólica aos discursos dominantes. Entre as muitas faces que a poética resistente costuma assumir, mencionadas pelo autor77, a expressão afetivo-confessional e o humor consistiram nos principais recursos que a nova poesia brasileira dos anos 70 pôde encontrar, ainda que registrando inúmeros tropeços. Em grandes linhas, cinco blocos reativos ou conjuntos de respostas podem ser detectados na poesia de então, todos perpassados pela expressão irônico-humorística e afetivo-subjetiva, bem como por muitos tipos de silêncio78. a) humor: Evidentemente, desde o início se geraram reações por parte de setores sociais de oposição, que se puseram a contestar o discurso do poder instituído, disputando – especialmente nos jornais, mediante charges e crônicas – a representação correta dos acontecimentos políticos, cuja interpretação passava, então, ao campo da lingüística e da semântica, como mostra o trabalho de Dislane Moraes. Uma vez que a linguagem oficial manipulava os fatos e a lógica, distorcendo os sentidos, cabia aos opositores, senão propriamente contra-argumentar em público, o que era proibido pela censura, aos menos criar um contra-discurso baseado em artifícios literários que provocam riso, como as citações irônicas e satíricas, que denunciavam as contradições das declarações oficiais e expunham a tensão entre o que os governantes manifestavam e omitiam, revelando a dualidade que se estabelecia na vida política entre palavra e ação, aparência e realidade. Estrategicamente, criavam-se mecanismos textuais que rebaixavam a imagem dos políticos e militares. O Febeapá de Stanislaw Ponte Preta foi, até 1968, um dos principais lugares de elaboração desse contra-discurso, seguido posteriormente pela imprensa alternativa, especialmente o Pasquim. Caricaturavam-se os membros das forças armadas e dos poderes executivo e legislativo de todas as instâncias... Um recurso freqüente dos humoristas consistia em associar os militares à figura de animais, mormente o gorila, o cavalo e o cão, bem como o rato para indicar o caráter 77 Bosi fala das seguintes faces da poesia de resistência, ainda que “condenada a dizer apenas resíduos de paisagem, de memória e de sonho que a indústria cultural ainda não conseguiu manipular para vender”: aquela que propõe a recuperação do sentido comunitário perdido (poesia mítica e da natureza); “a melodia dos afetos em plena defensiva (lirismo de confissão que data, pelo menos, da prosa ardente de Rousseau)”; a crítica, direta ou velada da (des)ordem estabelecida (vertente que inclui o humor/a sátira/a paródia e o epos revolucionário/utópico). Cf. BOSI, A. Poesia Resistência. In: O ser e o tempo da poesia, p.142-145. 78 A questão da resistência poética e do silêncio, enquanto uma das tônicas do debate da época, será tratada especificamente no capítulo 5, bastando por ora levantar rapidamente as principais reações/problemas que já se iniciavam desde final dos anos 60 e surgiram ao longo da pesquisa sobre a resposta dos pós-tropicalistas, nos quais me detenho especialmente por serem o tema central deste capítulo. 139 ameaçador e traiçoeiro de uma polícia violenta e imiscuída com organizações armadas extralegais, como o Esquadrão da Morte e o Comando de Caça aos Comunistas. Tampouco os trabalhadores escapavam, tendo sua passividade, ingenuidade ou perplexidade caricaturadas, por exemplo, pela imagem da vaca (Stanislaw) ou pelas intermináveis discussões da graúna e do bode no sertão do Nordeste (Henfil). A ridicularização paródica ou o jogo satírico de estereótipos, que inverte a relação entre fortes e fracos, mostravam pelo avesso as trapaças praticadas pelo discurso oficial. Aquele humor, recorrendo aos procedimentos literários que discutem assuntos sérios mediante o cômico, buscava o que se chama de riso fraco, reflexivo79. No entanto, isto não se processa de forma simples na sociedade. A disputa pelos termos se vincula ao papel social do jargão, que, como observa Oehler, consiste em dar significado ao momento histórico segundo um modelo pré-existente, reorganizando as novas configurações segundo um conjunto de pré-concepções, de maneira a dar continuidade a um projeto. Mas, contrariamente, faz parte dos movimentos de reelaboração histórica se despojar dos jargões, o que tanto pode significar a criação de um novo corpus conceitual, que seria propriamente uma nova teorização – que não era o caso em questão –, quanto um processo de inversão ou perversão de clichês, que vem a recalcar conceitos e visões que foram derrotados na luta política. Deste modo, o humor, como ars poetica para os vencidos, também ocupa uma dupla posição no trabalho de luto social. As prestidigitações lingüísticas e jogos de palavras são recursos para combater a censura, criando substituições táticas, analogias, alusões, associações, que, como “feitiçarias evocatórias”, exigem um leitor cúmplice. Reside neste ponto o problema: um processo de dor social pode provocar a piada tanto quanto o esquecimento (ainda neste caso, restam detalhes, mais ou menos significativos, posto que sempre há uma memória involuntária e indelével de uma atmosfera social), decorrendo em leituras geracionais distintas. Por variados motivos, intencionais ou inconscientes, se algumas leituras insistem em lembrar, outras têm pressa em apagar vestígios. Assim, o humor, ou a poesia irônica e satírica, ao deslocar o pathos para figuras marginais, para outras configurações de sentido, aloca os termos políticos em contexto semântico estranho, como um procedimento cifrado, capaz de resultar numa recepção diferenciada da orientação cômicocrítica. As alegorias animais, por exemplo, podem ressoar como uma alusão à bestialidade, em contraposição à civilidade pretendida do processo histórico em curso, mas podem todavia se inclinar à naturalização do mal humano muito comum em momentos de crise – quando se 79 Cf. MORAES, D. “E foi proclamada a escravidão”: Stanislaw..., idem, passim. 140 retoma uma visão pessimista e odiosa do homem e do mundo, apoiada em sua maldade “natural”, consoante ensinam as tradições filosóficas de base estóica, cristã ou budista –, dimensão política e histórica80. Tal diluição se agrava com uma outra faceta da cultura brasileira, a que evita lidar com o mal-estar e a discussão sobre o mal para além do imaginário cristão – casos em que seria “coisa do diabo”, de pessoas ressentidas ou de vãs indagações metafísicas que se desfazem no ar – recebendo o tratamento irônico de Carlos Saldanha, no poema intitulado “Zum e Metafísica”, a começar pela designação dos personagens: Bacamarte, a arma de fogo tosca e curta que no sentido figurativo indica o sujeito imprestável e pesadão, dirige-se a seu mestre, como sói acontecer nas escolas orientais, cujo nome profético remete à tradição bíblica: “Porque ó Venerável, existe o mal?” Indaga o ressentido Bacamarte. “Eu é que sei?”, brada Malaquias, “Porque não é o mundo em forma de livro, com ilustrações sem sépia, ou hachurado grosso, ou escrito em papel de arroz? Enfim, vamos parar Com perguntas tolas E vá me buscar uma cerveja.”81 A promessa latente de um ensinamento profundo sobre a existência humana se esvai no final imprevisível, característico do humor, quando se resolve a questão não com uma resposta, mas com a desqualificação da pergunta como tolice. Sendo o mundo naturalmente ilegível, desiste-se de procurar entendê-lo. E ainda que se buscasse, o pensamento requerido para estabelecer as necessárias articulações filosóficas e históricas se via diante das diversas armadilhas postas no campo da linguagem sob a ditadura militar, exigindo recursos extras para o trabalho de resistência, os quais não eram de fácil aquisição e nem todos os poetas surgidos na época deles dispunham. 80 A partir de OELHER, D. O velho mundo desce aos infernos, esp. p.86-88; 110-111; 125-7; 138; 143; 181; 199201; 239. O problema da naturalização do mal humano reaparece em várias circunstâncias e será retomado adiante. 81 In: HOLLANDA. 26 poetas hoje, p.31. O poeta, que depois passou a assinar como Zuca Sardan, fazia desenhos acompanhando seus poemas, o que acentua seu teor lúdico, mas sempre de corte muito irônico. Nascido em 1933, formado em arquitetura, mas fazendo carreira na diplomacia e na poesia (tendo vivido em várias cidades, mora em Hamburgo, na Alemanha, segundo informação de 2004), o autor já fazia seus “gibis”, manuscritos, desenhados e mimeografados a álcool muito antes de surgir o surto de poesia marginal dos anos 70, como se verá nos próximos capítulos, e ao qual Saldanha foi incorporado. Para Flora Sussekind, trata-se de um humor gráfico-verbal que brinca com o “sujeito-biográfico” dominante nos textos dos anos 1970. SUSSEKIND, F., op.cit., p.19-20. 141 b) desistência: Em princípio, a possibilidade da desistência se fazia plausível e, sem dúvida, muitos se entregaram a esta via, quando, no meio do caminho da vida, encontraram-se em uma selva escura. O próprio tema da desistência se tornou matéria de poesia, como revela o poema de Capinam, “Poeta e Realidade (O Desistente)”: Vou tentar a desistência [...] – sendo fatalidade, fico aqui – se em tudo existe a própria máquina pouco acrescenta ir ou não ir.82 Mediante um movimento mimético, em que a voz lírica em primeira pessoa imita um modo de pensar dominado pela tendência fatalista diante das engrenagens sistêmicas, o poeta advertia sobre um posicionamento ou conduta factível naquelas circunstâncias. Procedimento análogo se vê no seguinte texto de Antônio Carlos Secchin: Há um mar no mar que não me nada e não se entorna em ser espuma ou coisa fria. Me sinto cheio de palavra e de formato, murado em mim sob a ciência desse dia. Na sonância do que vive, minha fala é desistência, e dizer é corroer o que se esquiva, reter a letra a cicatriz do som vazio. Sou apenas quinze avos da loucura, a dar um nome à ironia do que dura.83 Um sujeito lírico repleto como um mar murado que, embora “cheio de palavra e de formato”, não tem meios de entornar, apresenta-se no fio tenso entre um falar que é desistir ou tentar corroer loucamente algo que se esquiva, como o sinal restante (letra, cicatriz) de um som esvaziado, porque ferido, e que todavia ironicamente perdura, pedindo um nome como pedem as dores, para que possam sanar. A referência à ditadura através da rima (“do que dura”) consistia em um dos recursos alusivos da época, ligando a dor do espírito ao contexto histórico-político. 82 José Carlos Capinam, In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.83. Nascido em Esplanada (BA), em 1941, Capinam é poeta e compositor, tendo feito canções em parceria com os tropicalistas, como Gilberto Gil (atual Ministro da Cultura) e Geraldo Azevedo, algumas das quais se tornaram bastante famosas, como Soy Loco por ti América, Ponteio, Gotham City, Miserere Nobis. Foi Secretário de Cultura da Bahia em 1986 e publicou livros de poesia ao longo dos anos 80 e 90. 83 Antônio Carlos Secchin, sem título. In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.131-132. Secchin é carioca, nascido em 1952; formado em Letras, professor titular de Literatura Brasileira da UFRJ, editor da Revista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional, nos anos 90. Tem vários livros publicados, seja de poesia, ficção ou ensaio. Secchin e Capinam, como outros poetas da antologia de Heloisa, não são poetas “marginais”, mas vozes da década que respondem de modo independe e muito pessoal às questões literárias do momento, com filiação cabralina, modernista ou tropicalista. Vale frisar que a tematização da desistência mostra uma tendência de época, e não uma conduta do indivíduo-poeta. 142 Mas o fato mesmo de se fazer poesia sobre a desistência significa uma sorte de resistência da linguagem artística que trará sempre em seu bojo, como o oco das moedas furadas, a possibilidade do gesto desertor. Assim, estruturalmente tensa, a arte poética se manterá no campo de manobras. Diferentemente da desistência, as outras reações que se seguem travaram um embate para manter ou devolver à função estética da linguagem seu poder de retroalimentação da língua e da cultura, apresentando diferentes graus de aproximação em suas intenções ou resultantes poéticas. c) explosão da linguagem: Uma primeira sorte dessas respostas resistentes, característica desse momento “pós-tropicalista”, se encontra formulada por Torquato Neto no texto “Pessoal intransferível” (mais uma vez), da coluna Geléia Geral de 14 de setembro de 1971: “Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela.”84 A proposta estética experimental é investida de uma força estilhaçadora cuja imantação poética, para além do verso e do medo, reside na explosão da palavra, conforme se cumpre na espécie de dicção verborrágica de Waly Salomão em seu primeiro livro, Me segura que’eu vou dar um troço, de 1972, em que se criticam todas as formas de linguagem bem-comportada, cujo avesso histérico se condensa no originalíssimo título. O poeta relatava ter sido preso duas vezes; sendo que na primeira vez, na prisão do Carandiru (SP), por porte de maconha, viveu um processo de liberação da escrita, que lhe permitiu, ao invés da vitimização, um ato de teatralização da experiência do mundo e do eu, descentrando a identidade subjetiva e social por meio de textos ostensivamente fragmentários, mas que mantinham uma unidade básica de preocupações críticas, como se lê nos seguintes trechos de “Self-portrait”, o auto-retrato do “baiano faminto”: [...] Minha língua – mas qual mesmo minha língua, exalta e iluda ou de reexame e corrompida? – quer dizer: vou vivendo, bem ou mal, o fim de minhas medidas [...] eficácia da linguagem na linha Pound Tse Tung. sou um reaça tento puxar tudo pra trás: li retrato do artista quando jovem na tradução brasileira. [...] 84 TORQUATO NETO, Os últimos dias..., p.62. A reprodução da página do jornal traz junto ao texto uma foto do cineasta Godard, sob a qual se lê: “Ilustração: Godard. Poeta. Nunca teve mêdo [sic] de quebrar a cara. Quebrou?”. Deste mesmo texto extraí as epígrafes de Torquato utilizadas neste trabalho. Grifo meu. Obs.: as diferenças de grafia se devem à reforma ortográfica de 1971. 143 Esses selvagens esfarrapados perdidos no fundo do seu pântano, proporcionavam um espetáculo bem miserável; mas a sua própria decadência tornava ainda mais sensível a tenacidade com que tinham preservado alguns traços do passado [...] Nado neste mar antes que o medo afunde minha cuca. óbito ululante: não há nenhuma linguagem inocente. ou útil. ou melhor: nenhuma linguagem existente é inocente ou útil. nadar na fonte é proibido e perigoso. [...] Self-portrait. Eu falava mal de todo mundo com minha compoteira de doces caseiros. Eu era o mais provinciano dos seres. pinchadores de terrível língua. [...] estou travando uma luta titânica contra a hidra de lerna. Já não estou me reconhecendo mais neste assunto fedorento bitritropicalista tipo alfininha biscoito de louça romanesca. [...] Alguns apanhavam calados. Estes eram poucos. Os outros sempre revidavam, e sempre levavam a pior. A maioria apanhava e reclamava, tendo o cuidado de limitar os seus protestos a gritos e choros.Mas havia ainda uns tipos especiais, que se haviam feito respeitar de tal maneira, que contavam com a cumplicidade e até com a capangagem de determinados guardas. [...] Derradeira photo: mágoas de caboclo: estou levando uma vida de sábio santo solitário: acordo ao romper da barra do sol me levanto saio pra passear nos arredores ouvindo passarinhos indo até a fonte d’água vendo a cidade do Corcovado cantando pra dentro: O fim abrupto do poema, um recurso estilístico freqüente naquele período, condiz com a interrupção da efervescência político-cultural acima apontada, quando não se pode mais soltar a voz e se passa, quando muito, a “cantar para dentro”. O par exuberância-corte dá corpo aos fragmentos de Waly, um poeta erudito (embora não acadêmico, cujas formas de expressão rejeitava), que permeia sua escrita de inúmeras referências intertextuais, de teor político, filosófico, lingüístico, pessoal, coletivo, inter-nacional, chegando a uma espécie de composição rocambolesca85 – “o macarrão do Salomão, a salada do Salomão”, como ele mesmo propagandeava sua obra, jogando ironicamente com sua provável invendabilidade e, decorrentemente, com os produtos culturais que se faziam vender naquele contexto de afirmação da indústria cultural para as massas patrocinada pelo regime ditatorial. 85 O poema se encontra em HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.182-185. Retiro a imagem do rocambolesco do título de um outro poema seu: “CONFEITARIA MARSEILLASE - DOCES E ROCAMBOLES”, idem, p.181. Para outras informações sobre Waly, utilizei: Antônio Cícero, poeta-compositor amigo de Waly. CÍCERO, A. A falange de máscaras de Waly Salomão. In: Finalidades sem fim. São Paulo: Cia das Letras, 2005; Flora SUSSEKIND, op.cit., p.95-97; e Roberto Zaluar, doutorando da USP, “Anos 70/anos 90: deslocamentos da estratégia enunciativa em Waly Salomão”, trabalho apresentado no Simpósio Topologias da Poesia na Modernidade, no X Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), Rio de Janeiro, UERJ, 31.07 a 04.08 2006, sobre a explosão enunciativa no livro Me segura... Nascido em Jequié (BA), em1943, Waly foi poeta e letrista de sucesso, compondo canções tropicalistas e outras, entre os anos 70 e 90, quando também publicou vários livros de poesia. Fez parte do CPC baiano nos anos 60 e definia seu grupo como uma esquerda marxista-existencialista, que lia Marx, Gramsci, Sartre, Camus, Merleau-Ponty. Organizador de textos de Caetano Veloso (Alegria, alegria), Torquato Neto (Os últimos dias de paupéria) e Hélio Oiticica (Aspiro ao grande labirinto), foi Secretário Nacional do Livro no governo Lula, no início dos anos 2000, quando faleceu de câncer em 2003, aos 59 anos. 144 Rocambolesca porém não desprovida de sentidos, pois não se configura um estilo non-sense, nem um fluxo surreal de associações inconscientes, mas um dizer entrecortado porque composto de múltiplos recortes referenciais, que não conotam uma unidade de experiência, mas uma variedade delas, articuladas frouxamente por associações livres que encadeiam reflexões sobre a sociedade, a história, a linguagem poética e política: “quando quero saber o que ocorre à minha volta/ligo a tomada abro a janela escancaro a porta/experimento invento tudo [...]/tudo sentir total é chave de ouro do meu jogo/é fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão” (em “Olho de Lince”). O autor retirava material poético tanto da tradição letrada quanto de conversas que ouvia e transcrevia, criando uma colagem em que tensionava elementos díspares, com um objetivo crítico e por vezes anárquico que evidenciava a passagem da sensibilidade mais erudita dos anos 50 para uma nova forma de percepção86. Entrevistado sobre seu livro, Waly afirma que “Antônio Cândido quase entendeu o alicerce do Me segura quando assinalou a RUPTURA DE GÊNEROS que ali de fato se perfaz...”87 Em debate no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, em 1975, Antônio Cândido esboçaria uma análise dos principais traços formais da época, considerados em seus nexos sociais. A poesia do início daquela década havia hipertrofiado o recurso literário, de resto normal, de romper com os nexos miméticos entre arte e realidade, tornando-o em prática sistemática – o que equivalia, na esfera da prosa, à dissolução da narrativa realista. Na visão deste autor, a crise da dicção realista se relacionava à crise das hierarquias tradicionais na sociedade, derivada das tensões das lutas de classes, em que as posições sociais se reajustavam. Correspondentemente, via-se um processo de transformação e fusão dos gêneros literários tradicionais, por obra de autores que colocavam os elementos genéricos em contextos alternativos, misturando poesia, conto e novela dos mais diversos modos. Em assim sendo, entretanto, a mudança formal que incorpora a ruptura dos nexos miméticos e mescla a 86 Segundo entrevista concedida a Hollanda, e por ela comentada, em Impressões de viagem, p.86. Entrevista a HOLLANDA e GONÇALVES. A ficção da realidade brasileira. In: NOVAES, A. op.cit., p.136. É neste texto que Waly dá como “receita de arte poética” o poema “Olho de lince” supracitado, p.137. A observação mencionada de Antônio Cândido refere-se à conferência “Vanguarda: renovar ou permanecer”, proferida no I Ciclo de Debates da Cultura Contemporânea, no Teatro Casa Grande, em 19 de maio de 1975 e publicada em 1976, sem revisão do autor, segundo Vinícius Dantas, organizador do livro Textos de Intervenção, op.cit., p.214-225. Há que se ressalvar que a ruptura de nexos miméticos analisada por Cândido refere-se a uma parte da produção estética, pois havia toda uma outra prática literária que, ao contrário, foi criticada justamente por sua excessiva adesão ao real, numa mimese pouco elaborada porque muito marcada pela linguagem jornalística, como nos romances-reportagem, entre outros. Para uma extensa crítica deste tipo de expressão, dominante na prosa dos anos 70, ver Flora SUSSEKIND. Literatura e vida literária. 87 145 estrutura dos gêneros é, também ela, um ato de mímese de uma mudança social, no sentido que confere Adorno88 à relação entre forma artística e sociedade moderna. Em uma leitura transversal a esta, La Capra considera que os gêneros híbridos – não somente aqueles que se misturam entre si, mas nos quais se apresentam indistintamente o que foi experiência, o que é elaboração posterior da experiência anterior e o que é inventado – provocam grande incômodo para o historiador justamente por esta indistinção em que verdade e ficção se indissociam. No entanto, segundo o autor, as aporias, a confusão derivada da supressão de fronteiras, ou a dupla inscrição do tempo, quando se imiscuem passado e presente ou futuro, são sinais de uma indistinção conceitual – inclusive na crítica literária e filosófica, em que a indistinção é perceptível, por exemplo, na indecidibilidade da “voz média” (Barthes), que mantém uma zona ambígua de posições entre a transitividade e a intransitividade do discurso; ou na apologia da différance (Derrida) extremada, quando cai num relativismo cultural sem mediações reguladoras – que está vinculada psicanaliticamente aos mecanismos do trauma e da reatualização pós-traumática, como “situações em que o passado nos acossa e nos possui, de modo que nos vemos enredados na repetição compulsiva de cenas traumáticas, cenas em que o passado retorna e o futuro fica bloqueado ou enrolado em um círculo melancólico e fatal que se retroalimenta.”89 A se considerar tais observações, há um fator testemunhal traumático – com sua forma específica de mímese social, entremeada de cortes enviesados que ocultam e transfiguram os reveses sofridos – na literatura de gêneros rompidos ou híbridos que se efetuou nos anos 70. Essas formas, realizadas como experimentação artística, faziam parte da explosão da linguagem de Torquato e Waly Salomão, bem como do hibridismo90 que caracterizou a escrita de Leminski, seja em seus ensaios, poesia, correspondência ou prosa ficcional, como se pode constatar pela dificuldade de qualificar o “romance-idéia” que é Catatau, em que se superpõem formas de linguagem tão distintas quanto a gíria, o português seiscentista, a proposta joyceana de romance-rio, a montagem de palavras das Galáxias de Haroldo de Campos, a dicção jornalística do Pasquim... Contudo, é preciso destacar, esses jovens poetas viam seu trabalho bem menos como testemunho, e ainda menos traumático, do que como uma forma de invenção capaz de intervenção social. 88 Para o sentido de mimese em Adorno, ver GAGNEBIN, J. Do conceito de mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin. In: Sete aulas sobre linguagem, memória e história, referenciado no cap.1. 89 LA CAPRA, op.cit., p. 45-46 e 212. 90 Para o hibridismo da obra de Leminski, cf. MACIEL, M. E., op.cit., esp. p.177-178; as linguagens superpostas são particularmente distinguidas por HOLLANDA, Impressões de viagem, p.95. 146 d) linguagem guerrilheira: Uma outra maneira de reação poética à violência sofrida pela linguagem no período, afirmando a crença no poder de intervenção da palavra, é o próprio Leminski quem sintetiza, nestes versos do livro Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase: en la lucha de clases todas las armas son buenas piedras noches poemas Metalingüístico e politicamente posicionado, sem ser “engajado” no sentido de então, o poema amalgama referências políticas e literárias importantes na época, como o latinoamericanismo e a concepção vanguardista do poder dos signos, para apresentar a concepção da linguagem guerrilheira, reforçada no texto pela escolha da língua espanhola, em remissão às guerrilhas do continente sul-americano nos anos 60. Na leitura de Célia Pedrosa, os signos para Leminski são sinais de vida que constituem toda linguagem e se organizam num duplo movimento de permanência e negação, não havendo portanto qualquer pacificação no campo da expressão, de onde a idéia de guerrilha, que era ademais fundamental para a experiência política e cultural de sua geração como estratégia de luta. A ela se associa a linguagem porque em ambas, como dizem seus versos, “as batalhas nunca são decisivas/as vitórias são confusas” e é preciso se inserir no terreno inimigo para ali se nutrir e minar sua força. Leminski buscava desautomatizar o uso da palavra e, bastante crítico da indústria cultural, parecia acreditar que valia a pena nela se inserir para transformar seu modus operandi desde dentro, o que conferia sentido aos seus trabalhos em agências de publicidade e na televisão. Nisto consistia, por sinal, a definição do próprio Leminski segundo Waly Salomão. Para os dois poetas, diz Pedrosa, a linguagem, no contexto de crise que se vivia, devia compor um espaço de crítica à dicotomia entre arte e vida, de modo que a atitude guerrilheira significaria tanto o rechaço à erudição livresca, quanto a inserção do artista no mundo contracultural e da cultura de massas, embora sempre criticando o espontaneísmo da geração marginal, cujo rótulo recusavam91. 91 Cf. PEDROSA, C. Paulo Leminski: señales de vida y sobrevida. In: CÁMARA, M. Leminskiana: antología variada. Buenos Aires: Corregidor, 2006, p.325. Para uma discussão problematizadora da relação entre poesia, mercado e mídia, ver o ensaio do poeta ÁVILA, C. Poesia e sociedade de consumo., In: COSTA, H. (org). A palavra poética na América Latina, avaliação de uma geração. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1992, p.109-118. 147 A força significativa, para os sujeitos históricos imersos naquele contexto, dessa imagem da linguagem guerrilheira é atestada pelo quanto foi retomada, seja por poetas ou pela crítica especializada, para conferir valor de resistência à produção poética da época. e) experiência e precariedade – poética intervalar: As formas desta poesia “marginal”, que transformavam as coisas mais cotidianas em matéria poética, constituíam uma terceira maneira de embate da linguagem. No entanto, ainda que espontânea e variada, a poética decorrente se construía em linhas gerais pela metaforização do verbo, como uma poética de alusões, configurando-se como um uso outro da linguagem, que lançava mão de truques retóricos e metáforas que permitiam um modo de dizer enviesado, “de olho na fresta” como se dizia, numa atitude de certa malandragem que embutia a crítica social em procedimentos lúdicos e lingüísticos92. O seguinte poema de Capinam anunciava seu objetivo explicativo, como indica o título, de desvelar estes mecanismos pelos quais um humano desespero chega a constituir uma lógica verdadeira mediante lacunas, com passos saltados como numa dança, ou como num alinhavo: POETA E REALIDADE (DIDÁTICA) A poesia é a lógica mais simples. [...] (Maior surpresa terão passado os que julgam que me engano: ah não sabem quanto quero o sapato não sabem quanto trago de humano nesse desespero escasso. Não sabem mesmo o que falo em teorema tão claro. Como não se cansariam ao me buscar os passos Pois tenho os pés soltos e ando aos saltos E, se me alcançassem, como se chocariam ao saber que faço A lógica da verdade pelos pontos falsos.)93 Uma tal lógica poética necessariamente se faz de intervalos elípticos, vazios ambíguos entre o que se diz e o que não se chega a dizer, mais uma vez hipertrofiando, “aos saltos”, os intervalos comuns da enunciação. Cacaso94 observara que esta poesia muitas vezes retinha um grau relevante de precariedade e inacabamento, correspondente, em sua opinião, às “ações e intenções contemporâneas que ainda estão-se processando”, de modo que o precário é o que reveste a experiência de sujeitos imersos em um processo de transformações tão profundas e recentes que não se pode vê-las em seu acabamento. E, vale lembrar, este processo envolvia 92 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, Cultura e participação nos anos 60., p.96-97. José Carlos Capinam, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.81-82. 94 BRITO, A .C., Tudo da minha terra, op.cit., p.130. 93 148 circunstâncias de interrupção e sofrimento de tal ordem que implicava também mudanças na linguagem. Surge, assim, uma zona de sombra entre o dito e o silêncio, como uma reserva estimulante de caracteres recessivos, não evidentes, de manifestações ambíguas, conforme diz Lespada95, em que a palavra não é explicitada porque apareceu em condições irreproduzíveis, o que se evidencia pela “forma informe” da elipse, que nomeia sem propriamente nomear o oco que foi deixado pela mutilação do humano. É, portanto, como uma referência oblíqua feito um rastro lateral que se acessa, de viés, a verdade contida nessa poesia – e só interessam verdades que não sejam tautológicas, ou todo esforço do teorema resta inútil, o que aumenta a dor do dizer. Resulta daí uma poética intervalar, lacunar, em que a voz alternadamente se elide e se positiva, sendo esta sua forma específica de reação à crise da linguagem. Em Armando Freitas F° – que se inicia na poesia junto à vanguarda práxis dos anos 60, posteriormente migrando para círculos próximos aos “marginais”, sem com eles se confundir – esta forma de poética encontra seu representante melhor acabado, manifestando-se como uma espécie de gagueira enunciativa: [...] o que faltou foi velocidade na datilografia, acurácia, para captar o que sub-reptício se afastava e mesmo se gritante, os dedos gagos não conseguiam, nas teclas, articular as palavras, o que se exprimia, próximo mas sempre além de todo mecanismo que embora igual aos outros, desistia. Estudando o trabalho de Armando Freitas F., Célia Pedrosa observa que a imagem dos dedos gagos (que incorpora um dado biográfico dele) estabelece a relação entre a escrita datilográfica e a voz do poeta: nenhuma das duas consegue acompanhar a velocidade das palavras do mundo. Mas isto se desdobra em articulações complexas de valores antagônicos, como permanência e transitoriedade , velocidade e atraso, sujeito e objeto, traduzindo-se na presença marcante em sua poesia da máquina de escrever – título, por sinal, de sua obra reunida – como metáfora e metonímia do poeta, em tensa relação com o instrumento pelo qual se mede com sua experiência literária e histórica. Neste medir-se, irrompe uma dicção lacunar, em que o verso e a sintaxe são trabalhados pelo movimento entre enjambement e corte, continuidade e interrupção, que, ao retardar a fluidez do texto, intensifica a imagem da gagueira. Deste modo, o poeta desnaturaliza a palavra e a experiência, produzindo uma visceralidade simultaneamente intensa e contida. Em outras palavras, trata-se de uma voz 95 LESPADA, op.cit., p.237. 149 gaga que, contudo, jamais perde o ímpeto de recusar a apatia e continuar a procura poética de imagens e sentidos, “num misto de urgência e memória”. Além disto, esta gagueira poética insere Armando Freitas Fº em uma tradição da crítica literária brasileira – indicada por Haroldo de Campos quando tratou de uma genealogia literária que vai de Machado de Assis, Oswald de Andrade e Graciliano Ramos até João Cabral e Augusto de Campos – que realiza uma expressão literária contida, marcada pela hesitação entre palavra e pensamento, em contraposição à verborragia da tradição bacharelesca e romântica. Analogamente, na forma de uma eloqüência contida deveras especial, a poesia de Armando vai recorrer a um conjunto de duplicidades, presentes no uso reiterado do trocadilho e de jogos pictóricos de cores, luzes e sombras, além da compreensão do âmbito literário como um lugar em que se coabitam o estranhamento crítico, requerido pela resistência cultural, e as incursões, ágeis e irônicas, no seu caso, no mundo visual e verbal da cultura de massas. Lutando com e contra os signos do cotidiano contemporâneo, Armando recupera a vertigem da viagem bêbada de Rimbaud, como um barco que aderna para um lado e outro para manter seu eixo, de onde uma poesia interrogativa e hesitante que, paradoxalmente, “formaliza todo o tempo uma intrincada tessitura de realização e inconclusão, salto e véspera, incisividade e vertigem, distanciamento e turvação” – que bem se expressa no título de um de seus livros do decênio de 1970, Mlle.Furta-Cor, publicado na Coleção Frenesi. É deste modo lacunar e gago, diz Pedrosa96, que o poeta “encontra a exata medida literária para figurar o torvelinho de questões estéticas, políticas e existenciais” mobilizadas em todo o mundo, desde os anos 60. A idéia de uma dicção gaga se encontra também no poema “Mais real”, do livro Restos & estrelas & fraturas, de Afonso Henriques Neto, reconfirmando o caráter lacunarintervalar da poesia dos anos 70, cujas feridas e cicatrizes timbraram aquilo que Cacaso chamou de precariedade, podendo tornar sua dicção até mesmo enrouquecida e fracassada: Eu pergunto ao poeta onde onde se infiltra tamanha primavera de cachoeiras estáticas de jorros de luz paralisada ocultas mágicas na retina devastada. Mas o poeta é sem poema. Não há versos algumas cicatrizadas sílabas goradas gaguejantes guturais.” [...] * 96 Cf. PEDROSA, Célia. O olhar eloqüente. Poesia Sempre, Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, ano 13, n.22, jan./mar. 2006, p.177-189. 150 Em todas estas vertentes reativas – transpassadas de dor, humor, lacunas e desejo de intervenção mediante a força da palavra, vale repetir – o nível da qualidade poética variava bastante, tornando-se ponto central de discussão no final da década, como se verá. Mas é possível que este impulso de dizer em detrimento da qualidade signifique, na poesia, um momento de inflexão, de hesitação das “antenas” que sintonizavam a situação e buscavam as possibilidades de veredas para continuar. Os acontecimentos se passam antes que as pessoas possuam os meios de verbalizá-los e este processo de responder a novas experiências leva tempo e se decompõe em muitos outros processos expressivos e cognitivos, com diferentes modulações e velocidades dentro de uma mesma sociedade. A mudança da linguagem discutida pela crítica, à época, apontava o apelo a um uso excessivo de figuras retóricas e metáforas para se encontrarem caminhos para a expressão em meio a todo tipo de impasse. Esta tendência à metaforização – note-se que isto ocorre bastante também entre historiadores, para tratar da década – oferece indícios de porque se recorria tanto à poesia no momento: justamente por ser a arte-mor das figuras de linguagem, das metáforas em especial, e porque em determinados momentos históricos ocorrem mutações tais que os sujeitos históricos que os vivem não podem traduzi-los senão em termos metafóricos97. Tudo isto qualifica uma experiência histórica em mutação: aponta para um momento social em que está acontecendo uma mudança de experiência coletiva, cuja difícil expressão demandará novas formas artísticas, bem como novos métodos historiográficos para sua compreensão – eis o que parece haver ocorrido no Brasil nos anos 70, quando não só a arte, mas também a historiografia adquiriam novas inflexões. Como se deu esta experiência em sua relação com a poesia da época, os problemas suscitados, as dificuldades e trunfos desse processo estético-político em um momento histórico tão significativo para a cultura brasileira é o que se procura tratar nos capítulos que se seguem. De todo modo, as marcas deixadas por Torquato Neto e sua morte – que, junto a Waly Salomão, é considerado um farol para a poesia “marginal” que se segue – se farão presentes, como signo doloroso de uma experiência histórica em curso que foi interrompida. Com igual selo continuarão a se desenvolver, mudando de rumo em alguns casos, as formas reativas da linguagem, cada vez mais próximas da experiência cotidiana e subjetiva. 97 Retomo aqui idéias de Koselleck e Pocock já referenciadas no capítulo 1 deste trabalho. 4. Vozes Sufocadas I: Tempo de cal, indagação e asfixia: um surto de poesia nos anos de chumbo (1972-74) [...] e é só dos cacos (onde ainda imobilizado o retrato o tenso close da transfiguração) que é possível reconstruir a imagem nessa escala alucinada que os olhos propõem (Eudoro Augusto, “riverrum”) Como foi dito, no período 1964-1968 o governo militar não reprimira propriamente o meio, mas cortara os laços dos intelectuais com seu público popular, isolando-os e investindo na espetacularização da cultura, principalmente através de incentivos à televisão, ao passo que, após o AI-5, passara a uma fase de repressão e censura1. Após este momento inicial de susto ante a mudança da atitude governamental para com a cultura, quando as perdas em relação à experiência histórica anterior foram sentidas como um “vazio cultural”, e após um novo choque provocado pela morte de Torquato Neto, que acabara por se tornar, em certa medida, um líder geracional, a perplexidade geral principiava a dar espaço à percepção de que a cena literária se revitalizava. Surgiram nesta época os poemas-postais de Pedro Lyra (1970), que, enviados pelo correio, obtinham alcance nacional2; os mimeografados Travessa Bertalha, de Charles e Muito Prazer, de Chacal (ambos de 1971-72) começavam a circular de mão-em-mão; o livro Me Segura qu’eu vou Dar um Troço, de Waly Salomão e a prosa poética de Gramiro de Matos em Urubu Rei recebiam o interesse da crítica, ao lado da edição semi-caseira do Misterioso Ladrão de Tenerife, de Afonso Henriques e Eudoro Augusto, e de Canção de Búzios de Ronaldo Bastos, primeiro livro a surgir com o selo da Nuvem Cigana (todos de 1972). Apareciam os livros-envelope como forma versátil de veiculação de poemas, como O Preço da Passagem, de Chacal, e as publicações coletivas, como O Feto (RJ) e O Saco (CE); além da extraordinária proliferação de poemas mimeografados, xerocados, manuscritos, 1 Flora Sussekind, destaca três momentos de relação do Estado ditatorial com a cultura: uma tática inicial de espetacularização; uma política de repressão e censura, nos governos Costa e Silva e Médici; e uma política de incentivo e cooptação de intelectuais, a partir do governo Geisel. Cf. Literatura e vida literária, p.21-44. 2 No texto-depoimento “Memória indiscreta em torno do poema postal”, constante no livro de Miccolis, Pedro Lyra afirma que este tipo de manifestação, chamada de arte-correio e arte-postal, foi sendo associada ao longo dos anos 70 ao desejo de inconformismo e revolta da nova poesia, como um precursor da poesia marginal, mas que quando criado não havia consciência de que usar o correio significava furar o bloqueio editorial dos grandes centros. Cf. MICCOLIS, L. Do poder ao poder, p.110-115. 152 distribuídos e vendidos manualmente nas ruas e bares, declamados em performances e happenings itinerantes, expostos em varais de poesia e universidades3. Ao mesmo tempo, começavam a circular em todo o país as primeiras publicações ditas marginais, como o jornal Tribo (BSB); Cordelurbano, Balão, Orion (RJ); Bel-Contos, Silêncio e Protótipos (MG), e tantos outros. O início da difusão do termo “marginal” é deste momento. Utilizado desde aproximadamente 1968, por Hélio Oiticica, como mencionado, e aplicado à poesia por Domingos Pellegrini Jr. – em Londrina (PR), num folheto mimeografado intitulado “O marginal e outros poemas” – a qualificação se divulgou aos poucos nos anos seguintes, afirmando-se em torno de 1977 e não sem controvérsias, pois parecia mais propícia à agressividade do grupo pós-tropicalista do que a esta outra linha de criação, mas acabou sendo adotada, sobretudo pela imprensa, por falta de melhor designação, posto que os termos substitutivos, poesia “alternativa” ou “contracultural” ou “de mimeógrafo”, tampouco davam conta da diversidade de poetas, situações e problemas envolvidos4. Como diria Chacal, eles eram “magistrais”, e não marginais...5 Mas o humor, a irreverência, a coloquialidade urbana e os recortes do cotidiano unificavam a produção daquele momento. Os jovens poetas cruzavam a “nova sensibilidade” pós-tropicalista com a herança modernista, a “lição de 22” já mencionada, o que é bem ilustrado pelas inúmeras citações de versos e imagens de autores brasileiros modernos já consagrados (de forma menos rasurada, ou menos genial para alguns, do que os tropicalistas). No entanto, sua opção existencial os fazia trazer para dentro dos poemas as situações mais desimportantes do cotidiano, incluindo o uso de termos vulgares e palavrões, apagando os limites entre matéria poética e não-poética para além do que propunha o modernismo6. Em suma, no quadro de inquietação que define a década, a novidade desta produção poética como um todo consistia na ênfase na intervenção comportamental e num certo trato lúdico e anárquico com tudo, da experiência social à literatura. 3 HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia Jovem Anos 70, p.4-6. Segundo Messeder Pereira, em 1972, Ronaldo Bastos criou uma firma chamada Nuvem Cigana, criando uma marca ainda sem objetivo definido. Somente na segunda metade da década a marca congregaria um grupo poético-performático e um selo editorialalternativo bastante ativo. É deste ano também a música Nuvem Cigana, de Lô Borges e Ronaldo Bastos, gravadas por Milton Nascimento no disco Clube da Esquina. Os contatos entre o grupo mineiro e o carioca advinham do movimento estudantil. Cf. Retrato de época, p.132 ss. 4 A questão é discutida por Míccolis, bem como o folheto de Domingos Pellegrini Jr. e a data de 1977 para a afirmação do termo. Cf. op.cit., p.19 e 34-43. Note-se que o chamado cinema marginal foi de fato mais próximo das propostas do grupo pós-tropicalista. Cf. XAVIER, I. O Cinema moderno brasileiro. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 5 De um poema sem título, de Quampérius Vida e Obra, em que Quampa responde isto ao ser entrevistado pelo foca Mota do JB. Apud. HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia Jovem Anos 70, p.28. 6 A discussão sobre o cotidiano e a linguagem será desenvolvida no cap.7. 153 4.1. A poética da “curtição” e da precariedade (novos livros em 1971-72) Em um artigo, também de 1972, o crítico, romancista e poeta Silviano Santiago recepcionava os livros Me Segura..., de Waly Salomão, e Urubu Rei, de Gramiro de Matos, considerando que a “arte da novageração [sic], erguendo-se como brinquedo, encontra sua satisfação numa apreciação lúdica em que o interesse maior vem do fato de o curtidor [...] manobrar o texto como se apresentasse ele ‘modelos para armar’.” Tudo indica que se tratava de uma resposta a Affonso Romano de Sant’Anna (que posteriormente o incorporou), onde o autor, antes de analisar os livros, apresentava sua visão dos traços gerais daquela “nova geração” então incompreendida, cuja sensibilidade se traduziria como uma “curtição”, isto é, a partir da fruição do som, ter-se-iam estabelecido novas regras de apreensão do objeto artístico-literário, fundadas no prazer estético, mais do que na leitura reflexiva7. Na visão de Silviano, desde que os tropicalistas haviam ocasionado cisões irrecuperáveis, ao descentrar geograficamente o eixo da cultura brasileira, para fora da “terra-das-palmeiras” em direção a guitarras londrinas e ritmos latinoamericanos, surgira um novo tipo de jovens escritores, afeitos a desobedecer qualquer tipo de palavra ou ordem imposta, fossem as regras retóricas ou comportamentais do passado: esta geração desconfiava da comunicação verbal e da escritura, privilegiando a oralidade e a desordem taxonômica, buscando descongestionar a vista e o ouvido; do prisma sociológico, apreciava o gregário, tornando-se portanto despreparada para a solidão necessária à feitura do texto literário e inconscientemente prédisposta às formas da “arte coletiva de um século tecnocratizado”, como o cinema, os festivais, os estádios. No que se refere à poesia, o crítico observava a inscrição do objeto artístico em novas regras estéticas, que preferem o trecho ao todo, erigindo a apreensão sintética, aforismática e fragmentária à forma per se: “alimento combinações quero água pássaros/psicólogos institutos primatas/colônias para merda/entre/vistei sinais ao vivo em crimes”, ou ainda: “Moxô mora rawõe aa ra bo dakakirã hunikui rawõe iôxiãi urânâ [...]”8. Para que o leitor 7 SANTIAGO, S. Abutres: a literatura do lixo. Revista Vozes, ano 66, vol.LXVI, n.10, dez. 1972, p.21-28. Em “Poética 3”, de Eudoro Augusto, n’O Misterioso Ladrão de Tenerife, se lê: “o fundo/a forma/o meio pelo qual/o instrumento, o material/os níveis/(todos sabem)/é pura curtição.” 8 São versos de Gramiro de Matos: o primeiro trecho pertence à “Poética dos Chipanzés”, no Jornal da Poesia, n.3, 7 out. 1973. O segundo pertence a Urubu-Rei, citado por Cacaso, cuja recepção de Gramiro de Matos diferia de Santiago: essa espécie de excesso de experimentalismo acaba tornando-se numa abstração tendendo para o vazio, diz ele, correndo o risco de suprimir a comunicabilidade e eliminar do campo da literatura as relações sociais de criação de sentido, a despeito da ilusão bem-intencionada de progresso artístico. Com base em Brecht, 154 “curta” o texto, acionavam-se recursos de estranhamento que quebram os automatismos da linguagem cotidiana, como querem os formalistas russos, adequando-os ao espírito da “curtição”, ou seja, obscurecendo a forma e aumentando a dificuldade e, por conseguinte, produzindo maior duração no processo de apreensão poética, de onde as minúcias, os textos em retalhos, desalinhavados, criando uma sorte de barroquismo formal, com manuseio amaneirado e excessivo da frase. Não havendo sistematização, não havia estilo a ser interpretado, e sim procedimentos que se mostram mais próximos a uma estética Dada do que a uma “seriedade literária”. No caso dos livros em questão, as distorções na linguagem mostravam um apego desmesurado a influências não tradicionais – como Gregório de Matos, Sousândrade, Qorpo Santo, Pound, Joyce – e um pouco caso com a língua castiça, usando palavras e frases em língua estrangeira, o que revelava seu maior interesse na pesquisa com a linguagem do que na problemática da língua mesma, abrindo fronteiras para o signo lingüístico que não tem nacionalidade. Tratava-se de um projeto literário de inscrever a cultura brasileira na cultura planetária, questionando fronteiras em nome de valores universais. “Segundo eles, os problemas devem ser pensados mais em termos de geração do que de nação”, diz Silviano, pois àquela geração de poetas periféricos, como “abutres do lixo americano”, cabia ainda uma vez pensar a missão antropofágica, em nova versão. Em resposta à crítica sociológica da literatura, isto significava mergulhar até a medula na problemática da cultura popular-cultura de massas, não para perder o contato com as raízes do Brasil e integrar no contexto universal os valores nacionais institucionalizados, mas para retomar e inserir os valores marginalizados ao longo do processo de construção da cultura brasileira – nas palavras de Waly, havia alguma coisa de “TRASHICO” em tudo aquilo9. Mas para compreender o trash e o trágico, seria preciso compor imagens a partir dos cacos, como dizia Eudoro Augusto, de modo tão próximo a Benjamin, no poema “riverrun”. Seria preciso “revisitar os dias que a certeza mecânica dobrou/para sempre”, pois só na retomada dos caminhos em que as certezas se construíram se pode, se for o caso, revertê-las e sanar a “súbita cegueira” que impede que se veja a gravidade de uma situação em que “os gestos começaram/e acabou a fruição, acabou o canto?” A vida e a arte requerem o deleite e os sentidos para tal, mas embora o poeta clame “é preciso ver é tempo de ver”, as condições são de todo impróprias: como as “lâmpadas arrebentaram”, neste movimento violento de algo que se rompe de dentro para fora uma vez que os limites de carga foram estourados, não há Cacaso lembrava que se emancipar da gramática não significava se emancipar da sociedade capitalista. Cf. Morcegos e mamãos. In: Não quero prosa, p.134-138. Originalmente publicado no jornal Opinião, mar. 1974. 9 Não trato aqui especificamente do livro Me segura..., de Waly Salomão, também de 1972, porque sua linguagem, mais característica dos pós-tropicalistas, já foi considerada no cap.3. 155 luz ou esclarecimento factível; o mundo interior e privado da herança cultural nas sociedades patriarcais, os “gomos da casa paterna”, estão escuros e cheios de feridas, “os pianos se fecham repetidas vezes/e a música se congelou no sangue:” Se era preciso enxergar, recompor os cacos, revisitar o passado e buscar uma objetividade não mecânica, mediante uma outra espécie de racionalidade, isto se torna impossibilitado pela escuridão, pelas feridas e pela sensibilidade congelada. Diante da agonia da impotência imposta por este quadro, o sujeito lírico reage: “nada de pânico, é tudo uma questão de tempo”. Entretanto, irônica ou atrozmente, não se trata do tempo de espera e da visão dolorosa necessários à mudança emancipatória, e sim de um refluxo “à circunstância idêntica/ao dia milimetrado” do tempo industrial e burocrático, repetitivo e opressivo, quando nada transborda e tudo se reduz à “tábua rasa da sobrevivência”. Este poema, pertencente a O Misterioso Ladrão de Tenerife, de co-autoria de Eudoro Augusto e Afonso Henriques Neto, comporta um misto de lucidez e angústia, traduzindo-se por uma expressão bastante aderente à experiência, o que caracteriza o tom do livro como um todo. Os autores, ambos de sólida formação literária – Eudoro como grande leitor desde cedo, filho de pais professores universitários, e Afonso, de uma família de literatos, neto do poeta simbolista Alphonsus de Guimaraens – sentiram suas vidas restringidas pelo golpe militar, quando a Universidade de Brasília foi “castrada” e o projeto de Darcy Ribeiro “literalmente acabado”. Jovens recém-formados e já empregados, deixaram para trás suas vidas organizadas e vieram para o Rio de Janeiro, em torno de 1971-72, em busca de uma abertura de perspectivas, uma vez que viviam uma crise existencial e uma frustração intelectual provocadas pelo “fechamento de horizontes na época”. No Rio, em contato com a movimentação em torno da poesia, especialmente os trabalhos de Chacal e Waly, Afonso e Eudoro perceberam pontos de identificação com o que vinham realizando em Brasília, o que os reestimulou a publicar os trabalhos que haviam escrito por volta de 1970, quando foram encaminhados para uma gráfica em Goiânia com planejamento gráfico e fotomontagens do artista plástico Luis Áquila. Assim, concebido em Brasília e publicado no Rio dois anos depois, na forma de edição independente, em que os autores trabalharam todos os detalhes, da escrita à edição, O Misterioso Ladrão... constituiu uma “resposta da gente a todos esses problemas editoriais, políticos, que havia na época [...] foi uma busca de abertura pro sufoco mesmo”10. 10 As informações sobre suas vidas pessoais derivam de depoimentos prestados a Messeder Pereira, publicados em Retrato de época, p.182-221. Este autor considera Eudoro Augusto, Afonso Henriques e Ana Cristina César como “autores independentes” dos grupos marginais, mas a eles ligados. Eudoro Augusto nasceu em Lisboa, 156 Em grandes linhas, estes aspectos se encontram nos poemas, em que se destacam, em uma linguagem ao mesmo tempo sensata e psicodélica, visões cósmicas do espaço e do homem – certamente em decorrência das transformações promovidas na percepção e no imaginário em virtude da vista da Terra desde a lua, cujas fotos, tiradas pelos astronautas, divulgaram-se por todo o mundo –; imagens de náusea e vazio, de corte sartreano, particularmente nos textos de Afonso – “Possuíamos a sinfonia do século (o inútil que vomita). E ainda vieram dizer que tantos outros morriam. Como se no envolvente todas as sensações não respirassem iguais”11 –, reverberando em imagens análogas de pântanos, apodrecimento, emissões radioativas, sangue, vacuidade, vertigem. A vertigem, por sinal, não se encontra apenas tematizada, mas constitui a própria textura de alguns poemas que se constroem de forma vertiginosa, com um encadeamento de palavras e frases em que a ausência de pontuação e a múltipla associação de idéias fazem parecer muito veloz e que, no poema “Xadrez”, também de Afonso, vai-se rarefazendo, como se ao relatar o diagnóstico de um Roberto conectado em fios que lêem suas emissões mnemônicas, telepáticas e cardíacas, interrupções e ruídos se fossem introduzindo numa rádio transmissão interplanetária, de evidente inspiração nas ficções científicas: ENERGIAENERGIAENERGIA LIGADOLIGADOLIGADO FIOSMEMORIASFIOSMEMORIASFIOSMEMORIAS PENSAMENTOCENTRALEMITINDOPCEPCEPCE [...] Possibilidades de comunicação com bases orbitais sem possibilidades de interferências... Movimento espelho instantâneo Movimento espelho instantâneo ROBERTO deslizando pelo seguinte corredor [...] Sinal azul-marinho para exato instante exato gesto agora o Presidente na terra em sincronia com o Presidente em Marte em sincronia com o Presidente na órbita Plutão... Sinal azul-celeste para catalogação de mínimas possibilidades de confronto [...] Sinais azuis fluindo todos matizes para que ROBERTO não não E-M-I-T-A-BLOCODEAUSÊNCIA-não não não E-M-I-T-A mais leve traço PENSAMENTO antes que [...] ÓDIO CONCENTRADO - SINAL PERFEITO-ÓDIO CONCENTRADO... Sinal amarelo - explosão de uma só vez RESPIRAR O TEMPO de uma só vez RESPIRAR O TEMPO TEMPO tsck-tsck-tsck-tsck - DE UMA SÓ VEZ TODOS (ABSOLUTAMENTE SEM PALAVRAS INTERJEIÇÕES TEMPO) EPCOEEPOCEEPCOEEPCOE-P-C-O-E [...] Respirar o tempo de uma só vez significa iluminar o paradoxo – em que a alternância de caixas altas e baixas e sinais de ligação acentuam a intensidade de sensações e os contrastes, mas não a clareza dos sentidos – de tentar dizer o ar irrespirável de um tempo sem palavras. Na opinião de Armando Freitas Fº, a escrita de Afonso, como a do paulista Roberto Piva, configuram uma “poesia em pânico, à beira do abismo”, onde se percebem tributos da Jorge Portugal, em 1943 e naturalizou-se brasileiro dez anos depois. É tradutor, produtor cultural e programador musical na Rádio Cultura FM do Brasil. Afonso Henriques Neto, nascido em Belo Horizonte (MG), em 1944, é redator, professor e poeta convicto, tendo publicado vários livros de poesia entre os anos 70 e 90. 11 Trecho de poema sem título, In: O Misterioso ladrão..., p.69. 157 de Lima e Murilo Mendes12. Tanto o pânico quanto o abismo se referem à perda de chão, de referências, que consistiu num dado crucial daquela experiência geracional13. Com efeito, freqüentemente se vê, ao longo do livro, a inversão do papel prazeroso que a sinestesia tradicionalmente desempenhava na poesia; ao invés, o cruzamento das múltiplas sensações que tenta expressar a relação intensa do sujeito com o mundo é desconfortável, como a de “luas pegajosas”, “caixas de merda”, “flores carnívoras”, “ranhuras, unhas, tudo em unhas”... As sensações desagradáveis conferem aos textos o incômodo da experiência, e, na mão contrária, conferem à experiência da leitura o estranhamento de uma “desarmonia” poética, que obriga à fruição-curtição haver-se com o desarranjo geral do mundo. Mundo em que “Vomitaram trinta estrelas neste charco/de líquidos corpos empoçados”14, e na atmosfera dúbia que disto resulta, branca e negra, misturando desgosto e música, aqueles que vão morrer “fecundam ritmos e bússolas e fracassos”, como acontece na morte daqueles que deixam projetos de existência, pessoal e coletiva, com a orientação de um norte que a derrota quase apagaria, não restasse a triste singeleza: “Em silêncio algumas flores resistem/nas verdes gramas do sol”. Cacaso observara nesta poesia do início dos anos 70, com base sobretudo nos textos de Chacal, a vigência de ideais de plenitude e liberdade que apontavam, em negativo, justamente o seu esgotamento no real – como nas imagens em cacos de Eudoro, ou nos pianos recémfechados dos quais ainda se ouvem as últimas reverberações. Isto introduz naquela criação uma tal marca, que a configura como uma poética da carência e da precariedade. Especificamente em Chacal, destaca-se a rusticidade material e de linguagem nos seus dois primeiros livros, mimeografados: Muito Prazer, Ricardo, de uma linguagem coloquial e tão próxima do leitor que funciona como indica o título, como uma espécie de aperto de mão de apresentação; e O Preço da Passagem, na forma de envelope, com poemas e fotos em páginas soltas, passíveis de serem lidas em ordem intercambiável, abrindo uma gama de recepções possíveis, e que foi concebido e vendido de mão-em-mão para que o autor angariasse o dinheiro necessário para uma passagem para Londres, o que parece ter realizado. No Preço da passagem, foi talhado o memorável personagem Orlando Tacapau, resumindo-se o livro em suas aventuras, sempre marcadas por desconforto diante de instituições e relações 12 FREITAS Fº., A. Poesia vírgula viva. In: NOVAES, op.cit., p.186. Roberto Piva andou pelo Rio de Janeiro por aquela época; alguns poemas seus, de dicção bastante psicodélica, sensual e “sangüínea” encontram-se na antologia de HOLLANDA, 26 poetas hoje. 13 “São tantas as horas e tão/pouco o tempo/(os bichos dormem), tão/escassa a viagem/e nós todos perdidos e nus/acertando o relógio”. No poema “Interferências”, de Eudoro Augusto, in: O Misterioso Ladrão..., p.17. 14 Estes versos e os que se seguem neste parágrafo constam no poema “Assim”, de Afonso Henriques, in: O Misterioso Ladrão..., p.63. 158 formais, a começar pelas fichas de identificação, muito comuns na época: “Idade: Indeterminada no Espaço [...] Filiação: Alzira Namira Irineu Cafunga [...] Profissão: qualquer nas horas vagas” etc. Esquivo, cômico, criativo e original – no que será seguido posteriormente por outro personagem, Quampérius – Tacapau encarnava uma força impulsionadora, derivada da gíria que o designava: “tacar o pau” significava estimular ou instigar alguém a fazer algo ou mover-se com mais rapidez. Ironicamente, porém, suas realizações poderiam ser um “desfazer” ou nada fazer; inusitadas – como ir à biblioteca estadual, ler “folhas estapa-fúrdias”, rir e depois chorar até se derreter e ser recolhido num copo –; ou uma caricatura do senso-comum, mas não desprovidas de uma razão de ser, como neste fragmento: Sentado e estudantil, Orlando perscrutava o absurdo e o rabo da professora. De repente passos no corredor atrás da porta fechada. “Serão policiais ou alunos atrasados?” Takapassou a mulher com giz e abriu a porta. O homem colado com as orelhas entregando saiu de banda. Bandeira. Sua suástica caiu no chão. Orlando viu o lance achou nada pisou na escada e não apareceu mais por ali. Pra quê? 15 O ludismo e a informalidade de sua poesia, à beira do amadorismo poético em suas primícias, foram percebidas por Cacaso como uma “forma existencial e malandra de engajamento”, conferida por uma “plenitude de gratuidade” que compunha uma maneira especial de “participação literária e vital num incondicional sentimento de liberdade”16. A despeito dos riscos – de excessiva informalidade, de perder a capacidade de transcendência ou de resvalar para o senso comum na temática política – aquela poesia mantinha um nível de desordem, não no sentido de desorganização, mas de desobediência à ordem dominante, que a inseria na tradição da malandragem da literatura brasileira17, pela criação de contrapontos e de uma movimentação solta entre instâncias diversas: o poeta que há em mim não é como o escrivão que há em ti funcionário autárquico o profeta que há em mim não é como a cartomante que há em ti 15 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.224-225. Sobre este livro-personagem, ver também MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.126-130 e Cacaso/BRITO, Tudo da minha terra, op.cit., passim. 16 BRITO, A. C. Tudo da minha terra, idem, p.144 e 150. 17 Cacaso sublinha em nota que “com certo cuidado” podemos circunscrever a linguagem malandra na poesia de Chacal na tradição observada por Antônio Cândido em “Dialética da malandragem”, ensaio sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Diz ele, citando Cândido: “Esta atitude malandra ganha tradição em nossa literatura, exprimindo imagens e representações de vida adequadas a um universo social e cultural especificamente brasileiro: ‘ela se manifesta em Pedro Malasarte no nível folclórico, encontra em Gregório de Matos expressões rutilantes que reaparecem de modo periódico, até alcançarem no Modernismo as suas expressões máximas com Macunaíma e Serafim Ponte-Grande’.” Idem, p.144, nota 9. 159 cigana fulana o panfleta que há em mim não é como o jornalista que há em ti matéria paga o pateta que há em mim não é como o esteta que há em ti cana a la kant o poeta que há em mim é como o vôo no homem pressentido18 Brincando com a coloquialidade – a rima entre a cigana e seu nome, o “panfleta” que retrata metonimicamente o político; o “pateta” por aquele que se entrega ao pathos, ou, jocosamente, se torna idiota; o “cana a la kant”, que além do jogo de repetição consonantal e vocálico, designa tanto os controles estéticos quanto o policial que posa de iluminista – o sujeito lírico parece buscar insistentemente um entrelugar, posicionado fora dos lugares sociais em princípio reconhecíveis, o que o aproxima da figura do malandro. A expressão “o [...] que há em” nove vezes reiterada carrega de indefinição o sentido e espacializa o que é buscado. Entre o eu e o tu, o poético e o burocrático, o profético e quiromântico, as idéias sinceras ou vendáveis, o patético e o estético... procura-se um lugar inominável, porquanto concretamente inexistente, e por isso apenas esboçável, nos quatro primeiros tercetos, pela sua negação. Na última estrofe, opera-se uma transformação: não mais em três versos, mas em um dístico, o sujeito poético sucintamente encontra, pela figura da comparação, uma possibilidade afirmativa para o entrelugar em que reside seu auto-reconhecimento: não em uma posição estática, mas no movimento do vôo em que o humano não pode estar sem ajuda de sofisticados instrumentos, mas que pode pré-sentir simplesmente com a imaginação. É neste mesmo entrelugar que o poeta coloca seus personagens, Orlando Tacapau e Quampérius, como uma espécie de alteregos seus, recusando qualquer ato formal; que utiliza uma linguagem por vezes agressiva, quebrando as convenções do decoro; que defende o lazer em oposição a uma ética do trabalho castradora, em uma época quando a sociedade foi especial e autoritariamente disciplinadora dos corpos e opressora das liberdades de espírito. Em seu descompromisso com convenções sociais e tradições poéticas ou políticas, a poesia de Chacal adquiria um conteúdo ético que chamava a atenção de Cacaso, uma vez que recusava as formas de reconhecimento burguês e desconfiava dos seus valores ditos civilizados, e decorrentemente, “marginalizava-se”. O próprio fato da distribuição manual, fora da rede do sistema editorial, continha uma dose de “utopia revolucionária”, continua Cacaso, pois 18 Poema sem título. In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.220. Escolhi este texto pela clara temática do entrelugar, a qual se associa à malandragem, mas o texto não pertence a seus dois primeiros livros. 160 aproximava a literatura do leitor e constituía um modo de experiência social viva, uma vez que recuperava “nexos qualitativos de convívio que a relação com o mercado havia destruído”19. Messeder Pereira, em seu estudo sobre os grupos dos poetas marginais – que ele não define num quadro literário, mas como um conjunto de respostas específicas a questões gerais de uma época, cuja densidade se deve ao fato de haver sido uma experiência coletiva dotada de sentido para seus membros, com lógica própria –, problematiza a questão do mercado entre eles. Claramente, os livros marginais que estavam surgindo, bem como os que vieram depois, possuíam estatuto de mercadoria, porém artesanal; suas marcas materiais diferiam do padrão tradicional e até mesmo de algumas revistas típicas do período, como Navilouca, Pólem, Muda, Qorpo Estranho ou Código, que, havendo assimilado elementos da estética concretista, utilizavam tecnologia moderna. Os marginais, ao contrário, recusavam-na, mantendo “resíduos românticos” de crítica ao progresso (especialmente Cacaso e Schwarz, como se verá adiante). A “sujeira gráfica” de seus trabalhos consistiria em seu fator diferenciador, traduzindo-se na intenção de criar fora dos padrões de produtividade, sem luxo nem design industrial. O caráter artesanal desta mercadoria teria significado ao mesmo tempo seu vigor e limite, revelando a “ambigüidade” da relação que mantinham com a dimensão técnica, característica da modernidade: querem incorporar os avanços prometidos, mas excluir a lógica que os produz, isto é, querem outra lógica de utilização da técnica20. A isto, acrescenta-se a vontade de profissionalização, de “viver de poesia”, como dizia Chacal21, ao mesmo tempo em que se queria recusar as implicações limitadoras de qualquer tipo de mecenato, sobretudo em suas conseqüências políticas. Para Costa Lima, aquela “poesia do desbunde”, como um todo, sendo fruto de um estilo de vida que glorificou a juventude, apresentava, como não poderia deixar de ser, características de um processo não amadurecido, cujo conteúdo, sem dúvida libertário, esgotava-se na egolatria e no maniqueísmo. Em seu “vitalismo anárquico e transbordante”, estendiam a compreensão do mal, inicialmente identificado com a ditadura, a qualquer forma de conduta mais grave ou circunspecta, em que incluíam a palavra dos literatos mais velhos, culminando por pespegar um estigma a toda forma de seriedade. A própria questão da forma estética, sendo tida como “séria”, era implicitamente desqualificada como acadêmica ou 19 Brito, idem., p.136. Cf. MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.70-78. 21 Cf. CHACAL, Antologia Pessoal, vídeo nº 378 do Arquivo histórico/Memória do Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Os problemas da profissionalização em relação à cooptação por parte do governo militar, especialmente a partir de 1975, são discutidos por Renato Ortiz e Flora Sussekind, op.cit., e serão retomados no cap.5, junto com a questão do mercado/artesanato/resistência. 20 161 esconjurada como “formalismo” pernicioso; criou-se, assim, uma sinonímia entre forma e poder, em que ambos eram condenados “pelos defensores da anticultura, os quais consideravam toda norma – toda, exceto a sua – uma castração”.22 Não obstante a imaturidade, aquilo que foi percebido como leviandade ou ambigüidade também pode indicar uma intuição filosófica – senão opção, em casos mais raros –, desdobrando-se em práxis literária, recheada de negatividade e contradição, pois que rejeita uma lógica moderna em nome de uma possibilidade totalmente outra de racionalidade e organização da vida social, sem contudo saber explicá-la ou nomeá-la e, por isso, passível de vir a perder-se. A recusa do trabalho opressor, da sociedade administrada pelo Estado ditatorial e do mundo padronizado pela indústria cultural, por parte daqueles jovens universitários ou recém-formados – que se manifestava no verdadeiro horror às gravatas e horários rígidos, na coloquialidade, nos cabelos compridos e nas sandálias como maneiras não convencionais de se comportar – apontavam também nesta direção e eram constantes dos livros publicados naqueles idos de 1972. 4.2. Sinais de surto poético: o Jornal de Poesia e a Expoesia I (1973) Datam igualmente desta época os primeiros artigos de imprensa registrando os sinais de um possível “boom poético” em todo o país23. O Jornal de Poesia, organizado por Affonso Romano de Sant’Anna a pedido de Alberto Dines e publicado dentro do Caderno B, do Jornal do Brasil, durante quatro sábados, entre setembro e novembro de 1973, revelou um enorme público criador e consumidor de poesia. Chegavam mensalmente ao jornal cerca de 500 cartas e dois mil poemas, além de revistas e livros recém-lançados. “A Necessária Poesia”, texto de abertura do primeiro número, em 01/09/73, observava que após um período de efervescência vanguardista, a poesia parecia se ter silenciado, mas que na realidade permanecia sob disfarces, exigindo outros olhos para ser percebida, não em livrarias, mas circulando fora do comércio, fugindo ao contexto adverso de “poluição tecnológica” no qual as ciências humanas se deixavam seduzir pela cientificidade. “Na verdade, nunca se produziu tanta poesia como hoje”, afirmava, assinalando haver fortes indícios de que as formas poéticas, abrigadas nas 22 COSTA LIMA, L. Abstração e visualidade. In: Intervenções. São Paulo: EDUSP, 2002, p.135-179; citação à p.136. Para exemplificar como o gesto sério foi imaturamente identificado ao poder militar que interditava a liberdade vital, o autor afirma: “Foi então que jovens senhoras de banqueiros abandonaram as praias cariocas e, sob a pensão dos ex-maridos, se tornaram hippies na Índia; que espertos agentes da bolsa renunciaram a prever a alta ou baixa de ações e, de saco e mochila, se dedicaram a curtir a natureza; [...] ou que um número do Pasquim estampava cômica matéria acerca de simpósio, realizado em Brasília, sobre hermenêutica.” Ibidem. 23 Cf. HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, op.cit., p.6. 162 musicais e plásticas, conforme é característico da visão de Affonso Romano, recobravam a literalidade. E concluía: “a poesia voltou, voltou antes mesmo da primavera” 24. Apresentava-se, com efeito, uma poética mais invernal do que primaveril. Reunindo autores desconhecidos, conhecidos e consagrados, aqueles quatro números do Jornal de Poesia abundavam em imagens tristes e irônicas, de indignação e desespero (“não ultraje a pátria/quando a farsa for contínua”; “pagava o medo de ser o enredo/do próprio espanto”), expondo um mundo em descenso e desordem (“longo tropeço em declive”; “controlar a perna os pés/no ar os pés amais amenos”), em que se é obrigado à submissão e ao amordaçamento (“linguagens depressa para den/tro”; “e engulir engulhado o ódio/sem repulsa da admissão do mórbido”; “um móvel pêndulo/um imóvel pântano”), num tempo sufocante de impedimentos, tédio e dor (“ar que tor tu ra”; “mudo vulto [...] de onde eu não escapo:/muros de mim, catapulta que espera/a bala do acaso que a morte dispara”)25. O poema “Segunda Epístola”, de Jairo José Xavier, professor de Letras na Universidade Federal Fluminense, advertia e lamentava em tom bíblico: [...] E o que nos resta então senão pobres palavras senão chorar baixinho [...] Em verdade vivemos (morremos) contra um alto muro de pedra, lei e tédio, onde nem hera nem esperança brota. Por isso: “Pobre Pound!” [...] Este é um tempo sem trigo e sem sol. Este é um tempo. A cal que cai do Céu 26 devora as criaturas. [...] A sugestão de um tempo pétreo e escuro, um tempo corrosivo e devorador em que imperam “a lei” e o tédio e as palavras se empobrecem, retornará em inúmeros outros poemas da década. Impossível não lê-lo em consonância com outros acontecimentos do período, que 24 A descrição dos fatos e a reprodução de alguns textos estão em SANT’ANNA, A.R. Música Popular e moderna poesia brasileira, p.115-117. Este autor foi responsável pela edição do jornal e o texto de abertura traz suas idéias características. Os quatro números do Jornal de Poesia estão microfilmados na Biblioteca Nacional, dentro do Jornal do Brasil, de 1/9/1973, 29/9/1973, 27/10/1973 e 24/11/1973. 25 Os versos selecionados, dos quatro exemplares do Jornal de Poesia, pertencem tanto a poetas mais velhos e consagrados quanto a mais novos: Afonso Ávila; Silviano Santiago, José Soares Gouveia, Mário Chamie, Armando Freitas Fº, Gramiro de Matos, Gabriel [?]. 26 No Jornal de Poesia, n° 2, em 29/09/1973. Todos os poemas vinham acompanhados de uma pequena apresentação do autor. Neste caso, Jairo é definido como um poeta maduro, que esperava editor para sua obra Idade do Urânio: Cinco Epístolas em Tom de Elegia, na qual repassava a tradição poética ocidental até as vanguardas, numa linguagem vizinha a Pound. 163 povoavam as páginas do mesmo jornal, calando à sensibilidade dos leitores mais atentos: a queda de Allende no Chile e a promessa de Pinochet de extirpar tumores; interrogados denunciando tortura; a luta de brancos e índios no Xingu; a estimativa de 10 milhões de deficientes psíquicos no Brasil, com grande incidência entre professores dada a baixa remuneração ou excesso de trabalho (21/9/73); políticos gregos pedindo a renúncia de Papadopoulos e o início de uma ditadura naquele país; seqüestros de empresários na Itália por motivação política; a Arábia Saudita ameaçando explodir petróleo; a morte de Pablo Neruda (24/11/73); ao lado, as crônicas de Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, as charges de Juarez Machado, Caulus e Lan, os quadrinhos de Henfil; o cinema de Godard e Buñuel; os shows dos Secos e Molhados e MPB-4, comédias do Costinha e muita diversão... Pobre poeta! Caberia indagar em que medida aqueles indivíduos conseguiam construir suas subjetividades e fazer seus versos em meio à cal do céu e ao caos da terra. Seguia-se, no geral, a proposta de edificação humana por via poética – cuja tradição remete, na cultura ocidental, à Divina Comédia de Dante – do poeta gaúcho Mario Quintana, colocada à moda de epígrafe no primeiro número do Jornal de Poesia: todos deveriam fazer versos. Ainda que sejam maus, não tem importância. É preferível, para a alma humana, fazer maus versos a não fazer nenhum. O exercício da arte poética é sempre um esforço de auto-superação. E é de fato consabido que o refinamento do estilo acaba trazendo o refinamento da alma. Sim, todos devem fazer versos. Contanto que não venham mostrar-me. E mesmo para os simples leitores de poemas, que são todos eles uns poetas inéditos, a poesia é a única novidade possível [...] Um sem-número de escritores brasileiros parecia coadunar-se a este misto de ironia e grandeza dantesca. Uma semana após, um editorial do Jornal do Brasil intitulado “Além do econômico”27 imergia no debate sobre arte-indústria-política cultural e criticava a modernização técnica dos jornais efetuada em detrimento da literatura, que ficara restrita a pouquíssimos suplementos de letras e artes no país, defendendo que os meios de comunicação não significassem dificuldades de acesso à cultura, mas, ao contrário, que o consumo de massa promovesse a democratização do bem artístico. A grande repercussão do Jornal de Poesia tirava esta arte “do ostracismo” e mostrava “a extensa pauta de necessidades no setor”; em decorrência, uma vez que o “progresso de um povo implica desenvolvimento cultural, até porque o espírito é a premissa das relações materiais”, cabia à iniciativa particular incentivar a criatividade e o pensamento, enquanto o Estado não agisse. 27 Jornal do Brasil, 8 set. 1973. Note-se o caráter ambiguamente idealista do texto, invertendo o determinismo econômico ao dar primazia ao espírito, mas o afirmando ao mostrar os efeitos da modernização técnica. 164 A questão recebeu atenção também de Tristão de Athayde, que publicou “O Fruto de um decênio”, no Jornal do Brasil de 11 de outubro de 1973, avaliando os resultados de dez anos “da Revolução de 64”: naquele decênio de relativo progresso econômico e absoluto regresso político, o regime de “absolutismo político, mascarado pelo nominalismo vazio das fórmulas demagógicas para efeito de propaganda política” havia produzido como benefício a “ressurreição do interesse pela poesia no Brasil”. Uma vez que a censura obrigava à camuflagem e aos “desvios barrocos” de linguagem, e que a poesia é “arte da camuflagem” por definição e não como artifício ou impostura, ela se tornava capaz de “enfrentar os mares mais encapelados [...] para escapar aos holofotes inimigos, a serviço dos pretextos, utilizados por todos os regimes antiliberais, para garrotearem a liberdade de expressão”.28 O artigo provocou a resposta do poeta Cacaso e de Heloisa Buarque, que publicaram, no mesmo mês, um artigo no primeiro número da revista Argumento, em que avaliavam aquele fenômeno poético como um “surto de indagação”, tantas eram as perguntas do momento, e cujo valor residia na atitude de estar fazendo poesia, mais importante do que o produto final, pois em meio aos esquemas paralisantes, significava mais “uma busca de reconhecimento e identidade, maneira precária de dizer que estamos vivos, do que um acontecimento ‘literário’”. Refutavam o papel da censura como incentivo à criação, considerando que Alceu de Amoroso Lima havia diagnosticado lucidamente as causas, mas não o sentido do florescimento poético: nunca fora tão difícil adotar posturas culturais críticas, fora do raio comercial e da ideologia oficial. Vista de perto, aquela poesia apresentava “as mesmas marcas brutais que dilaceram e dificultam a renovação conjunta de nosso processo cultural”, revelando “os sinais comuns de asfixia que pesam e reorientam os demais setores da nossa cultura” e, como o alcance de “seu poder de ardil” inclui até “a dissimulação da própria violência que sofre”, seria melhor perguntar que tipo de subjetividade residia na raiz de tudo aquilo, “crescentemente confinada aos seus limites mais estreitos e privados? E que tipo de poesia resulta desta subjetividade?”29 Um rápido inventário de ficções poéticas não traria um quadro animador de respostas: Nós estamos em plena decadência. Eu e você estamos em plena decadência. A nossa relação está em plena decadência. Quando duas pessoas chegam a se dizer isso 28 In: Jornal do Brasil, 1° Caderno, p.6, 11 out. 1973. Tristão de Athayde era o pseudônimo do pensador católico Alceu de Amoroso Lima, que se manteve na oposição à ditadura militar. 29 BRITO, A.C. e HOLLANDA, H.B. Literatura: nosso verso de pé quebrado. Argumento, ano 1, n.1, p.81-94, out. 1973. O problema da censura como incentivo à criação ou não era muito discutido na época, constando em entrevistas jornalísticas, como as de Ventura aqui mencionadas, e debates diversos. Refutam o impulso criativo da repressão autores como Chico Buarque e o poeta Paulo Henriques Britto, que, premiado nos anos 90, relata haver começado e interrompido sua escrita nos 70, por não se sentir bem na atmosfera geral, nem tampouco entre os marginais. 165 tranqüilamente, é sinal de terra à vista. Nem tudo é um naufrágio na vida. Mas um dia eu ainda me afogo no álcool. (Ana Cristina César, “Simulacro de uma solidão, 8 de julho”) [...] Manuel trocou a lua/por líquida sorte e rumo/O rio./ [...] Manuel bailou/no espaço da noite sem pássaros/O país da sífilis./Os fuzis brincaram/em brancas elipses e reflexos circulares./A sombra reluz da sombra/do fogaréu nas avenidas do povo/O labirinto. [...] (Geraldo Carneiro, “Na busca do sete-estrelo”) Emília engordou/Valentina rasga o ventre/com a faca de pão./Filipa se despenteia/para mais uma noite de pauleira (Eudoro Augusto, “Gossipz”) avenida atlântica/interior de um táxi//chofer:/padres mortos/famílias destruídas/guerras, milhares de mortos/tudo isso para vestir o índio/E hoje, é o que se vê. (Bernardo Vilhena, “Ouvido ao acaso nº 477”) vivo agora uma agonia:/quando ando nas calçadas de copacabana/penso sempre que vai cair um troço na minha cabeça (Charles, “Colapso concreto”) tenho vontade de ver/as coisas como realmente são/mas só consigo ver/através de meus olhos (Luis Olavo Fontes, sem título)30 Enredados em labirintos urbanos e relações decadentes, manifestando desejos suicidas, pavor e paranóia, sob aparência de festividade, num contexto de destrutividade, estes sujeitos líricos não apresentavam ao mundo um destino promissor. Sua agonia e dificuldade de transcendência foram consideradas, por autores como Flora Sussekind e Costa Lima, respectivamente como uma síndrome de prisão do eu, mimetizando o estado geral aprisionador da sociedade, e, analogamente, como uma expressão egóica à exaustão, ainda que a centralidade do eu fizesse sentido naquele contexto, em que, ocupado o país pelo regime militar, restava aos jovens literatos, que reaclimatavam o ideário modernista em tom menor, pôr-se a serviço da “territorialidade privada”, salvando ao menos a casa ou o quarto dos fundos31... o que, entretanto, não tornava melhor seu labor poético. Isto, porém, são avaliações a posteriori. Naquele momento, a proposta edificante de Mario Quintana apresentava, em linhas gerais, intrigantes resultados. O significado daquela poesia como resistência política, recalcando ou não a dor e o medo sob “pobres palavras”, ou voz que se intimida e se põe a “chorar baixinho”, estava em jogo, e as indagações permaneciam em aberto. A culminância desta movimentação se deu em outubro de 1973 com o evento Expoesia I, organizado pelo Departamento de Letras e Artes da PUC-RJ, sob liderança do poeta e professor Affonso Romano de Sant’Anna, que ministrava um curso na pós-graduação. 30 Os poemas se encontram em HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.140, 154, 167, 175, 209, 237. Cf. COSTA LIMA, L. Abstração e visualidade., op.cit. e SUSSEKIND, F. Literatura e vida literária. A questão da subjetividade não se esgota nisso e voltará a ser discutida adiante. 31 166 Tratava-se de uma mostra da produção poética do momento e uma retrospectiva dos movimentos de vanguarda, além de um ciclo de debates sobre a história literária recente no Brasil e os vínculos da poesia com a música (MPB). Em recente artigo comemorativo dos 30 anos da Expoesia I, Affonso Romano relata que sua intenção inicial era propor um desafio aos estudantes, o qual poderia “cair no vazio” ou constatar que “a poesia brasileira estava entrando em nova fase”, o que depois se confirmou. Os organizadores anunciaram aos ventos que estavam recolhendo a nova produção poética do país, em qualquer forma que fosse, para evitar impor de antemão um conceito de poesia literária: “que enviassem poemas objetos, visuais, conceituais, poemas corporais, ou melhor, tudo aquilo que seus autores julgassem ser poesia. A primeira proposta era receber tudo, fazer uma seleção e dizer, olha, essa é a poesia que se faz hoje, vamos estudá-la.” No entanto, o contexto ditatorial vigente, o fato de “uns” estarem na guerrilha, “outros” no exílio, as salas de aula vigiadas por informantes do SNI e do DOPS – “aqui dentro era igualmente (ou mais) difícil sobreviver e resistir”, depõe ele – conferiu ao evento proporções inimaginadas: Não é à toa que o SNI considerou a “Expoesia” uma das iniciativas mais subversivas do ano, enquanto a [revista] Veja a considerava um dos fatos mais marcantes de nossa cultura no mesmo período. Por isto, estando em plena ditadura, em conversa com os alunos, decidimos que, politicamente, era mais justo aceitar tudo o que mandassem. Sem qualquer censura. Já bastava a censura oficial. Desta maneira derrubam-se duas censuras: a política e a estética. Pessoalmente, achava uma bobagem aquela coisa das vanguardas dizerem que o verso acabou, que o lirismo acabou, que só valia a poesia visual e cheia de trocadilhos. O resultado é que, no dia 22 de outubro, três mil poemas de cerca de 300 poetas foram expostos, ocupando os pilotis do Prédio Kennedy, os corredores e a entrada da biblioteca.32 Os trabalhos recebidos compunham um conjunto heterogêneo, que ia do cordel a filmes em super-oito. Trinta painéis mostravam didaticamente seleções da moderna poesia brasileira, portuguesa, africana e norte-americana. Diariamente, conferências tratavam dos movimentos recentes da poesia33. Caravanas de alunos de colégios e faculdades realizavam visitas guiadas. Programado para durar uma semana, o evento durou quinze dias, merecendo cobertura em jornais e um artigo na revista Argumento, de autoria de Cacaso, também ele professor da PUC-Rio, juntamente com Heloisa Buarque de Hollanda. A grande repercussão de tal acontecimento poético gerou ainda no mesmo ano a Expoesia II em Curitiba (PR), reunindo mais de 200 poetas, entre os quais Leminski; e a Expoesia III, organizada em Nova Friburgo 32 33 SANT’ANNA, A. R. Há 30 anos a “Expoesia”. O Globo, Rio de Janeiro, 25 out. 2003, Prosa & Verso, p.2. Os temas incluíam: Neoconcretismo (por Roberto Pontual), Geração 45 (Ledo Ivo), Poesia Práxis (Mário Chamie), Poema Processo (Moacy Cirne e Álvaro de Sá), Tropicalismo e Pós-Vanguardas (Reinaldo Jardim e Luis Carlos Maciel), Música Popular e Poesia (João Cabral de Melo Neto, Chico Buarque, Gilberto Gil, Ronaldo Bastos, Macalé). O concretismo foi representado com 33 painéis, livros e discos sobre a poesia concreta alemã, visto que os poetas concretos paulistas, segundo o artigo-depoimento, recusaram-se a participar. Cf. idem ibidem. 167 (RJ) por Eliana Yunes, na Faculdade Santa Dorotéia. Affonso Romano teria recebido solicitações – que não atendeu porque exigiam que se tornasse empresário, diz ele – para organizar a Expoesia 4 em Brasília, Expoesia 5 em Belo Horizonte (MG), Expoesia 6 em São Paulo (SP), e Expoesia 7 em Porto Alegre (RS). O significado geral do evento, nas palavras do organizador, consistiu, “além do gesto de afronta ao regime militar de então”, numa “revisão da produção poética brasileira e na primeira entrada oficial da chamada ‘poesia marginal’ na universidade brasileira.”34 Ainda que não houvesse efetivamente adentrado a universidade – que não lhe era de grande apreço – a nova poesia abriu espaço. Mais do que isto, entretanto, aqueles livros, jornais e eventos haviam configurado a existência, no Brasil, de um surto de poesia, velha e nova, de todo tipo, a plenos pulmões, em plenos anos de chumbo. 4.3. Ares anti-intelectuais: “cuidado, Capitão”... Segundo Affonso Romano, na última conferência da Expoesia I, acerca do tropicalismo, o “poeta de rua” Flávio Nascimento, como ele se auto-intitula, teria declamando o poema “Manifesto para soltar os bichos”, que solicita a longa citação em virtude dos problemas que levanta: Abaixo o Concretismo! Acima a Fantasia! Abaixo os tecnocratas da palavra! Acima os mágicos do verbo! [...] Importa é que as palavras e as portas pouco importam. Viva o silêncio! A Linguagem não é privilégio do homem, mas sim o seu limite. Importa é a semiologia animal, os olhos, as mãos, os beijos, os passos, a dispersão semântica. Joyce é tecnicista. Escreveu para literatos, para a burguesia das letras. Borges e Guimarães Rosa o que fazem é magia além da palavra. [...] 34 Cf. ibidem. No entanto, Armando Freitas Fº relata que houve discriminação quanto à nova poesia, que diversamente das outras correntes, muito bem arrumadas em stands, “ficava no pátio, no maior carnaval”, realizando-se, em compensação, o evento PoemAção, em 1974, no MAM-RJ. Op.cit, p.182. 168 A fantasia não quer resolver enigmas, mas propor viagens. Senhores donos da Razão, admitimos o que não sabemos. O que importa é o que ainda não vimos. Chega de realismo, o grilo alheio a guerra que não fiz. [...] A opção fundamental está entre a vida e a morte. O resto é ficar sem saber, é transar é deixar rolar pau come e ninguém vê. A realidade só me interessa para patrocinar o sonho. Só a vejo pelo avesso. Chega de política e psicanálise poluição e sofá. Importa é a sobra o excremento o grão de indeterminação. [...] Quero a queda de Logos da verborréia ocidental, mas não quero a mudez repressiva. [...] Ah, luta social! Não agüento mais viver sob a tua tutela. [...] Deixe-me ao menos por enquanto respirar um pouco o ar natural esquecer o tempo olhar os urubus [...] Peço licença, senhores engajados, para respirar, para perder tudo por um segundo, inclusive a economia e sossegar por um instante, senão aqui, em qualquer lugar, onde ainda se possa sonhar. [...] Duramos muito pouco para esperarmos todo o processo histórico. De qualquer maneira, é preciso que nossos filhos nasçam e não apenas os deles. Por enquanto, é preciso fazer, fazer do impossível, a própria vida. [...] O poeta, ator e professor pernambucano se tornou conhecido ao longo do decênio de 70 em virtude de sua “caixinha de cinema”, com que projetava filmes artesanais baseados em 169 obras literárias, em escolas, eventos de rua e livrarias por toda a cidade, como também por sua intensa participação, posteriormente, na Feira de Poesia Independente da Cinelândia (RJ), entre 1980-1983. Preocupado com o acesso de seu trabalho ao público de rua e às camadas populares, foi tornando seus livros cada vez mais artesanais, reproduzidos em cópias xerografadas, e sua dicção poética crescentemente adequada à coloquialidade e à declamação, muitas vezes na forma de espetáculo circense, em toda e qualquer parte35. Em 1970, vendendo seus folhetos na feira hippie, o poeta teria sido detido, embora seus documentos estivessem em ordem, sob a alegação policial de que “poeta não é profissão, poeta é sinônimo de vagabundo”, o que obteve repercussão na imprensa, merecendo uma crônica-carta “Aos poetas”, de Drummond, no Jornal do Brasil36. O poema supra-citado não consta absolutamente entre os melhores de Flávio Nascimento, mas é assaz representativo de uma maneira de pensar e poetar que ganhava espaço naqueles tempos, trazendo à luz as angústias e limitações de grande parte da juventude de então. Apesar da discussão formal tematizada, não há novidade ou pesquisa alguma em termos formais em sua construção, que se apresenta como uma declaração de incômodos de longo fôlego e repleta de contradições. Se há em certa medida a busca de um entrelugar, como no poema de Chacal – o texto termina propondo o lugar da poesia-fantasia na linha do horizonte, como “terceiro termo/entre terra e céu” – a proposição do “manifesto” não se efetiva, uma vez que não há clareza de objetivos, nem sequer sobre o que se nega. Forma estética, razão ocidental (que inclui em seu bojo o inconsciente psicanalítico, segundo o poema), linguagem e realidade são igualmente recusadas, em nome de uma região vaga em que sonho, fantasia, silêncio, “semiologia animal”, excremento e ar respirável se equivalem em valor positivo, elevados a grande exponência com a ajuda dos pontos de exclamação. No 35 Cf. NASCIMENTO, F. Poesia na rua: antologia. 30 anos de poesia popular participativa (1967-1997). Rio de Janeiro: Íbis Libris, 2003. Nascido em Palmares (PE), Flávio concluiu graduação e pós-graduação em Língua e Literatura Portuguesa e Brasileira no Rio de Janeiro, onde começou a publicar seus livros, Treva (1967), O Preço (1970) e Viagens (1979). Os dois primeiros tinham capa de Waltercio Caldas Jr. e Treva contava com pequenos prefácios de Chico Buarque e Torquato Neto. Todos os seus livros, com as respectivas capas se encontram reproduzidos na antologia, além de entrevista concedida a Heloisa Buarque, artigos jornalísticos e apresentações críticas diversas. Acerca da “Caixa de Cinema Lambe-Lambe” como experiência pedagógica de cinema artesanal, desenvolvida em escola pública de Curicica, na zona periférica do Rio de Janeiro, há um texto explicativo de Chantal Azevedo, para o suplemento mensal do jornal francês Le Monde, sem data mencionada. Encontra-se reproduzido junto ao libreto de 1981, Pastoral. Sobre a Feira de Poesia da Cinelândia, há reprodução de artigo do Jornal do Brasil de 25 ago. 1981. O poema acima consta nas p.37-38. Sublinho que os descaminhos aqui apontados a partir do poema de Flávio não se devem à sua conduta, até hoje fiel poeta de rua e professor; mas seu texto, e não sua pessoa, foi representativo de um tipo de raciocínio e comportamento que levava potencialmente aos problemas e desvios analisados. 36 Cf. MICCOLIS, op.cit., p.61; Drummond, Aos poetas, Jornal do Brasil, 26 out. 1970; e A POLÍCIA continua repressão aos hippies e prende outros 17. Jornal do Brasil, 23 fev. 1970. Fazia parte da prática repressiva dos países da América Latina deter pessoas sem documentos ou com estes fora dos padrões, o que consistia em mais uma contribuição para a atmosfera de medo vigente. 170 entanto, o mesmo “grão da indeterminação” encomiasticamente tratado consiste na arma impeditiva dos discernimentos reflexivos que poderiam encontrar veredas na confusa floresta de signos e sentidos. Em resultado do bem intencionado sonho poético, a ignorância, a luta social, a guerra que ninguém individualmente inicia, a indiferença para com as preocupações dos outros (“o grilo alheio”) continuarão ocorrendo sem interferências (“deixar rolar”) e a violência grassará sempre, também recoberta pelo indiscriminado silêncio (“o pau-come e ninguém vê”). Além disto, o que e como poderão dizer “os mágicos do verbo”, se as palavras, que são sua matéria de trabalho sine qua non, e as portas, de entrar e sair das circunstâncias e impasses, “pouco importam”? Não há aliteração fonética que sustente tal raciocínio, que deriva, então, em pensamento mágico, característico do universo infantil. A dose traumática passível de se embutir nas confusões e indistinções, bem como na recusa do valor de quaisquer normas, já foram comentadas37, com base nas reflexões de La Capra. Não há que descartar sua presença, comum nas sociedades burguesas em crise, mantendo-se como latência nas confusas emanações do clima anti-intelectual que se percebem no poema de Flávio. Sua crítica a Joyce, desprezado como literatura para burgueses, não se explica diante de sua preferência por Jorge Luis Borges e Guimarães Rosa, que se revela então mais uma questão de gosto do que de coerência de princípios. Uma tal postura existencial vitalista e anti-intelectual, como já mencionado, era uma tendência relevante do comportamento na década de 70. Costa Lima a frisara, ao mostrar que toda norma e toda forma, apesar de constituírem exigências intrínsecas ao gesto artístico tanto quanto ao pensamento, foram identificadas com o autoritarsimo político e sentidas por parte desta “geração” como castradoras, devendo ser repelidas em nome da liberdade. Igualmente, Messeder Pereira38 havia destacado o anti-intelectualismo, o anti-tecnicismo e a politização do cotidiano como principais vertentes da reorientação cultural ocorrida ao longo dos anos 70, observando que a crise da razão e a derrota do pensamento de esquerda – ao lado dos eflúvios contraculturais que recusavam quaisquer discursos que considerassem institucionalizados, preterindo-os em prol do misticismo e do psicodelismo, bem como da pressa de agir, típica da juventude – haviam provocado profunda insegurança e desconfiança para com a reflexão teórica. Estudando o problema do lugar do intelectual na América Latina, especialmente na esfera de pensamento das esquerdas, Claudia Gilman aponta dois motivos centrais para a retração do valor da intelectualidade a partir dos anos 60/70: por um lado, o advento do 37 Ver cap. 3 deste trabalho. Ver cap.3 deste trabalho. A mudança de eixo na cultura, cujo início foi vivido pelos pós-tropicalistas, agora se disseminava mais amplamente. 38 171 estruturalismo, substituindo os conceitos de “consciência” e “sujeito” por “códigos” e “sistemas de regras” em que os sentidos não são construídos pelo homem, mas “advém” a ele, provocando uma mutação que acaba por converter Sartre, como seu antípoda, em personagem solitário e gradualmente deslocado, a partir de meados dos anos 60. Por outro lado, a atmosfera emanada da revolução cultural chinesa também se carregava de antiintelectualismo, uma vez que a proposta maoísta de suprimir a divisão social do trabalho, como forma reificadora a ser superada pela cultura revolucionária em nome da emancipação humana, terminou por se reduzir à armadilha de uma lógica binária, em que os intelectuais se viam presos a um só pólo da tensão dialética da modernidade: ou inovação estética ou popularização. “Partindo de uma oposição segmentadora entre política e cultura, resultava lógico que o maoísmo (e boa parte da intelectualidade latino-americana) postulasse como burguesas todas as teses que, no terreno da arte, davam primazia ao critério estético sobre o político.”39 Ao lado disto, não se pode esquecer que as universidades, principal fonte de formação intelectual, sofriam em quase todo o mundo mudanças estruturais, no sentido de adequá-las à preparação técnica dos jovens para o mercado de trabalho, em detrimento do ensino humanístico, ainda naquele momento produtor de valores não mercantis. Nesta direção, as universidades brasileiras foram essencialmente modificadas pela reforma universitária conduzida pelo regime militar, bem como pelo auto-exílio e pela perseguição e expurgo de professores de esquerda ou que foram considerados como tal por seu modo de pensar insubmisso. Na visão de Antônio Cândido, os países da América Latina, desde sua independência, realizada sob os influxos da Ilustração, viveram não obstante a perversão dos ideais ilustrados, que se converteram em parte ativa do sistema de dominação imposto desde a colonização, incluindo a língua, a religião, os valores morais que, paradoxalmente, impunham a reverência aos senhores. A ilustração latino-americana se tornou uma tendência dilacerada, uma vez que as condições locais punham a nu suas contradições ideológicas, ou seja, a iniciação na cultura intelectual e seu uso social e político ficou restrito às elites, às quais se delegaram as funções sociais do saber e da cultura, bem como a felicidade possível, relegando a um limbo utópico a questão do bem comum. Deste modo, continua Cândido, a criação de instituições de ensino que comportassem camadas mais modestas da população, particularmente no ensino superior, dependeu da luta 39 “Partiendo de uma oposición tajante entre política y cultura, resultaba lógico que el maoísmo (y buena parte de la intelectualidad latinoamericana) postulara que eran burguesas todas las tesis que, en el terreno del arte, daban primacía al critério estético antes que al político.” GILMAN, C. Alcances mundiales del antiintelectualismo. Entre la pluma y el fusil. Buenos Aires: Siglo XXI-Argentina, 2003, p.185. Cap.4.4. 172 social. No Brasil, estas instituições, que por muito tempo funcionaram como “máquinas de conformar mentalidades”, a partir dos anos 20 e 30 do século XX receberam pressões por parte das classes médias, oriundas do processo de urbanização-industrialização e imigração, no sentido da modernização da ideologia ilustrada e criação de universidades que superassem o velho critério do mínimo indispensável para formação profissional das elites (Faculdades de Direto, Medicina, Engenharia Militar). O eixo universitário, então, tendeu para as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, cuja pesquisa desinteressada contrastava com a formação tecno-profissional, quebrando a hierarquia derivada do prestígio político das profissões liberais, num processo crescente que culminou, nos anos 50 e 60, em novas pressões para a ampliação e democratização do ensino superior, com grande atuação do movimento estudantil. O golpe de 1964 interrompe este processo, não apenas ao criar uma campanha demagógica de alfabetização a curto prazo que redundou em fracasso (segundo Antonio Cândido, aumentou o número de analfabetos no país nos vinte anos da ditadura militar), como também ao incrementar o número de matrículas e novas escolas de ensino superior, cuja população de 150 mil estudantes deduplicou em dez anos, porém mediante a redução dos requisitos de ingresso e do próprio nível de formação, o que foi encoberto pelo discurso da competência técnica introduzido pela reforma universitária. Com o calamitoso decréscimo da qualidade, as camadas médias receberam um ensino degradado, enquanto a massa pobre continuava excluída da instrução, perdurando, desta maneira, a perversão do ideal ilustrado de formação social e revelando-se a restrição do saber como um dado estrutural da cultura brasileira40. Assim, à recusa libertária, de fundo marcuseano e contracultural41, acrescia-se a profunda frustração com os rumos do processo cultural-histórico nacional, seja na curta ou na longa duração, e o fracasso das alternativas revolucionárias. No somatório destas questões, o vetor cultural tendeu para um confuso anti-academicismo e anti-intelectualismo. Criou-se gradualmente no país uma cesura entre técnica e reflexão sócio-filosófica, e entre aqueles que a incorporavam e aqueles que a rejeitavam, de considerável amplitude. Passaram-se a ver disputas entre intelectuais de dentro e de fora da universidade42, e muitos jovens 40 Cf. CÂNDIDO, A. Perversão da Aufklärung. Discurso proferido em encontro de intelectuais em Havana, 1985, e publicado, com o título de “E o povo continua excluído”, no Jornal do Brasil, 22 dez. 1985, Caderno B. In: Textos de Intervenção, op.cit., p.320-327. Ainda que se trate de um comentário bastante marcado pela conjuntura da época, diversos autores a sustentam até hoje. 41 Como já comentado, não se trata da mesma coisa, dada a complicada recepção de Marcuse no Brasil. Ver crítica de Carlos Nelson Coutinho, cap.3. 42 Ver este aspecto, por exemplo, nas polêmicas literárias estudadas por SUSSEKIND, op.cit. 173 abandonarem a vida universitária – fosse na condição de alunos ou já de professores – para voltar depois, ou jamais43. Evidentemente, o que é tendencial em uma cultura não atinge a todos os artistas, nem se manifesta de modo uniforme entre os que melhor expressam a tendência. Naquele novo meio poético, alguns eram bastante afeitos ao universo intelectual, até mesmo em virtude de suas profissões, de professores, tradutores ou diplomatas, por exemplo. Conseqüentemente, prevalecia um clima de ambigüidade com relação às construções intelectuais, sobretudo quanto a sua capacidade de gerar transformações qualitativas na sociedade. Na esfera da poesia, esta ambigüidade abrigou-se, ainda uma vez, nos debates em torno da forma estética, do maior ou menor rigor, nas discussões daqueles que se afinavam com as vanguardas ou com a busca da cultura nacional-popular. Neste grupo, em especial, muitos sentiam as críticas à sua falta de rigor formal como um policiamento a mais – como o esteta que se fazia “cana a la kant” de Chacal. A busca de uma “terceira” posição, de estar além disto ou daquilo, traduzindo com freqüência um descompromisso com qualquer vertente, disseminou-se também como opção. O livro O Misterioso Ladrão de Tenerife, por exemplo, trazia vários pequenos prefácios dos dois autores em que se recusava a forma-prefácio como modo de explicação dos problemas semânticos, estéticos ou políticos colocados em um livro. Já no texto de abertura, de Eudoro Augusto, a conotação cartorial do título “Livro n° 675, de 2 de, de 1971” ironizava a eficiência deste tipo de procedimento característico da crítica literária: em que se estabelece a equação variável da paisagem de acordo com os limites topográficos do fogo, a soma dos detritos e a falta de ar, em que se invertem os índices de fruição intelectual do poema, das iluminuras [...] em que se revogam os nomes completos dos autores, o caráter fictício dos personagens, a apologética prefacial, as influências confessadas e a verossimilhança das situações. O despojamento teórico é requerido para se lidar com uma matéria poética móvel como o fogo, os processos de putrefação e a asfixia, ao que não se coadunam os modos tradicionais de tratar da identidade, da mímese e dos tributos estéticos. Adiante, outro texto propunha “partir um dia (the nice little poet rides again!) para uma de máxima perfeição racional: o livro sem orelhas, sem dicas, sem sílaba sequer da chamada transposição estética”. O poeta 43 Houve também uma mudança na procura dos cursos universitários. Messeder Pereira relata que tanto o recrudescimento da repressão policial nos cursos de ciências sociais e história, quanto a atuação de movimentos de esquerda, vistos agora como “caretas” pelos jovens, provocaram o deslocamento do interesse para a área de comunicação (especialmente jornalismo e cinema), que teria representado para os “desbundados” dos anos 70 o que aqueles outros cursos representaram para a geração mais politizada dos anos 60. Cf. Retratos de época, p.337, nota 30. Evidentemente, os cursos de comunicação também se adequavam melhor à difusão dos meios de comunicação de massa e da indústria cultural no país. 174 insubmisso a qualquer registro programado, buscava livrar-se de “todos os vestígios da poética milimetrada e asséptica” para construir uma linguagem com base na sua própria experiência e não nas experiências prévias – “Sem essa de renovação de linguagem a partir de uma experiência já definida (dos outros)” –, o que, por conseguinte, não poderia ser captado em prefácio pré-figuradores da leitura. Mas um livro sem orelhas, procedimentos introdutórios ou mediações críticas, bem como uma poesia sem enquadramento de experiências anteriores, exigiriam um leitor munido de amplos conhecimentos gerais e plenamente capaz de alteridade, que o habilitassem a ler e interpretar a experiência alheia tornada texto como pura novidade, e compreender seus sentidos sem deturpá-los com préconcepções: ou trata-se de um leitor social e esteticamente preparado para a “máxima perfeição racional” que queria Eudoro, ou tal coisa inexiste. Uma literatura absolutamente nova calcada em experiências pessoais e intransferíveis e que jamais incluísse a experiência de outros artistas ou críticos, eliminaria em última instância a possibilidade da recepção, o intercâmbio de referências culturais comuns, preexistentes e pré-figuradoras, necessárias à comunicação humana. No extremo, chegar-se-ia à situação, analisada por Benjamin, de um esgarçamento instransponível na transmissão de experiência social na modernidade, revelando um significativo limite cultural das sociedades ocidentais contemporâneas, nas quais não se resolvem satisfatoriamente – enquanto não se supera a oposição binária – os problemas da renovação formal e comportamental em relação à bagagem da tradição. A dialética da tradição-modernidade possui raízes fundas no processo histórico e cultural. A busca do novo, característica da cultura ocidental moderna e contemporânea, se levada ao absoluto vem a eliminar um dos fatores constitutivos da arte, que reside na espera virtual da recepção, bem como o aspecto fundante da cultura que consiste na transmissão social e geracional e o decorrente acúmulo de substância cultural, constituindo em uma sociedade aquilo que Bourdieu chamava de capital cultural. Uma ruptura nesta dinâmica representa um adelgamento das possibilidades culturais que, no limite, acarreta o empobrecimento da experiência que Benjamin detectou na modernidade: Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do século passado [XIX] mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos conduzir, quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade. Surge assim uma nova barbárie. [...] Pobreza e experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão 175 pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso.44 Deixando para outra ocasião o vasto problema da “nova barbárie” contemporânea45, tomemos a questão complexa da experiência empobrecida e sua relação com o patrimônio cultural geral que Benajmin suscitou, apontando o desejo de autenticidade daqueles que a assumem, mostrando simultaneamente desilusão e fidelidade a seu tempo, num jogo em que criticidade e acriticidade se neutralizam. Como o gosto constitui um sismógrafo da experiência histórica, conforme mostra Adorno46, o desejo de ser diferente, por parte de indivíduos com nervos esteticamente desenvolvidos pela sua organização burguesa tardia, ainda que delicado ou rebelde pode vir a ser mais um elemento no teatro da opressão, se não possuir instrumentos muito sólidos para reverter seu engendramento sistêmico. Como nenhuma categoria, nem mesmo a formação cultural (Bildung), tem sua perenidade garantida de antemão, o afrouxamento das exigências culturais acaba por desarticular o núcleo da autodisciplina individual e coletiva necessária à formação. Para recusar com consistência o teor desnaturado da cultura dominante, é preciso que a pessoa participe dela o suficiente para conhecer seus meandros e sentir ganas de se livrar. Isto porque a resistência individual, ao contrário do que possa parecer, não tem caráter individual, pois a consciência moral e ética, que sempre pressupõe a razonabilidade, possui uma faceta social, como o superego, uma vez que se constituem mediante as representações exemplares da sociedade justa e dos cidadãos que lhe correspondem. Quando esta representação social esmorece, desinibe-se o que estava controlado, como ocorre na vida pulsional, e o ímpeto intelectual se volta para a incivilidade, o desleixo ou a impolidez – no caso do poema de Flávio Nascimento, o louvor da semiologia animal, do excremento ou o descaso no trato da linguagem. O livre pensar, opondo-se com boas razões à reflexão que se tornou burocratizada ou “acadêmica”, identificada com o intelectualismo, parte da consciência, de resto legítima, de que no cientificismo o mais importante se perde. Corre-se entretanto sérios riscos: de ceder às pressões do mercado; de não dar conta de temas maiores, tratando-os com filisteísmo; de incorrer em um sectarismo semicultivado ou em ingenuidade, por falta de elaboração reflexiva. Tudo isto favorece a cisão intelectual que faz a consciência sofrer. A consciência cindida, ao invés de compreender os fatos, vem a acolher 44 BENJAMIN, W. Experiência e Pobreza. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre história da cultura, p.115 e 118. Para o problema da transmissão de experiência na modernidade, ver O narrador, idem, p.187-221. 45 Para a discussão da barbárie contemporânea como estruturação mesma do desmoronamento sócio-cultural no mundo capitalista tardio, ver MENEGAT, M. Depois do fim do mundo: a crise da modernidade e a barbárie. 46 As reflexões deste parágrafo se fazem com base em Adorno, a partir de aforismas diversos em que o autor critica formas de anti-intelectualismo, in: Mínima Moralia, p.22, 44, 57-58, 127, 161, 165, especialmente. 176 apressadamente quem quer que se ofereça e a jogar com conhecimentos apócrifos, categorias isoladas e hipostasiadas, de modo acrítico. Assim, faltarão elementos de negatividade reflexiva a este pensamento aparentemente independente, mas que não consegue escapar do contexto cultural dominante – o que, perante o processo histórico, resultará em sentimentos imprecisos que vinculam o desconhecimento e a impaciência ao desejo de dotar a história de sentidos mais humanos, como se lê no trecho mais sensível porque mais revelador do desamparo-motor do poema em questão: “Duramos muito pouco/para esperarmos/todo o processo histórico./De qualquer maneira,/é preciso que nosso filhos nasçam [...]”. Uma arte dialética exigiria mais: que a carne desnaturada da sociedade atual aparecesse, com todos seus mascaramentos e desvios, o que requer reflexões complexas. Não basta dizer “basta, quero expressar fantasias e descansar um pouco”, por mais autêntico que seja o élan, que pode vir a redundar em construções estéticas simplistas, como um manifesto para soltar os bichos que não tivesse bichos para soltar... Benjamin observara que a fadiga das pessoas, que não são obrigatoriamente inexperientes ou ignorantes, as faz se concentrar em planos simplórios revestidos da ilusão de grandeza. Exaustas com as complicações da lide moderna, em que o objetivo da vida humana se torna por demais remoto, adiado por uma interminável fila de meios que se sobrepõem aos fins, acabam por circunscrever suas existências do modo mais simples e mais cômodo, em que o episódico e o cotidiano se bastam em si, abandonando gradualmente o trabalhoso processo de compreender a concepção de patrimônio humano, recebê-lo, cuidá-lo, reelaborálo e retransmiti-lo. Nisto consiste o empobrecimento da experiência e da cultura na modernidade tardia, configurando um quadro em que até mesmo os poetas de esquerda, se sujeitarem à rotina sua idiossincrasia, seu estilo e sua capacidade de sentir asco, terão sua verve diluída, sua impertinência e ironia amortecidas e, portanto, desproporcionais às forças ideológicas e políticas a serem enfrentadas. Ainda que mantenham o ativismo, este se carregará de senso comum, pondo em liquidação os sentimentos e a inteligência revolucionária, como quem faz despesas extravagantes sem meios de pagar, transmudando em festa o que é vacuidade, em objeto de prazer o que é luta política, em bem de consumo o que é meio de produção e reflexão – o que conferirá à dialética contornos imprecisos e temíveis. Embora nestes casos o conhecimento crítico não deixe de estar à espreita, este tipo de poeta o amordaçará em convulsões desesperadas – esta variedade singular de desespero histriônico, diz Benjamin, que consiste na “estupidez torturada” – para agradar um público numeroso e de gosto problemático. Não admira, então, que a fruição se transforme em estado de repouso, 177 sem exigir o cansaço do labor sensível e intelectual, e que a função social dessa arte seja reconciliadora no pior sentido, produzindo a identidade entre vida profissional e vida privada que essas pessoas chamam de humanidade, mas que é de fato bestial, porque, nas condições atuais, a verdadeira humanidade só pode consistir na tensão entre os dois pólos. Nessa polaridade se localizam a reflexão e a ação. Produzi-la é tarefa de qualquer lírica política [...]47 Obviamente este movimento, por inconsciente, não é porém escolhido, sendo racionalizado, ao invés, como humanitarismo por parte daqueles que se querem fazer compreensíveis a outros homens. Mas ainda aqui, algumas ilusões dominam os artistas e intelectuais. Não se percebe, voltando a Adorno48, que o gargalo de exclusão do modelo industrial atinge o ponto de dar o tom das relações privadas, de modo que o nível da comunicação social passa a ser determinado pelo nível cultural mais baixo. Entre os piores efeitos se vê a inteligência se transformar em ingenuidade; o comprometimento com o status quo atuar como força de gravidade, puxando tudo para baixo; as pessoas menos refinadas se tornarem desprovidas de capacidade de reflexão e não precisarem mais se incomodar com uma consciência inquieta; os problemas serem resolvidos de maneira pragmática e superficial; compartimentalizar-se o sentido das coisas, que é contudo inseparável; a opinião se tornar contingente e teimosa, sem fundamento; vigorar a prática de reificar todo traço de (de)formação do eu – “eu sou assim”, “não sei e não quero saber” –, quando se passa a defender o próprio defeito, o que significa retirar o sujeito do dinamismo da experiência e congelá-lo na impossibilidade de transformação. O anti-intelectualismo e o irracionalismo latentes nestas circunstâncias são acionados quando os intelectuais tentam denunciar mecanismos injustiça social dos quais não têm clareza, acabando por ficar à sua mercê – e a ver urubus e falar “bobage” , como no seguinte texto de Charles, editorial da revista Almanaque Biotônico Vitalidade n° 149: na festinha xic paparica-se o artista na rua o escracho é total a sabedoria tá mais na rua que nos livros em geral (essa é batida mas batendo é que faz render) bom é falar bobage e jogar pelada um exercício contra a genialidade [...] 47 BENJAMIN, W. Melancolia de esquerda: a propósito do livro de poemas de Erich Kästner. In: Magia e técnica, arte e política..., p. 73-77. Citação da p.77. 48 Cf. ibidem. 49 Publicação do grupo Nuvem Cigana, 1976. Apud HOLLANDA. Impressões de viagem, p.232. 178 Uma mentalidade crítica que não transige com o que é eticamente condenável pressupõe experiência acumulada, memória histórica e pensamento capaz de elaborar dinamismos tensos, e não este tipo de anti-intelectualismo. Um outro aspecto problemático do poema de Flávio Nascimento – como síntese amostral de incontáveis textos “marginais” – refere-se ao desejo de retorno à natureza, enovelando em seu desdobramento uma série de questões sócio-econômicas e filosóficas. Como derivação tardia dos movimentos contraculturais dos anos 60, principalmente o movimento hippie, a busca idílica pelo campo e por um modo de vida “natural” e inocente, em que pese sua tentativa de sair do sistema econômico e político mediante a vida em comunidades rurais-naturistas alternativas, de corte romântico anticapitalista, culminou em uma experiência ingênua que não pôde suportar o peso das contradições. Elidia-se, por um lado, toda uma história de dominação sobre a natureza, como processo constitutivo mesmo da cultura e do humano. Em Mal-Estar na Cultura, Freud considerava a dialética da felicidade-infelicidade na relação entre indivíduo, sociedade e natureza, partindo da observação de que as três maiores fontes de sofrimento humano – a supremacia da natureza, a caducidade do corpo e a insuficiência dos métodos humanos para regular as ações na vida familiar, social e no Estado – encontram na cultura sua mitigação, ao mesmo tempo que limitações psiquicamente dolorosas pelas imposições que o superego obrigatoriamente estabelece às pulsões individuais. Compreendendo cultura como “a soma das produções e instituições que distanciam nossa vida da de nossos antecessores animais e que servem a dois fins: proteger o homem contra a natureza e regular as relações dos homens entre si”50, o autor notava na sociedade industrial burguesa do início do século XX uma decepção com o modus operandi cultural, pois que o progresso da ciência e da técnica não cumpriam com adequação aqueles fins, apresentando portanto uma utilidade ambígua para a economia da felicidade. Os indivíduos caem na neurose por não suportarem o grau de frustração que lhes impõe a civilização, deduzindo então que podem recuperar alguma perspectiva de serem felizes ao atenuar as exigências culturais de controle da natureza, seja a sua própria, pulsional, seja a “externa”, com “N” maiúsculo. Assim, as circunstâncias históricas geram uma hostilidade contra a cultura, na qual se percebem exigências complicadas, e provocam o equivalente desejo de retornar ao modelo humano primordial, em que se obtinha a cômoda satisfação de necessidades elementares em 50 FREUD, S. O mal-estar na cultura. In: Obras completas., v.3, op.cit., ensaio CLVIII, p.3017-3067, citação da p.3033. 179 imersão numa natureza generosa, configurando um movimento de idealização do passado e da vida simples, sem que se considere o horror de certas situações “naturais” e os decorrentes mecanismos de proteção que provocam um entorpecimento da sensibilidade, bem diferente dos nervos desenvolvidos do homem moderno de que falava Durkheim51. Mas isto não significa nenhum entusiasmo para com a modernidade ocidental; ao contrário, Freud a critica em inúmeras instâncias, com base no fato de que as angústias do homem contemporâneo derivam de sua grande capacidade destrutiva, dada pelo enorme incremento no domínio das forças naturais, concluindo que o destino da espécie humana depende da medida em que o maior desenvolvimento cultural, e não menor, logrará enfrentar e solucionar as perturbações da vida coletiva resultantes do instinto de (auto)destruição. A propósito desta questão, Adorno chamava a atenção para a aporia criada pelo processo de desenvolvimento das sociedades industriais, em que a crescente racionalização da cultura, ao absorver crescentemente a natureza, tende a eliminar a diferença entre naturalcultural e, conjuntamente, a eliminar o princípio da própria cultura, que reside na possibilidade tensa de reconciliação dessa diferença52. O mesmo vale para o raciocínio inverso: quando a cultura tenta ingenuamente se reconciliar com a natureza, diminuindo-se por inteiro para louvá-la ao máximo, desfaz-se igualmente a tensão dos dois pólos intrínsecos e constitutivos do humano, de modo que uma falsa lógica substituirá a reconciliação: por um lado, de que natureza humana se tratará, se o homem sequer se reconhece sem cultura? Por outro, a natureza é também matriz da violência inserida na “lei do mais forte”; se tentamos eliminar a cultura destrutiva e insatisfatória em prol do natural, podemos vir a alimentar as pulsões destrutivas – a animalidade humana – que são igualmente violentas e insatisfatórias, e que teriam sido, por milênios de acúmulo cultural, controladas e sublimadas em nome da vida social, da beleza e da civilidade. Este processo atinge o paroxismo no mundo capitalista tardio, no qual o “excesso de civilização”53 trouxe um domínio quase completo sobre a natureza e junto com isto, um poder de destruição sem igual, com grande impacto sobre as relações sociais, econômicas, geopolíticas e éticas. Justamente neste momento de ápice, mas sem consciência dele, ou ainda pior, recusando instrumentos conceituais de compreensão por identificá-los com o 51 Ver cap.3, sobre o suicídio. No poema “Uma noite”, do livro Restos & estrelas & fraturas, Afonso Henriques Neto indica este caráter nervoso do homem moderno: “esta grama de lágrimas forrando a alma inteira/(conforme se diz da jaula de nervos)”. 52 Cf. ADORNO, op.cit., p.101, aforisma 74. 53 Para uma discussão sobre os problemas culturais derivados do grande desenvolvimento das forças produtivas no auge do capitalismo, compreendidos como excessos da dinâmica civilizacional burguesa, mas falta de kultur e formação, cf. MENEGAT, M. Civilização em excesso. In: O olho da barbárie. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p.47-82. 180 intelectualismo pernicioso, as comunidades alternativas da década de 70 no Brasil acreditaram poder evadir-se do sistema, mas não resultaram em nenhuma ação anti-sistêmica mais conseqüente e concreta, de modo que estas pessoas acabaram obrigadas a se reinserir por pressão da sobrevivência, que as manteve sempre presas aos elos da cadeia produtiva, e as soluções ou alternativas de vida que criaram foram absorvidas pela lógica do mercado – como, por exemplo, o hábito da alimentação integral ou as caminhadas ecológicas –, ficando eles a meio caminho, numa espécie de limbo profissional e espacial (rural-urbano). Desta maneira, tornaram-se presas fáceis de visões filosóficas redutoras que atribuem somente à natureza humana os problemas da violência e da infelicidade – “Eu lhe asseguro, baby - a raça humana não presta”54 –, conferindo-lhes uma dimensão unicamente antropológica, desprovida da compreensão das ingerências históricas que são também determinantes, o que culmina em uma situação de imobilidade: se assim sempre foi e sempre será, nada resta a fazer, além de “curtir” a breve existência. No que concerne ao laço entre literatura e história brasileiras aqui em pauta, uma série de questões derivam desse conjunto de reflexões acima. Inicialmente, aquela poesia não rompia de todo com a experiência anterior; antes, retomava aspectos do primeiro modernismo, como já dito, o qual, por sua vez, mantinha em seu projeto estético e político a tensão dialética entre renovação e tradição, uma vez que se intentava modernizar a arte da “nação”, o que significava retomar elementos tradicionais, fossem eruditos, populares ou recalcados, como notara Antônio Cândido, colocando-os em circularidade para constituir o corpus da literatura nacional. Para avaliar este processo, Iumna Simon analisa três momentoschave na relação da poesia brasileira do século XX com a problemática da modernização desigual e do progresso nacional, ressaltando seus sentimentos diferentes e contraditórios no que se refere à confiança na lógica da modernidade, os quais se traduzem pelo modo como mobilizaram a categoria do “novo”. No modernismo dos anos 20, o moderno significava uma consciência crítica das peculiaridades sociais do Brasil, marcadas por enorme distância entre os valores culturais dominantes e os costumes populares, de modo que o novo manifestava o desejo de superação da ordem e dos valores vigentes, por meio de uma pesquisa estética que, ao inventar formas artísticas novas, atendia à demanda de inventar imaginariamente um novo país. Naquele momento, o novo artístico se antecipava aos fatores clássicos da modernização, a industrialização, a urbanização, a técnica, ainda incipientes, diferentemente do que ocorreu 54 Ronaldo Santos, no livro Entrada Franca, 1973. Apud MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.132. 181 com o intento de atualização concretista dos anos 50, quando o nacional-desenvolvimentismo havia alimentado a esperança de saída do subdesenvolvimento (mediante a industrialização, a substituição de importações, a ampliação do mercado interno, a economia planejada) e o novo implicava uma adesão irrestrita a esses elementos. A confiança quase cega no progresso permitia às vanguardas fantasiarem “um processo de superação do subdesenvolvimento com racionalidade poética e invenção criativa”, o que gerou uma noção muito singular de engajamento político-social, cuja intervenção seria tão mais efetiva quanto mais esteticistas fossem as formas. Já nos anos 70, a poesia que pretendia reagir com rebeldia e irreverência ao autoritarismo da ditadura militar e à sociedade de consumo, movida por sincero impulso de antagonismo cultural, restaurava as armas de choque da tradição modernista – o recurso ao humor, ao poema-minuto, ao coloquialismo, à espontaneidade – e seu espírito antiburguês de início do século, porém em contexto que lhe era oposto. Promovendo a re-subjetivação da linguagem lírica contra o intelectualismo, o formalismo e a despersonalização das poéticas vanguardistas, os poetas “marginais” pretendiam assegurar uma plena realização vital, emocional e existencial do sujeito, de maneira que o novo adquiria sentido pela liberação das repressões, das insatisfações, dos valores morais, familiares e institucionais, “como se no âmbito da intimidade e da subjetividade estivesse a resposta que poderia enfrentar o autoritarismo”, o que revelaria, segundo a autora, um traço de desespero inocente neste lirismo.55 Assim, à vaga procura de um sujeito ao mesmo tempo vital, livre e antiburguês, a poesia dos anos 70 priorizava, em sua retomada do movimento modernista, a vertente que assumira a experiência mundana como matéria poética em oposição ao modelo parnasiano anterior, em que a concepção de rigor estético incluía a “limpeza” das ingerências históricas. A então nova proposta, além dos manifestos diversos, como os de Mario de Andrade e Oswald de Andrade, era expressa por Manuel Bandeira em “Poética”, do livro Libertinagem: “Estou farto do lirismo comedido/Do lirismo bem comportado [...]/ – Não quero mais saber do lirismo que não é libertação”, e em “Nova Poética”, de Belo belo: “Vou lançar a teoria do poeta sórdido./Poeta sórdido:/Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. [...] O poema deve ser como a nódoa no brim:/Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero [...]”. Ecos dessa poética de Bandeira ressoaram fortemente nos poetas marginais, alguns dos quais equiparavam sua relação com os concretistas à relação dos modernistas com os parnasianos56. Tratava-se, 55 Cf. SIMON, I. Considerações sobre a poesia brasileira em fim de século. Novos Estudos CEBRAP, n. 55, São Paulo, p. 28-36, nov. 1999., esp. p. 30-33. 56 Visão esta que não era, obrigatoriamente, pertinente. Ver crítica de COSTA LIMA, op.cit. 182 novamente, de fazer uma poesia suja de vida: “deixo bem claro que essas formas mal amarradas são, em todo o seu peso e densidade (em todo caso), minha própria vida (oh a minha própria vida), substância ferrosa, notdiurna [...]”. Sob o título “Primado da explicação ou quando dói a consciência ou fragmentos de fragmentos ou” este poema-prefácio de Afonso Henriques Neto reafirma a experiência pulsante, dolorosa e subjetiva como matéria poética, cuja substância, mistura cósmica-mineral de ferro, noite e dia, seria inapreensível pelos parâmetros explicativos vigentes, conforme o tom geral de O Misterioso Ladrão de Tenerife. Todavia, em razão da atmosfera anti-intelectual da época, a poesia marginal, vista como um todo, afastava-se de Bandeira ao priorizar uma forma mimética pouco elaborada, isto é, um modo de representação da experiência cotidiana que a trazia para o texto como matéria bruta, mais do que matéria lapidada57. Com tudo isso, terminava-se por criar uma dupla cisão, tanto entre impulso vital e qualidade estética-formal, quanto entre experiência subjetiva e sóciohistórica, o que enredou sua retomada da tradição, como possibilidade de raízes enriquecedoras, no seu contrário – de onde as diversas críticas que apontam o caráter desqualificado e empobrecido de boa parte dessa produção poética dos anos 70. Os riscos mencionados de uma vertente anti-intelectual na dinâmica cultural são tratados por Simon e Dantas especificamente no que se refere à poesia marginal e seu contexto. Para os autores, diversamente do grupo (pós)tropicalista, que vivera a transição da democracia populista para o autoritarismo militar com pesados sentimentos de perplexidade e desespero, a geração que começava a escrever no início dos anos 70 lhes parecia conviver, sem maiores esperanças ou ambições, com o esvaziamento político e a imobilização dos projetos transformadores, assistindo mais passivamente ou menos angustiadamente os efeitos da modernização acelerada, quando os debates de ordem cultural passaram a ser redimensionados pelos meios de comunicação e a indústria cultural, crescentemente organizada, estipulava critérios rígidos de atuação no mercado. Os marginais brasileiros, segundo os autores, pareciam viver as desordens da modernização avassaladora sem a contraparte, que se viu na literatura européia ou norte-americana em circunstâncias semelhantes, de experiências dilacerantes, em que o anonimato, o medo, o desespero, a angústia da homogeneização abalam todo o universo pessoal e social. Antes, a 57 Primeiramente, é preciso ressalvar que isto não ocorre com toda a poesia marginal, cuja produção não é uniforme. Em segundo lugar, é interessante notar que uma poeta de boa formação literária, como Ana Cristina César, haja distinguido, em depoimento a Messeder Pereira, duas linhas na sua produção poética: uma literatura “torturada”, porque mais elaborada e de compreensão mais difícil, e outra mais lúdica, baseada em jogos e montagens diversas, que era em geral melhor recebida. Da associação entre elaboração artística e tortura poderia proceder uma análise que não cabe aqui, mas vale destacá-la como uma das facetas daquela atmosfera antiintelectual. Cf. MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.222. 183 dessacralização que realizavam no poema, da linguagem literária e do pensamento, compunha um painel caótico e banal do cotidiano que era a própria imagem da “dessacralização geral de um mundo igualmente caótico e absurdo”. Na ausência de matizes, que exigiriam reflexividade e qualificação da técnica poética, instalava-se uma espécie de vale-tudo que tendia, ameaçadoramente, a acomodar e naturalizar as feições aberrantes da realidade, do mesmo modo como se haviam naturalizado os procedimentos de estranhamento da poética moderna e modernista. A sedução do cotidiano permitia que o mundo desagregado e violento fosse trivialmente incorporado ao poema, num gesto de banalização que correspondia à banalidade daquela vida corriqueira58. Tais críticas, como também as de Costa Lima, Affonso Romano, entre outros, apontam para uma dinâmica sócio-psíquica revelada pela poesia marginal, assemelhada ao mecanismo do recalque de percepções nefastas. Já foi comentada, na poesia de Torquato Neto59, a presença desse mecanismo mnêmico, que gera uma sensação ao mesmo tempo estranha e familiar, de algo que se recalca porque se reconhece inconscientemente como horrível, mas que ressurge no discurso como fagulhas, ao modo próprio do testemunho. Contudo, se em Torquato isto aparecia no (sub)texto, como um gesto involuntário mas pulsante de alguém que imprimiu na escrita os dilaceramentos provocados pela derrota de seus projetos estéticos e políticos, agora não surgia tanto na enunciação poética, mas sobretudo mediante os desvelamentos realizados pela crítica literária. Ou seja, aquela literatura parecia indicar, pelo avesso, confundindo o testemunho, um recalque maior, encobrindo um dado de empobrecimento sócio-cultural ou vida danificada muito penoso de ser visto e admitido enquanto tal pelos sujeitos-autores, mas de certa forma manifesto pelos críticos de seus limites estéticos e comportamentais. A noção de um bloqueio social, impedindo a vida de ser algo mais, não estava ausente de todo, surgindo por exemplo, para explicar a “vagabundagem” dos jovens artistas, em um texto frágil no qual o próprio uso deste termo, depreciativo segundo as convenções sociais, revela a existência de críticas a seu modo de vida informal e anti-intelectual, que se procurava responder: 58 Cf. SIMON e DANTAS. Poesia ruim, sociedade pior, esp. p.99 e 103. Ainda que esta opinião seja correta em muitos pontos, há que relativizá-la, uma vez que estavam envolvidos processos históricos mais amplos, que serão tratados nos cap. 5 e 6, mostrando justamente os dilaceramentos e as derrotas que esta poesia comportava. Note-se também que tal crítica é posterior, mais geral e mais severa que as de Cacaso, Messeder Pereira e Heloisa Buarque etc., que, mais implicados com os grupos poéticos (dos quais Cacaso foi um dos principais articuladores), não deixavam porém de registrar o problema da desqualificação, que se difundiu mais entre o final dos anos 70 e os 80. 59 Cf. cap.3 deste trabalho. 184 É verdade que há momentos em que a gente se torna um tanto desligado, um tanto visionário.[...] Eu ficaria muito contente se você pudesse ver em mim alguma coisa além de um vagabundo. Porque há dois tipos de vagabundagem, e entre elas há um grande contraste. Existe o homem que é vagabundo por preguiça, por falta de caráter, por sua natureza vil. [...] Mas há outra espécie de vagabundo, que é vagabundo apesar de si mesmo, que é consumido internamente por uma grande ânsia de ação e apesar disso não faz nada, porque para ele é impossível fazer alguma coisa, porque parece estar aprisionado, numa gaiola, porque não possui o que precisa para se tornar produtivo, porque a fatalidade das circunstâncias o levou a isso. Não é sempre que um homem como esse sabe o que fazer, mas ele sente, por instinto, que apesar de tudo poderia ser um homem bastante diferente.[...]60 A intuição de uma existência mais ativa, rica e diversa não se consolida em reflexividade crítica, mais uma vez, em virtude da atribuição causal dos problemas à natureza e à “fatalidade das circunstâncias”, no que se resume todo o teor histórico da crise subjetiva tematizada. Embora Messeder Pereira concluísse que a produção cultural que se seguiu ao florescimento dos anos 60 não significasse vazio ou alienação, mas o aparecimento de novas questões, perplexidades e contradições, que redefiniam o papel da intelectualidade, sobretudo no que se refere à noção de atuação política, que agora se delimitava com mais precisão, a seu ver – “perdia-se em grandes ambições mas ganhava-se em profundidade e complexidade”61 –, em boa parte dessa nova poesia as perplexidades e contradições sobrepujavam e subsumiam um possível aprofundamento. No âmbito da prosa, por sua vez, foi somente na virada dos anos 70 para os 80 que algumas raras narrativas foram capazes de se aproximar melhor da questão, ainda assim com muitos senões62. O seguinte trecho de Passagem para o próximo sonho, uma espécie de autobiografia ficcionalizada em que Herbert Daniel relatou sua militância na VPR e seus tempos de exílio, mostra-se elucidativo: Não, não falo apenas das torturas, dos assassinatos, dos desaparecimentos de tantos opositores ao regime. Esta terá sido a parte menor do terror, apenas um aspecto da atividade política da polícia. O caráter policial da política iria remodelar a face do país. Estou falando da catástrofe que tem indícios (estatísticos) na quantidade de acidentes de trabalho, na taxa de mortalidade infantil, na extensão das epidemias, no número de analfabetos e... Certamente o massacre é mensurável, mas não completamente. Como medir a ansiedade dos desempregados, o desespero do que vê o filho morrer faminto, a angústia nos engarrafamentos, a humilhação dos censurados, o ódio dos pedintes? Qual o grau da ignorância dos alfabetizados? Que medida para o desinteresse de cada um no destino coletivo? Que escala usar para a indiferença política? Como medir, nos poros dessa opressão, aquilo que não foi feito, tudo que foi censurado, esmagado por não ter condições de vir a ser? O que poderia ter sido que não foi? Quantos abortos de futuros? Com esses SE não podemos nunca 60 Assinado por “Van Gogh”, no Almanaque Biotônico Vitalidade, n. 1, col.Nuvem Cigana. Apud. MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.279. 61 Ver Retratos de época, p.350. As dificuldades dos relatos ficcionais também darem conta da história brasileira sob a ditadura é analisada por Flora Sussekind em Literatura e vida literária; alguns pontos serão tratados adiante. 62 185 escrever a História, sabe-se, mas a imaginação não se recusa suposições; por isso, até que ponto foi destruído o imaginário Brasil que tantos ousaram sonhar? Lentamente, com graça e mais venenos, o país tornou-se um campo de concentração. Não se trata de uma figura de retórica. O pavor nem sempre é dramático e teatral. Pode ser, como entre nós, funcional, tecnologicamente avançado. Tão puro e cristalino, verdade tão transparente, que se torna invisível. Essa cegueira permite se viver num campo de concentração sem se dar conta.63 Disto se extrai que atores sociais sentiram em sua experiência histórica uma dimensão catastrófica que não foi devidamente assumida como dado cultural nem discutida em amplitude na sociedade brasileira. Na poesia marginal, não obstante a pertinência da crítica, o fato de se decalcar no poema a violência, as confusões e as dores da existência cotidiana, mesmo que de forma desliteralizada e por vezes leviana, revelava um desejo de testemunhar sem recursos à altura de realizá-lo, o que precisa ser considerado. Além disto, entre os próprios poetas marginais havia outras dicções, menos ambíguas e mais lúcidas, interessada em advertir, ainda que sem perder o teor de “curtição” daquela poética, os perigos culturais decorrentes daquele clima anti-intelectual, parecendo compreender, como Benjamin, que nas terríveis experiências históricas proporcionadas pela modernidade os combatentes voltam do campo de batalha “mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos”64. Assim sendo, jogar levianamente autores e filosofias ao mar não é boa prática para quem queira encontrar caminhos e possibilidades, como atesta “Os Filósofos”, do poeta-diplomata Carlos Saldanha, cujo texto habitualmente entremeia uma crítica sutil à brincadeira: [...] Ante as maravilhas da Ciência e do Progresso Tecnológico, Aconteceu que os filósofos, pouco a pouco, com suas idéias vagas, suas caraminholas na cabeça, um após outro, entre chacotas mal disfarçadas, foram sendo jogados ao mar, tichipum, tichipum, por cima do parapeito do convés do Barco do Conhecimento que navega por mares ignotos, levando à proa a orgulhosa máscara de Francis Bacon... Cuidado, Capitão, 63 DANIEL, H. Passagem para o próximo sonho. Um possível romance autocrítico. Rio de Janeiro: Codecri, 1982, p.98-99. Na mesma década, um conjunto de indagações na mesma direção se vislumbrava na canção “À flor da pele/À flor da terra”, uma música com duas letras, de Chico Buarque e Milton Nascimento. 64 BENJAMIN, W. Experiência e pobreza, op.cit., p.114-115. 186 Cuidado... 65 Asfixia: o vazio cheio Uma tal mistura de anti-intelectualismo, adesão problemática ao cotidiano, hedonismo, possível recalque, busca de um entrelugar e desejo de testemunhar um sofrimento social imprecisamente percebido marcou fortemente a poesia dos anos 70, que não permaneceu isenta das tensões produzidas pelas preocupações sociais e políticas. A seu modo, precário que fosse, esta poesia se empenhou em decifrar o Brasil do milagre econômico, como um asmático que quer respirar. Por isso, nem sempre as imagens construídas, embora impregnadas de significação política, vão resultar em um movimento crítico completo, podendo permanecer como uma atitude de “soltar o ar” pesado que se respirara – desabafar, suspirar –, de onde o valor do poema residir mais precisamente na sinceridade ali colocada do que na realização literária, como neste “SOS”, de Chacal66: tem gente morrendo de medo tem gente morrendo de esquistossomose tem gente morrendo de hepatite meningite sifilite tem gente morrendo de fome tem muita gente morrendo por muitas causas nós, que não somos médicos, psiquiatras, nem ao menos bons cristãos, nos dedicamos a salvar pessoas que, como nós, sofrem de um mal misterioso: o sufoco. Ao lado da denúncia das doenças reinantes nos países pobres, que de tão repetidas se tornam esquecidas, como conota a construção enfadonha da primeira estrofe – em que a excessiva repetição do enunciado “tem gente morrendo” banaliza de fato o impacto do horror, exatamente como os números de mortos nas diversas guerras da década, repetidos diariamente no telejornal “Repórter Esso”, da Rede Globo de Televisão, já não produziam espanto –, e a despeito da crença na onipotência salvacionista da poesia, o texto guarda para o desfecho a ênfase na sensação de sufocamento como mais uma das patologias nacionais, cuja 65 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.28. Simon e Dantas falam também da perplexidade de Cacaso com todo este processo, citando uma quadra elucidativa de seu livro Grupo Escolar, de 1974: “Não há na violência/que a linguagem imita/algo da violência/propriamente dita?” O mesmo pode ser dito de Schwarz, Chico Alvim e outros. Cf. SIMON, I. e DANTAS, V. Poesia ruim, sociedade pior. Remate de Males, n.7, Campinas, 1987, p.95108. Publicado originalmente em Novos Estudos CEBRAP, São Paulo:, n.12, jun. 1985, p.48-61. 66 Do livro América. A análise sobre a incompletude crítica é de Cacaso, para quem Chacal realiza melhor uma poesia crítica existencial do que política propriamente. Cf. Tudo da minha terra, op.cit., p.146. 187 especificidade, conferida pelo adjetivo “misterioso”, consiste em seu desconhecimento por parte das ciências ou da religião, mas não da arte. A metáfora do sufoco, de uso corrente na linguagem cotidiana – “estou no maior sufoco”, dizia-se, para significar dificuldades financeiras ou emocionais – não surgira à toa naquela época, nem se restringira ao âmbito da conversação ou do “bate-papo biográficogeracional”67 realizado pela poesia marginal. O discurso historiográfico também veio a utilizá-la para explicar a dinâmica sócio-econômica do período, em que se colhiam os resultados da política econômica da primeira fase do regime militar (1964-67), que havia intentado sanear a economia inflacionada mediante uma recessão calculada, e cujo resultado seria o crescimento surpreendente das taxas de desempenho da economia brasileira entre 1968 e 1974, caracterizando o “milagre” que garantiu grandes lucros às empresas oligopolistas, nacionais e estrangeiras. A expressão “milagre econômico”, já usada na então Alemanha Ocidental e no Japão, nas décadas de 50 e 60, respectivamente, passou a ser utilizada no Brasil nos anos 70 para designar este boom econômico e efetuar propaganda governamental, conjugando condições domésticas e externas favoráveis. Desde o governo Costa e Silva, foram realizadas reformas das políticas fiscal, creditícia e trabalhista, consideradas pela equipe estatal de planejamento econômico como imprescindíveis para garantir a superação do problema inflacionário e os meios adequados para que o setor privado liderasse a retomada do desenvolvimento econômico. Para isto, a estratégia consistiria em eliminar “os fatores que restringiam uma postura ativa do empresariado, cujo dinamismo intrínseco era um postulado da visão que economistas do governo tinham de uma economia de mercado.”68 O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), publicado em dezembro de 1971, pretendia tornar o país em “nação desenvolvida” em uma geração, com taxas de crescimento anual em torno de 7 a 9%, elevando a taxa de investimento bruto para 19% do PIB ao ano, dirigida para os grandes programas de siderurgia, petroquímica, transportes, construção naval, energia elétrica, inclusive nuclear, comunicações e mineração. A vigência disto exigia a presença das grandes empresas estatais, dos créditos da rede de bancos oficiais e um conjunto de incentivos ao setor privado. Em efeito, a riqueza nacional aumentou, a inflação diminuiu, o comércio exterior triplicou, o que foi bastante capitalizado pelo então ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto, produzindo uma certa euforia nos setores de classe média que ganhavam com tais 67 É como Flora Sussekind define a linguagem da poesia marginal. Prado, Luis Carlos D. e Earp, Fabio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional e concentração de renda. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L.N. (org). O tempo da ditadura.... p. 207241. Citação da p. 216. 68 188 condições69. No entanto, este crescimento econômico se realizava sem eqüidade; segundo os economistas de oposição ao regime, a má distribuição de renda era um aspecto estrutural do sistema que alimentava tal dinamismo, sendo mesmo sua condição de possibilidade, e aquele modelo de desenvolvimento não superaria os problemas estruturais que mantinham a economia brasileira no nível subdesenvolvido.70 Do ponto de vista social, político e mesmo econômico, este processo correspondia a uma série de restrições que foram designadas metaforicamente pela imagem da asfixia. A aplicação do liberalismo econômico às custas da liberdade política, resultando em concentração de capitais e renda potencializada pelo Estado, favorecia a institucionalização de preços oligopolistas e resultava no “estrangulamento”71 de pequenas e médias empresas. Por outro lado, ocorria uma virada na política trabalhista, que marcara a chamada Era Vargas, até 1964, interrompendo um período de expansão da presença da classe trabalhadora na vida política e de afirmação de seus direitos, sendo, então, substituída por um brutal aumento da repressão. A política salarial afetava o poder aquisitivo da população trabalhadora; com os tetos e reajustes de salário estabelecidos segundo índices oficiais decretados, o Executivo se transformara na matriz das correções salariais, abolindo o poder de barganha coletiva dos trabalhadores e as negociações entre patrões e empregados. A nova política trabalhista, por sua vez, após expurgos e intervenções sindicais, extinguira o direito de greve, regulamentara o acesso às direções sindicais e buscara angariar adesões para um “novo sindicalismo”, oferecendo vantagens para os sindicalizados na obtenção de casa própria, empregos em empresas públicas etc. Houve também a reestruturação da previdência social, burocratizando as atividades essenciais e retendo os recursos advindos do imposto sindical. Tais medidas contribuíram no incremento das dificuldades no cotidiano dos trabalhadores. Estes se viram impelidos a inventar alternativas para recompor sua renda, recorrendo, por exemplo, à extensão da jornada de trabalho, mediante horas-extras, e à intensificação do trabalho familiar, o que levou ao aumento do contingente de mão-de-obra feminina e infantil, provocando impactos na unidade da família. Contraditoriamente, o efeito desses expedientes foi o rebaixamento do valor da força de trabalho, em decorrência do aumento da oferta. Somese a isto a crescente subordinação do trabalhador à disciplina fabril e às racionalizações administrativas, em virtude da supressão do regime de estabilidade no emprego e de altas 69 É interessante observar a diferença entre esta euforia econômica e o pathos eufórico dos anos 60, de teor basicamente estético e político. 70 Cf. ibidem, passim. Os economistas de oposição mencionados pelos autores eram Celso Furtado e Maria da Conceição Tavares, cf. p.231. 71 Cf. MENDONÇA, S. e FONTES, V. História do Brasil Recente, 1964-1992. São Paulo: Ática, 2001. (Princípios, 152)., p.31. 189 taxas de rotatividade de mão-de-obra. Produzia-se, assim, maior dependência do trabalhador com relação às autoridades patronais, sindicais e previdenciárias. Enfim, vivia-se o “garroteamento da classe trabalhadora”72, expressão que indica a erosão de sua qualidade de vida e o preço social do milagre. Diante disto, “Reflexo condicionado”73, mais um pequeno e irônico poema de Cacaso, propunha tout court: pense rápido: Produto Interno Bruto ou brutal produto interno ? No campo militar, o jogo de relações de poder dentro das Forças Armadas gerou a conjugação de forças da orientação nacionalista e da “linha-dura”, no período 1968-73, permitindo que se desconsiderasse a orientação legalista da Escola Superior de Guerra, resultando na consagração dos poderes de exceção que hipertrofiavam o Executivo e a esfera de ação da comunidade de segurança. Completou-se, assim, a ampliação dos papéis e funções da corporação armada, absorvendo um maior leque de atribuições, com o objetivo de neutralizar as tensões sociais e suprimir o dissenso político. Nesta segunda fase de institucionalização do Estado ditatorial (a primeira havia sido entre 1964 e 67, quando se lançaram as bases do Estado de Segurança Nacional), o aparato repressivo se utilizou também da ampliação dos instrumentos legais, além da prática da coerção. A indefinição normativa, gerando um quadro de expedientes de exceção – os numerosos Atos Institucionais; a Constituição outorgada de 1967; a Emenda Constitucional nº 1, vulgarmente batizada de Constituição de 1969, que incorporou o AI-5 à Carta de 1967 e anulou qualquer sobrevivência liberal possível; o fechamento do Congresso Nacional –, impôs o “garroteamento” das instituições políticas (mais uma vez a metáfora!)74, apontado pela maioria dos autores como necessário ao sucesso do “milagre”. Todavia, a legitimidade era prioritária para o novo grupo no poder que, na busca de definir formas socialmente legitimadas para o regime ditatorial instalado desde 64 – de onde a propaganda, além das acrobacias conceituais nos discurso presidenciais e ministeriais, já comentadas75 –, acirrou ao longo do período a discrepância 72 A síntese das condições de vida dos trabalhadores é realizada por Mendonça e Fontes, op.cit., passim. A expressão que destaco encontra-se na p.27. 73 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.42. 74 Para este parágrafo cf. MENDONÇA e FONTES, idem, p.40-43. Os problemas derivados desse aparato legal serão tratados no cap.7. Aqui se apresenta um quadro geral para que se possa compreender o uso da imagem da asfixia. 75 Ver cap. 3, “No campo das palavras minadas”. A questão da legitimidade pela eficácia será tratada no cap.5. 190 entre os princípios liberais, que regiam a esfera econômico-administrativa, e os princípios autoritários, que regiam a instável esfera legal-política. Reforçava-se, deste modo, uma tendência nada incomum durante as crises políticas brasileiras, em que diante dos impasses, o liberalismo econômico se articula com o autoritarismo político. Ademais, como resultado e premissa deste processo, criou-se uma espécie de distanciamento e relativa autonomia entre a dimensão da economia, da política e da vida cotidiana do cidadão, cuja estranheza não passava desapercebida à esfera da cultura, como acusa este poema de Schwarz: Um reputado economista afirma que assim como veio a ditadura vai. Escuto maravilhado.76 Na verdade, o “vazio cultural”, vindo no bojo de um distanciamento da cultura para com a esfera da política e sua aproximação com a esfera econômica, mostrara-se repleto de questões, indagações, debates, criações artísticas tateantes. Tratava-se de um “vazio cheio”, como diria o próprio Zuenir Ventura em artigo de 1973, no qual revia suas suposições anteriores, tendo em vista a inegável germinação cultural. Em sua reavaliação, considerava a importância de um público relativamente amplo, consumidor regular de cultura (nas grandes cidades e em algumas faixas da população, que fosse) e de uma estrutura de produção cultural (empresários, produtores, editores, autores) que mantinham as atividades intelectuais e artísticas funcionando e que não podiam desmontar-se sob pena de graves efeitos sociais e econômicos. Deste modo, o vazio era preenchido, porém não propriamente com soluções para a “crise da cultura”, então marcada pela “falta de tendências coletivas ou movimentos” efetivos, mas com tentativas de saída para os impasses da criação77 ou caminhos que se esboçavam no meio da “dispersão geral”, que ele qualificava em três tipos: a saída comercial, da cultura de entretenimento de massas, que sintomaticamente era a forma favorita de preenchimento do vazio pelo grande público (sobretudo em virtude do erotismo e da pornografia); a saída intelectual, preocupada em pensar os problemas com base nas ciências humanas; e, entre as duas, a “saída subterrânea” contracultural de jovens poetas, compositores, cineastas, que utilizavam desde os meios mais artesanais de produção e 76 Roberto Schwarz, sem título, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.90. Trata-se do artigo “A falta de ar”, na revista Visão, agosto de 1973, trazendo sete depoimentos de personalidades de diversas áreas culturais: Érico Veríssimo, Chico Buarque de Hollanda, Alceu Amoroso Lima, Joaquim Pedro de Andrade, Gianfrancesco Guarnieri, Fernando Henrique Cardoso, Júlio de Mesquita Neto. Note-se que os artigos de Ventura estão reunidos no início da coletânea sob o título “Impasses da criação”, Cf. GASPARI, E. HOLLANDA, H.B. e VENTURA, Z., op.cit., p.52-85, para todo este parágrafo. 77 191 comunicação até a mais moderna tecnologia para driblar os canais tradicionais de distribuição e comercialização que estavam vedados, tendendo também ao individualismo e menor envolvimento com a realidade social imediata, de onde o “desbunde”. Esses artistas tidos como malditos, “mais pelo que aparentam do que pelo que produzem”, deixariam para a cultura brasileira mais provavelmente uma atitude do que uma obra artística, pois em seu protesto geral que englobava tudo que fosse estabelecido, a cultura, a história, a política, a desumanização, a poluição, a moral etc., propunham novas posturas diante da vida que podiam até ser velhas formas recuperadas, como o misticismo oriental ou a volta rousseauniana à natureza. A contracultura criava uma atmosfera evasiva mas bastante difundida socialmente; sua contribuição, vaticinava Ventura, talvez residisse mais na atmosfera do que em produtos estéticos singulares... O vazio-cheio é uma boa imagem para explicar a metáfora asmática da “falta de ar”, cujo mal-estar advém na verdade de um excesso mal processado, e não de uma ausência propriamente. Neste sentido, as críticas ao vazio cultural do início da década, bem como à desqualificação da criação poética que se seguiu indicavam os sintomas de um processo de asfixia social que a “poesia do sufoco” – a adjetivação muitas vezes repetida por Hollanda não era fortuita – tentava em alguma medida documentar ou testemunhar. Carlos Fico lembra que no dia seguinte à edição do AI-5, portanto em 14 de dezembro de 1968, o box em que normalmente se publicava a previsão do tempo na primeira página do Jornal do Brasil surpreendeu o público com uma informação metafórica: “Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máx. 38°, em Brasília. Mín.: 5° nas Laranjeiras.”78 A sensação de um contexto asfixiante, que marcou toda a década de 70, radica na combinação de uma esfera política autoritária-repressiva com um processo de consolidação da ordem burguesa, resultando no estreitamento do modo de existência à vida privada, mas uma vida privada que também é crescentemente atingida por dinamismos corruptores das relações humanas, uma vez que a concorrência e o particularismo dos interesses se expandem, imprimindo o caráter individual, a família, as associações sociais diversas com a lógica do direito de propriedade. Adorno sempre sublinha o quanto isto afeta o processo de subjetivação e formação social, posto que “o olhar voltado para possíveis vantagens é o inimigo mortal da 78 FICO, C. Dos Anos de chumbo à globalização. In: Pereira, P.R. (org). Brasiliana da Biblioteca Nacional. Guia de fontes sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional/Nova Fronteira, 2001, p.349-365. O box está reproduzido na p.357. 192 formação de relações compatíveis com a dignidade humana.”79 Assim, o mundo da experiência vai-se tornando, mais que privado, privativo, dominado pelas relações de poder e pelo interesse pessoal, asfixiando o próprio âmbito privado que restara do fechamento político. Além disto, o desenvolvimento técnico afeta também o pensamento, que para se legitimar tende a se submeter ao controle social do desempenho, perdendo sua complexão para se converter em solução de tarefas designadas, e não mais em um pensar em si, autônomo, livre de qualquer esquema de tarefa a cumprir. À medida que o pensar se torna, então, um treinamento, um exercício, sua forma é instrumentalizada por ingerências pragmáticas e a consciência, modelada de antemão pelas necessidades sociais – as quais, vale repetir, estão perpassadas pela lógica burguesa, pelo fetichismo da mercadoria e pela tecnificação –, vê se obstaculizar sua relação com o real a ser pensado, o que atinge inclusive os intelectuais de oposição, provocando uma sensação geral de sufocamento na produção intelectual. A relação vazio-asfixia apontava, deste modo, para a possibilidade de uma derrota mais profunda, para além do âmbito político, dos movimentos sociais e culturais, incluindo a nova esquerda, que haviam tentado transformar as relações privadas, sexuais, familiares, profissionais, enfim, todo o modo de pensar e viver da ordem burguesa nos anos 60, mediante uma proposta de revolução cultural. O poema de Adauto, “A pombinha e o urbanóide”80, trazia indícios dessa derrocada e a recolocava nos termos de uma inusitada dialética de localismo popular e cosmopolitismo: [...] e o exterior é uma paisagem estranha onde está a New-Left, pombinha? ao café lendo meus poetas preferidos me pergunto a razão de tudo isso pombinha, a guerrilha humana ou a anarquia geral salvariam o povo mas antes era preciso organizar um imenso carnaval invocarmos as divindades populares Y botar uma BUMBA-meu-BRECHT na rua o sufoco acabaria, pombinha [...] Neste quadro, a sensação de esvaziamento adquire uma cintilância a mais. Consoante algumas correntes psicanalíticas, o vazio significa um espaço existente entre o sujeito e o objeto-mundo, necessário à individuação e condição do desejo por definição, como uma falha constitutiva e passível de significação, que pode induzir à criatividade tanto quanto ao nada irrepresentável. Trata-se da brecha que mobiliza a dor psíquica “em suas diversas formas: 79 80 ADORNO, op.cit., p.27. Os aforismas 13 e 126 (p.172-173) estão na base da reflexão deste parágrafo. In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.248-249. 193 angústia, luto, depressão, melancolia, inibição, insegurança, impotência, fracasso, desespero, despedaçamento, sensação de futilidade no sentimento de existir.”81 Segundo os estudos freudianos, o vazio se relaciona em geral às experiências de perda, sendo provocado pela falta ou possibilidade dela. Enquanto a angústia se liga à ameaça da perda, às vivências de frustração e impotências relativas ao próprio desejo, a ausência do luto inacabado cede ao vazio depressivo ou ao nada melancólico. É somente por meio de uma duração, um tempo de luto, que o vazio pode tornar-se um espaço de ausência, necessário à reorganização interior dos sujeitos. Neste sentido, o que foi percebido como vazio cultural no início dos anos 70 indicava uma experiência dolorosa de luto social irrealizado, e de difícil realização no país do carnaval, onde a palavra de ordem é “levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”, como pregava uma velha canção. Seguir adiante, com o ar da dor preso no peito, em meio a uma atmosfera irrespirável, consistia no substrato sócio-psíquico e histórico da metáfora da asfixia. Tudo isto subjaz, latejante, à intenção crescente de resistência política democrática, que se configurava aos poucos, na arte e na intelectualidade, não sem inúmeras contradições e ambigüidades. A partir daqueles anos de 1973/74, começaria a se delinear um novo momento da produção poética e de sua relação com a esfera pública, que chegaria a um verdadeiro boom de todo o campo literário em torno de 1975. Seguir-se-iam os passos do surto poético precedente, que não caracterizara propriamente um movimento, mas a proliferação de tendências heterogêneas tendo em comum a idéia da poesia como forma de resistência (sua eficácia é outra história) ao “sufoco” do momento, quando se tratava, nas palavras da poeta Alice Ruiz82, de dizer não tantas vezes até formar um nome. 81 DA POIAN, C. A psicanálise, o sujeito e o vazio contemporâneo., op.cit., p.9-10, para estas reflexões sobre vazio e luto. 82 In: HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia Jovem Anos 70, p.5. Alice Ruiz, pouco conhecida à época, foi mulher de Paulo Leminski e pertence ao grupo das poetas responsáveis pela afirmação da voz feminina, que se tornará mais reconhecida no início dos anos 80. 5. Vozes Sufocadas II: Entre eficiência e resistência: de dedo em pé, de mão-em-mão... (1974-1977) quem teve a mão decepada levante o dedo (Nicolas Behr) O ato de “levantar o dedo”, naquele contexto, implicava muitas coisas. “Num quadro de terror e crise, os anos 70 progressivamente vão-se definindo como a década do medo, da sáude, da competência e da qualidade técnica”1. Após o acirramento da violência de Estado, sendo impossível ao mesmo retomar a “normalidade” pela recomposição de uma ordem constitucional tão partida e de uma ordem social que só se mantinha com mão de ferro, sua tendência foi condicionar a legitimidade do governo ao grau de eficiência na esfera econômica e financeira, tendo como suporte o “milagre” do período. Aquilo que se denominou “legitimação pela eficácia”, como estratégia do “milagre” econômico, deslocara-se definitivamente durante o governo Médici da esfera política para a econômica: nas palavras de Prado e Earp, “a idéia de que estava em processo a construção de um ‘Brasil Potência’ passou a constituir a base da propaganda do governo e o fundamento de sua legitimidade.”2 Diferentemente de outros países que optavam por uma ordem liberal, como a Argentina, esta idéia de legitimação pela eficácia derivava da concepção positivista vigente no imaginário dos militares, e seus aliados, desde os primórdios da República, acrescida pelo nacionalismo das Forças Armadas. A despeito das controvérsias irresolvidas entre os economistas acerca da concentração de renda no período, afirmam os autores, esta necessidade de crescimento conduzido a todo custo não respeitou limites, tais como preocupações com eqüidade ou melhoria das condições de vida da população, salvo quando isto afetava diretamente a segurança do regime. A estratégia estatal consistia em enfatizar dados técnicos, dizem Mendonça e Fontes, criando um novo quadro de referências e uma nova linguagem, despolitizadores das informações governamentais. Promovia-se a “eficiência” e a “racionalidade” como critérios de seletividade. A legitimidade política seria construída em torno do termo desenvolvimento, através da ampla divulgação dos êxitos econômicos do regime e do fomento da popularidade 1 HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia Jovem Anos 70 (Literatura Comentada), p.104. PRADO, L.C.D. e EARP, F.S. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional e concentração de renda. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L.N. (org). O tempo da ditadura.... p.228; ver também 2 p.234. A expressão “legitimação pela eficácia” foi cunhada por Roberto Campos que, junto com Delfim Neto, entre outros, foram mentores do I PND propulsionador do milagre econômico. Cf. p.220-221. 195 do presidente, ambos mediante a propaganda oficial. Esta foi capaz de seduzir boa parcela, senão a maior parte, da população, que se deslumbrava com as conquistas do Brasil como promissora potência do futuro, perdendo “a sedução pelo debate político, marginalizando-se dele.”3 Daniel Aarão Reis traz a imagem da Górgona – em cujos olhos não se pode olhar, sob pena de se restar petrificado – para falar da estupefação e alijamento daqueles que não participavam diretamente da política: a sociedade, diz ele, “assistiu medusada a todo este processo”, como uma platéia sob forte impacto.4 Em decorrência, estas parcelas da população marginalizavam-se também – e aqui o sentido de marginalização é distinto da postura contracultural – dos debates estéticos e da rica experiência, subjetiva e social simultaneamente, de criar e assistir arte. No plano do comportamento juvenil, sobretudo nas classes médias, dizem Hollanda e Messeder Pereira, predominava a “volta sobre si mesmo” por parte dos indivíduos, traduzindo-se na moda do surf, do cooper, do disco music, do neonaturalismo: ar livre, alimentação natural, terapias sexuais, religiões orientais etc. Tendendo a ser acomodado e conservador, o jovem-médio dos anos 70 privilegiava a saúde e o “embalo”5 aos esforços físicos e intelectuais da participação estética e política. A tecnologia da “pasteurização” se tornava mais uma metáfora do momento cultural. Além do mais, primava no meio cultural, o mesmo tipo de associação políticoeconômica entre eficácia, deslumbre, controle e despolitização, no qual a eficiência, seja financeira, administrativa ou comunicativa, também se constituía crescentemente como parâmetro legitimador, desde a criação até a divulgação e o consumo de produtos culturais. Neste sentido, é interessante pensar de que maneira se dá a relação entre eficiência e despolitização da poesia, ou seja, indagar se, uma vez legada à ineficiência mercadológica, a poesia se rende à ineficiência política ou justamente a supera; se deslumbra-se com a possibilidade de se modernizar e ganhar espaço no mercado cultural ou investe em uma lógica própria e isenta; se passa a buscar eficiência pelo trabalho de lapidação formal ou não, e em caso afirmativo, se isto significa um auto-aprimoramento, sinal de autonomia do campo poético, ou contrariamente um recurso para melhor aceitação pelo público crítico e/ou consumidor; e, enfim, indagar como a poesia manifesta e trata da experiência histórica. Estas 3 4 MENDONÇA, S. e FONTES, V. História do Brasil Recente, 1964-1992, p.50. Cf. AARÃO REIS, D. Ditadura militar, esquerdas e sociedade, p.52. Cabe notar que embora o autor compare esta assistência a uma platéia de jogo de futebol, numa conjugação tão comum à época, creio que a imagem resgatada traduz o impacto imobilizante e traumático de quem vê o horror nos olhos de Medusa. O tema será retomado adiante. 5 HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia Jovem Anos 70, p.103. 196 questões perpassavam toda a discussão dos críticos sobre a arte no país, ao longo daquele decênio. 5.1. Lamento e crise do “milagre” Em artigo de 1974, Zuenir Ventura sublinhava a presença do lamento como componente da expressão artística naquele momento. Desde 1968, diz ele, a arte havia perdido sucessivamente a ilusão, a inocência e a vontade. Havendo descoberto aos poucos sua impotência, a cultura “desceu ao mais profundo de sua angústia, alternando durante o trajeto crises de depressão, acessos de euforia, abulia e resistência”, criando nestes movimentos metáforas cada vez mais sutis. Um novo tema se introduziu, então, no mundo artístico: “a autolamentação. Já que não é permitido discutir e protestar, lamenta-se”.6 O texto “Poema”, de Afonso Henriques Neto é exemplar, pois que no próprio título está dado o sentido do que se dirá, ou seja, o que significava fazer poesia então: A paisagem não vale a pena. Pesa dizê-lo tão duramente, [...] Já não vale a pena a manhã. [...] A noite não significa mais nada. As casas dormem e não significam nada. O vento cortou-se em mil fatias de desespero. Que dimensão canta além da treva, A face repousada, os olhos claros?7 Os últimos versos, parecendo ecoar ao longe a voz de Cecília Meireles, traduziam a pergunta de todos. Afonso Henriques certamente dialogava também com o título do livro de poemas de Thiago de Melo, Faz escuro mas eu canto, publicado nos anos 60 e muito criticado8 por seu engajamento excessivamente retórico e fácil, mas de grande circulação: como se canta, porém, na escuridão? A pergunta é muito próxima ao impasse levantado por Adorno a respeito das possibilidades da arte poética após as catástrofes do século XX.9 O problema, de difícil solução como uma indagação esfíngica, deu grande trabalho a críticos e poetas e gerou numerosos ensaios. Talvez o lamento seja a (única?) maneira encontrada pelos 6 VENTURA, Z. Da ilusão do poder a uma nova esperança, publicado originalmente na revista Visão, mar. 1974. In: GASPARI, E. HOLLANDA, H.B. e VENTURA, Z. 70/80 Cultura em Trânsito:..., p.100 e 105, respectivamente. 7 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.116. O poema pertence ao segundo livro do autor, Restos & estrelas & fraturas. 8 Ver, p.ex., “Poesia comprometida” (Opinião, 14 nov. 1975) e “Engajamento e retórica” (Veja, 16 set. 1981), artigos de Cacaso reproduzidos em Não Quero Prosa, p.121-122 e 123-127 respectivamente. 9 “escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de porque hoje se tornou impossível escrever poemas.” ADORNO, T. Crítica cultural e sociedade. In: Prismas, São Paulo: Ática, 1998, p.26. Este tema e sua discussão bibliográfica estão desenvolvidos no cap.7. 197 poetas para exercer sua arte sob um tempo em que as trevas impedem ao homem a possibilidade de dar significação à existência. Uma arte lamentosa significa, no mínimo, uma arte de dolorosas contradições, jamais de rendição ou fácil transformação de suas posturas éticas e políticas. “O mergulho nas trevas do lamento e da impotência”, segue Ventura, “foi tão profundo que alguns se perderam pelos subterrâneos, ficaram à margem ou escolheram as viagens permanentes [enquanto outros] estão voltando a querer, isto é, estão recuperando a vontade para voltar a fazer – apesar de tudo.”10 Um dos maiores expoentes da vontade de fazer poesia, como se verá, Cacaso defendia vigorosamente a importância deste gesto à revelia de tudo. Seus poemas mostram um autor especialmente atento a seu contexto, por vezes prenunciador: em “Jogos Florais I”, por exemplo, os versos manifestavam um sentimento que todavia era ainda pouco lapidado socialmente na época: Minha terra tem palmeiras onde canta o tico-tico. Enquanto isso o sabiá Vive comendo o meu fubá. Ficou moderno o Brasil ficou moderno o milagre: a água já não vira vinho, vira direto vinagre.11 Partindo da referência metalingüística à “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, como é comum entre nossos poetas para gerar imagens de brasilidade12, o poema estabelece uma inversão entre o lugar ocupado pelo tico-tico e pelo sabiá na cultura brasileira – o sabiá cantaria nas palmeiras e o tico-tico comeria o fubá, segundo o poema fundador e a canção popular, respectivamente –, de modo a preparar a imagem do Brasil moderno como um país de inversões: mui rimada e coloquialmente, a segunda estrofe afirma não ser possível usufruir as benesses da modernização (o vinho), pois as contradições do processo de desenvolvimento no país (o “milagre” econômico) eram tão imensas que a deterioração (o vinagre) se fazia sentir antes dos proveitos. Aarão Reis comenta o quanto o pensamento da esquerda ativista dos anos 60 – cujas avaliações conjunturais eram orientadas pelas percepções anteriores ao golpe civil-militar de 64, mantendo-se até a derrota da luta armada em 1972-73 – havia-se enganado ao supor que o 10 11 VENTURA, ibidem. In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.41. O poema pertence ao livro Grupo Escolar, de 1974. A obra poética de Cacaso encontra-se reunida em Lero-Lero [1967-1985], Rio de Janeiro/São Paulo: 7Letras/Cosac&Naif, 2002. 12 Ver na Introdução a breve menção aos trabalhos que desenvolvem este tema, considerando tal poema como texto fundador de uma tradição literária que dialoga com o imaginário nacional com base nas imagens de natureza, exílio e especificidade da língua. 198 Brasil permanecia um país dividido polarmente entre o atrasado/arcaico/favorável à ditadura e o moderno/progresso/partidário da democracia, deixando de perceber que “à sombra desta derrota [das esquerdas], e sob as asas de terror do AI-5, construiu-se um país próspero e dinâmico”. Ainda que se possa questionar o significado dessa “prosperidade” e sua distribuição social, o fato é que a ditadura e seus produtos se transformaram em poderosos fatores de modernização; apoiado por um conjunto de medidas estatais, o capitalismo brasileiro havia dado um gigantesco salto à frente. Deste modo, nos anos de chumbo conviviam os que afundavam nas areias movediças (mais uma metáfora!) e os que emergiam – setores consideráveis das classes médias, funcionários públicos, trabalhadores autônomos, operários qualificados –, “desenraizados, em busca de referências, querendo aderir” àquele processo, prenhes de “fantasias esfuziantes”.13 Contudo, parece que para além das ilusões, algo de insuportável nas inúmeras disjunções deste processo de modernização conservadora se fazia sentir. É sintomático que esta expressão já consagrada na histografia brasileira seja uma contradição em termos, revelando um conjunto de forças cujos vetores apontam em direções contrárias. Antes que se pudesse apreender melhor o que estava em jogo, as antenas da poesia o apontavam, indicando, com a imagem do processo avinagrado, que a situação era problemática e acompanhada de mal-estar. A sensibilidade poética anunciava um esgotamento social e se costurava à crise do milagre que entrava em cena. A partir de 1973, o enterro do acordo de Bretton-Woods pelo governo Nixon e a falência da tentativa de se manter uma cooperação financeira internacional, somados à chamada crise do petróleo, em que o preço do produto quadruplicou em decorrência de um conflito árabe-israelense, levavam ao surgimento de uma nova ordem na economia mundial. Esta, baseada em taxas de câmbio flutuantes e maior instabilidade financeira, marcava o fim de período de vinte e cinco anos de crescimento econômico do pósguerra e o início e um novo, e longo, período em que a economia mundial se manteria bastante hostil ao crescimento de países em desenvolvimento, como era o caso do Brasil14. A alteração do panorama econômico internacional veio afetar (além de funcionar como álibi para o regime) a situação do país, onde se instaurou então um duplo impasse, ou seja, o “milagre” se exauria em decorrência de numerosas contradições internas e externas, e, conseqüentemente, com a queda das altas taxas do crescimento econômico, o regime político perdia a precária base de legitimidade popular que conquistara às custas da eficiência 13 14 AARÃO REIS, op.cit., p.54-62; citações nas p.54 e 61, respectivamente. As informações gerais que se seguem sobre a crise do milagre econômico derivam de PRADO e EARP, op.cit., p.233-234. E também MENDONÇA e FONTES, op.cit., passim. 199 econômica agora em deterioração. Entre 1975 e 1976, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) significou um esforço do governo para reordenar as prioridades do crescimento brasileiro, postergando temporariamente a recessão e promovendo a segunda impulsão da dívida externa. Isto, contudo, obscureceu de imediato a dependência do regime militar dos êxitos econômicos para sua legitimação e os problemas reais para concretização do II PND. A luta pelos recursos governamentais mostrou que estava em jogo uma redefinição da correlação de forças dentro do poder, e, uma vez expostas as contradições no seio das classes dominantes, cuja acomodação era condição essencial para o sucesso das políticas econômicas do governo, rompeu-se o pacto de dominação em vigor nos anos do milagre e sobreveio à economia uma névoa de indefinição15. Assim, entrava em crise o “milagre brasileiro”, marcando a conjuntura pós-74 com fim da euforia econômica e a busca de novas alternativas para a economia e para a legitimação política. Por outro lado, a derrocada do “milagre” não podia ser superada por novo arrocho salarial, posto que naqueles anos os salários estavam ainda mais aviltados – em 1974 o salário mínimo atingiu seu nível mais baixo em relação ao valor estabelecido em 1940 – e os trabalhadores se encontravam exaustos. Mal remuneradas e mal alimentadas, segregadas espacialmente em loteamentos periféricos irregulares e favelas, sem saneamento básico e escolas, pessimamente abastecidas por serviços de iluminação e transporte urbano de massas, as camadas populares atingiam o limite físico da resistência; a subnutrição, os acidentes de trabalho e as epidemias, como a meningite, que começou a grassar em 1974 atingindo as demais classes sociais, provocavam intensa comoção social, a despeito da censura às informações divulgadas. A esperança de vida do brasileiro crescia na proporção inversa da concentração de renda... A falta de canais de reivindicação piorava a situação: sindicatos sob intervenção, prisões repletas, greves proibidas, partidos manipulados, detenções arbitrárias e muitos exílios16. A vida material deteriorada, a falta de saúde, direitos e liberdade adensavam a atmosfera de medo e precariedade, fazendo-a atingir a densidade do chumbo17 propiciadora da metáfora mais utilizada para caracterizar a década. Embora, ou justamente porque a censura proibia que se falasse em recessão, o ano de 1974 mereceu atenção da poesia, que o registrou em tons pesados: “[...] A verdade é que vivo 15 Os setores prejudicados ou beneficiados pelos cortes de verbas e reordenamentos econômicos se alinharam e explicitaram suas divergências, dificultando a implementação das novas medidas econômicas, de modo que se tornava inviável conciliar, naquela conjuntura, o padrão de acumulação com a preservação das taxas de crescimento. Cf. MENDONÇA e FONTES, op.cit., p.57-62. 16 Cf. Idem, p.68-70. 17 Os anos de chumbo é o título de um filme alemão de Margareth von Trotta que inspirou aplicação desta imagem ao Brasil. Cf. HABERT, N. A década de 70, apogeu e crise da ditadura militar brasileira. São Paulo: Ática, 2003. p.11. 200 a mil/sonhando a morte em azul-anil (Isabel Câmara,“Dezenove do oito de mil novecentos e setenta & quatro”). Também João Carlos Pádua, em dois poemas da mesma data, frisava a circunstância, colocando-a em relação com os tempos da escravidão e da 1ª Guerra Mundial, mediante o diálogo intertextual com Castro Alves e Drummond, o que amplificava a ressonância dos sentimentos de angústia expressos em relação ao país: [...] O mundo finaliza Reparto contudo o que habitamos Neste território escrachado Que não é mundo É fim de mundo [...] [...] Aonde a terra que talhamos livre? São os mesmos mortos poeirentos lívidos Que o cavalo pisa O povo grita O tirano passa – um rei de bronze na deserta praça –18 Não tardou que a reação popular mostrasse seus primeiros sinais, entre 1974 e 1976, com violentos quebra-quebras de ônibus e trens no Rio de Janeiro e São Paulo, seguidos de motins de operários da construção civil no Rio de Janeiro em 1977, destruindo alojamentos e cantinas. A vitória um tanto inesperada do partido de oposição (MDB) nas eleições de 1974 mudava as feições da oposição, que deixava de ser meramente “consentida”, como se dizia, para se tornar “escolhida”. Aos poucos, ressurgia o espaço político-partidário, para o quê também contribuiu a mobilização interna nas Forças Armadas em torno da nova sucessão presidencial, revigorando a corrente liberal que apoiava o general Ernesto Geisel. No âmbito militar, as pressões e contrapressões internas às Forças Armadas culminaram por oferecer a alternativa da abertura política como uma possibilidade de solução. No entanto, provocava uma polarização interna entre a comunidade de segurança, favorável à repressão, e o grupo preocupado com a recondução da instituição ao desempenho de seus papéis constitucionais. Estes buscaram, então, uma “caixa-de-ressonância” na sociedade civil, o que deu o tom e o ritmo, lento e gradual, da política de distensão, que com muitas idas-e-vindas se definiu entre 1974-1984, nos governos Geisel e Figueiredo, quando se estabeleceram estruturas mais permanentes e flexíveis de poder, a despeito de ainda vigorarem práticas de tortura e extermínio, como atestam as mortes “por suicídio” no DOI-CODI de São Paulo do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho, em meados dos anos 70. Este processo, porém, além da desmobilização progressiva dos grupos militares mais resistentes à “abertura”, permitiu o fortalecimento da idéia de que oposição e dissenso constituem matéria 18 Respectivamente: “1974 (desentranhado do poema 1914 de Carlos Drummond de Andrade)” e “A Revisão dos Mortos (desentranhado d’A Visão dos Mortos de Castro Alves)” datado de 20 de julho de 1974, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.164-165. O verso de Isabel Câmara consta no mesmo livro, p.209. 201 política, e não de segurança19. Abriu-se espaço para uma mudança política significativa, que simultaneamente repercutiu em e recebeu influxos da área cultural. 5.2. Efeitos da Política Nacional de Cultura: da serventia à revelia Uma das atitudes desta nova orientação do Estado, em busca de ressonância social, foi sem dúvida a reformulação das agências estatais de cultura, como parte da Política Nacional de Cultura (PNC), elaborada pelo ministro Ney Braga e pelo Conselho Federal de Cultura do 20 MEC e divulgada em 1975, sob o governo Geisel . Renato Ortiz refuta a hipótese, porém, de que esta busca de ressonância signifique propriamente uma busca de novas bases de apoio entre as classes médias: não que fosse implausível o Estado tentar um reequilíbrio das relações de forças pela via da cultura, mas porque é visível que o interesse estatal na área, com base da ideologia da segurança nacional, datava do início da ditadura. Desde o golpe de 1964, uma série de leis, portarias e decretos disciplinavam os produtores, a produção e a distribuição dos bens culturais, normatizando-os. A partir de 1975, o Estado dava um passo a mais, não apenas reprimindo e regulamentando, mas fornecendo programas para a intelectualidade e se pondo como árbitro privilegiado das questões culturais, chamando para si a função de julgar o que interessa ou não. O governo Geisel tentava superar a retórica a que ficara relegado o discurso de “humanização do desenvolvimento” dos governos anteriores, buscando maior concretização mediante políticas de distribuição indireta de bens culturais, aproveitando a atmosfera otimista que rodeava o II PND. A despeito da marginalização econômica e cultural de parcelas das classes mais pobres, a expansão do mercado de bens simbólicos no país era expressiva o suficiente para consolidar as indústrias da cultura e reorganizar a política estatal para o setor.21 Assim, considerando que o desenvolvimento não tem natureza apenas econômica, mas também cultural, da qual todos os cidadãos devem participar, a PNC objetivava “preservar a identidade” e os “genuínos valores histórico-sociais e espirituais” do homem brasileiro, definido como “democrata por formação e espírito cristão, amante da liberdade e da autonomia”. Para isto, seria preciso guardar a tradição e a memória, mediante a conservação 19 Cf. MENDONÇA e FONTES, idem, p.74. Para as discussões que se seguem sobre a PNC, ver HOLLANDA e GONÇALVES, Cultura e participação nos anos 60, p.98; HOLLANDA e GONÇALVES. A ficção da realidade brasileira. In: NOVAES, A. (org). Anos 70: ainda sob a tempestade, p.111-112; SUSSEKIND, F. Literatura e vida literária, p.37-44; e sobretudo ORTIZ, R. Estado autoritário e cultura, in: Cultura brasileira e identidade nacional, passim. As citações pertencem ao documento oficial, reproduzido parcialmente pelos autores. 21 ORTIZ, idem, p.85-87. 20 202 dos “símbolos culturais de nossa história” e a “revalidação do patrimônio histórico e científico brasileiro”, o que requeria investir no potencial criativo do país, capacitando recursos humanos para a área cultural, e investir na difusão e integração da cultura, senão se correria “o indiscutível risco para a preservação da personalidade brasileira e, portanto, para a segurança nacional”. Portanto, avaliando a política de cultura como “área de recobrimento”, entrelaçada às políticas de segurança e desenvolvimento, o Estado tem um papel a cumprir, cabendo-lhe “estimular as concorrências qualitativas entre as fontes de produção”, mas se precavendo “contra certos males”, como “o culto à novidade” e o “excesso de produção”, que, segundo o texto, são característicos de países em desenvolvimento, “devido à comunicação de massa e à imitação dos povos desenvolvidos”. Traduzindo em miúdos, como na prática não havia mais organicidade das idéias tradicionais assumidas pelo Conselho Federal de Cultura no período anterior, cujos intelectuais não haviam sido capazes de elaborar uma política cultural de fato – uma vez que no contexto de desenvolvimento capitalista, o Estado se colocara como promotor de racionalidade e planejamento técnico, incompatível com o pensamento tradicional, como já observado22 –, tratava-se agora de recorrer a um novo tipo de intelectual, de perfil administrativo, para uma real consolidação política e ideológica no campo da cultura. Uma nova geração de intelectuais, pós-graduados nos EUA, substitui a geração mais velha, de formação bacharelesca, ensaística e nacionalista, na composição da burocracia estatal. Mantendo a bricolagem de idéias segundo as conveniências do Estado, esses intelectuaisadministradores, como mostra Ortiz23, atenderiam às demandas de modernização da cultura e adequariam a política estatal ao formato do mercado, apoiados em convicções de que uma política cultural bem orientada poderia gerar investimento de capital a curto e médio prazos. Em poucos termos, toda a problemática da relação entre desenvolvimento e cultura, que sacudira o país nos anos 60, era pretensamente resolvida pelo acesso ao consumo de bens culturais. Deste modo, a política cultural proposta, em nome da democratização ou acesso popular à cultura, rejeitava a tese de que os benefícios da atividade criadora fossem privilégio das elites, cabendo ao Estado incentivar sua difusão e consumo. Nesta concepção, o Estado seria democrático à medida que abrisse canais de distribuição e consumo, sendo este transformado 22 Cf. cap.3, no qual esta discussão foi feita. 23 ORTIZ, idem, p.108. 203 em índice de avaliação da própria política cultural24. Associava-se deste modo quantidade/consumo/democratização em oposição à qualidade/elitismo, definindo-se ideologicamente o acesso à cultura mercantilizada como termômetro para o grau de “democratização” e “desenvolvimento” da sociedade brasileira, argumento este que transfigura e deforma a relação entre meios e fins do processo cultural (o que terá sérias repercussões, que se estendem até hoje), além de transferir para a sociedade – os criadores de arte “de elite” – o caráter antidemocrático sobre o qual a PNC se erigia, escondendo sua filiação ditatorial. Paralelamente, portanto, era vital que se fortalecesse a indústria cultural, o que ocorreria com apoio estatal, posto que o Estado se definia como facilitador e concessionário, especialmente na área de telecomunicações, como um dos setores privilegiados pela doutrina de segurança nacional, com destaque para a Rede Globo, que obteve uma série de benefícios naquele momento. No que tange à cultura popular, a política de turismo a mercantilizava, dirigindo a organização da arte das classes mais pobres para a produção de objetos folclóricos a serem comprados e vendidos. Além disso, criou-se uma espécie de divisão de trabalho, mas não oposição, entre a cultura de massas e a “cultura artística”, sendo esta atendida preferencialmente pelo Estado – que investia mais no teatro (Serviço Nacional de Teatro SNT), no livro didático (Instituto Nacional do Livro - INL) e no folclore e artes em geral (Fundação Nacional de Arte - Funarte), legando os meios de comunicação de massa às empresas privadas. Ao lado de uma política de estímulos aos cursos universitários de pósgraduação, visando ao desenvolvimento científico-tecnológico autônomo, a Funarte, a Embrafilme, o Instituo Nacional de Artes Cênicas (Inacen), os patrocínios e concursos literários, junto às multinacionais fonográficas, as redes de televisão e as agências de publicidade, passaram a absorver boa parte da produção intelectual e artística do país. Em torno de 1975 se viu também uma grande dinamização do mercado de livros, com novos autores e relançamentos. Houve uma espécie de boom da literatura de ficção25, com afirmação da indústria editorial, cuja produção se estabiliza com grande número de autores médios e obras de todo o país, além dos best-sellers internacionais. Perscrutando os motivos da proeminência literária neste momento, Hollanda e Gonçalves concluem pela autonomia 24 Renato Ortiz cita trecho do documento Bases para uma Política Nacional Integrada de Cultura MEC/SEAC: “O rendimento de uma política cultural se mede pelo aumento do índice de consumo e não pelo volume de iniciativas”. Cf. ORTIZ, R., idem, p.116. Para o teor ideológico deste discurso, cf. p.115-117. 25 Mas não apenas: a movimentação editorial incluía a expansão da imprensa, com aumento do público leitor/tiragem. Ortiz menciona também o crescimento da indústria do disco e do público espectador de filmes. Idem, p.83-84. Para a discussão do boom da literatura, ver HOLLANDA e GONÇALVES, A ficção da realidade brasileira., op.cit., p.113 e 125. Entre as diversas entrevistas tratando do assunto, destacam-se as respostas de Julio César Monteiro Martins, p.154, aqui aproveitadas. 204 relativa da literatura ante a censura e o financiamento estatal, uma vez que era uma arte mais barata e não se constituía em veículo de massas. De mais a mais, as editoras pareciam haver percebido a existência de um público leitor potencial, passível de ser arregimentado por revistas literárias, concursos, ciclos de debates, caravanas de autores palestrando pelo interior do país etc. Substituíam-se as iniciativas mais simples ou amadoras dos anos 60 por um padrão técnico que se queria eficiente. As agências estatais, juntamente com os meios de comunicação, lograram estabelecer conexões na sociedade fortes o bastante para atrair vários intelectuais e artistas, em padrões semelhantes ao que se implantara no Estado Novo: de fato, diz Sussekind, boa parte da intelectualidade recebeu a PNC como se fora a estratégia cultural varguista revivida, encontrando na relação “paternal” do Estado uma saída de emergência, na qual uns acreditavam mais, outros menos. De todo modo, as agências estatais de cultura passaram gradualmente a abrigar “inclusive como funcionários, opositores e até experseguidos pelo regime militar”.26 Para além do acesso ao mercado de trabalho e produção cultural nos novos moldes, tratava-se da participação destes sujeitos num vasto processo de construção de identidade nacional com padrões “modernizados”, o que se efetivava mediante a atuação integradora e formadora de opiniões em todo o território brasileiro realizada pelos meios de comunicação de massa, em especial das redes de televisão27. O fato de o discurso da PNC se apropriar de temáticas que eram profundamente caras ao ideário dos anos 60, especialmente as questões relativas ao nacional e ao popular, certamente facilitou este processo de aproximação entre artistas, intelectuais e Estado ditatorial, a despeito de não haver mais interação profunda com os movimentos sociais. Ou melhor, como dizem Hollanda e Gonçalves, justamente por isto – porque havia novas condições sociais que deslocavam estas questões, exigindo que fossem repensadas – tornou-se possível ao regime absorver essas categorias, recolocando-as conforme sua definição e intuito de controle. Assim, “debilitadas politicamente, na medida em que não se apóiam num movimento de vontade popular, tornam-se questões ‘vazias’ ou, mais que isso, preenchidas de seu 26 SUSSEKIND, op.cit., p.39, e também AARÃO REIS, op.cit., p.63. Diz Flora que, como as empresas e universidades particulares são mais ciosas que as públicas na exigência de um perfil burocrático-ideológico e de um “atestado de mediania” de seus empregados, “ficar sob as ordens do ‘papai-Estado’ foi uma saída de emergência, para pródigos ou bem-comportados, sobretudo desde o Governo Geisel”; idem, p.41. Nos anos 70, as fundações e órgãos estatais empregaram e publicaram amplamente, mas na década seguinte o ritmo diminuiu, segundo a autora, dado o agravamento da situação econômica e diminuição das verbas destinadas à cultura. 27 Cf. ORTIZ, R. O popular e o nacional. In: A moderna tradição brasileira, p.149-181. 205 significado puramente liberal-burguês e ‘humanista’, atendendo prioritariamente ao reaparelhamento do Estado” e à organização empresarial da cultura.28 Em meio à crise econômica, cujo disfarce sob o II PND rapidamente se desfez, à falta de perspectivas de trabalho e futuro, e a mudanças sócio-culturais que não se conseguia facilmente enxergar, a escolha, quando havia, era efetivamente difícil. Na visão de Flora Sussekind, iniciava-se a terceira forma de política cultural da ditadura militar, após os momentos de espetacularização e de repressão, a saber, a cooptação e o controle sobre o processo cultural. Aos poucos, diversos autores se incorporavam ao processo modernizador, engajando-se no mercado editorial e livreiro ou produzindo material midiático, especialmente publicidade e roteiros para TV. Em suma, tratava-se de “anos pragmáticos”, como sugere Marcelo Ridenti, quando a ordem ditatorial soube dar lugar a intelectuais e artistas de oposição, inclusive de esquerda, ao investir nas áreas de comunicação e cultura, incentivando um “nicho de mercado para produtos culturais críticos”. Com a derrota das esquerdas no país, os rumos dos eventos políticos internacionais, a modernização conservadora da sociedade, a desilusão (de alguns) com as promessas libertárias do progresso técnico em si, “o ensaio geral de socialização da cultura [dos anos 60] frustrou-se antes da realização da esperada revolução, que se realizou pelas avessas, sob a bota dos militares”.29 Ante isto, opera-se um “rearranjo pragmático dos artistas de esquerda”, motivado por três grandes tópicos: a) a terceira revolução tecnológica capitalista, que, conforme mostram os estudos de Jameson, integra paulatinamente na lógica mercantil a esfera cultural-artística, que vai deixando de constituir uma dinâmica “à parte” na vida social; b) o projeto de modernização conservadora da educação que – em decorrência da massificação do ensino público nos níveis fundamental e médio, do incentivo ao ensino privado e da criação de um sistema nacional de apoio à pósgraduação e pesquisa nas universidades, oferecendo uma acomodação institucional onde havia focos de resistência – produziu degradação educacional em médio prazo; c) o processo de gradual adaptação às forças da ordem daquilo que foi originariamente transgressão30, como a liberação de costumes, que acabou por perder seu caráter subversivo, sendo digerida e reaproveitada como mercadoria pela engrenagem capitalista. 28 29 HOLLANDA e GONÇALVES, A ficção da realidade brasileira, op.cit., p.112. RIDENTI, M. Cultura e política: os anos 1960-1970 e sua herança. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L. (org). O tempo da ditadura..., op.cit., p.133-166, citação da p.154. Em seu trabalho, especialmente Em busca do povo brasileiro, Ridenti discute longamente, de um ângulo histórico-sociológico, os problemas dos intelectuais da cultura nos vinte anos da ditadura militar, a indústria de massas e as vicissitudes da modernização brasileira, e seus efeitos nos anos 80. 30 O que estou chamando aqui de derrota da proposta marcuseana. Para estas considerações de Ridenti, ver RIDENTI, M. Cultura e política..., op.cit., p.156. 206 No entanto, o lugar da arte, especialmente da poesia, neste processo não é fácil de ser delimitado. Os críticos divergem a respeito, em avaliações que oscilam da entrega à cooptação estatal, à indústria cultural ou, ao contrário, à resistência31. As discussões que se dão em torno da qualidade estética assinalam a existência de tensões formais, temáticas e existenciais, no sentido do modo de se situar no mundo e atribuir-lhe significações. As diversas posições e atitudes dos sujeitos sociais dependiam de seus variados modos de se pôr e responder, ou não, as questões trazidas por sua experiência histórica. Os problemas colocados não diziam respeito apenas à dimensão material da cultura, mas também a um sentimento de angústia que a acompanhava, e tanto mais angustiante quanto menos recursos conceituais se dispunha para pensar e informar a ação cultural. O quadro agônico, seguindo a linha frankfurtiana, concernia à afirmação de um dos princípios básicos da modernidade capitalista, cuja racionalidade – fundada no modelo da máquina e dos ganhos produtivos com a exploração do trabalho e da natureza – restringiu-se a um logos mecânico como medida de todas as coisas, de modo que a inumanidade do aparato técnico e sua razão fria penetram toda a organização das relações sociais, as quais, por conseguinte, passam a funcionar (note-se que o termo também remete ao mundo mecânico) de modo maquinal e utilitário, substituindo os valores de uso e a espontaneidade humana pelas relações de troca. A razão instrumental que passa a imperar sufoca e deixa cair no esquecimento a possibilidade de uma razão outra, dita objetiva, que só resiste como resultado de um árduo trabalho da memória negativa desta fenomenologia da instrumentalização – o que envolve retomar sentidos perdidos do processo de construção de civilidade das sociedades humanas, às quais é exigido, para tal, um salto qualitativo em direção a uma maioridade intelectual e afetivo-social32. Isto traz implicações para a esfera pública e privada, para o mundo do conhecimento e do trabalho, para a organização material e simbólica da vida humana. A sociedade administrada que derivou do predomínio da razão instrumental – mesmo ou sobretudo a bem-intencionada sociedade de bem-estar social do mundo pós-guerra, 31 Para Hollanda e Gonçalves, havia dois tipos se saídas para “a geração do sufoco” pós-68: os que encontravam meios de profissionalização no mercado editorial, especialmente os contistas, e a poesia marginal, vitalista e descomprometida, cuja absorção na lógica estatal-industrial da cultura será posterior, após a crise do boom editorial. Em ambas, uma referencialidade angustiada – a poesia “querendo contar uma história” – tratando de um universo “maldito” em que se cruzam (homo)sexualidade, violência, medo, impotência, política. Cf. HOLLANDA e GONÇALVES. A ficção da realidade brasileira. In: NOVAES, op.cit., p.126. Na visão de Iumna Simon, esta foi a interpretação que deu o tom geral da poesia marginal, cuja primeira safra, até cerca de 1979, ficou então marcada pela afirmação de um espaço alternativo, independente e artesanal de produção/consumo de poesia, do que ela discorda, por ver nesta poesia uma denúncia sem capacidade crítica, dada sua desqualificação literária e vivencial. A crítica de Sussekind e Costa Lima segue em direção semelhante. Cf. SIMON, I. e DANTAS, V. Poesia ruim, sociedade pior., op.cit., p.99. 32 Cf. MENEGAT, M. Depois do fim do mundo, p.61ss. A busca dessa maioridade, e conjuntamente a crítica à sua falta, é um tópico filosófico reiterado na obra crítica de Cacaso. Cf. Não quero prosa, passim. 207 tida como um dos benefícios do projeto da social-democracia, do qual os programas de planejamento econômico e cultural do regime militar à sua maneira são devedores – trouxe consigo a sensação de asfixia e peso que acompanha todo ato de bloqueio dos horizontes humanos, em especial porque aquela ordem/lógica estabelecida de forma fechada se mostrava poderosa o suficiente para eliminar ou cooptar as alternativas que se lhe contrapunham. Assim sendo, vê-se a resposta poética ao “sufoco” vivido sob a ditadura militar no Brasil adquirir a amplitude do diálogo travado entre a arte e a modernidade capitalista, no seio do qual o regime autoritário e violento vem a ser um fator agravante do já pesado malestar da cultura. O nó que obstruía as gargantas amarrava problemas de curta e longa duração, adensando o contexto em que a poesia se propunha – os que puderam resistir – a missão de manter seu alento. As dificuldades e ambigüidades deste movimento são ilustradas pelo poemeto citado à guisa de epígrafe do brasiliense Nicolas Behr, que em depoimento acrescentava: ... a poesia marginal não foi um movimento literário, foi sim um movimento libertário [...] de uma mudança de costumes, posturas e atitudes diante do status quo literário [...] A poesia dessa época é muito sangrenta, não violenta, mas ácida, difícil, com toda uma ginga brasileira no meio, é claro. É uma poesia muito seca, suicida, inconformada, e ao mesmo tempo de uma grande alegria.33 5.3. Grupos, coleções e revistas: poesia em ação Sangrentos, ácidos, suicidas e alegres, secos, inconformados e repletos de ginga em meio ao panorama violento e pasteurizador, alguns grupos de poetas se lançavam à intenção de constituir uma “cultura alternativa”, procurando brechas possíveis para uma intervenção que pretendiam crítica, mediante a absorção das idéias de politização do cotidiano que se difundiam. O modo específico da “poesia marginal” – definido pela produção artesanal de livros, pelas coleções e revistas, distribuição mão-a-mão, linguagem bastante informal, bemhumorada e desliteralizada, eventos de leitura pública e debates, espetáculos declamatórios e multimídia – em larga medida escapava ao investimento estatal, à censura, e, inicialmente, à indústria cultural. A pesquisa participativa de Messeder Pereira permitia-lhe concluir que todo o investimento dos poetas em acompanhar seu trabalho do início ao fim, desde a criação, a montagem dos fotolitos, a impressão nas gráficas ou mimeógrafos, a venda nas ruas, bares e teatros, revelava um desejo anticapitalista ou anticomercial dessa geração; um impulso de controlar a produção de sua obra que seguia, à primeira vista, na contra-mão do processo de 33 Depoimento concedido a Leila Miccolis, Correspondência pessoal/Arquivo BSB (DF), 13 jun. e 18 jul. de 1982. Reproduzido em MICCOLIS, Do poder ao poder, p.36. A questão da alegria será discutida adiante. 208 produção industrial de bens culturais, que, como toda produção mecânica-industrial, se dá de modo fragmentado e fora do controle dos seus autores.34 Ao lado disto, a “poesia do sufoco”, a princípio muito dispersa, esboçava movimentos de organização: formavam-se grupos poéticos; editavam-se jornais marginais e numerosas revistas (da mais precária feição mimeografada à mais alta qualidade gráfica, retrabalhando as sugestões do concretismo); organizavam-se diversas coleções, cooperativas, antologias; intensificavam-se as manifestações coletivas com a realização de diversos eventos35. Entre estes, destacou-se no período o PoemAção, que durante três dias de 1974, no MAM-RJ – organizado pelos poetas Armando Freitas Filho, Carlos H. Escobar, Moacyr Cirne, Ricardo Ramos, Cyro Del Nero, Ronaldo Periassu e Álvaro de Sá, alguns remanescentes ou ligados às vanguardas –, efetuou uma mostra de poemas, peças teatrais, artes diversas, como uma espécie de desdobramento da atmosfera da Expoesia do ano anterior, embora de teor não acadêmico. O destaque conferido à palavra “ação” confirmava a importância que adquiria, naquele momento, a manutenção do gesto congregador e de criação cultural em oposição às restrições impingidas pela ditadura militar e pelos impasses da modernização em pauta. Manter-se ativo, reagir ao imobilismo, fazer alguma coisa, era sempre louvado como “melhor que nada”. Outrossim, mostrar que a poesia que estava sendo criada e recriada, a despeito de sua tradicional pouca visibilidade, era uma questão de peso, que adquiria especial conotação no contexto repressor. A relevância da ação surgia em diversas instâncias, como, por exemplo, a coletânea de contos, poemas e cartas Há margem, lançada em Porto Alegre (RS), comentada por Cacaso: Há margem é apologia do verbo fazer, agir em todos os sentidos. ‘Pretendemos o renascimento do fazer, apesar das circunstâncias, das pressões’, diz Licínio [de Azevedo, um dos organizadores]. Essa atitude, que é representativa de todo o grupo, significa uma firme demonstração de vitalidade, sendo mais um problema existencial do que propriamente literário. Mariza Scopel resume assim a questão: ‘Eu acho que o problema maior do escritor não é escrever sobre o que nem como escrever, mas é se tornar uma pessoa. Desmanchar o nó da violência, mudar o curso do seu rio. Escrever é secundário, é gratuito, é o fim do processo já vivido’. O livro, como objeto, e o texto, como expressão, refletem com fidelidade este estado de ânimo, estão saturados de resíduos afetivos e artesanais.36 Merece atenção o fato de essa vitalidade existencial e afetiva vir associada à negação da tradição literária e do mundo intelectual, assim como o teor anti-acadêmico do PoemAção, por se vincular ao tópico, deveras característico da época, da recusa dos universos formais e 34 MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.79. HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, op.cit., p.6. 36 BRITO/CACASO. Sopa de Letrinhas., publicado no jornal Movimento, n° 22, dez. 1975 e reproduzido em Não 35 quero prosa, p.77-79. 209 teóricos dos quais a substância existencial já se esvaíra. Como já observado37, no meio universitário esta recusa dizia respeito ao tecnicismo e ao esvaziamento político implantado pelo projeto educacional do regime; entre os grupos mais politizados da sociedade – fossem artistas empenhados, militantes das esquerdas ou “desbundados” mais reflexivos – graçava certo antiteoricismo, como negação da reflexão em nome da ação. Na visão de Ridenti, colocavam-se para estes diferentes grupos algumas questões comuns, resultantes das mudanças no quadro cultural que haviam conduzido a uma perda das bases sociais das manifestações culturais. Em outros termos, não cabia mais aos intelectuais e artistas o papel formador que tinham nos anos 60, quando foram co-responsáveis pela construção de um público de mentalidade rebelde e inconformista. Agora, as manifestações culturais vinham na onda de um movimento popular derrotado em 64 e dizimado em 68, e que a muito custo voltava a reagir; além disto, a indústria cultural oferecia, a seu modo pragmático, certa resposta aos anseios modernizantes dos antigos rebeldes38. Não havia mais espaço para uma atuação intelectual-artística de tipo sartriano. Em nome da ação e da experiência concreta, recusavam-se teorias e técnicas por serem vazias de sentido e utilizadas como instrumentos de poder pelos setores dominantes, o que as tornava em fatores de confusão e opressão a mais na atmosfera sufocante. Foi com o selo do anti-intelectualismo, do anti-tecnicismo e da politização do cotidiano – os quais, vale repetir, consistiam em três pontos básicos da reorientação da experiência cultural ocorrida ao longo dos anos 7039 – que o “surto de poesia” iniciado desde os anos anteriores se ampliava em torno de 1974-75 e proliferava em todo o Brasil (ver Quadros Informativos no Apêndice), onde surgiam jovens poetas em número incontável, a ponto de se validar como expressão típica da década. Esta movimentação poética foi acompanhada pelo teatro independente, como o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, pela festividade musical dos novos baianos, pela imprensa nanica, então considerados como uma abertura de canais de fala para a (des)classificada “geração AI-5”40. No artigo “Sopa de Letrinhas”, de 1975, Cacaso 37 Cf. cap.4, no qual se discutem os problemas derivados do anti-intelectualismo. Cf. RIDENTI. O fantasma da revolução, p.108-110. 39 A apresentação desses três eixos foi feita no cap.3, a partir de MESSEDER PEREIRA. Retratos de época, p.8592. 40 Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, Cultura e participação..., op.cit., p.98-99. Embora a crítica literária fosse crescentemente atenta ou mesmo dura com os problemas da queda de qualidade literária, todos reconhecem que a questão abrangia a abertura “à foice” de espaços outros para a produção intelectual e artística, e para muitos este gesto foi considerado de fato mais importante do que a preocupação estética. A este respeito, o poeta brasiliense Nicolas Behr pronunciava: “Queremos público, não queremos imortalidade. Queremos ser inesquecíveis. Queremos o coração dos leitores não queremos estantes. Pelo sonho, pela utopia, pela audácia de sobreviver daquilo que a gente gosta de fazer: poesia. [...] Poesia para as multidões. [ou ainda] Não é o meio que se imprime, é a atitude. De tentar levar o ato de fazer poesia às últimas conseqüências.” Citado por MICCOLIS. 38 210 observava as condições, os prós e contras daquela multiplicação poética e seus meios de consolidação: O número de candidatos a escritores cresce no Brasil em proporções muitas vezes maior do que o número de vagas que nosso sistema editorial comporta. Há um processo de marginalização por não absorção das novas propostas e vocações; o volume da produção literária, sem qualquer chance de edição, tende a se expandir. Antônio Houaiss observava recentemente que, se a literatura brasileira não reflete mais e melhor o Brasil, ‘é porque a estrutura não comporta a expansão dos seus produtos: a quantidade de autores inéditos que conheço, que deveriam ser publicados, e que encontram todos os obstáculos conjunturais, é enorme.’ Parece que há pelo Brasil afora uma ‘pequena produção em massa’ de livros editados por conta e risco de seus próprios autores, fenômeno mais ou menos datado, e que mergulha boa porção da nossa vida literária numa semi-obscuridade, numa forma de existência que combina anonimato e participação. [...] O perigo que há é se empunhar a bandeira da marginalidade, como se fosse uma posição a ser defendida, o que pode não contribuir muito para se explorar as potencialidades de participação que a iniciativa independente oferece. [...] a marginalidade não pode nem deve ser uma meta buscada e almejada, mas deve ser entendida naquilo que realmente é, ou seja, uma situação compulsória e discriminadora, precariíssima.41 É preciso sempre ter em mente a dificuldade daquela “marginalidade”, tanto no sentido da experiência ali posta quanto dos recursos conceituais para entendê-la. Eram heterogêneas aquelas vozes poéticas, que imprecisamente são reunidas sob estes epítetos de alternativas ou marginais. Primeiramente, sua configuração somava uma 1ª geração poética, cuja formação é marcada pela dinâmica dos anos 50 e 60, a uma 2ª geração, mais jovem e descompromissada, formada fora dos debates políticos anteriores, conforme observam Messeder Pereira e Hollanda, mas tendo ambas em comum o fato de que suas experiências são parte de um mesmo processo cultural, marcado pelo “sentimento de perplexidade no ar” ao qual se reage com “forte dose de humor e ironia”.42 Em segundo lugar, existiam opções e afinidades distintas, que pervagavam um vasto leque de posições entre a exaltação à “cultura alternativa” e a adesão às formas sistêmicas, passando por diversos modos de ocupar as “brechas”, de Do poder ao poder, p.40. A autora recolheu cartas/depoimentos de poetas alternativos de todo o Brasil, guardando-os em arquivo pessoal e citando-os em seu livro. É possível que este trecho pertença também ao Manifesto Pau-Brasília, de Behr. 41 BRITO/CACASO. Sopa de Letrinhas., idem. Devo a Débora Racy Soares, doutoranda da UNICAMP, uma troca de observações sobre Cacaso muito útil, de onde retiro algumas informações acerca da vida e das opções do poeta. Débora chama a atenção para o fato de que Cacaso tinha conseguido publicar seu primeiro livro, A palavra cerzida (1967) pela editora José Álvaro, com prefácio elogioso do conhecido crítico José Guilherme Merquior. Nos anos 70, entretanto, a concepção poética do autor, bem como o modo de publicação e distribuição dos livros mudam consideravelmente. Embora Cacaso tenha dito que “marginalidade nunca foi opção”, no seu caso parece ter sido uma escolha muito consciente, incluindo uma tomada de posição poética e política, que o levou à liderança da movimentação carioca. (segundo correspondência eletrônica de 22 mai. e 15 jul. 2007). A dissertação de mestrado de Débora versa sobre o livro Grupo Escolar (Um Frenesi na Corda Bamba – Análise crítica da obra poética Grupo Escolar (1974) de Antônio Carlos de Brito) e a tese de doutorado, em elaboração, parte de Beijo na Boca (1975), procurando validar seu teor poético-político, contrariando a idéia de que seria um “livrinho desbundado”. 42 Cf. MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.161 e HOLLANDA, Impressões de viagem, p.99. 211 onde a impropriedade de reuni-las num só esquema explicativo.43 A própria marca registrada dessa poesia, sua produção autofinanciada ou cotizada, nada mais era, como dizem Simon e Dantas, do que a condição que tradicionalmente imperou no Brasil submetendo com freqüência os poetas, e, por seu turno, a figura do poeta-vendedor de suas próprias obras tampouco os retirava do circuito comercial; a novidade, porém, que comportava o sentido de uma experiência à margem, residia na articulação com o contexto histórico ditatorial que interditava o espaço público, contribuindo para carregar de tons inconformistas, rebeldes e irreverentes aquele registro poético das práticas existenciais da juventude, de modo que seu valor simbólico foi maior que seu conteúdo estético44. A isto se acresce que a experiência coletiva e artesanal, assaz dotada de sentido para seus participantes, como observou Messeder ao acompanhar os grupos poéticos cariocas45, não o era necessariamente para quem a via de fora. Por fim, existiam situações existenciais e sócio-históricas distintas e, por conseguinte, diferentes lugares de enunciação da nova poesia dos anos 70: além dos poetas consagrados e daqueles que não se envolviam com a movimentação alternativa, havia o poeta “póstropicalista”, o poeta exilado, o poeta preso, o poeta intimista, ao lado dos que falam da e na praça pública, vendo o mundo e a realidade brasileira e transformando em matéria poética o que testemunhavam, compondo um novo tipo de figura de poeta, uma espécie de “baudelairemalandro” que circula pela cidade e registra o que vê, sente e pensa, seus encantos e espantos traduzidos em um timbre no qual a grandiloqüência cede vez ao humor irônico e às pequenas coisas da vida. Entre estes, Cacaso – assim como Leminski, em outra vertente – parece haver ocupado uma posição centrípeta. Formado em filosofia, professor de Teoria Literária e Literatura Brasileira na PUC-Rio, era representante daquela 1ª geração poética da década de 70 e congregava em torno de si muita gente. Articulava gerações e grupos distintos, aglutinandoos, organizando coleções poéticas – Frenesi e Vida de Artista saíram de suas mãos – e comentando a nova poesia nos jornais alternativos, como Opinião e Movimento, nas revistas 43 Segundo Leila Miccolis, há uma polêmica terminológica gerada pela confusão de termos quase sinônimos, que ela tenta em alguma medida elucidar: “alternativo”, “undergroud”, “tropicalista” apresentam teor contracultural; “marginal” tanto carrega a pecha de maldito quanto significa marginalidade ideológica; “independente” relaciona-se à produção fora dos esquemas comerciais; “alternativa” de modo geral também pode querer dizer uma produção rebelde e questionadora da ordem, o que nem sempre ocorre com a produção independente, que se define pela contraposição ao mercado editorial, mas não por seus enfoques e abordagens. Salvo alguns que se aliaram a propostas libertárias, diz a autora, é irreal exigir um teor alternativo desta produção alternativa. Cf. Do poder ao poder, p.22-24. Para Messeder, tratava-se de um fator normal da dinâmica cultural a contradição de artistas entre sua autonomia e o desejo de prestígio, ou seja, a negatividade e o reconhecimento social, em uma sociedade ainda bastante marcada pela aura da figura do poeta. Cf. MESSEDER PEREIRA, op.cit., p.53-54. 44 Cf. SIMON e DANTAS, op.cit., p.99. 45 Cf. MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.63. Ver a discussão de Messeder sobre a ambigüidade dos poetas em sua relação com o mercado no cap.4. 212 de cultura, como Vozes, Argumento, Almanaque, Brasil, e posteriormente na grande imprensa, escrevendo crítica para a revista Veja e a Folha de S.Paulo, por exemplo. Deste modo, o poeta mineiro-carioca se tornou também crítico e comentador prioritário desta tendência poética no Rio de Janeiro, sendo, por isso, um dos principais responsáveis por sua legitimação46. Em diversos momentos de seus escritos críticos, ao menos até fins dos anos 70, Cacaso reafirmava a importância de se estar fazendo poesia no país a despeito de um contexto tão adverso, como se vê no trecho supracitado, ainda que aquela proliferação poética fosse heterogênea e implicasse em inúmeros casos uma desqualificação estética. Seu projeto político-poético47 envolvia o desejo de uma criação coletiva, para a qual ele evocava a imagem de um caldeirão onde todos pusessem e retirassem poesia, conforme a ocasião – lembrando o personagem carteiro da novela de Skármeta48, que declarou ao poeta ser a poesia pertencente a quem dela precisa. O projeto envolvia também a composição e distribuição artesanal do livro que ele tanto admirara no início da década na “poesia de mimeógrafo” (Chacal, Charles, Guilherme Mandaro etc.), como um modo de editar refratário ao fechamento do mercado editorial aos novos autores até a segunda metade do decênio. A viabilidade deste projeto é toda uma questão, sobretudo por transpassá-lo a preocupação com a profissionalização do poeta, o que inequivocamente sempre dependeu da riqueza familiar, do mecenato, do Estado ou do mercado. Por um lado, Cacaso, sempre insistindo na necessidade de se aprender “a lição modernista”, defendia a gratuidade da arte como garantia do engajamento político, isto é, a liberdade de criação como condição prévia do trabalho artístico, e não apenas como meta. Naqueles anos, esta liberdade incluía a produção artesanal e a distribuição de mão-em-mão, significando não só uma contra-resposta ao mercado editorial consagrado, mas uma recusa do gesto tecnificado e uma afirmação da delicadeza de uma relação em que o interesse econômico não é foco central, permitindo a recuperação do que ele chamou de carga utópica dos “nexos qualitativos de convívio que a 46 Cf. MESSEDER PEREIRA, idem, p.140. Cacaso, Antônio Carlos Ferreira de Brito, nasceu em Uberaba (MG) em 1944. Viveu no interior de São Paulo até os onze anos, quando veio morar no Rio de Janeiro, de onde pouco se ausentou depois. Tendo participado dos movimentos estudantis em 1968, licenciou-se em Filosofia pela UFRJ (1969) e ministrou aulas de Teoria Literária e Literatura Brasileira na PUC-Rio entre 1965 e 1975. Iniciou mestrado na USP, mas não terminou por falta de paciência para preencher relatórios. Entre suas variadas referências poéticas, destacam-se Manuel Bandeira, Oswald e Carlos Drummond de Andrade, e na ensaística, Antônio Cândido, Lukács e Mario de Andrade. Faleceu em 1987, de repentino enfarte, aos 43 anos de idade. No acervo de Cacaso na Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ), há textos que foram censurados. Agradeço estas informações a Débora Racy Soares. 47 Ver diversos artigos de Não quero prosa, passim. 48 Refiro-me a O carteiro e o poeta, que foi também filmado. 213 relação com o mercado havia destruído”.49 Por outro lado, os artigos do início dos anos 80 revelavam uma preocupação maior com os rumos tomados por esta poesia, bem como a crença de que a profissionalização do poeta dependia da palavra cantada, isto é, estava subordinada à indústria fonográfica, como provava o sucesso de Vinícius de Moraes. Amigo de Cacaso, Roberto Schwarz apresenta alguns elementos de sua figura ativa, congregadora e perceptiva à sua experiência sócio-histórica, ainda que não isenta de contradições: ... em matéria literária gostava de dar e receber palpites, entre risadas, de inventar projetos comuns e de estimular a produção à sua volta, sobretudo de pessoas improváveis, que ninguém imaginaria artistas. Ele andava atrás de uma poesia de tipo sociável, próxima da conversa brincalhona entre amigos.Um emendaria o outro, tratando de tornar mais engraçada e verdadeira uma fala que pertencesse a todos, ou não fosse de ninguém em particular. Era um modo juvenil de sentir-se à vontade e a salvo das restrições da propriedade privada. Nessa linha, ele tinha a intenção de estudar a poesia “marginal” dos anos 70 como um vasto poema coletivo, cuja matéria seria a experiência histórica do período da repressão, e cujo autor seria a geração daquele decênio, vista no conjunto, ficando de lado a individualidade dos artistas. [...] A certa altura, Cacaso imaginou que a sua vida de intelectual e artista seria mais livre compondo letras de música popular do que dando aulas na faculdade. Na época chegou a idealizar bastante a liberdade de espírito proporcionada pelo mecanismo de mercado. Penso que ultimamente andava revendo essas convicções. Seja como for, o passo de professor a letrista, acompanhado de planos ambiciosos de leitura literária, histórica e filosófica, assim como de produção crítica, mostra bem a sua disposição de entrar por caminhos arriscados e vencer em toda a linha.50 A aposta nas possibilidades criadoras e cognitivas da produção poética coletiva, que Cacaso chamava de “poemão”, é reiteradamente sublinhada por Heloisa Buarque como uma das dinâmicas mais significativas da poesia dos anos 70, parecendo incluir até mesmo o trabalho crítico desses e outros autores, que estudavam e pensavam juntos. Sabendo que as vozes individuais vão além do estritamente particular, o autor do “poemão” ou “caldeirão” as reunia, compreendendo o universo social como algo mais do que o somatório dos indivíduos, à maneira da sociologia e da filosofia política, e o universo literário como uma vasta rede intertextual. Mas a inspiração de Cacaso parece ter sido sorvida do poeta francês 49 BRITO, Tudo da minha terra, op.cit., p.136; a questão foi tratada no cap.4, a respeito de Chacal. Para o restante da discussão, ver os artigos Atualidade de Mario de Andrade (Revista Encontro com a Civilização Brasileira, n.2, ago. 1978), Alegria da Casa (Revista Discurso n.11, FFLCH/USP, 1980) e Melhor a Emenda que o Soneto (Folha S.Paulo, 4 jul. 1982), todos reproduzidos em Não quero prosa. Para a questão do gesto tecnificado e a relação isenta de interesse, cf. ADORNO, Mínima Moralia, aforismos 19 e 20, p.33-34. 50 SCHWARZ, R. Pensando em Cacaso. In: Seqüências brasileiras: ensaios.. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, p.212-213. Grifo meu. Ainda segundo a troca de correspondência eletrônica com Débora Racy Soares (ibidem), no final dos anos 70 Cacaso passou a se interessar menos pela poesia do que pela música, na qual ingressaria definitivamente após a publicação de seu último livro, misto de poemas e canções (Mar de Mineiro, 1982). Sua poesia foi, segundo ele, “diminuindo, diminuindo” progressivamente, até “sumir”, como se a motivação para escrever poemas houvesse evaporado com os sinais de abertura política. Curiosamente, embora tenha militado no meio da poesia marginal, não hesitou em aderir à indústria fonográfica, onde pôde viver de música e lutar pelo sonho de se “tornar famoso no Brasil inteiro”. Isto reconfirma a idéia de que a opção pela edição “marginal” era uma busca de resistência poético-política. 214 Lautréamont, para quem a poesia deveria “ser feita por todos, não por um”, bem como da leitura de Alfredo Bosi, em cuja avaliação, como isto não pode realizar-se materialmente na forma de criação grupal, dado que as relações sociais não são comunitárias sob o capitalismo, uma poesia coletiva e socializada acabou se transformando em busca de sentidos alternativos que sejam válidos para muitos51. No entanto, a idéia de “poemão” não era unanimidade. Para Armando Freitas F°, ela seria fruto do “ímpeto ordenador” e da “ambição teórica e de liderança, que, mesmo disfarçada ou manhosa, se exercia através de militância incansável, falada e escrita” de Cacaso. O conceito seria até interessante, mas só funcionava de modo virtual ou na cabeça do crítico. Armando vê os poetas marginais “muito ciosos de suas identidades e diferenças”, mesmo que às vezes não o demonstrassem, e conclui com outra opção: “Se Cacaso em vez de ‘poemão’ tivesse falado em poética teria, a meu ver, acertado no alvo real. [...] uma poética que, entre outras coisas, trazia a vida de cada um, cada leitor, para a poesia de todos”.52 Poética ou “poemão”, a experiência que provê a matéria de poesia – ainda que mal elaborada tecnicamente, ou sobretudo por isto – revelava indícios da realidade histórica geracional, e nisto Cacaso acertara o alvo. Foi dentro deste espírito que ele organizou as coleções Frenesi e Vida de Artista, que ao lado da Nuvem Cigana, Folha de Rosto, Gandaia e Garra Suburbana, entre outras, configuram uma síntese representativa daquele momento53. Lançada em outubro de 1974, no Rio de Janeiro, a Coleção Frenesi reunia nomes que já possuíam uma trajetória no campo artístico e intelectual, diferentemente da produção de mimeógrafo que, lúdica e anárquica, aglutinava pessoas sem vínculo literário, acadêmico ou intelectual54. Esta coleção marcava a mudança de 51 Cf. BOSI, A. Poesia resistência. In: O ser e o tempo da poesia, p.144. Imagino tal inspiração de Cacaso por ele citar este artigo de Bosi, no artigo Atualidade de Mário de Andrade. In: Não quero prosa. nota 18, p.165. como diz Débora Soares, na supracitada correspondência, perpassa o “poemão” uma idéia de “embaçamento da autoria” que tem muitas faces, demandando que sejam avaliadas cuidadosamente. 52 In: CÉSAR, A. C. Ana Cristina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p.102-103. 53 Cf. HOLLANDA, Impressões de viagem, p.114 ss. Esta seleção de autores e obras mais significativos gerou sempre muita celeuma, não fazendo justiça a todos os que ficam de fora, fato que consiste, ao menos para esta época, num problema insolúvel em virtude da amplitude do surto de poesia. A pesquisa de Messeder Pereira, Retratos de época, foi realizada com os participantes dos quatro primeiros grupos e suas coleções, procurando depreender a visão que eles próprios tinham do que faziam. As informações aqui utilizadas seguem este livro, bem como os de Heloisa Buarque. 54 Os cinco livros da Frenesi pertenciam a Cacaso (Grupo Escolar, seu segundo livro após A palavra cerzida de 1967), Chico Alvim (Passatempo, que reunia trabalhos de Passatempo, escritos em Paris entre 1969 e 1971, e Exemplar proceder, escritos no Brasil entre 1971 e 1973); Roberto Schwarz (Corações veteranos); Geraldo Eduardo Carneiro (Na busca do sete-estrelo) e João Carlos Pádua (Motor).Chico Alvim, mineiro de Araxá, nascido em 1938, oriundo de uma família participativa na vida política nacional, era um diplomata nada “típico”, que entrara para a área cultural do Itamaraty em 1962 e publicara seu primeiro livro de poesia, Sol dos Cegos, em 1968. Através dele, Roberto Schwarz e Carlos Saldanha, também diplomata, autor dos “gibis” poéticos mimeografados, entrariam em contato com Cacaso e participariam das coleções. Schwarz, também nascido em 1938, em Viena (Áustria), licenciou-se em ciências sociais na USP em 1960, concluiu mestrado em literatura 215 dicção poética de Cacaso e Chico Alvim, cujas primeiras publicações traziam outra entonação e apresentação. Os livros da coleção, artesanais e de feição gráfica orgânica e criativa, eram tratados como objeto “pessoalizado e intransferível”, ilustrados com desenhos ou fotomontagens, trazendo uma linguagem distante dos padrões comerciais das editoras, o que apontava uma inflexão na experiência dos poetas em relação à poesia: a desconfiança em qualquer tipo de ortodoxia – ainda que isto incluísse a década anterior –, o desejo de mudança de vida e do modo de expressá-la.55 De todos os grupos, este era o mais intelectualizado, redimensionando suas posições político-estéticas dos anos 60 mediante uma reflexão crítica, marcada pela experiência do “sufoco” e pela descrença em relação às linguagens e instituições “do sistema” – o que os colocava, como diz Hollanda56, em uma posição incômoda, uma vez que todos os integrantes tinham ligações institucionais mais ou menos estabelecidas. A experiência e o incômodo cotidianos eram vividos como um problema existencial, a serem traduzidos literária e teoricamente. O próprio nome da coleção inscrevia a sensação simultânea de euforia e malestar que pairava no ar, ou melhor, a euforia revolucionária dos 60 cedendo ao amálgama de desencanto e perplexidade, desejo simultaneamente ávido e impotente de realizações que marcaria a juventude dos anos 70, em virtude de seu contexto histórico-cultural. Frenesi comporta, assim, um sentido de transição e crise coletiva que a linguagem lírica figurava, assumindo conscientemente que se tratava de uma experiência histórica e não apenas subjetiva. Já Vida de Artista consolidava a relação das duas gerações em confluência e definia mais claramente o influxo comportamental dos mais jovens57. A coleção se caracterizava por um carimbo posto nos livros, muito descontraídos, presos com grampos, sem maior cuidado gráfico nem preocupação com a ficha técnica, no que diferiam de Frenesi. Também os comparado nos EUA em 1963 e lecionou teoria literária na USP até 1968. Entre 1969 e 1976 realizou seu doutorado na França, onde se encontrava quando seu livro de poemas – que havia sido recusado pela editora Civilização Brasileira – foi lançado pela Frenesi. Por sua vez, Geraldo Carneiro e João Carlos Pádua (nascidos em Belo Horizonte, 1952 e Rio de Janeiro, 1950, respectivamente), que já trabalhavam com música, eram alunos de Cacaso no curso de Letras da PUC-RJ, onde ingressaram em 1972 e participaram da Expoesia em 1973. 55 Cf. HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia jovem Anos 70, p.54-55. 56 Cf. HOLLANDA, Impressões de viagem, p.114-115. 57 Composta por Luis Olavo Fontes (Prato feito, 1974); Cacaso (Beijo na boca, 1975 e Na corda bamba, 1978) – e de ambos, Segunda Classe, 1975, fruto de uma viagem conjunta de Pirapora a Juazeiro, num vapor do rio São Francisco –; Eudoro Augusto (A vida alheia, 1975); Carlos Saldanha (Aqueles papéis, 1975) e Chacal (América, 1975). Segundo Messeder Pereira, a viagem pelo rio São Francisco possuía significado especial, considerada experiência obrigatória no universo do “desbunde”, pelo contato com a natureza e o tempo lento das populações ribeirinhas, em oposição à vida urbana. Cf. idem, p.295. Luis Olavo Fontes nasceu no Rio de Janeiro, em 1952 e possuía uma fazenda onde se realizaram muitos encontros desses poetas “marginais” e amigos. Formado em economia pela PUC-RJ, foi financiador de alguns livros de amigos na época, é hoje escritor e roteirista de cinema. 216 poemas se mostravam mudados, “mais curtos, mais próximos do flash e do registro bruto de episódios e sentimentos cotidianos”, avalia Hollanda58, uma linguagem menos literária e mais preocupada em valorizar a vida apesar da asfixia. A precariedade se fazia valer como uma modesta contraposição ao discurso dominante da eficiência técnica e econômica. Nas coleções Frenesi e Vida de Artista – e livros correlatos, que podem ser incluídos na mesma categorização por apresentarem o teor assemelhado59 –, a oscilação entre o universo íntimo e o público se traduzia na priorização da experiência pessoal ladeada pelo descompromisso com a idéia de autoria pessoal, com muitos poemas feitos a várias mãos e a muitas vozes, conforme os moldes do grande “poemão” de Cacaso, e no ato coletivo de organização e divulgação. Isto revelava também certa desconsideração para com os valores hierárquicos da literatura canônica, substituído o tom circunspecto pela relação afetiva com a prática literária, além de dar relevo especial ao exercício de intertextualidade literária, o que se tornaria voga e gesto estabelecido nas décadas seguintes. Entretanto, mesmo apostando em aspectos “antiliterários” – cabe lembrar que a anti-arte era temática de época –, esta dicção poética diferia da produção mais jovem do período por um melhor apuro de linguagem, como recurso necessário para um certo distanciamento crítico desejado. É com o grupo Nuvem Cigana que se afirma a 2ª geração da poesia marginal (relembrando que não se trata de uma distinção cronológica, mas de indivíduos com formações e idades distintas que confluem na realização deste fenômeno), mais lúdica e menos organizada ideológica e politicamente, tendo no Rio de Janeiro o seu centro. O grupo arregimentava os poetas mais jovens, caracterizando-se pela maior diversidade de atividades, maior longevidade (1972-1980) e notoriedade como “cultura marginal” típica da segunda metade da década, distinta da virada dos anos 60 para os 70, pois que sem os “dentes” de um Torquato Neto. Como já dito, em 1972 Ronaldo Bastos criara uma firma, um selo com este nome, pelo qual publicara seu primeiro livro e que posteriormente – quando entra em contato com Chacal, Charles e Guilherme Madaro na faculdade de comunicação da UFRJ60 – vai 58 Cf. idem, p.117-118. Hollanda e Messeder citam: Cenas de abril de Ana Cristina César; A flor da pele e Mlle Furta Cor de Armando Freitas Filho; A vida alheia de Eudoro Augusto; Restos & estrelas & fraturas de Affonso Henriques Neto; Coxas e Abra os olhos e Diga Ah! de Roberto Piva; Mínimas de amor de Neysa Campos, Das tripas coração de Ângela Melin; Às de colete e Os mystérios de Carlos Felipe Saldanha, entre outros. Messeder situa Afonso Henriques Neto, Eudoro Augusto e Ana Cristina César como “autores independentes”, cuja trajetória, formação acadêmica e literária e história familiar intelectualizada os aproximava da coleção Frenesi. Idem, p.183-222. 60 Segundo Messeder Pereira, Ronaldo Bastos estudava história em dezembro de 1968 e participava dos movimentos estudantis e do meio musical, quando, em razão do AI-5, viaja para a Europa, onde tem contato com Torquato Neto e Milton Nascimento. Quando retorna, em início de 1970, decide cursar comunicação, quando conhece a “turma do mimeógrafo”. Um outro braço da Nuvem Cigana se criou pela relação de Ronaldo Bastos 59 217 cumprir o papel de organizar a produção de mimeógrafo já existente e criar um canal de atuação conjunta contra barreiras institucionais, dentro de um espírito de resquícios contraculturais. Segundo Messeder Pereira, o clima de repressão, desbunde e desarticulação da universidade provocara desorganização e perplexidade suficientes para que este grupo buscasse viabilizar um novo tipo de “organização”, cuja característica central era congregar diferentes tipos de pessoas com o objetivo comum de atuação criadora e coletiva. Tratava-se de responder as perguntas sobre o que fazer e como canalizar a energia criativa de tantos, diante dos impasses nacionais e do próprio estilo de atuação desorganizada do grupo. O ponto central “era o barato [gíria para coisa boa] de reunir as pessoas”, diz Ronaldo Santos61, o que aglutinou a editora de livros, almanaques, cartazes, calendários; as reuniões e festividades na “casa do Silvestre”; o bloco de carnaval “Charme da Simpatia”; os jogos de futebol, no campo do Caxinguelê (RJ), onde se realizavam “peladas” semanais; além da produção de festas de lançamento em clima lúdico e leve, com atuações de artistas de diversos grupos e áreas, que eram chamadas “artimanhas”, realizadas no Parque Lage, na Livraria Muro (hoje Dazibao) e no MAM-RJ, entre outros lugares. O estudo de Fernanda Medeiros procura resgatar no grupo uma “utopia da interferência política por meio da poesia.”62 Marcados pela herança do modernismo e do tropicalismo com Cafi, Jorge Ladeira, Ronaldo Santos, ligados à música, e Pedro Cascardo, Dionísio e Lúcia, recém saídos das faculdades de engenharia e arquitetura, freqüentadores do carnaval carioca e que franquearam a “casa do Silvestre” (bairro do Rio de Janeiro, próximo a Santa Teresa, a caminho do Corcovado) ao grupo. Cf. idem, p.230-234. 61 Em depoimento a MESSEDER PEREIRA, idem, p.235. Após a edição de um cartaz do cantor Milton Nascimento, o selo Nuvem Cigana – agora expressão do grupo, e não apenas de Ronaldo Bastos – publicou trabalhos individuais e coletivos, como libretos marginais típicos, assinados por Charles (Creme de lua, 1975 e Perpétuo socorro, 1976); Ronaldo Santos (Vau e talvergue, 1975); Bernardo Vilhena (O rapto da vida, 1975); Guilherme Mandaro (Hotel de Deus, 1976); Chacal (Quampérius, 1977) e a revista Almanaque Biotônico Vitalidade (n.1, 1976 e n.2, 1977), que brinca com a estrutura dos antigos almanaques farmacêuticos, misturando com graça charadas, poemas, jogos, curiosidades, como mais uma forma de “artimanha poética”. Ronaldo Santos já havia publicado Entrada Franca, em 1973 (não disponho de informações biográficas sobre o autor). Quanto aos outros poetas do grupo, todos cariocas, Chacal (de nome Ricardo de Carvalho Duarte), nasceu em 1951, é poeta e produtor de eventos culturais, entre os quais o CEP 20.000 que ocorre mensalmente no Rio de Janeiro desde 1990, também editora a revista O carioca, desde 1996. Charles Ronald de Carvalho nasceu em 1948 e desde 1983 escreve programas para a TV Globo, como Armação ilimitada, Malhação e a minissérie Incidente em Antares. Bernardo Vilhena nasceu em 1949, foi fundador e editor da revista Malasartes, editor do Almanaque biotônico vitalidade e da revista O carioca. Nos anos 80 compôs músicas (mais de 150 gravadas) e produziu discos de MPB. Guilherme Mandaro, poeta e professor de cursinho pré-vestibular, nascido em 1951, iniciaria o curso de história em 1971, abandonando-o no final do terceiro ano. Faleceu em meados de 1979, provocando saudades no meio “marginal”, onde é sempre citado: “que não seja o medo da loucura que nos obrigue a baixar a bandeira da imaginação”. 62 Segundo a autora, o repertório das artimanhas procurava manter um duplo compromisso: estético (mediante jogos de linguagem falada, que elaboravam ludicamente o material fônico) e ideológico (buscando temas inquietantes para o poeta e para a comunidade leitora/ouvinte, e concebendo o poema como crônica, manifesto ou opinião política em geral sobre a cidade e o país). Estes, entretanto, são tratados como questões abertas, a palavra poética é vista como um discurso livre, rejeitando as condutas panfletárias ou pedagógicas. Cf. MEDEIROS, Fernanda Teixeira. Artimanhas e poesia: o alegre saber da Nuvem Cigana. Gragoatá, Revista do 218 (mais por sensibilidade do que por opção estética intelectual, cabe acrescentar), o grupo era regido pela idéia de uma comunidade em festa que se queria um foco de resistência criativa em meio à atmosfera repressiva, resistência esta que se daria pela força da palavra oral e pela capacidade do grupo em gerar “novidade”. Teatralizando um “pacto de eficácia” com o público – e neste ponto, diferentemente de Vida de Artista, é a eficácia da declamação poética que é vista como resistência, e não sua negação –, o poeta desejava manter sua função social enquanto poeta tout court, isto é, poeta de poesia falada que refaz permanentemente a linguagem por meio do improviso e da co-autoria, na qual se inclui até mesmo o público. Vendo a poesia de modo ambivalente, entre o banal e o solene, os integrantes da Nuvem Cigana se identificavam no terreno do paradoxo, sustendo seu discurso entre “o grande e o mínimo, o necessário e o inútil, a potência e a limitação.”63 Os dois seguintes textos ilustram um pouco esta linguagem: o que é o poeta afinal dos novesfora? nariz de platina veias de pvc: um coração à prova de choque o que é o poeta na fumaça tragado por sentimento? um ser só silêncio (Ronaldo Santos) tô saturado de todos os códigos de linguagem de linhagem tô com a língua seca pra lá da cerca enquanto o futuro do trabalho continua sendo o salário micha arrocho sufoco insegurança nacional o fim da miséria não é o fim da miséria na calçada um lenço vermelho nega o cimento (Guilherme Mandaro) Este lugar tenso ou paradoxal da Nuvem Cigana, derivado talvez de posições diferentes ocupadas por diferentes poetas dentro do grupo, permitia visões distintas sobre este, como a de Heloisa Buarque, para quem a coleção não fazia mais da experiência do “sufoco” um objeto de reflexão ou generalização, mas, ao contrário, a experimentava e traduzia na forma de sensações mais imediatas, “promovendo antes perplexidade do que crítica conceitual”. Primava uma postura muito vitalista e pouco reflexiva, marcada pela dispersão e momentaneidade, numa atitude diante da vida em que o prazer, a espontaneidade e a imediatez têm prerrogativa sobre a dimensão do futuro ou a perspectiva finalista. O poema, extremamente próximo das circunstâncias, confunde-se com elas, é transitório e perecível, perdendo seu teor de peça literária para se afirmar como registro e objeto transmissível. Em Programa de Pós-Graduação em Letras/UFF, Niterói: EDUFF, n.12, p.113-128, 1° sem. 2002., citação da p. 114. Em sua tese de doutorado sobre o grupo, Fernanda Medeiros trabalha com depoimentos recentes. 63 Idem, p.120. 219 decorrência, ao tender à supressão da metáfora transfiguradora da experiência64, criava-se uma espécie de justaposição neutra entre os elementos do poema, próxima ao que Octavio Paz havia chamado de “a nova estética da indiferença”, uma nova forma de rebelião jovem em que se protesta “com um levantar de ombros”, em vez do grito ou do silêncio com que haviam protestado as vanguardas. A autora completa: É assim que essa poesia acredita na essência da energia pura, recusa programas e qualquer tipo de eficácia de uma maneira aparentemente ilógica. E é natural que essa nova postura rejeite sistemas coerentes. Ela é resultado de um estado de coisas mais 65 elementar: a descrença e o mal-estar. A Nuvem Cigana foi acompanhado por outros novos grupos e suas coleções, que fervilharam por todo o Brasil (como se pode constatar nos Quadros Informativos no Apêndice), com uma linguagem variável, em um leque que ia da dicção mais cuidada de uma coleção Frenesi até a oralidade mais extremada de uma Nuvem, sendo esta a tendência geral, embora algumas se aproximassem até mesmo da forma concretista/pós-tropicalista66. Isto indica que de diversos modos e com contradições, a intensa atividade cultural continuava. Em meados da década, o surgimento de antologias poéticas gerando debates a seu respeito evidenciava a força da poesia no cenário cultural. Em 1975, César de Araújo e Walmyr Ayala 64 Neste ponto, a crítica observa uma inclinação distinta da metaforização que foi destacada como tendência geral da produção artística da época, que buscava “brechas” discursivas em meio à censura, conforme discutido no cap.3, no item sobre as formas de resistência da linguagem. Foi este tipo de comportamento e tratamento da linguagem que se tornou generalizado como poética “marginal” típica, recendo duras críticas que se entenderam a todos os outros indistintamente. 65 HOLLANDA, Impressões de viagem, p.119. Para o restante, ver p.119-129. 66 Há uma lacuna, na literatura específica, acerca dessas muitas manifestações poéticas que se espalharam pela Brasil na época, especialmente no que se refere aos grupos das periferias das grandes cidades. Heloisa Buarque costuma repetir que divulgou e comentou aquilo que chegou às suas mãos, em grande parte material de poetas de classe média do Rio de Janeiro. É visível, na obra crítica de Cacaso, que em determinado momento ele recebia muita coisa para avaliar e que seria inviável dar conta de tudo,o que também se percebe no livro de Leila Miccolis. Tentei iniciar uma pesquisa sobre alguns grupos menos conhecidos do Rio, mas é uma tarefa que foge ao âmbito desta tese, cujo foco é a experiência histórica comum a todos com base em uma amostragem, e não uma descrição geral. De todo modo, os Quadros Informativos anexos estão disponíveis para futuras pesquisas. Mediante entrevista e troca de correio eletrônico com Paco Cac (Paulo Cezar Alves Custódio, poeta e professor de literatura, nascido em Padre Miguel, RJ), obtive informações sobre a revista Gandaia, fundada em 1976 por ele, quando entrou na faculdade de letras da UFRJ e decidiu fazer uma revista reunindo colegas da escola de teatro Martins Pena e da própria faculdade. O primeiro número, com cerca de cem exemplares, foi editado em mimeógrafo elétrico, de modo artesanal, “tudo muito precário, afinal a ditadura estava com seus coturnos sobre nós”. As reuniões para editar a revista se davam na casa de Paco, no bairro de Ramos, onde também se reuniam os organizadores do grupo Garra Suburbana. Entre 1976 e 1981 foram publicados sete números, com crescente variação de colaboradores, entre os quais se destacam Luis Soares Dulci [hoje ministro e um dos criadores do grupo Folha de Rosto], César Cardoso, os irmãos Rubens Figueiredo [hoje escritor premiado], Reinaldo Figueiredo [do programa televisivo Casseta & Planeta, veiculado pela emissora Globo] e Cláudio Figueiredo, Maíra Parulha, Lino Machado. Até mesmo Paulo Leminski, tão crítico dos “marginais”, chegou a colaborar. E mais uma vez se manifestando em relação aos novatos, Carlos Drummond de Andrade escreveu uma carta, elogiando a iniciativa e estimando que continuassem “com o espírito livre e pesquisador”. A frase citada acima, segundo e-mail datado de 18 mai. 2007, consiste numa lembrança que revela a ligação, estabelecida pelos poetas e sempre frisada, entre sua precariedade e o contexto ditatorial. 220 editam Abertura Poética, Primeira Antologia dos Novos Poetas do Novo Rio de Janeiro, reunindo poetas não marginais. Estes seriam contemplados, naquele mesmo ano, em “Poesia brasileira hoje”, organizada por Heloisa Buarque de Hollanda na revista Tempo Brasileiro e em “Consciência marginal”, por Eudoro Augusto e Bernardo Vilhena, na revista Malasartes n°1.67 Em 1976, surge a antologia 26 Poetas Hoje, também organizada por Heloisa Buarque a pedido da editora espanhola Labor, recém-chegada ao Brasil. Esta antologia, que posteriormente se tornou clássica para os estudos da época, gerou muitas controvérsias acerca do “erro” em que consistia institucionalizar aquilo que era para ser uma manifestação independente, alternativa ou “marginal”, ou, inversamente, aquela poesia que era “ruim, suja e sem qualidade”, expondo uma linguagem grosseira demais para tratar poeticamente dos temas propostos, isto é, da experiência cotidiana do sexo, dos sofrimentos, das relações sociais, da situação política nacional. Em posfácio de 1998, Heloisa rememora: “É interessante lembrar ainda que a Antologia não foi recebida pacificamente. Um pouco, todos se irritaram: imprensa, professores, críticos, poetas. A academia repetia, com uma insistência inexplicável, que ‘aquilo não era poesia, era um material de interesse apenas sociológico’”.68 Inusitadamente, segundo a autora, aquela poesia, ao ser confirmada pela antologia, ocupava inesperado espaço na imprensa e nos debates acadêmicos. De fato, essa poesia adquiria crescente espaço na imprensa, especialmente no Suplemento Literário da Tribuna da Imprensa (RJ), editado por Maria Amélia Melo, e no Em Cartaz, de Curitiba (PR). Todavia, é a quantidade de novas revistas veiculadoras de literatura que salta aos olhos: o fenômeno das revistas literárias de toda ordem, periódicas ou em número (quase) único é uma das características centrais dos anos 70, especialmente a partir de 1974. Em recente trabalho, Paco Cac as inventaria (ver Quadros Informativos no Apêndice), alocando-as entre os “vírus da intervenção” que se espalhavam pelo país naquela década, como as performances, eventos etc., quando artistas, acredita ele, teimavam em driblar o cerceamento da vida e abrir espaços em um “tempo de poucas (e rápidas) palavras.”69 Sua 67 68 69 Segundo MESSEDER PEREIRA, idem, p.221. A revista Tempo Brasileiro era de n. 42/43, jul./-dez. 75. HOLLANDA, no posfácio à 4ª edição da antologia 26 poetas hoje, p.261. Paco cita como epígrafe o conhecido texto de Leminski a respeito da importância dessas revistas como principal expressão da poesia escrita na época, “O Veneno das revistas da invenção”, publicado na Folha de São Paulo, 16 mai. 1982, Folhetim 278, p.3: “Consolem-se os candidatos. Os maiores poetas (escritos) dos anos 70 não são gente. São revistas. Que obras semicompletas para ombrear com o veneno e o charme policromático de uma Navilouca? A força construtiva de uma Polem, Muda ou de um Código? O safado pique de um Almanaque Biotônico Vitalidade? A radicalidade de um Pólo Cultural/Inventiva, de Curitiba? A fúria pornô de um Jornal Dobrabil? E toda revoada de publicações (Flor do Mal, Gandaia, Quac, Arjuna), onde a melhor poesia dos anos 70 se acotovelou em apinhados ônibus com direção ao Parnaso, à Vida, ao Sucesso ou ao Nada.” Cf. CAC, P. Revistas literárias brasileiras, 1970-2005. v.1. Brasília: Stephanie, 2006, p.15. Para sua visão ver Apresentação, p.11-16. As revistas são listadas também em HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia jovem..., p.6-7, que 221 opinião, que é ao mesmo tempo depoimento e memória, em virtude de sua ativa participação no grupo Gandaia, traduz um sentimento então bastante comum e próximo ao que se viu na Nuvem Cigana: A edição de uma revista nos anos 70 era um ato de celebração à vida, uma forma de juntar as pessoas num ato poético e político. O lançamento era uma festa, um apronto, artimanha, ou uma intervenção como alguns chamavam na época. Trazia o espírito de um happening. Um encontro onde a cumplicidade rolava silenciosamente, num sorriso fraterno. A arte exercia essa força aglutinadora, com todas as manifestações: música, teatro, cinema (Super 8), poesia, artes visuais [...]70 Com efeito, uma congregação humana, amistosa e festiva era percebida como um evento de força política e reativa naquele contexto fechado e desagregador. Curiosamente, a juventude, sob os influxos dos happenings da pop-arte, retomava aquilo que Antônio Cândido chama de “tradição de auditório (ou que melhor nome tenha)” da literatura brasileira, marcada pela importância do discurso em todos os setores da vida brasileira, pelo recitativo e pela musicalização de poemas. “Se as edições eram escassas”, diz Cândido, “a serenata, o sarau e a reunião multiplicavam a circulação do verso, recitado ou cantado”.71 Foi assim, em virtude de públicos receptivos de auditores, que desde o romantismo a literatura penetrou melhor na sociedade. Mas esta tradição traz problemas, pois os escritores se habituaram a produzir para públicos restritos, além de depender da aprovação de grupos dirigentes, também reduzidos. Isto, somado à maioria esmagadora de iletrados no país durante séculos, contribuiu para impedir um diálogo efetivo do escritor com as massas, ou com um público suficientemente vasto para substituir o suporte das pequenas elites afeitas à literatura, não por refinamento de gosto, mas por certa capacidade de se interessar pelas letras. Em conseqüência, criou-se uma tendência a uma escrita fácil ou uma “dificuldade fácil do rebuscamento verbal”, que se deixa vencer logo, porém. Se este panorama principiou a se alterar na primeira metade do século XX, com a atuação dos modernismos promotores de maior refinamento da leitura e da escrita, as mudanças técnicas na comunicação, como o rádio, e a ascensão da massa de trabalhadores, a partir dos anos 30-40, produziram um contrapé: ao lado das vanguardas literárias dinâmicas, que atendiam às exigências de qualidade estética, a tradição de auditório se reafirmou, mantendo a força da oratória, da melodia verbal, da imagem colorida, enquanto características de uma literatura produzida para se falada e ouvida. Permaneciam “os caminhos tradicionais da facilidade e da comunicabilidade imediata”, pois o aumento do público dava “maior trazem ainda outro ponto do comentário de Leminski: “[...] Pequenas revistas, atípicas, prototípicas, não típicas, coletivas, antológicas, representando um grupo ou tendência (‘formalistas’, ‘pornô’, ‘marginais’), onde predominou a faixa etária dos vinte aos trinta anos. Em comum: a auto-edição”. 70 CAC, P. idem, p.16. 71 CÂNDIDO, A. O escritor e o público. In: Literatura e sociedade, p.76. 222 envergadura coletiva à oratória” e gerava uma espécie de “sentimento de missão social” nos escritores, “que não raro escrevem como quem fala para convencer ou comover”72 – ou, podese acrescentar, para testemunhar. Nesse sentido, a vertente “nacional-popular” dos anos 50 e 60 procurava, em seu engajamento, simultaneamente usar e superar os recursos da tradição de auditório para tentar dialogar com as massas, sem maior sucesso. Por sua vez, a poesia dos anos 70, fruto de derrotas e desilusões, retomava intuitivamente esta tradição, apenas para manter abertas algumas vias de diálogo, num tempo sem voz. A importância da reunião, da confraternização e do auditório se torna mais clara quando compreendida em contraposição ao processo fragmentador vivido sob a modernidade autoritária, como uma busca de cicatrizar o cotidiano ferido por meio da mobilização de aspectos diversos da cultura (o carnaval, o futebol, as artes, a festa), somando-os, sobrepondoos, como se na mistura de muitos princípios ativos se pudesse obter o elixir capaz de sanar o desalento experimentado: “O futuro é uma ciência fodida pelo tempo/O presente é isso aí/O passado é a gavetinha onde a memória brinca/de obra e Arte” (Isabel Câmara).73 5.4. Experiência cotidiana e subjetiva: uma resistência límbica Vistos como um todo, os textos dessas antologias, coleções e revistas, enfatizavam a vivência subjetiva como alicerce da crítica social. Recusando a poesia política meramente retórica – do que as críticas de Cacaso a Thiago de Mello são um exemplo –, os poetas se voltavam sobre o conteúdo de sua própria experiência existencial, em busca da matéria que sustentasse a linguagem lírica e garantisse a vigência da práxis, compreendido o conceito grego como junção de teoria e prática, o que significava, naquele momento, registrar, denunciar e modificar o comportamento (pretensamente, em alguns casos) de acordo com novos padrões ou padrão algum. O foco crítico-poético se transferia do plano das idéias para o interior da vivência cotidiana, cuja dinâmica passava a ser crescentemente sentida também como uma dimensão cultural-política a ser reavaliada, o que não deixava de ser uma herança da proposta marcuseana de revolução cultural em sentido lato, e sua derrota. No que se refere ao cotidiano, um ensaio de Agnes Heller contribui para situar melhor os meandros em que andavam os poetas. Na sua concepção, a atividade prática dos indivíduos só se eleva à condição de práxis propriamente se for “atividade humana genérica consciente”, 72 73 Idem, p.76-80, trechos citados p.80. Probel/Problemas, de Isabel Câmara, In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.215. 223 isto é, quando o indivíduo conjuga a percepção de si à percepção de ser pertencente à humanidade, conscientizando-se de que o homem é um ser genérico, “produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento humano”. Enquanto isto não ocorre, não se supera a unidade imediata de pensamento e ação (que não é teoria, nem práxis, que exigem mediações reflexivas) e a atividade individual é tão somente uma parte daquela práxis desejada, que a partir do que é dado pode produzir algo novo, sem obrigatoriamente transformar em novo o já dado. Essa “consciência” do humano-genérico sempre se constrói pela comunidade à qual o indivíduo pertence, em cujas relações se vão constituindo suas percepções do eu e do nós, sua assimilação dos costumes e normas do intercâmbio social, seu aprendizado dos fatores e mediações do cotidiano. Contudo, a estrutura da cotidianidade na vida moderna acaba por submeter o genérico ao particular, de modo que as necessidades e interesses da integração social são postas a serviço dos afetos, desejos e egoísmo do indivíduo. Assim, os elementos que compõem estruturalmente a vida cotidiana74 passam a receber um peso maior da particularidade, ao que se soma um modo de pensar e conhecer fragmentário, também característico da experiência diária.75 Pode-se dizer que isto atrapalha o processo de “amadurecimento” para a cotidianidade, ou seja, o processo que ensina o adulto a dominar a manipulação das coisas, da natureza e das relações sociais, que também se inicia no grupo até que o indivíduo possa manter-se autonomamente no ambiente mais geral da sociedade. Se tal coisa não ocorre e se as formas necessárias da estrutura e do pensamento cotidianos se absolutizam, cristalizando-se sem deixar uma margem de movimento, patenteiase uma dinâmica alienada, compreendida, já que a alienação sempre se dá comparativamente a algo, em face das possibilidades concretas e presumíveis de desenvolvimento genérico da humanidade. A vida cotidiana, diz Heller, é de todas as esferas da realidade aquela que mais se presta à alienação, uma vez que a atividade humano-genérica, por si só muda e não aparente, torna-se crescentemente inconsciente e baseada em motivações efêmeras e particulares. De maneira geral, a arte e a ciência (mas não a moral) tendem a propiciar uma elevação a um plano acima ou fora do cotidiano, embora não seja possível traçar uma linha 74 Heller elenca e analisa como elementos estruturais: espontaneidade, pragmatismo, priorização do econômico, pensamento e conduta analógicos, juízo provisório e ultrageneralização, tendência à repetição mimética e entonação (tom pessoal do sujeito). Para a abordagem do cotidiano, ver este trabalho da fase lukacsiana de HELLER, A. Estrutura da vida cotidiana. In: O cotidiano e a história. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p.17-41. A publicação original é de 1970, o que aponta para a preocupação com a cotidianidade como uma temática de época. 75 O pensar fragmentário, aliado à unidade imediata de pensamento e ação resulta na identificação aproblemática entre o correto e o verdadeiro na cotidianidade, o que não se sustenta filosoficamente, mas surge como um dos pontos subjacentes às dissensões críticas em torno da (não) resistência cultural, naquela época. 224 divisória rigorosa entre o comportamento cotidiano e aquele que não o é. O trabalho artístico e o científico podem produzir objetivações extra-cotidianas duradouras, por serem capazes de romper com a tendência espontânea do pensamento e a orientação ao individual-particular, promovendo uma superação dialética (Aufhebung) da particularidade em direção à atividade humano-genérica, ainda que o artista e o cientista sejam homens da cotidianidade e que toda obra significativa tenha efeitos sobre o cotidiano de todos. Todavia, a ciência moderna pode absorver a estrutura cotidiana ao se colocar sobre fundamentos pragmáticos, assim como a arte pode ser absorvida se decide escolher efêmeras motivações temáticas e abstrair a amplitude do humano. Neste caso, arte e ciência manifestam alienação, como sucede na moral e na política quando reproduzem idênticos mecanismos. A autora sublinha, porém, que a vida cotidiana não é necessariamente alienada como determinação de sua estrutura, mas dependendo de certas circunstâncias sociais. Há uma margem de movimento que permite ao indivíduo uma espécie de “condensação prismática” da experiência humana, em que se superam as separações produtoras das formas alienadas. Em alguns momentos, formaram-se constelações históricas propiciadoras disto, bem como em todas as épocas existiram personalidades aptas a superar o abismo “entre o desenvolvimento humano-genérico e as possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos humanos”, entre a produção da vida e a participação consciente do indivíduo nesta produção. Isto configura um tipo de “resistência” que permite a certos indivíduos e/ou grupos ordenar a cotidianidade – o que é um fenômeno nada cotidiano – e conduzir a existência ainda quando as condições econômico-sociais gerais favoreçam o abismo da alienação. Nos volteios das forças alienadoras e resistentes que dependiam tanto do grupo quanto do indivíduo, da maturidade e do infantilismo, do particular e do genérico, da prática, da teoria recusada e da conseqüente impossibilidade da práxis almejada, nos volteios da voz e do silêncio, do cotidiano e da possibilidade de dar um salto “para fora” ou para um mundo melhor, o lirismo se achava, se perdia e prosseguia. Em meio à crise econômica, inflação e desemprego; à política ditatorial e à violência de Estado; à sociedade, em geral, também violenta e impregnada de autoritarismo; à derrota dos projetos transformadores... a experiência cotidiana dos anos 70 não era nada apreciável. As circunstâncias políticas eram “experimentadas como fator de interferência e limitação da vida cotidiana”, sentida como “absurda”, tal o grau de opressão que se colocava às inteligências e sensibilidades. O contexto asfixiante não favorecia a desalienação, exigindo enorme empenho daqueles que buscavam 225 atualização poética e comportamental e acabaram realizando um certo tipo de poesia social, mas de todo diferente do que se fazia nos anos 60.76 A resistência poética possível se restringia ao âmbito privado, onde teoricamente o sujeito é proprietário de coisas e de si mesmo, mas pode ver-se objetivamente esvaziado de bens e dons, como ocorre na “Propriedade privada” de Luis Olavo Fontes77: não tenho nada comigo só o medo e medo não é coisa que se diga A constituição intrínseca do sujeito como possuidor e mercador, inclusive de si, é característica da formação do mundo moderno, onde a subjetividade se apresentava como uma possibilidade de construção promissora, capaz de criar(-se) pensamento, ciência e arte, entre outras formas e visões de mundo, como se observou no primeiro capítulo78. Que este sujeito tenha sido circunscrito pelo medo, e nada mais, é indício de sua falência. Que ele seja ainda capaz de dizê-lo é prova de que algo ainda se sustém, passível de espelhar o eu em uma contraposição minimamente crítica. O fato de o medo não ser “coisa que se diga” implica vergonha moral de se possuir apenas uma paixão temerosa que não se quer nem se deve compartilhar, bem como reporta à idéia de um terreno incompartilhável que, reforçada pela sugestão sócio-econômica do título, remete à vitória dos proprietários sobre aqueles que pretendiam reformas estruturais, que nos anos 60 se denominavam lutas pelas reformas de base. A derrota gerou propriedades mais concentradas e sujeitos impedidos do ato de partilhar e, por conseguinte, do aprendizado da generosidade e racionalidade socialmente construídas que isto exigiria. Mas a impossibilidade de dizer revela também, mais uma vez, um corte traumático presente no sentimento expresso, reiterado ad infinitum por inúmeros poemas da época que insistentemente retomavam a imagem do calar-se ou ser calado pela força das 76 Sobre a limitação do cotidiano e o teor social diferente da “poesia de tipo missionário e esquemático” dos poetas engajados anteriores, cf. HOLLANDA, Introdução à antologia 26 poetas hoje, p.11-12 (grifo meu). 77 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.172. Quanto à redução da resistência ao privado, ver comentário de Costa Lima, em Intervenções, sobre esta poesia que se pôs a salvar “o quarto dos fundos” após a casa incendiada, já mencionado no cap.4. 78 A relação entre sujeito e propriedade burguesa, para além da coincidência de origem histórica, é um dos pontos do trabalho de Marildo Menegat, que desenvolve este tema adorniano em diversos artigos, como “Reconhecimento e violência”, onde se lê: “Nada é mais característico da alienação da essência da natureza humana como potencialidade do que a concepção burguesa desta, centrada no axioma da propriedade privada como princípio constitutivo inamovível que limita, inclusive, o desenvolvimento sensorial dos indivíduos, reduzindo a esmagadora maioria da humanidade a uma existência embrutecida. Para cada um dos sentidos, a vida em sociedade desenvolveu formas específicas de apreensão do mundo objetivo, humanizando-o através dessas incorporações dos objetos ao seu modo de se relacionar com eles, desenvolvendo dessa forma suas potencialidades, transformando e refinando em níveis cada vez mais elevados a sua existência. No entanto, esse processo e seus resultados sempre foram historicamente apropriados de forma restrita [...]”. In: O Olho da barbárie, p.239-240. 226 circunstâncias – vide a imagem do poeta como um “ser só silêncio” de Ronaldo Santos –, de modo que algo que poderia ter sido revelado foi impedido, esquecido ou perdido, o que demonstra ser o caráter daquela resistência cultural mais complexo do que talvez se costume admitir. A própria linguagem do silêncio não é tão simples, como sugere o trabalho de Eni Orlandi, que, sob o foco da análise do discurso, trata a questão do ponto de vista lingüístico e histórico. Perpassando profundamente o cotidiano, a língua pressupõe o silêncio, que é fator estruturante da palavra, condição do ato de significar como uma respiração, “um lugar de recuo necessário para que o sentido faça sentido”. Porque o silêncio é significante e fundador, aquilo que estaria “fora da linguagem não é o nada, mas ainda sentido”.79 Quando há asfixia, como no contexto em estudo, a respiração da palavra é atingida. Então, outra área da dimensão silenciosa é acionada, aquela que Orlandi denomina política do silêncio, ou seja, sua dimensão social e histórica, uma vez que o silêncio participa da construção social dos discursos, dos diferentes sujeitos locutores e do que é dizível ou não dentro de uma formação discursiva, dependendo da materialidade da língua e da história. Aqui também se divide o silêncio em dois tipos: o constitutivo, elemento intrínseco das formulações historicamente determinadas, isto é, das relações complexas dos sujeitos entre si e com seu tempo, de forma que nos processos de significação da história há regiões de sentido que não se chegam a formular, nem mesmo a reconhecer, estabelecendo-se um âmbito “historicamente nãodizível”, um não-significado como uma impossibilidade histórica; e um tipo de silêncio pontual, local, a censura propriamente dita, na forma de relações de poder que agem sobre a formulação e a responsabilidade sócio-política do autor; são sentidos historicamente passíveis de serem ditos mas interditados, pois relações de força intervêm nas circunstâncias da enunciação, proibindo traços que poderiam ser formuláveis ou ditos. Neste segundo caso, não ocorre ausência de informação, mas interdição: a censura funciona em termos de “circulação e de elaboração histórica dos sentidos, assim como sobre o processo de identificação do sujeito em sua relação com os sentidos. Ela impede o trabalho histórico dos sentidos” e, por conseguinte, de construção das subjetividades.80 Onde há censura, porém, há igualmente resistência, pois ambas trabalham na mesma região de significação, como as duas faces de Jano. O silêncio imposto se torna “carregado de palavras a não serem ditas”, que por esta mesma razão significam. A censura opera, então, 79 80 ORLANDI, E. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 3.ed. Campinas: UNICAMP, 1995, p.13. Ibidem, p.110. A autora lembra que o termo interdição tanto significa proibição quanto inter-dicção ou entredizer (do francês interdire). 227 como um sintoma de que há outros sentidos ocultos e de que, ali, há um problema dos sujeitos com o dizível. Desenvolve-se, assim, uma linguagem de resistência, caracterizada pela contradição-transformação dos efeitos de sentido das palavras, indo além do senso comum, de uma forma especial em que se diz o mesmo para dizer o diferente, ou seja, há uma reversão do discurso oficial, sem negá-lo. As palavras passam a significar pelo avesso, como um duplo, de forma a conseguirem “significar o que é preciso não dizer”.81 Estudando especificamente formas da linguagem de resistência sob a ditadura militar brasileira que experimentou pessoalmente, a autora relembra: No momento em que a violência da ditadura era mais aguda e a censura já se tinha instalado no cotidiano de todo brasileiro, formas muito variadas de comunicação e de resistência se estabeleceram.//Eram os dias em que a tortura e a morte ameaçavam qualquer signo que deixasse supor uma discordância com o regime militar. Por medo, já havíamos introjetado a censura, isto é, cada um experimentava, na sua própria intimidade, os limites do dizer.//No entanto, os sentidos proibidos ‘transpiravam’ por não importa que signo ‘inocente’. Formas de responder à censura faziam sua aparição.82 A metáfora da transpiração dialoga com a da asfixia para compor a imagem da resistência. Se não é possível respirar, transpira-se: analogamente, Orlandi destaca, no conflito silencioso e feroz dos sentidos, procedimentos de deslocamento de significados (substituições, repetições estratégicas, jogos de rima em “ura”/ditadura, anagramas, metáforas forçadas, referências intertextuais, remissão implícita a autores de esquerda etc.), de modo que o silêncio foi parte integrante do resistir, por estranho que pareça. Sob censura, a força dos significantes recrudesce, aumentando o peso simbólico das alusões, pois “qualquer coisa serve para significar, qualquer matéria significante explode os limites do sentido”. Por isso, os sentidos proibidos migram para quaisquer outros objetos simbólicos possíveis, os quais, como pontos de fuga para onde converge o dizível, podem assumir uma configuração estereotípica, como decorrência da necessidade política. À guisa de ilustração, a autora recorda os seguintes acontecimentos: o uso da cor amarela como símbolo de resistência; o dia em que se bateu panelas em hora combinada, em todas as cidades do Brasil ao mesmo tempo, pois o ruído adquirira um sentido especial em contraposição ao silêncio imposto; pelo mesmo motivo, se fez o “dia do buzinaço” em Brasília, quando os carros buzinaram conjuntamente contra um 81 Idem, p.116. Para a dialética de censura e resistência, cf. pp.112-136. Considerações sobre as maneiras como a poesia da década de 70 respondeu ao discurso oficial se encontram no cap.3, no subtítulo “No campo minado das palavras”. 82 Idem, p.117-118. Note-se que neste trecho, que é um depoimento, Orlandi modifica sua dicção, que passa da análise crítica ao teor testemunhal, lançando mão de metáforas e sugestões. 228 governante militar.83 Os sentidos silenciados vão significar em outros lugares simbólicos e de modo surdo explodem, de vez em quando, em equívocos, contra-sensos, termos de mau-gosto e anacronismos. A censura os transforma em manifestações deslocadas de resistência. Por um mesmo processo enviesador, os excessos autoritários e silenciadores exacerbam a relação do sujeito consigo mesmo, sua identidade, seus sentidos tão próprios. Mas o mesmo efeito também é ocasionado, como observou E.P. Thompson acerca dos poetas românticos ingleses, pela perversão dos ideais revolucionários, gerando trauma e perda de esperança num mundo real comum a todos. A conseqüente decepção propicia aos sujeitos se voltarem para dentro de si, em um movimento que tende a superestimular a sensibilidade e o autocentramento, podendo contudo dirimir a inspiração poética. Derrotados os impulsos mais generosos da cultura, notam-se nesta aquilo que Thompson chamou de uma confusão romântica, em que se superestima a sensibilidade em detrimento do intelecto, porque se os confunde com uma relação conflituosa entre educação refinada e experiência84. Dinâmica semelhante se instalou na poesia brasileira da década de 70, provocando controvérsias na crítica literária a respeito da eficiência política e estética daquele lirismo “excessivamente” subjetivo. Na leitura de Hollanda85, o retorno à primeira pessoa, após os anos de experimentação formal das vanguardas, retomando uma poética mais escrita do que visual e que priorizava tematicamente a vivência da paixão e do medo, era capaz de constituir uma resposta crítica aos impasses que haviam assaltado o início da década. Esta meia-volta vivencial se definia como fator estruturante da nova dicção poética, cujo sentido crítico era dado pela linguagem irônica, que lapidava com humor o sentimento de asfixia experimentado diariamente. Flora Sussekind, contrariamente, tende a ver uma redução do horizonte literário na década de 70, posto que a literatura, sem dúvida interessada em resistir, veio desavisadamente a escolher armas semelhantes às do próprio regime autoritário; no caso da poesia, os pactos subjetivos de uma “poesia do eu”, centrada nas confissões pessoais e no registro de instantes cotidianos, no tom de intimidade e trivialidade dos diários. A expressão da subjetividade se sobrepõe à construção formal, e em alguns casos, à referencialidade nacionalista que dominava a prosa, embora a experiência personalíssima limitasse a fronteira referencial dessa poesia. Implícita na dicção confessional, a busca de cumplicidade e reconhecimento imediato 83 A autora não menciona as datas. Cf. idem, p.121-122. Citação logo acima, p.126. Os procedimentos de resistência são estudados na obra de Chico Buarque, mas muitos se encontram também nos poetas marginais. Para as linhas que se seguem, p.129-133. 84 Cf. cap.1, onde a discussão sobre a experiência entre historiadores inclui estas considerações de Thompson, que se extraem do livro Os Românticos. 85 Esta visão perpassa seus diversos trabalhos. Ver especialmente Poesia jovem Anos 70. 229 pelo leitor levava a um maior diálogo com a mídia do que com a série literária. Isto porque a memória, quer literária ou social, não é reverenciada por esta poesia, cuja dimensão temporal é presente, dada pelos jogos fortuitos do acaso e dos instantâneos da vida. Flora alerta para os riscos dessa poesia biográfico-geracional, marcada por uma “síndrome da prisão”, ou seja, a tendência ao autocentramento solitário que, pensando falar contra a corrente, revive com a estética personalista uma opção literária conservadora e pouco capaz de olhar criticamente o país e de ampliar o horizonte artístico e político dos leitores, deste modo reproduzindo, ainda que não intencionalmente, os efeitos da política cultural do regime autoritário: Não é difícil, pois, entender a preferência pelos retratos falados do país [na prosa] e da própria subjetividade em estilo abundante e ritmo oratório. Neles não se acham em perigo identidades, nacionalidades, nem o próprio gesto de escrever. Neles falase de medos individuais ou coletivos, mas não se deixa que eles invadam o próprio texto. A literatura-verdade, com suas certezas, pode falar de abismos, mas jamais se debruça demasiadamente sobre eles.86 A questão a indagar é se já não se estava falando de dentro do abismo, fossem os abismos da incerteza social, do trauma histórico, da alienação, do medo e tantos outros, de modo que abismar a linguagem seria um esforço “a mais” que para – quantos? – talvez não fosse possível ou factível. Por isso, Wilberth Salgueiro pondera “como exigir de tais poemas preocupações formalistas ou até beletristas em plena barra pesada, para usar de uma expressão de época? [...] Se a poesia nem sempre tem a história que merece, da recíproca não se pode dizer o mesmo.”87 Aquela “poética do medo”, diz ele, precisava ser rápida para captar o instante, porque, já dissera Benjamin, a imagem do passado reluz veloz e aquela poesia tinha imperiosa fome de registrar seu tempo, como se a construir a memória de sua experiência de reação. Não se pode descartar uma “melancolia da impotência”, como nota Oehler, como força literária produtiva, capaz de produzir até mesmo um boom, situação em que os sujeitos retiram das limitações sociais certo alento para um fazer estético e intelectual que, concentrando-se em seu mundo interior, pode vir a desvelar “as relações secretas ou as correspondências entre o universo pessoal reduzido ao silêncio e o universo político a ser reduzido ao silêncio”88. A linguagem subjetiva, então, funciona como um testemunho social 86 87 SUSSEKIND, Literatura e vida literária, p.114. Para a crítica da poesia, ver esp. “Literatura do eu”, p.114-147. SALGUEIRO, W. C. Forças & formas, p.37. Grifo do autor. O jogo de idéias que o autor faz aqui não diferencia a historiografia, que nem sempre faz jus à poesia, do processo histórico, ao qual as formas poéticas sempre se correlacionam. 88 OEHLER, D. O velho mundo desce aos infernos, p.21. 230 da adversidade contextual. Como mostrou Adorno em “Lírica e Sociedade”89, esta busca de subjetivação e mesmo de esteticismo, com maior ou menor dose de desespero ou inocência, é um movimento típico da modernidade, uma reação ao mundo adverso, escondido pela crença otimista no progresso, mas cuja sociabilidade é sentida como restritiva, decadente do ponto de vista ético e impraticável para o sujeito que quer constituir-se em amplitude, gerando uma dinâmica cultural – com muitas nuances e contradições, conforme o caso – em que a procura da voz individual é parte mesma da corrente subterrânea coletiva. A imagem da hidra, repetida em poemas e comentários sobre a época, traz uma carga semelhante ao aceno do dedo cortado de Nicolas Behr, desvelando a grande dimensão de violência e custo humano contida naquela resistência. A figura mitológica da hidra de Lerna, serpente de sete cabeças que renasciam assim que cortadas, é símbolo antigo daquilo que surge em meio à opressão e resiste a muitas investidas, mas no poema “Algazarra”90, de Ana Cristina César, as diversas cabeças se reduzem a espiar receosamente a desordem em torno: [...] na cozinha a hidra espia medrosas as cabeças; [...] no ostracismo desorganizo a zooteca me faço de engolida na arena molhada do sal da criação; o coração só constrói decapitado e mesmo então os urubus não comparecem; [...] da tribuna os gatos se levantam e apontam o risco dos fogões. A desorganização de papéis e funções, postos numa dimensão entre a natureza e a cultura, entre a esfera íntima e a pública, mostra o grau de confusão, no sentido etimológico 89 O ensaio encontra-se na coleção Os Pensadores, já referido no cap.1. O raciocínio adorniano aplica-se à dialética da cultura moderna. Mas Simon e Dantas consideram, com base em F.Jameson, que, a despeito dos marginais pretenderem a plena realização do sujeito, típica da modernidade, acabaram criando uma voz quase uníssona, mas anônima e massificada, marcada pela crise utópica e aderente à sociedade de consumo, o que os aproxima da dinâmica pós-moderna (o tema será retomado adiante). Os autores também estabelecem uma distinção entre os grupos marginais iniciais e aqueles do final da década de 70, que não teriam obtido realizar o intento dos primeiros, como se verá adiante. Cf. SIMON e DANTAS. Poesia ruim, sociedade pior, p.101. 90 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.144-145. 231 dos fusos trocados, que se enfrentava em um mundo onde os afetos (corações) só podem ser construtivos se violentamente separados (decapitados) das cabeças pensantes, os “gatos” – raros, pode-se acrescentar – em sua astúcia esquiva preferem o risco de ter voz na tribuna ao risco do aconchego privado, no calor dos fogões e cozinhas, onde as cabeças resistentes se refugiam, também elas amedrontadas. Ana C., como também se chamou, apresentava uma linguagem bastante elaborada, sui generis em seus “fingimentos”, caracterizando-se por um tom confessional, mas não autobiográfico, isto é, entre a autora, o sujeito lírico e o leitor se interpunham as famosas “luvas de pelica”; seus diários íntimos e correspondência pessoal eram inventados, nada introspectivos, os sentimentos e emoções compartilhados na superfície das coisas. Seu texto na forma de montagem mesclava o ritmo do pensamento e da fala, do diálogo e do monólogo, língua portuguesa e estrangeira, cortes súbitos, mudanças de rumo e pontuação; por vezes, uma escrita desbocada, usando termos chulos e obscenos, como a “certificar a emancipação discursiva da mulher”, diz Santiago91. De qualquer modo, sua dicção poética é toda circunscrita à dimensão subjetiva, o sujeito lírico mais “engolido na arena” e propenso “ao risco dos fogões” do que talvez sua pessoa. Jogando ousadamente com experiência e ficção, a poesia de Ana foi considerada hermética por alguns, ou ainda de uma “afetação chique que disfarça, com elisões, silêncios e estilo, a véspera de grandes desmoronamentos”92, como veio a atestar a forte depressão e o suicídio da poeta no início dos anos 80. As dores, indistinções e ambigüidades, nem sempre controladas pela consciência autoral, resvalavam pelas mesmas frestas por onde se esgueirava a linguagem da resistência cotidiana e poética, até mesmo porque não era fácil distinguir a mudança em curso de sentidos sociais tão caros quanto o de revolução, (sub)desenvolvimento, humanismo, civilidade, que, como já visto, sofriam inversões no discurso oficial com repercussões sobre toda a sociedade, configurando o que se chama de trauma na linguagem e, conseqüentemente, na experiência da leitura de mundo. Con-fusões e elipses traumáticas, porque não escolhidas e impronunciáveis 91 Para estas considerações sobre a linguagem de Ana C., ver Tentativa de pegar Ana à unha. de Armando Freitas Fº, e A falta que ama. de Silviano Santiago, In: CÉSAR, A.C., op.cit., p.7-19 e 110-115, respectivamente. A poeta, nascida no Rio de Janeiro em 1952, foi escritora precoce, manifestando-se literariamente desde a infância e, por isso, achava que “desbundar’ era se livrar dessa aura, como revelou a Messeder Pereira, em Retrato de época, p.191. Formada em Letras pela PUC-RJ, cursou mestrado em Comunicação na UFRJ, foi tradutora e professora de língua e literatura brasileira e inglesa, com diversos trabalhos publicados. Suicidou-se em 1983, quando passava por uma grande depressão, provocando comoção no meio literário “marginal”, já em dissolução. Objeto de vários estudos acadêmicos, Ana teve o perfil de sua vida e obra pintado por seu amigo, poeta e atual professor da UERJ, Ítalo Moriconi, que o faz dentro do seu contexto geracional. Cf. MORICONI, I. Ana Cristina César: o sangue de uma poeta. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/Prefeitura, 1996. Também amigo, Armando Freitas Fº é o curador de sua obra, por ela escolhido. Sobre a dimensão sócio-histórica do suicídio, ver cap.3 desta tese. 92 SIMON, e DANTAS, op.cit., p.104. 232 pela interferência da dor social, não estão ausentes do discurso lírico e do desejo de reação política vigente à época93. Na busca de uma expressão possível que cingisse esperanças e cindisse o gelo de um processo de silenciamento e arruinamento, a poesia abria veredas com a faca de dois gumes da individualização, da procura de sentidos para a experiência pessoal e de espaços para sua expressão poética e irônica. Eram tempos de falar da vida comezinha, como se através dela se pudesse transpassar um punhal de palavras, e de rir para não chorar, como se aprendera dos sambas de antanho. Resultava disto uma dilacerante contradição entre o aprofundamento no universo íntimo e a vivência do parco espaço público ainda restante, e, no que concerne à linguagem, entre a dicção esteticamente elaborada mas acessível a poucos pares, a divulgação massiva para público mais vasto e os silêncios de todo tipo, inexoráveis e escolhidos, fenômeno que não se dava apenas com a poesia. No ensaio “A Imaginação como elemento político”, Schwarz observa a existência nos meios artísticos e intelectuais brasileiros de “sinais rápidos e fragmentários da sobrevivência da razão política, e instâncias para não deixá-la morrer”. Encontravam-se tais sinais no valor da imaginação intelectual concebida “na dimensão idiossincrática da existência pessoal”, da qual deriva a “tensão de uma expectativa espiritual” de transmissão de conhecimento. Note-se a aparência arcaica deste processo de transmissão, onde ocasionalmente e pelas razões mais pessoais, sempre exigindo intensidade mental, um indivíduo assimila alguma coisa de outro. Concebe-se algo mais marginal em face da eletrônica e do grande público? Pois bem, uma das revelações implicadas nesses testemunhos poder-se-ia resumir, justamente, na consistência e constância de atuação deste processo antediluviano de influência e formação pessoal. [...] Se a reflexão coletiva sobre o futuro e os caminhos possíveis esteve monopolizada e esterilizada por uma organização prático-teórica de alcance tremendo, o que não é exagero, a esfera da aventura pessoal seria o que resta, e apareceria como um reduto onde garimpar manifestações não-falsificadas, embora idiossincráticas por definição, o desejo social de homens vivos. O horizonte próximo é brasileiro, dado pelos anos negros da ditadura na primeira metade da década de 70. [...] Neste contexto, o recurso à linha interior do indivíduo designa e traz à consciência de uns tantos uma força possivelmente capaz de competir, ainda que apenas no foro íntimo, com as compensações do milagre econômico e do anticomunismo a que cumpria sobreviver.94 O referido processo de transmissão, reduzido à relação entre indivíduos que insistem em manter e trocar suas vivências, pensamentos e aprendizado, como um “desejo social de homens vivos”, carrega sentido semelhante à preocupação de John Lennon em sua então polêmica entrevista sobre o fim do “sonho”: “se você não transmite sua própria consciência, 93 94 A relação entre confusão e trauma foi discutida, com base em LA CAPRA, no cap.3. SCHWARZ, R. A imaginação como elemento político. In: Que horas são?, p.52-54. [Grifo meu]. 233 esta volta a se fechar”.95 Tais considerações nos remetem a idéias benjaminianas de formas outras de experiência histórica, fundadas em relações sociais subjetivas e objetivas distintas que, derrotadas nas lutas políticas ou solapadas pelos processos típicos da modernidade capitalista, sobrevivem apenas como lampejos. Segundo Martin Jay, a transmissão de sabedoria se dava, para Benjamin, na forma de similaridades ou correspondências, no sentido de resíduos do passado que se mantêm comunicáveis e funcionais para o futuro. Isto porque pressupõe a imersão em um mundo de grande intensidade imanente, onde não há separação entre sujeito, objeto e julgamento – não cabendo, portanto, a distinção kantiana entre juízo crítico e juízo estético – e onde há correspondência entre experiência e conhecimento, ambos pautados pela multiplicidade, e não pela uniformidade dos termos. Por isso, a concepção de linguagem burguesa, de teor iluminista e instrumental, criadora de conceitos universais-unívocos, não basta, sendo necessária uma linguagem adâmica, em que nome e coisa se equivalessem em sua pluralidade. Como esta não (mais) existe, pois a linguagem do mundo, especialmente o moderno, é inexoravelmente babélica, resta ou a melancolia ou o investimento em formas de tradutibilidade. Esta é possível, a despeito da condição decaída da contemporaneidade, porque o presente guarda o que foi perdido, mantendo-o cifrado, mas passível de decifração, desde que se encontrem as ferramentas adequadas.96 É desde dentro da experiência corroída, portanto, que a preservação de um fio de transmissão de experiência seria possível, embora sem fórmulas preestabelecidas que garantissem seu bom termo. Partindo da noção de empobrecimento da experiência em Benjamin, e de suas reflexões sobre Baudelaire, Giorgio Agamben procura repensar o lugar da poesia na modernidade. A cotidianidade moderna, dominada pelo que é comum e banal, destrói a experiência 95 Entrevista, já mencionada no cap.2, reproduzida no jornal Brasil de Fato, 12-18 jan. 2006, p.16. Cf. JAY, M. Lamenting the Crisis of Experience (Benjamin and Adorno). In: Songs of experience, p.318-324 e 330. Para este autor, a questão da experiência em Benjamin se resolve nesta esfera especial da linguagem, levando-o a desenvolver sua teoria da tradução, diferentemente da visão de Agamben, para quem a experiência benjaminiana se refere a uma pureza primordial da in-fancia, isto é um momento pré-linguístico ou póslinguístico (a morte). Sem deixar de criticar as ambigüidades do conceito de experiência de Benjamin, Jay afirma que, depois que ele passou a diagnosticar a crise e a focalizar no que foi perdido, suas reflexões ganharam uma textura histórica e politica bem maior: “Benjamin foi capaz de enriquecer seu conceito de experiência para além do reino das similaridades miméticas e doutrinas religiosas, de modo a incluir complexas explorações de temporalidade, narrativa, memória, tradição, destruição, tecnologia, cultura de massas e a distinção categórica entre duas versões da experiência, Erlebnis e Erfahrung.” [Benjamin was able to enrich his concept of experience beyond the realm of mimetic similarities and religious doctrine to include complicated explorations of temporality, narrative, memory, tradition, destruction, technology, mass culture, and the categorical distinction between two versions of experience, Erlebnis and Erfahrung.], p.329. Ver uma discussão sobre o empobrecimento da experiência no cap.4 deste trabalho. 96 234 autêntica97, uma vez que o homem moderno, após um dia inteiro, retorna para casa à noite esgotado por uma quantidade de acontecimentos, divertidos ou insólitos, aborrecedores, ordinários, alegres ou atrozes, mas sem que nenhum seja mudável em experiência, que pressuporia uma forma de vivência cumulável e transmissível, como algo que se tem. Se antigamente, diz o autor, era precisamente o cotidiano que constituía essa matéria primeira de experiência, que cada geração transmitia à seguinte, hoje este lugar cabe ao extraordinário, ao novo irrepetível e, conseqüentemente, a autoridade de uma experiência se funda sobre aquilo que não pode ser experimentado e transmitido, como algo que se faz, mas não se tem mais. Isto significa que há experiências, mas elas se efetuam fora do homem, e este, curiosamente, se contenta em olhar, assistir. É no quadro geral desta crise, diz Agamben, que a poesia moderna se situa, não se fundando sobre uma nova experiência, “mas sobre uma falta de experiência sem precedentes”.98 Esta falta é o que permite a produção do novo e do choque baudelairiano, como uma brecha na experiência, a qual por definição protegeria o sujeito de surpresas. Põese então, em Baudelaire e a partir dele, uma situação paradoxal do poeta moderno, que aspira a criar um “lugar comum” como uma obra corriqueira – o que, no entanto, só pode ser produzido por um acúmulo secular de experiências, e não inventado pelo indivíduo. Na condição em que o homem está, despossuído de experiência, a criação deste lugar comum a todos requer uma destruição de experiência, sendo esta a nova morada do homem moderno: “A estranheza conferida aos objetos mais comuns, para fazê-los escapar à experiência, tornase assim a característica de um projeto poético que visa a fazer do Inexperimentável o novo “lugar comum”, a nova experiência da humanidade.”99 Imersos no seio desta dinâmica, alguns intelectuais e poetas dos anos 70 buscavam a transmissão de conhecimento e experiência, de forma pessoal e paradoxal, como resistência intuitiva a este processo que os colocava crescentemente na lógica da modernidade e suas atrozes contradições. Em oposição à estranheza – como uma das características da poética moderna, bastante valorizada pelas vanguardas brasileiras –, buscavam a dimensão do que é 97 “Nós sabemos hoje, no entanto, que para destruir a experiência não é preciso uma catástrofe: a vida cotidiana, em uma grande cidade, basta perfeitamente para garantir este resultado em tempos de paz”. [Nous savons pourtant, aujourd’hui, que pour détruire l’expérience point n’est besoind’une catastrophe: la vie quotidienne, dans une grande ville, suffit parfaitement en temps de paix à garantir ce résultat]. AGAMBEN, Enfance et histoire, p.24. para o restante do parágrafo, p.25 ss. 98 AGAMBEN, idem, p.75. 99 Ibidem, p.77:‘‘L’étrangeté conférée aux objets les plus communs, pour les faire échapper à l’expérience, devient ainsi la caractéristique d’un projet poétique visant à faire de l’Inexpérimentable le nouveau “lieu commun”, la nouvelle expérience de l’humanité. Les Fluers du mal, en ce sens, sont des proverbes de l’inexpérimentable.’’ 235 compartilhável. Aferrar-se à experiência cotidiana, ao lugar-comum ou a delicados processos de transmissão de conhecimento e sensibilidade entre indivíduos era uma forma de reagir ao que se desfazia, nestes tempos em que implacavelmente “tudo o que é sólido desmancha no ar”. Não deixa de ser um desejo, ou necessidade, de partilhar a experiência de estar em pleno processo de “diluição da experiência”, quando a fugacidade dos fatos e vivências passa a sobrepujar a consistência e a intensidade. O “poemão” de Cacaso, os poemas compartilhados de Ana C. e Ângela Melim, a transmissão de Schwarz, as festas da Nuvem Cigana, os textos co-autorais de poetas e críticos, o empreendimento coletivo e artesanal das coleções e revistas, os eventos e antologias diversas trazem todos esta marca. Até mesmo a linguagem grosseira, o uso de termos de baixo calão e palavrões, como se viu com Orlandi, vinham no bojo dessa hercúlea tentativa de criar o choque moderno e o comportamento inusitado, em que se quer abolir o tabu da verbalização do sexo ou das funções orgânicas, ao mesmo tempo em que se quer manter o fio da transmissão calorosa de experiências. Criava-se uma espécie de região límbica, em que o chulo adquire carga semântica simultaneamente de negatividade e imersão na cotidianidade, abrindo espaço para a encenação do obsceno, como diz Seligmann100, que é próprio do teor testemunhal manifesto pela literatura de um mundo de feridas e cicatrizes. Não eram tempos propícios a um amplo debate em que se pudesse buscar, coletiva e dialogicamente, quais experiências manter e quais deixar fenecer; em que ponto localizar uma resistência capaz de discernir que tradições merecem permanecer e o que deve ser mesmo levado pelos ventos da modernidade. Não há chance de escolhas sociais tão claras e precisas no olho do furacão dos processos históricos (isto exigiria um outro tipo de formação social, uma outra história...), mormente em situações de fechamento político e censura à liberdade de expressão. O que se vê são experiências tateantes, sujeitos que se medem consigo mesmos e com o mundo, como no belo poema “Meio metro”, de Zulmira Ribeiro Tavares, em que um homem de meio metro de altura, mas que não se dobra nem reduz facilmente – “mas caminho ereto:/sem quase exagero” e “Se meio-metro é medida pouca/Ao menos que seja vária” –, constrói um relato lírico em primeira pessoa repleto de recuos, avanços e pausas como quem move com dificuldade articulações ósseas, revelando todo o tempo a inadequação ao mundo, redondo e sem arestas, do sujeito que nasce de ponta-cabeça contra a vida e vive bicudamente 100 A relação entre obscenidade e testemunho foi abordada no cap.3, a respeito de versos de Torquato Neto. Pode-se associar em certa instância o chulo ao obsceno, no sentido da tentativa de encontrar expressões fortes para dizer ou sugerir o que é humanamente abjeto e que não encontra na norma culta da língua – logo, na norma “civilizada” – os termos adequados. Neste caso, seria próximo, mas não idêntico, às novas formas do sublime descrito por Gagnebin: “Um ‘sublime’ de lama e cuspe, um sublime por baixo, sem enlevo nem gozo.” Cf. Após Auschwitz. In: SELIGMANN-SILVA, M. História, memória, literatura, p.108. 236 insone. Instado a ter que contar (para dormir) o que é infinito, pergunta por palavras qualitativas, ao que lhe retrucam: “‘Mas elas são tão improváveis!’/Impossível somá-las: diluem-se.” Condenado à diluição da linguagem e a uma disciplina quantitativa e passiva que lhe impõem as instituições médicas e religiosas – “‘Feche seus olhos e aguarde’ ou ‘É orgulho’/diz o padre./‘O infinito não é para o homem’.” –, o sujeito lírico conclui pela impossibilidade de ser compreendido e pela incomunicabilidade entre os que se conformam à ordem e os que desejam um mundo diverso: Mas há engano de perspectiva. Sou muito difícil: apesar de pouco. Tive início quando nasci. E até hoje não me refiz: [...] Mas não fui eu que a quis – esta procura do longe. Quiseram-na por mim os outros. Escondidos. Pergunto: os outros que são o mundo? Estou só. Nenhum laço. Desatamento ao contrário. [...]101 O poema artrítico – cuja articulação entre sujeito estranho/mundo harmonioso e sujeito reto/mundo estranho é ainda mais árdua do que a articulação entre ressonâncias de Cecília Meireles e João Cabral, que a poeta logra realizar – retoma a imagem da solidão do sujeito romântico como figura de resistência. Mas se trata de um modo de resistir diferente do que se viu acima, pois “nenhum laço” existe para atar a transmissão ou a partilha de experiência. E a sensação de desamparo se avoluma aos olhos do leitor quando este reconhece, como provaram os eventos históricos, não haver resistência efetiva na solidão. Em suma, nas palavras de Hollanda, tratava-se do “ethos de uma geração traumatizada pelos limites impostos a sua experiência social e pelo cerceamento de suas possibilidades de expressão e informação através da censura e do estado de exceção”.102 Aquela poesia, intrigante por sua quantidade e qualitativamente repleta de traços curiosos e paradoxais – mas sempre reivindicando um “claro direito ao dissenso”, diz Heloisa, por sua variedade de estilos, projetos e crenças –, era em geral leve e bem humorada, porém seu núcleo central era 101 Zulmira Tavares, nascida na cidade de São Paulo, em 1930, tornou-se autora premiada, havendo recebido o Jabuti, em 1990, de melhor autora e melhor romance, com Jóias de família. Não participou das coleções aqui tratadas, mas seus poemas se encontram na antologia HOLLANDA. 26 poetas hoje. Ver o poema citado nas pp.104-108. 102 HOLLANDA, Pósfácio. In: 26 poetas hoje, p.257. Este texto data de 1998. 237 grave, pois em cada poema, piada ou rima se pode encontrar “um elo da experiência social da geração AI5, uma geração cujo traço distintivo foi exatamente o de ser coibida de narrar sua própria história”.103 Como a possibilidade de “narrar-se” consiste em uma dimensão fundamental de subjetividades, coletividades e mesmo do senso de humanidade, talvez seja mais preciso falar, na experiência histórico-poética dos anos 70, em um ethos prestes a se esgarçar e transmudar em pathos. O conjunto de questões e ambigüidades da criação poética daquela década, vista como um todo, revela uma experiência de forte reação, mais do que propriamente resistência, embora esta estivesse certamente presente em algumas circunstâncias. Tais formas de reatividade formaram o solo da “cultura marginal” daqueles anos, cuja história se moveu menos pela racionalidade do que pela perplexidade, diante de uma dinâmica que se viu impulsionada a se realizar à maneira de um “desatamento ao contrário”. 103 Ibidem, p.261. 6. A Espiar o Mundo: três ou quatro poetas e um punhado de questões 6.1. Chico Alvim: devoração do sujeito no espaço-tempo – mudança na relação com a história No poema “Com Ansiedade”1, de Chico Alvim, o entrelaçamento de espaço e tempo é submetido a um movimento de distanciamento e afirmação do espaço: Os dias passam ao lado o sol passa ao lado de quem desceu as escadas Nas varandas tremula o azul de um céu redondo, distante Quem tem janelas que fique a espiar o mundo No primeiro terceto, o sol e os dias, portanto o ponto central de nosso ordenamento cósmico e temporal e o fluxo cotidiano da história, lateralizam-se na experiência, passando ao lado daqueles que se puseram em movimento descendente. A repetição do verbo “passar” e do advérbio de lugar, bem como a rima sugerida entre “ao lado” e “as escadas” acentuam o movimento de transitoriedade, lateralidade e declínio. Os sujeitos, deslocados e inominados – só aparecem mencionados na forma pronominal indefinida “quem” –, não ocupam posição central e não têm acesso às forças luminosas e ordenadoras do tempo humano, a não ser de modo tangencial. Nesta posição ex-cêntrica, estão fora dos acontecimentos da história que se passam sob um céu distante. O que poderia ser à primeira vista uma alusão à distância e indiferença da natureza, transforma-se, pela adjetivação do céu na segunda estrofe, numa proximidade com o mundo: redondo e azul, o céu tem as qualidades da Terra, conforme havia sido recém-observado pelos astronautas, e rima com o mundo porque também tremula. A distância se estabelece, portanto, não entre o céu e o mundo, mas entre estes dois e os sujeitos indeterminados, cuja posição se esclarece no último dístico: sem rosto, nome ou centro, a eles só resta “espiar o mundo”, observar o tempo da natureza e dos homens, se tiverem janelas abertas para tal. 1 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.21. 239 Na quietude da cena simples e cotidiana, o sentimento de angústia pela impotência dos sujeitos se deixa desvelar pelo título: a linha é tênue entre a contemplação, prazerosa e frutífera para a reflexão e o amadurecimento, e a passividade dos que não podem ou querem agir sobre o mundo e o tempo. A ansiedade aludida revela que esta tensão está carregada de espera e impaciência, de modo que uma possível opção pelo contemplar quieto se transfaz no tédio e inquietude característicos de quem está impossibilitado de agir, de fazer sua história, que é sempre pessoal e coletiva. As mesmas imagens ressoam também em outros poetas, como Chacal que transmuda o lamento em fato jocoso: “Quando o sol está muito forte, como é bom ser um camaleão e ficar em cima de uma pedra espiando o mundo. [...] Se o inimigo me espreita, me finjo de pedra verde, cinza ou marrom.” A sensação de um apassivamento entediante se repete em “Só dos Terratenientes”2, que quase escamoteia a ironia do título sob uma constatação taxativa: não tenho nenhuma observação a fazer sobre a vista da varanda. nenhuma, a não ser o céu largo e iluminado dos subúrbios do Rio de Janeiro. céu que se alonga ao longo do mundo inteiro. não é de todo mundo a terra é q é redonda. As imagens que reverberam entre os poetas e os poemas, traduzem o modo de funcionamento do “poemão”, mas também trazem em seu bojo configurações de sentidos dolorosos, comportando o teor testemunhal de um pathos geracional e histórico. O significado do tédio tem sido discutido por numerosos autores em relação à experiência da modernidade, em especial sob regimes políticos autoritários, quando a ação é cerceada. Sua presença é marcante na poesia dos anos 70, em que Flora Sussekind pôde observar “o texto, a vida, em ponto morto”, em ritmo lento, sem marcos de aceleração ou mudança discursiva, gerando a impressão de uma repetição indefinida, à maneira de uma modorra, que por certa inércia se assemelha à experiência de prisão, reitera a autora, mostrando a síntese disto no poema “Diário” de Chico Alvim, de um só verso: “O nada a anotar”3. 2 Os poemas “Só dos Terratenientes” e “Como é bom ser um camaleão” se encontram em HOLLANDA, 26 poetas hoje, p. 217 e 219, respectivamente. 3 Cf. SUSSEKIND, F. Literatura e vida literária, p.128. Sua reflexão se fez sobre o poema “Cabeça” do segundo livro de Eudoro Augusto. 240 Buscando traçar uma fenomenologia da experiência diária, Giannini Inignez4 considera que a vida cotidiana na modernidade é marcada por uma circularidade topográfica – do trajeto que leva da casa à rua, ao local de trabalho e de volta à casa – e temporal – figurada pelo constante retorno da semana e do domingo, no qual se enquadram os tempos do lar, do trabalho e dos encontros na via pública. Neste circuito repetitivo, tendem a se desenvolver estados de espírito de lassidão e tédio, que degradam o modo de vida cotidiano em rotina. Muitos versos brasileiros daquele decênio expressam o quanto este mecanismo é desagradável e corrosivo, resumindo-se exemplarmente na imagem do veneno trazida por João Carlos Pádua: “[...] Dia que sim/Dia que não/Ah, meu deus, que saco!/O ritual diário me envenena/me liquida/e por vezes/me lança fora/de órbita [...]”5. Para o pensamento existencialista, diz Giannini, esta é a experiência de um deserto não desejado e de uma convivência desolada, na qual todas as relações são tangenciais, dificilmente convergentes, restando apenas um encontro ilusório de vidas que são no fundo incomensuráveis, o que configura uma vivência de profunda solidão, que a presença alheia vem menos suprimir do que melhor realizar: “[...] como um planeta louco/em sua rota desconjuntada/pelos ovários do cosmos”6. Na tensão que se estabelece entre os dois níveis de reflexo/reflexão, a circularidade cotidiana e o pensamento especulativo, reside o “drama humano” de ser capaz ou não, ao ser afetado pelo que se passa rotineiramente, de criar formas de experiência e discurso que repitam a indolência, a solidão e o vazio ou, contrariamente, de pensar, explicar e encontrar medidas comuns que tornem realmente co-mensuráveis as experiências e os sentidos necessários à existência coletiva. Mas as contradições desse processo e as dificuldades de encontrar a comensurabilidade se dinamizam na experiência contemporânea, segundo a visão adorniana7, à medida que os indivíduos percebem a aproximação da massificação do mundo e se horrorizam com seu processo de absorção, diante do qual experimentam ao mesmo tempo o desejo de escapar e a sensação de inevitabilidade. A noção de tédio que disto deriva pertence ao universo do trabalho alienado acirrado pelo mundo burguês, onde, para os que trabalham, o tempo livre da diversão e do lazer continua como reflexo do ritmo de produção imposto ao sujeito, comportando sempre a sensação de uma promessa não realizada, pois o amanhã continuará 4 GIANNINI INIGNEZ, H. La reflexión quotidienne: vers une archeologie de l’expérience. Provence: Alinea, 1992, passim. 5 Poema do livro Motor, da coleção Frenesi, citado por MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.147. 6 Trata-se da continuação do mesmo poema de Pádua, ibidem, p.148. 7 Cf. ADORNO, Mínima moralia, aforismas 91 e 113, p.121-122 e 153, especialmente. 241 igual ao ontem, conforme confirmam, ritualisticamente, os dias de domingo. Para os que não trabalham, por sua vez, detentores de instâncias de poder social, não são permitidas a saciedade e a preguiça, dado que a fome e o sofrimento alheios se mantêm como espada de Dâmocles sobre suas cabeças. Em geral levados a uma atividade febril e agoniada, que não deixa de se tornar uma ostentação de seu privilégio, não experimentam o ócio8 como um legado de felicidade, mas, ao contrário, vivem-no como um tédio, derivado da infelicidade geral, do caráter da mercadoria e da brutalidade obrigada dos postos de comando, que trazem ecos de deboche à sua satisfação e angústia diante da própria superfluidade. Se, por certo, o tédio desapareceria em uma sociedade de liberdade realizada, vislumbra Adorno, sua presença é constante no mundo inverso, onde então os sujeitos se põem em fuga de suas próprias dores ou vazios psicológicos, em busca de sentidos mais consistentes para a existência e, neste movimento, paradoxalmente se perdem de si mesmos. Vivendo sob a disciplina da sociedade burguesa, que exige mais do que concede, os indivíduos desenvolvem uma desconfiança quanto aos prazeres deste mundo, onde todo obstáculo é percebido como sofrimento. Todavia, isto mantém os viventes ocupados em existir, de modo que a supressão dos obstáculos não gera satisfação, e sim um tédio do qual procurarão se livrar como um fardo da existência, matando o tempo na forma de um passatempo ou mesmo da própria morte. Não é de todo fortuito, assim, que o primeiro livro “marginal” de Chico Alvim, da coleção Frenesi (1974), intitule-se justamente Passatempo, apontando para esta dinâmica schopenhaueriana de fuga ao tédio como um ritmo histórico, ao qual a existência individual se ajusta por inervações inconscientes9, para além dos processos intelectuais de livre escolha. Este ritmo histórico está profundamente vinculado aos processos de derrota de projetos políticos e existenciais no seio das lutas sociais. O trabalho de Dolf Oehler10 chama a atenção para a relação existente entre uma experiência histórica recalcada e a experiência cotidiana do tédio, que encontra nas alegorias poéticas uma forma preferencial de expressão, cujos sentidos apontam para o ennui como continuação do sofrimento vivido. Segundo este autor, Baudelaire havia percebido que a impotência do artista era correspondência (no sentido benjaminiano) do vazio/tédio da época, pois, ao contrário da visão hegeliana de um tédio produtivo, motor de progresso, o que se viu na França após a derrota revolucionária e os massacres de 1848 foi um tédio destrutivo, provocador de desejos de extermínio, como reflexo da patologia da vida na metrópole, onde ademais a urbanidade degradada em banalidade social provavelmente 8 Para uma bela discussão do valor utópico do ócio e suas potencialidades na crise do capital, ver MENEGAT, M. Utopias do ócio para depois do fim do mundo, agora. In: O olho da barbárie, p.311-351. 9 Cf. ADORNO, idem, p.122. 10 Cf. OEHLER, D. O Velho Mundo desce aos infernos, passim. 242 permitiria a repetição de catástrofes. Daí a visão baudelairiana da modernidade como catástrofe permanente, turbilhão e inferno, e seu ar de dândi disfarçando o desejo de parar o curso do mundo. Com rara lucidez – talvez única na literatura do século XIX, diz Oehler11 – Baudelaire tentava compensar a irrupção da dor mediante uma apresentação dolorosa do mal para o leitor, como uma experiência de choque terapêutico. Entretanto, se há leitores em que se pode inculcar a razão, há outros imunes, tornados invulneráveis pela tolice, vacuidade, indiferença, hipocrisia, sentimentalismo...12 O ceticismo, melancolia e tristeza de Baudelaire – que junto à ira compõem o sentimento do spleen que lhe é característico – estão relacionados à percepção da continuidade do estado de coisas vigente e da inutilidade ou impossibilidade da intervenção transformadora naquele contexto de vitória de valores burgueses, modernizando o mundo à sua imagem, sob a égide de um Estado autoritário. Na leitura de Benjamin, é esta continuidade, como um eterno retorno do mesmo, que caracteriza o cotidiano e a história como catastróficos13. Com efeito, o poeta, como homem moderno, também sofre a mudança na estrutura da experiência espaço-temporal, dada a velocidade e efemeridade, que impedem a “lentidão”, o trabalho de construção de nexos, a memória e a aquisição processual de elementos que permitem a realização da experiência propriamente dita. Desolado – pois “não há nenhum consolo para quem não pode mais fazer qualquer experiência”14 – o homem/poeta sente-se imerso num tempo só quantitativo, uma sucessão de dias sem dimensão qualitativa. O spleen, portanto, reúne a vivência de um estado depressivo em um tempo vazio, reificado e sem história ou memória, mas agudamente percebido como (novamente o exemplo) nas 11 Cf. ibidem, p.283. Ao analisar as conseqüências da experiência do choque na recepção da arte inorgânica, Bürger considera que se quebra de fato a imanência estética e se inicia uma mudança na práxis do receptor, mas num processo problemático, porque a resposta do público é indeterminada: pode não mudar seu comportamento; pode se arraigar ao que é conhecido, reforçando o vigente; reagir agressivamente ao choque; ou ainda se acostumar e esperá-lo, de modo que se perde seu efeito de experiência extraordinária pela repetição. Para o autor, a teoria do estranhamento de Brecht seria, então, mais consistente. Cf. BÜRGER, P. Theory of the avant-garde, p.80. Marcio Seligmann também discute a questão benjaminiana, observando que, sendo o choque intrínseco ao mundo moderno, seus habitantes estão mobilizados para apará-lo e impedir o esfacelamento do eu, numa espécie de vigília que também impede, por outro lado, a construção da experiência autêntica, na qual se conjugam conteúdos do passado individual e coletivo, como no tempo orgânico do artesanato, da agricultura ou da viagem. Isto configuraria uma história opressora, como um processo inercial de aniquilação constante, salvo se houver um corte que o interrompa como um “freio de emergência”, nas palavras de Benjamin, mediante as revoluções e o gesto correspondente do historiador/alegorista que cria imagens dialéticas. Cf. SELIGMANN-SILVA. Catástrofe, história e memória em Walter Benjamin e Chris Marker: a escritura da memória, in: História, memória e literatura, p.399-402. 13 “Que tudo ‘continue assim’, isto é a catástrofe. Ela não é o sempre iminente, mas sim o sempre dado”, diz Benjamin, ao comentar o “eterno retorno” em Parque Central. In: Charles Baudelaire..., p.174. O trecho é analisado por Seligmann acerca da concepção benjaminiana de história como catástrofe, pois para este, o progresso e catástrofe são ambos o continuum da história. Trata-se de uma idéia conexa à da nota anterior. Cf. Ibidem, p.395-399. 14 BENJAMIN. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: Charles Baudelaire..., p.135. 12 243 sensações que acompanham os domingos. Baudelaire só não imerge no tédio porque ainda dispunha, pensa Benjamin, de “estilhaços da verdadeira experiência histórica”, que o permitem desenvolver a nostalgia de uma existência humana outra. O fato de possuir termos de comparação trouxe um significado mais denso à sua intenção, à maneira de uma tarefa heróica, de dar forma à modernidade15. De modo geral, porém, no tempo da modernidade ocidental, vivido como contínuo mas desprovido de processualidade histórica, os sujeitos se vêem alijados, pois “o indivíduo moderno como que perdeu o bonde da história: ele ficou na estação, paralisado”, diz Seligmann16. O tédio, então, pode ser compreendido como o sentimento de quem está excluído do fluxo ativo da história, a sensação de uma defasagem em relação ao movimento de todo o resto17. De modo análogo, o conceito de ennui surrealista se funda na idéia de um vácuo, como explica P.Bürger, derivado da desesperança de se dar forma à realidade, uma vez que para a arte não-orgânica, que trabalha fragmentos como signos desprovidos de significação de totalidade, é impossível transfigurar sua própria falta de função social. Deste modo, a expressão melancólica do alegorista ressoa sua relação com as coisas, em que se alternam envolvimento e fastio pelo esforço de isolar, juntar e criar sentido para os fragmentos de realidade isolados18. Todo este conjunto de questões, relativas a sujeitos que se vêem crescentemente defasados em relação à ação histórica e imersos na circularidade inercial e entediante do tempo-espaço – logo, numa história catastrófica, em que não se dá o corte que permitiria a espiralidade de uma superação dialética –, é revelado pela poesia marginal, a se considerar a constância com que reitera as imagens de deslocamento de um centro ativo para um lugar ou objeto (janela ou visor de uma câmera) de “espiar o mundo”: “[...] já não escrevo:/Filmo uma Palavra Decomposta/Violenta/Amplificada//já não penso/Filmo uma Cena Esquizofrênica/ 15 Para a tarefa heróica e os “estilhaços da verdadeira experiência histórica”, ibidem, p.79-80 e 137, respectivamente. A “nostalgia do homem por uma existência mais pura, mais inocente e mais espiritual do que lhe coube” acha-se em Parque Central., op.cit., p.171. 16 SELIGMANN, idem, p.397. 17 Cf. notas de Ítalo Calvino quando visitou a América do Norte em fins dos anos 50, em viagem marítima: “a única coisa que se pode extrair desta experiência é a definição do tédio como uma defasagem em relação à história, um sentimento de ter sido cortado fora com a consciência de que todo o resto se move” (A Bordo 3/9/1959), In: A visão mais espetacular da Terra. Folha de S.Paulo, São Paulo, 27 jul. 2003, Caderno Mais, p.6. 18 Trata-se de uma passagem em que Peter Bürger discute o conceito de alegoria em Benjamin, com base na diferença entre arte orgânica e inorgânica (como a das vanguardas européias, em oposição às artes clássicas) do prisma da própria produção estética. O autor acresce uma outra interpretação da alegoria benjaminiana, segundo a estética da recepção, que também se aplica aos surrealistas: sua visão da história como declínio seria fatalista e representaria uma naturalização da história [dados os processos de decomposição e morte da natureza], logo, sua imobilização. Embora a questão seja instigante, não responde porém à indagação acerca de que tipo de experiência histórica é essa que gera tal concepção da história como decadência? Ver BÜRGER, op.cit., p.68-71. 244 [...] /já não choro:/Filmo um Rio de Janeiro [...]” (Maíra Parulha)19. Benjamin já havia observado, entre as diversas experiências da modernidade, o olhar característico do homem privado, através da janela, com a eventual ajuda de um binóculo, que, como instrumento correspondente ao posicionamento íntimo do usuário, participava da iniciação na arte de bem observar quadros vivos. O mundo moderno se apresentava como um espetáculo tal que os olhos precisavam primeiramente se adaptar20, e a modernidade brasileira não fugia à regra. Mas a readequação do olhar consiste também na readequação da (in)ação sobre o curso histórico. As principais vertentes políticas e literárias da modernidade ocidental discutiam o papel histórico dos sujeitos sociais, entre eles os poetas, na condução do destino humano, logo, da história. Se tal proposta já é grandiosa e difícil por si mesma, levando muitos autores contemporâneos a criticaram a “arrogância” moderna, mais complexa ainda se tornava no Brasil da década de 70, quando, sob ditames ditatoriais, o regime militar arrogou-se conduzir com exclusividade a história nacional, pelas vias de uma modernização econômica tecnoburocrática, respaldada no capital estrangeiro, no controle dos movimentos sociais e culturais e em uma grande violência de Estado, excluindo o cidadão civil dos processos decisórios. A restrição da cidadania é acompanhada do arrefecimento, voluntário ou não, da ação histórica. No entanto, esta experiência era por demais diferente da anterior, pois que os anos 60 haviam sido vividos, nas palavras de Pedroso e Vasquez, como “um destes raros momentos na história nos quais os cidadãos almejam superar a condição de figurantes da vida pública para se arvorarem em legítimos protagonistas. [...] Um caminho que arrasta os artistas para a agitação criativa das ruas, conduzindo-os para junto do povo e dentro da história.”21 A intenção e a crença na possibilidade de imersão na história e atuação sobre seus rumos, fortemente presente ainda em fins da década de 60 – quando estimuladas pelos movimentos de maio de 68 e pela proposta marcuseana de revolução cultural libertária, do ponto de vista 19 Os versos pertencem ao poema que fecha a antologia Folha de Rosto, lançada em setembro de 1976, na livraria Folhetim, RJ, reproduzido em MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.324. 20 Comparando um conto de Hoffmann com “O homem na multidão”, de Poe, Benjamin analisa diversas formas do homem moderno se relacionar com a multidão, a qual, como experiência nova, típica da modernidade, produziu a imersão do transeunte, a relativa tranqüilidade do flâneur, que ainda mantinha sua privacidade, e o olhar do homem privado através da janela. Da experiência urbana de ver a multidão teria derivado a técnica, da pintura impressionista e expressionista, de “captar a imagem no tumulto das manchas de tinta”. Cf. Sobre alguns temas em Baudelaire, op.cit., p.121-123. 21 Trata-se da conclusão dos autores sobre o entusiasmo do público com uma exposição acerca da arte desta época. Ver PEDROSO, F.E. e VASQUEZ, PEDRO K. Questão de ordem: vanguarda e política na arte brasileira. Acervo, v.11, n.1-2, p.74-75. Um panfleto acerca da utopia e pedagogia do povo-artista, distribuído por artistas plásticos em 1968 e recolhido por Fernando Morais em Cronologia das Artes Plásticas no Rio de Janeiro, mostra o valor da atuação nas concepções da época: “A arte é do povo e para o povo. É o povo que julga a arte. A arte deve ser levada à rua. Para ser compreendida pelo povo deve ser feita diante dele, sem mistérios. De preferência coletivamente. Qualquer um pode fazer arte. E boa arte. Para tanto deve ver obras de arte. E conversar diretamente com os artistas, críticos e professores.” Apud. ibidem, p.77-78. 245 político, econômico e existencial –, já se diluía contudo no decênio seguinte, como se vê no sentido de inoperância que Chico Alvim imprime nos versos de “Um Homem”22: “As estradas já não anoitecem à sombra de meus gestos/nem meu rastro lhes imprime qualquer destino”. Aos que não se renderam aos argumentos ditatoriais, restava a angústia de existir cerceado política e culturalmente, bem como a tensão de viver na “corda bamba” – conforme sugere o título do penúltimo livro de poemas de Cacaso (1978) –, estendida entre a impotência cimentada pelo Estado e o desejo pulsante de agir no e sobre o mundo. Entre um e outro, um projeto de experiência humana e histórica latente, que não se pôde realizar em plenitude – uma experiência lacerada e rasurada. Afonso Henriques Neto, que em diversos textos discute sobre ou com a história, constrói em “Simples narração” uma estranha atmosfera que vem a revelar essa laceração. Mediante uma prosa-poética que podemos chamar de ácida, acerca de uma civilização “suméria” simultaneamente passada e presente, próxima e distante, da qual tudo que se sabe é que houve uma epidemia de gripe, como parecem indicar “certos sinais nas ruínas”, o texto problematiza a verdade e a representação histórica. O sujeito lírico é um narrador inseguro, desconfiado e desconfortável em sua função e existência, sensações que vão num crescendo conforme ele desenvolve elucubrações historiográficas perspicazes e/ou irônicas: “Os peritos no assunto poderão acrescentar milhares de páginas, mas desde já previno da inutilidade de tais empreendimentos”. O próprio título chega a ser sarcástico para referir a ambiência histórica, adoecida e mesmo mórbida, além de tristemente inexorável: Não pretendo afirmar, porque além dos velhos livros se desfazerem em pó ao menor vento, o texto é de tal modo obscuro que já não podemos saber se a História possui alguma razão de ser, ou se simplesmente veio sendo reinventada por extensa cadeia de razões adoecidas [...] O havido e o por haver estão de tal modo afastados do presente (apesar de nele estarem contidos), que os sentidos se obrigam a permanecer em contato sincrônico com essas avenidas imensas e vidros e luzes e metais acesos, esquecendo-se por completo da infinitude e do mistério, diluindo-se assim em uma existência insípida, ir e vir entre galpões sombrios, gado e carvão. [...]//a) estou ferido mortalmente. nenhum médico, nenhuma medicina conhece minhas dores. é amargo e sórdido estar aqui sentado, a pensar só na morte [...] nenhuma filosofia a resgatar. se ao menos. mas os jornais, televisões, computadores estão narrando que a terra se enche de bombas, as bombas se enchendo de espectros, que não há lugar nem mesmo para um simples morto. [...] há um cemitério ubíquo, não importa o assentimento ou a contradição. ou a revolta. [...]//O resto é muito pouco importante (digo para abreviar, porque também não poderia ter certeza, já que tudo são processos interativos). Resta pensar se entre os tais mortos da tal epidemia de gripe e os tais mortos de tal epidemia de gripe (talvez ambas atômicas) foi estabelecida uma qualquer hierarquia de valores (na hierarquia dos anjos?), algo que nos revelasse alguma diferença entre todos os que pereceram de mãos dadas (bem sei que esta é uma tarefa dos vivos, não dos insolúveis mortos a repetirem eternamente os mesmos 22 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.24. 246 atos). As possibilidades são inesgotáveis: incômodo o nosso ofício. Aproveitemos o vento e trabalhemos no vento. Talvez ainda haja tempo de imaginarmos o mínimo gesto, a mínima separação entre vento e vento (ou quem assim pensar talvez nunca mais queira pensar e ande e ande sozinho no deserto). Os sumérios estão vivos como a morte.23 Em um mundo de dores sem remédio, sem sequer lugar para os mortos e o luto, onde tudo se repete (“a mesmíssima palavra é repetida na ameba e em andrômeda”) e onde, para lembrarmos uma expressão adorniana, a vida se tornou tão danificada que há coisas piores do que a morte (“ferido mortalmente. antes gostaria de.”), o ofício de narradores, historiadores e poetas se mostra de fato, e no mínimo, profundamente incômodo em sua inesgotável tarefa de encontrar sentidos para o absurdo da existência humana, tão frágil ante a violência dos processos históricos. Haverá uma razão histórica, ou apenas uma razão patológica, em que tudo não passa de invenções doentias em cadeia? O apelo pungente à diferenciação entre os mortos do passado e do presente, cuja morte é trivializada sob o mesmo e banal diagnóstico da gripe, ainda que a saibamos provocada por bombas atômicas, é um apelo à ação na e sobre a história para que alguma coisa seja feita e explicada, pois se toda dor e toda morte são iguais, não há possibilidade de atribuição de sentidos – seja no âmbito da experiência histórica ou da historiografia –, logo, não há porque pensar, explicar, agir, ou mesmo viver24. Para que, então, o tempo, o progresso histórico, a modernidade, se o horror e a morte se abatem ainda sobre os cândidos e solidários, que ainda perecem de mãos unidas? Se a vida dilacera?... Da força da morte dependem os sentidos da existência, como elemento fundamental da experiência histórica. A triste imagem do “cemitério ubíquo”, além de espacializar o processo histórico, coloca-se como contraponto à imagem de um mundo plasmável e vivificado pela ação fáustica, conforme a segunda parte do livro-poema de Goethe. Escrito entre o final do século XVIII e início do XIX (c.1770-1831), o Fausto goethiano lidava com a mudança estrutural da experiência histórica medieval para a moderna. Segundo a interpretação de Marshall Berman, e muito resumidamente, tratava-se inicialmente de transcender a distância entre o intelectual e a sociedade, ou seja, entre a cultura erudita em ebulição transformadora e o calor da “experiência comum”, das relações sociais comunitárias e mantenedoras da vida material e 23 In: O Misterioso Ladrão de Tenerife, p.44-46. Isto nos remete à desistência, como uma das reações ao momento histórico ditatorial, conforme mencionado no cap.3. Vale relembrar os versos de Capinam ali citados: “se em tudo existe a própria máquina/pouco acrescenta ir ou não ir.” A mesma sensação está presente nas indistinções traumáticas que podem gerar comportamentos profundamente depressivos ou suicidas, pois se não há sentidos para a vida, tanto faz viver ou morrer. Ver também a crítica de La Capra à total indistinção das formas de violência e morte, chegando à fusão do sofrimento inesgotável com o júbilo extático ou o sublime, conforme se vê nos trabalhos de Bataille e Lyotard. LA CAPRA, op.cit., p.99. 24 247 afetiva. Superar isto que Berman chama de “cisão fáustica” – característica romântica que teve especial ressonância nos países subdesenvolvidos ou de Terceiro Mundo, em cujas sociedades “atrasadas” os intelectuais portadores de cultura de vanguarda a viveram com invulgar intensidade25 – requeria vender a alma ao diabo e imergir no universo da experiência mundana, regido por paixões, aparência, dinheiro e pelas ingerências da dinâmica subjetiva. Os sofrimentos e a morte de Gretchen (ou Margarida) anunciam que é impossível haver crescimento em larga escala sem destrutividade, lição esta que Mefistófeles insistentemente ministra a seu parceiro. A dialética entre construção-destruição se desdobra na última parte, quando Fausto abandona visões oníricas e teorias filosóficas em prol de um agir prático sobre o mundo, modificando-o como legado para o futuro mediante programas concretos de desenvolvimento. Movido por um espírito galileico, Fausto se transforma, de médico, filósofo, cientista e professor, em engenheiro, planejador e empreendedor de obras titânicas que movem terras e mares, em nome de benefícios coletivos, o que não prescindia de todo tipo de barganha política, visto que para além do investimento de capital, estava em jogo o controle de vastidões territoriais e populacionais. O imenso custo humano disto – “Sacrifícios humanos sangravam,/Gritos de horror iriam fender a noite” – confere o caráter trágico da ação fáustica/mefistofélica sobre a história. A síntese de pensamento e ação foi enfim realizada, mas todo resquício do passado pré-moderno foi violentamente eliminado, menos por necessidade do que por aterrorizar o voraz presente (como ilustra a morte do casal de velhos que eram o sal de sua terra), e junto com ele se foi qualquer razão para o personagem continuar existindo. 25 Cf. BERMAN, M. O Fausto de Goethe: a tragédia do desenvolvimento. In: Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Cia. das Letras, 1986, p.37-84, esp. p.44. Uma visão distinta é apresentada por Ian Watt que, analisando as releituras contemporâneas do Fausto (esp. Doutor Fausto, de Thomas Mann) como um dos “mitos do individualismo moderno”, considera haver ainda no Fausto goethiano um alargamento de experiência humana e a crença numa harmonia cósmico-divina secreta, sendo Mefistófeles o espírito cínico e destrutivo, ao passo que em Mann o ceticismo, jactância, irreflexão, irresponsabilidade social e otimismo de Fausto impedem qualquer possibilidade de misericórdia – o espírito mefistofélico, aqui, é a tentação odiosa do otimista romântico –, anulando possíveis esperanças históricas ou psicológicas, de modo que tanto o destino coletivo quanto o individual estão tragicamente condenados. Os pilares do mundo moderno se vêem desmoralizados, à medida que se violam os valores relativos às idéias de indivíduo, verdade, liberdade, lei e razão. Cf. WATT, I. Coda: Reflexões sobre o século XX. In: Mitos do individualismo moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p.243-272. Sobre Fausto, p.243-251. Parece-me que o lugar ocupado pelos poetas marginais está entre a promessa de alargamento da experiência individual-histórica, do Fausto goethiano, e sua corrosão no individualismo irresponsável, conforme a leitura de Mann/Watt. Este seria mais um aspecto do teor difícil e límbico de sua resistência, como tratado no cap.5. 248 Cego pela aflição, acalentando sentimentos ambíguos quanto a seu poder criador e destruidor, dada sua profunda consciência egóica26, o Fausto goethiano condensa a estrutura da história moderna e contemporânea, configurada como uma “tragédia do desenvolvimento”, que perpassa os processos sociais, culturais, econômicos e políticos não apenas dos países capitalistas desenvolvidos, mas igualmente dos subdesenvolvidos e dos chamados socialistas, como outro modelo de modernização tardia e acelerada, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a maior parte dos Estados passou a adotar políticas de intervenção. O mecanismo trágico, avalia Berman27, reside no fato de o processo de desenvolvimento, ao transformar a terra vazia em um fabuloso espaço físico e social, recriar o vazio no coração humano, uma vez que, paradoxalmente, são corroídos os fundamentos éticos e humanizantes do progresso: o horror trágico da ação fáustica decorre justamente dos seus objetivos mais elevados e conquistas mais eficazes, cujas contradições na forma de sofrimento e morte são inseparáveis do destino que se quer conduzir. Intelectuais e artistas brasileiros, como costuma acontecer no mundo “subdesenvolvido”, têm sua experiência fortemente marcada pela cisão fáustica28 e pelos dilemas (pseudo)fáusticos29 do desenvolvimento. Neste caso, pôr-se a “espiar o mundo”, priorizando uma postura mais contemplativa que ativa, significava um gesto de recusa dos poetas em realizarem ou endossarem a ação que modernizava o país em moldes conservadores e ditatoriais, e os sujeitos, em moldes egoístas e/ou cínicos. Talvez exprimisse “a inércia do coração, a acedia” de quem, movido por um ímpeto de empatia com os despojos da cultura, buscava desesperadamente uma imagem histórica que não fosse aquela estampada pelos 26 Para o homem faustiano como um individualista consciente e enamorado da dinâmica de Galileu, como padrão do cientista moderno, cf. WATT, I., op.cit., p.269. Para o verso supracitado, mantive a tradução de Goethe por Antônio Feliciano de Castilho (Jackson Editores, 1948) utilizada pelos tradutores de Berman para o Brasil. Cf. nota, p.41. Quanto à cegueira de Fausto, ela foi causada pelo sopro, segundo distintas traduções, da Aflição, Inquietude ou Ansiedade, remetendo à impossibilidade de estar calmo e contemplativo. 27 Cf. ibidem, p.67-71. Acerca da “tragédia do desenvolvimento” atingir também o socialismo, encontramos crítica semelhante em Adorno que, no aforisma 100 de Mínima moralia, por exemplo, considera que os projetos positivos do socialismo, em seu pretenso igualitarismo e suposição ingênua de que a elevação da produção é desejável e necessária, assumem parte do espírito burguês, que só admite o desenvolvimento numa única direção, porque, fechado em si e dominado pela quantificação, é hostil à diferença qualitativa. Cf. Op.cit., p.138. 28 Marcelo Ridenti retoma e desenvolve esta idéia para analisar a trajetória de alguns intelectuais e artistas brasileiros sob a ditadura no livro Em busca do povo brasileiro, p.175 ss. 29 Berman chama de pseudofáustico o progresso relativo ou mesmo inútil, derivado de projetos estatais e/ou particulares que não beneficiam a maior parte da população, derivando em sacrifícios vãos. Nisto reside o próprio horror, e não uma dimensão trágica: “Mas o que torna esses projetos muito mais pseudofáusticos que propriamente fáusticos e bem menos tragédia que teatro do absurdo e da crueldade é o fato doloroso [...] de que eles simplesmente não funcionam.” [grifo do autor]. Ibidem, p.75. A crítica dos poetas marginais ao desenvolvimentismo brasileiro é mencionada em diversos momentos das principais obras críticas da época, especialmente em Messeder Pereira, Schwarz, Hollanda e Cacaso. Nos países latino-americanos a forte vinculação entre desenvolvimentismo e populismo gerou as mais variadas críticas: políticas mas não econômicas; econômicas mas não políticas; ambas; com ou sem vinculação com a cultura etc. (ou nenhuma!). 249 vencedores, como sugere Benjamin na 7ª tese sobre a história30. Todavia, apontava também a dificuldade de dar conta do processo em curso, cuja escala superava o imaginável. À guisa de ilustração, em 1973, o último ano do “milagre” econômico, o país obtinha uma taxa recorde de crescimento, em torno de 14%; a classe média consumia e fervilhava, mas a desigualdade social chegava para ficar31. Isto, ao lado das obras faraônicas, como por exemplo estrada Transamazônica ou a Ponte Rio-Niterói, e de alguns dados demográficos, contribui para demonstrar o impacto das transformações modernizadoras sobre a vida cotidiana: o país ultrapassava a linha dos cem milhões de habitantes com taxa de analfabetismo de 33% e um dos maiores êxodos rurais do mundo. Entre 1960 e 1980, o total de migrantes internos no Brasil foi de 27 milhões de pessoas; somente ao longo dos anos 70, 40% da população rural migrou para as cidades, configurando um processo de desruralização progressiva do país32, cuja contrapartida foi o aumento desmesurado da população urbana, o hiper-inchamento das cidades, a favelização e o adensamento da multidão, especialmente nas metrópoles. Os efeitos desses processos se realizaram como verdadeira colisão sobre a experiência espacial, cujas formas tradicionais de organização não os absorviam. As mudanças produzidas pela existência da e na multidão já têm sido bastante estudadas, mas há ainda problemas a explorar. Como argumenta Elizete Menegat, as formas hegemônicas de ordenamento e apropriação do espaço no Ocidente tradicionalmente se dividem apenas em público/privado e rural/urbano, de modo que os migrantes se vêem temporariamente fora do esquema geral, no qual se devem encaixar quando chegarem a seu local de destino. Aqueles que não podem fazê-lo por sua pobreza, e que consistem na grande maioria, tornam-se favelizados e, portanto, continuam habitando um espaço não reconhecido socialmente, nem público nem privado, 30 Cf. BENJAMIN. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política. Obras Escolhidas I, p.225. Cf. SOARES, P. 1973: o ano em que o Brasil cresceu 14%. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 jun. 2007, Caderno Dinheiro, p.B-10.. Segundo os entrevistados, o economista Delfim Netto, o então ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso e o professor de história econômica da UFRJ, Jacques Kerstenetzky, tal crescimento se deveu ao planejamento governamental, cujas medidas foram facilitadas pelo caráter ditatorial do regime (somente Delfim Netto discorda deste último ponto). O impacto disto só pôde ser visível muito depois, como mostra este trecho de Schwarz nos anos 90: “o desenvolvimentismo arrancou populações a seu enquadramento antigo, de certo modo as liberando, para as reenquadrar num processo às vezes titânico de industrialização nacional, ao qual a certa altura, ante as novas condições de concorrência econômica, não pôde dar prosseguimento. [...] Passando ao esforço nacional de acumulação, o que se vê são sacrifícios fantásticos para instalar usinas atômicas que nunca irão funcionar, estradas que não vão a parte alguma, ferrovias imensas entregues à ferrugem, edificações fantasmas que entretanto não se desmancham com as ilusões ou negociatas que as tiraram do nada. Que fazer com elas?” SCHWARZ, R. Fim de século. In: Seqüências brasileiras. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, p.159-160. 32 Cf. CAMARANO, A. e ABRAMOVAY, R. Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos. Revista do IPEA, Texto para discussão n.621. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/> Acesso em: 12 jun. 2007. A população rural em 1950 representava 63,8% da população brasileira total; 54,6% em 1960; 44% em 1970; 32,4% em 1980; e apenas 22% em 1996. Os autores (pesquisadores do IPEA, resumindo dados do IBGE) denominam o movimento das migrações nos últimos 50 anos de “esvaziamento da população rural”. 31 250 porque fruto de posse ilegal, nem rural nem urbano, porque alocado em regiões periféricas33. Uma grande parcela da população urbana, assim, tornou-se excluída dos padrões de organização e percepção espacial, que determina o reconhecimento de direitos de cidadania e os decorrentes direitos civis e políticos, além dos serviços básicos de saneamento, eletricidade etc.34 O impacto disto sobre as relações cotidianas, no espaço das ruas, dos transportes, dos ambientes coletivos e da luta política não encontrava correspondência no sistema de referência de que se dispunha. Os conflitos decorrentes mal começavam e se estendem aos dias de hoje. Uma experiência análoga, no sentido de um grande movimento incabível para os padrões de percepção subjetiva e organização objetiva do mundo, ocorria na mesma época no que concerne ao contraste entre a amplitude da percepção cósmica do espaço – para a qual contribuiu, como já mencionado, a televisionada chegada do homem à lua e as fotografias tiradas pelos astronautas – e as restrições à liberdade de movimento e expressão impostas pela ditadura. Um veio de poética cósmica perpassa obras tão distintas quanto a de Chico Alvim e a de Afonso Henriques Neto, que tentam costurar as diferentes experiências espaciais, produzindo por vezes efeitos de sentido desalinhavados. Sobretudo neste último (pois a dicção de Alvim é, digamos, mais suave), primam efeitos de estranheza que se podem estender à origem do universo e à história: “Tormentas siderais atadas ao teu pulso/demiurgo,/ao teu vomitar o acaso/no lampejo de se gritar as dimensões [...]”35. A referência demiúrgica, remetendo às mãos e vozes, divinas ou humanas, que agem e fazem e refazem o mundo, o tempo e os destinos, é transfigurada em puro mal-estar: a criação é acaso vomitado, como sugere a náusea sartriana36. Não mais herdeira dos aedos demiúrgicos, a palavra criadora do poeta contemporâneo colide e dificilmente se concilia com a história, vivida sardonicamente como um tempo tempestuoso e ilógico: “eis o nascimento do instante/ironicamente vertido nesse vaso/sem tempo [...]” 33 Em recente matéria jornalística, uma moradora da favela Jardim Panorama, zona sul de São Paulo, recorda sua chegada ao local nos anos 60: “Meu marido pescava lambari para o nosso almoço no rio Pinheiros, meus filhos nadavam e caçavam preá nas margens. Essa rua toda era uma horta que eu cuidava, até que as pessoas foram chegando do norte passando por dificuldades.” Hoje está sendo negociada a desocupação da área para a construção de um shopping-condomínio. Cf. WAINER, J. e BERGAMASCO, D. Shopping dá R$ 40 mil para morador de favelas se mudar. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 jun. 2007, Cotidiano, p.C-1. 34 Embora isto não costume atingir os poetas, por sua posição social, é uma situação muito próxima aos poetas de periferia, além de gerar conflitos que atingem todas as classes sociais, até hoje não resolvidos. Acima de tudo, produz uma mudança nas relações espaço-temporais em geral. Cf. MENEGAT, Elizete. Limites do Ocidente: um roteiro para o estudo da crise de formas e conteúdos urbanos. Tese (Doutorado Planejamento Urbano e Regional). IPUR, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 35 “Ser”, de Afonso Henriques Neto, em O Misterioso ladrão..., p.34-35. Como observado no cap.4, as imagens de vômito e vazio são constantes na dicção de Afonso, especialmente neste livro. 36 251 As relações espaço-temporais se modificavam intensa e rapidamente, e eram experimentadas na disjunção entre sua amplitude e restrição, o que provocava profundo descompasso nas sensações, sentimentos e operações reflexivas. Imersos neste contexto, os poetas dos anos 70 se viam impedidos de resolver contradições objetivas e subjetivas de sua experiência histórica. Esta angústia é traduzida por Chico Alvim no poema “Uma Cidade”37, em que se estabelece uma relação tensa entre, por um lado, o diálogo transcendente com o tempo e a tradição cultural, e por outro, a ocupação imanente-corporal e quase impotente do espaço da cidade, culminando na devoração do sujeito em cômpito final: Com gula autofágica devoro a tarde em que os antigos me modelaram. Há muito, extinto o olhar por descaso da retina, Vejo-me no que sou: Arquitetura desolada – Restos de estômago e maxilar com que devoro o tempo e me devoro A relação com a tradição literária-nacional dos anos 20, especialmente o movimento antropofágico, propõe-se no jogo alusivo dos primeiros versos entre a voracidade autofágica e os antigos modelos, o mesmo jogo que caracterizou a tradição iconoclasta que, a despeito da contradição dos termos, marcou nosso primeiro modernismo – o que é sublinhado pela força deglutidora do verbo na 1ª pessoa, por três vezes repetido no poema: “devoro”. Contudo, os versos seguintes apresentam a diferença irredutível entre os dois momentos históricos: a nova geração não pode ver como os antecessores, pois “há muito” o olhar necessário se extinguiu, “por descaso da retina”, falta de treino ou hábito, e ela se vê nuamente em sua precariedade: uma desolada estrutura construtiva (arquitetura), projeto ou edificação devastada (esta imagem se aproxima do homem iniciado na medida do impossível, de Torquato Neto), e não mais que restos do aparelho digestivo que seria necessário à realização da proposta cultural antropofágica, apenas capaz agora de devorar o tempo e o indivíduo. A inversão do mito de Cronos, devorar o tempo que devora seus filhos, exigiria a faculdade da transcendência pessoal-espacial-temporal para lidar com a infinitude – o que não se faz possível numa época e num contexto em que cercas e censuras, erigidas em nome da modernização autoritária, impedem a liberdade de pensamento e associação, criatividade e ação humana que havia significado a promessa espiritual mais dignificante da modernidade. O 37 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.21. 252 que se vê, ao contrário, é uma crescente tendência à espacialização, em virtude da postura de inação contemplativa da paisagem ou uma ação presentificada, voltada para o aqui-e-agora cotidiano, em que se achata a experiência do tempo, reduzida à imediatez, e a própria idéia de atuação sobre o mundo se restringe ao “puro espaço”. Há, deste modo, uma espécie de seccionamento da experiência histórica, que passa a ser vivida e pensada preferencialmente em sua dimensão espacial, em detrimento da temporal38. A experiência espacial, entretanto, se dava de maneira fraturada e tormentosa, marcada pelo incabível e pelo sem-lugar, como visto. A espacialização do temporal, como um movimento característico da história quando se transforma em ruína39, adquiria aqui esta faceta especial. Ao lado disto, a própria subjetividade também se secciona, uma vez que sua constituição e maturação dependem da relação com os três tempos básicos fundantes dos processos psíquicos e históricos. Não é de estranhar, portanto, a fusão entre sujeito e cidade em uma metáfora orgânico-arquitetônica que traz imagens de desolação e devoração, nas quais o humano se materializa, espacializa e arruína, perdendo sua integridade e qualquer transcendência temporal ou espiritual. Reduzido à mera sobrevivência biológica, a restos viscerais e espaciais, o sujeito histórico é autodestruído. Imagens próximas, com ligações intertextuais, reaparecem na “Aquarela”40 de Cacaso, em que se descreve a pintura de “um pássaro que agoniza/exausto do próprio grito” e cujas “vísceras vasculhadas/principiam a contagem/regressiva”. Seu sangue no chão “se decompõe em matizes/que a brisa beija e balança”, como se numa refração prismática da luz sangüínea surgissem as cores da bandeira nacional, às quais se associa a simbologia ufanística oficial (“o verde – das nossas matas” etc.), revertida porém no final: “o branco o negro o negro”. A soma 38 Antônio Cândido já o observara em 1975, no debate do Teatro Casa Grande (RJ), já mencionado. Cf. Vanguarda: renovar ou permanecer. In: Textos de Intervenção., p.215. Isto se confirma pelo teor da poesia que se seguiu nos anos 80 e 90, com clara inclinação à abstração e à visualidade, como aponta o trabalho de Costa Lima: “Da convencionalidade rotineira, do éter que enovela, anestesia e neutraliza o cotidiano salvam-se apenas as coisas vistas em sua espacialidade. O resgatado é apenas o que cabe no mínimo e suspende o verbo.” Costa Lima. Abstração e visualidade. In: Intervenções, p.169. Trata-se de capítulo em que o autor analisa quatro poetas característicos dos anos 90, comparando-os com a poesia marginal para afirmar sua diferença qualitativa, provando assim o quanto a poesia brasileira melhorou, apesar de tudo. O que é visto tornou-se mais importante do que o olho que vê e o teatro mental do sujeito, diz ele, o que não significa a morte do sujeito nem o fim do eu central, mas uma outra posição, em que de centro de convergência se muda para o lugar de parceiro das coisas num mundo ambíguo; p.177-178. Mesmo que se concorde, esta afirmativa não elimina a existência da crise do sujeito no Brasil dos anos 70, e estudos precisam ser aprofundados acerca do que ocorreu com os sujeitos em geral, e os sujeitos poéticos, em particular, entre os anos 70 e 90. Acerca do seccionamento tempo/espaço da experiência, trata-se de uma característica da modernidade; a prevalência do espaço sobre o tempo é que tem sido apontada como uma tendência da crise da modernidade ou pós-modernidade. Cf. Harvey, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993, p.258 ss. 39 Cf. SELIGMANN-SILVA, Catástrofe, história e memória em Walter Benjamin e Chris Marker: a escritura da memória, op.cit., p.404. Item “a topografia e a arqueologia do tempo”. 40 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.40. 253 de todas as cores culmina em ausência de cor; o vôo livre do homem moderno brasileiro declinou no obscurantismo dos anos de chumbo. De tudo, restaram as vísceras de fora, nas quais não se podem ler augúrios, e a estampa de sua agonia, em tons nada pastéis. Na retomada dos princípios modernistas, não parece haver-se desrecalcado o senso trágico41 que seria agora, mais do que nunca, necessário para lidar com as experiências em modificação, resultantes da ação fáustica que impulsionou o desenvolvimento nacional por décadas e encontrava no regime militar seu ápice e crise. Mas faltam ao mundo contemporâneo, e não apenas ao Brasil, as condições históricas e estéticas de uma arte capaz de expressar a dialética da ação-destruição do mundo pelo homem, do viver e do morrer da espécie; não se dispõe de imagens nem de palavras que “unifiquem com vigor suficiente a vertigem e a espera”42 que isto significa, e só encontramos esta experiência manifesta em pequenos fragmentos. Isto se explica, segundo Marildo Menegat, pela redução ou mesmo extinção da força ativa do pensamento trágico, que ensinaria a lidar com o desamparo da existência humana e manter a grandeza dos atos mergulhados na incerteza. Problematizando a compreensão nietzschiana que deriva em inação – dada a idéia de que resulta inútil agir, pois nada se pode mudar na essência das coisas –, o autor recupera o pensamento aristotélico, cuja concepção de tragédia coloca o homem em um fio tensionado entre a natureza e a humanidade, obrigando-o a confrontar-se com situações éticas e políticas, em que as escolhas do indivíduo, em meio ao acaso e à sua própria limitação, têm que se ancorar no caráter e na “capacidade de suportar a possibilidade do erro”. Um tal pensamento funciona assim como um impulso à ação, pois “aceita o desafio de imortalizar-se na ação do indivíduo, ao invés de mortalizar o indivíduo na sua abstenção da ação e na abstração da existência”43. Contudo, as condições objetivas da modernidade em crise não permitem a produção de uma paidéia [formação] para a coragem da escolha, nem tampouco um mergulho catártico do indivíduo na excitação produzida pela arte, emergindo deste estado mais sereno e lúcido. Inversamente, o domínio do capital sobre todas as esferas da vida produz um mundo de coisas que assolam o indivíduo, reificam e mercantilizam as relações sociais e subtraem o poder trágico de, por 41 A respeito do recalque do trágico no modernismo que, no entanto, buscou desrecalcar elementos diversos da cultura popular, ver o cap.3., onde também se discute a tendência antitrágica da cultura brasileira, com base na obra organizada por Vecchi e Finazzi-Agró. 42 ARGULLOL, Rafael. O Fim do mundo como obra de arte, p.122-123. Diferentemente de Berman, Argullol desdobra sua reflexão a partir de Nietzsche, afirmando que os grandes relatos trágicos, na linhagem do mito de Prometeu ou do Apocalipse, ou do somatório de ambos na figura dual de Fausto/Mefistófeles, não são mais possíveis na crise da modernidade, quando aquela “viagem inicial até os con-fins do mundo [...] se tornou intolerável e impensável”. O teor inteiramente mítico e fadado à derrota de ambas as linhagens trágicas que ele estabelece exige debate mais acurado do que aqui se pretende fazer. 43 MENEGAT, M. Depois do fim do mundo..., p.116. 254 meio da fruição da arte, conduzir o sujeito a investir nas potencialidades da existência humana em oposição ao mero culto da autoconservação44. No seio da cultura brasileira, tais condições vêm acentuar seu veio antitrágico e as dificuldades de se lidar com a crise cultural, econômica e política que se vivia. Se a elaboração desta dimensão trágica fosse possível, ela se daria coletivamente, na composição de um ser social em que se compartilhariam os limites, as contradições e as possibilidades de uma mesma condição natural e histórica, ou teria a grandeza de uma solidão fáustica, que entre tudo poder fazer e tudo destruir, desfaz sua própria existência. Mas não era isto o que indicava a tendência de “espiar o mundo” revelada pela poesia daqueles tempos. A experiência da grandeza trágica, da dialética dos limites/liberdade da ação humana no mundo e no tempo45, mítica ou não, estava impedida. Ainda que haja uma certa delicadeza no gesto de recusa à ação fáustica – não se sabendo como agir historicamente em outros moldes, melhor seria não fazê-lo –, a ausência de recursos trágicos aponta também para uma certa imobilidade traumática diante da incomensuralibilidade dos efeitos do acelerado e contraditório desenvolvimento nacional, da migração descomunal, da desruralização, das metrópoles regurgitantes... Em uma (verdadeira) correspondência, Ana Cristina havia resumido: “o meu medo me paralisa, sim. E tensiona os ombros e os pulmões. Verbalizo de pura paralisia”46. Criara-se uma situação, como sugere Adorno, na qual os meios de representação da dimensão histórica pela arte se tornavam exangues, uma vez que não era mais cabível legitimar como humana e compreensível a desumanização da história, e que, por outro lado, os efeitos de choque crítico da arte moderna não foram suficientes para desmascarar o teor desnaturado da sociedade contemporânea, velado por fenômenos complexos. Diante das aporias da representação, o que se vê então é a “tentativa desamparada de tornar comensurável a incomensurabilidade”47, como é característico dos testemunhos, traduzindo-se em figuras movidas a espanto e perplexidade. Os quais não estão ausentes, é bom lembrar, nem da mais debochada ironia: “Coessarte tradicional!.../Mas qual...” (Carlos Saldanha)48. 44 Cf. ibidem. As reflexões sobre a relação tragédia/ação são desenvolvidas especialmente nas p. 115-121. O contraponto deste impedimento se manifestava no ideal de ação e na prática ativa da luta armada, e foi também violentamente cortado. 46 Carta para Cecília, 14 de maio de 1976, reproduzida in: LEMOS, Renato. Bem traçadas linhas, p.455. 47 Seguindo o raciocínio de Adorno, os processos que afetam profundamente o sujeito, como a falta de liberdade, podem até ser conhecidos, mas não efetivamente representados; a tentativa de fazê-lo por meio do elogio da resistência heróica, como em certas narrativas políticas, acabou por discrepar de ações humanamente comensuráveis, e a representação do “puro inumano”, que se mostraria como alternativa, furta-se no entanto à arte justamente por sua enormidade e inumanidade. Cf. ADORNO, Mínima moralia, aforismas 94 e 103, especialmente p.125-127 e p.143-144. 48 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.25. 45 255 O trauma detectado por Heloisa Buarque na geração impedida de se narrar49 não se restringe, então, a uma coibição política, embora a inclua, mas envolve também a falta de chaves expressivas que possibilitassem dar forma a uma experiência informe e desproporcional. Não era absorvível naquele tempo – e se foi posteriormente é todo um problema a discutir – o impacto das transformações em curso. Assim, não se pode descartar que a linguagem dessublimada, desqualificada e desqualificante, a “sujeira”50 da poesia voltada aos desimportantes eventos cotidianos, enfim, a in-formalidade em todos os sentidos, seja uma avessa manifestação disto. Aquela poesia só pôde referir-se às condições de seu tempo na forma de rasura: “mudo constante de olhos/botando as unhas de sangue e a língua/apodrecida pra fora/das boas casas do ramo da história” (Leomar Fróes).51 Eis o que a poética de Chico Alvim parecia intuir, ao se tornar “marginal”. A solução deste Chico foi ir-se compondo como “o poeta dos outros”, nas palavras de Cacaso, passando a fazer o que Flora Sussekind chamou de poesia-para-várias-vozes52. Espiando o mundo, o poeta se põe a coletar frases e vozes ouvidas na rua ou em provérbios populares, advindas da “boca do povo” e as introduz nos poemas em sua forma de matéria bruta, sem lapidação – “Não gosto de lá/me faz sentir pior do que sou”; “... Devo-lhe esta desculpa, Dr./... e se Platão tiver razão?”; “A gente tem é que se acostumar”; “– Você quer um?/– Não, não adianta”; “E o que vai beber o meu patrão? Uma caxambu”53 –, como se tentasse dar voz aos seus coetâneos (des)conhecidos e silenciados e, assim, de algum modo resgatar uma experiência social em suas múltiplas facetas diárias. Emerge daí um “Brasil sintomático”, considera Cacaso, onde o poeta, como uma testemunha cheia de indagações e dúvidas, disfarça a autoria, e num gesto cortês cede a vez e a voz para levantar indícios de tudo que diga respeito à experiência alheia, que é a de todos. Como um vaso comunicante do convívio social, essa poesia porosa tematiza em pedaços o universo brasileiro, com forte dose de uma desilusão duramente instrutiva, pois 49 Ver cap.5, a partir de comentário da autora no posfácio da antologia 26 poetas hoje. Para o caráter proposital e estratégico dessa linguagem, como opção estética desse grupo, ver SANTOS, Antônio Carlos. “De pássaro incubado a tico-tico de rapina: a poesia de Antonio Carlos de Brito, o Cacaso”, in: PEDROSA, Célia. Poesia e Contemporaneidade, p.96. 51 Versos de “Descordenada”, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.202. 52 Cf. BRITO/CACASO. O poeta dos outros. In: Não quero prosa, pp.306-336. Trata-se de um ensaio inacabado de Cacaso, também publicado em Novos Estudos Cebrap, n.22, São Paulo, outubro, 1988. E SUSSEKIND, Flora. Seis poetas e alguns comentários. In: Papéis Colados, p.352. 53 Trata-se de diversos poemas, retirados da antologia de Hollanda, do ensaio de Cacaso e das obras completas do autor: ALVIM, Francisco. Poemas [1968-2000]. Rio de Janeiro/São Paulo: 7Letras/Cosac & Naify, 2004, p.224 e 296. Os exemplos deste tipo são infindáveis, incluindo, além da fala popular, conversas intelectuais ou típicas de serviço público burocrático, dos tempos da ditadura aos dias de hoje. 50 256 ilumina sem consolar, retratando quase sempre situações em que algo se perde irremediavelmente... 54 Minha voz escuta tua voz dentro de meu corpo teu corpo árvores molhando meu sangue me abre À dissolução da experiência de ser ou sentir-se agente histórico – propriamente sujeito, para além de objeto da história – Chico Alvim respondeu com esta coleção poética de resquícios sociais. Não mais as “relíquias do Brasil” de Torquato Neto, mas seus cacos, que cabe recolher como necessidade de registro e, portanto, construção de memória: “– Não, não me lembrarei/O velho Nabuco tinha razão/lembrar é colecionar”. A despeito da negativa contida nestes três versos, pois colecionar não significa uma memória viva, mas “museuficada”, o restante do poema reafirma a recordação, desde o título “L’étoile aux éléphants” até as referências literárias a Proust, Graciliano Ramos e Joaquim Nabuco55. O poeta-coletor, à maneira do catador de trapos de Baudelaire/Benjamin, recolhe e remonta restos, compondo imagens tensas a partir de fragmentos de vozes e situações sociais, que nos oferece como pequenos lugares de memória. Nisto reside seu testemunho poético, aberto ao historiador como uma cortesia56. 54 O intuito era de provocar o descondicionamento das cenas mais cotidianas, anônimas e próximas, denunciando nelas o gesto social cristalizado, em que a regularidade do hábito costuma impedir o contato com o desamparo ou a dor. “Na ausência dos hábitos estratificados, o fluxo da experiência aberta revela a precariedade de tudo, a carência da vida e de suas perspectivas”, analisa Cacaso, observando porém que no precário equilíbrio cotidiano retratado por Chico Alvim, “nenhuma conquista é integral; nenhuma degradação é completa”. Ibidem, passim. O seguinte texto de Alvim, sem título, consta in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.23. 55 O poema, do livro Exemplar Proceder, publicado dentro de Passatempo/Coleção Frenesi, 1974, acha-se nas obras completas, op.cit., p.291. Explica o título o fato de se atribuir aos elefantes grande memória. 56 Para lidar com as ruínas que sobraram das catástrofes do século XX, diz Seligmann, é preciso novas formas historiográficas, que, coletando cacos, possam recompor imagens, carregadas de tensões. Isso requer a incorporação do princípio de similaridade da memória, e de montagem, da arte, pela historiografia, para capacitá-la a tratar do choque e do trauma, bem como manter seu poder de intervenção ética e política. Ver SELIGMANN-SILVA, Catástrofe, história e memória em Walter Benjamin e Chris Marker..., op.cit., pp.391-418. 257 6.2. Cacaso: “o espantoso baile dos seres” na crise da modernidade – a condição intervalar Chama a atenção em Cacaso uma relação com o tempo-espaço bastante marcada pela preocupação com os destinos das propostas civilizatórias, ou seja, com o que resultou no presente daquilo que o passado erigiu ou intentou como progresso humano. Neste seu diálogo com o tempo, não raro entretecendo o presente histórico da modernização ditatorial às tradições românticas e modernistas, recorria a constantes referências intertextuais, quer por meio da citação direta de versos alheios, quer por imagens típicas do nacional-popular brasileiro, quer por brincadeiras com títulos, versos, formas poéticas que se tornaram características de seus antecessores, como, por ilustração, nas alusões a Mario de Andrade (“Há uma gota de sangue no cartão-postal”), a Gonçalves Dias e Oswald de Andrade (“Minha terra tem Palmares”), Dante Alighieri (“O general acordou e eu que sonhava/face a face deslizei à dura via”), além de Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes... e das inumeráveis reverências ao mestre eleito Manuel Bandeira. Mas o passado incessantemente retomado deságua quase sempre em irreverência amarga ou irônica. As tradições romântica (do último romantismo) e sobretudo modernista se haviam constituído em momentos de grande esperança nos benefícios da modernização e no futuro da sociedade, marcadas pela preocupação e ativa participação dos literatos na formação cultural-nacional57, incluindo a dicção popular. Haviam construído um projeto de tradição nacional, embora o fizessem com um discurso iconoclasta que se concebia como fundador do novo, ainda que a partir dos processos culturais de deglutição antropofágica. O mesmo se mostrava imensamente mais complicado nos anos 70, menos pela atmosfera de iconoclastia contracultural do que pelo fato de o Estado ditatorial se assenhorear do processo de construção de tradições nacionais58, institucionalizando e oficializando-o, e conseqüentemente sufocando as vias alternativas. Estas ainda teimavam em denunciar, sob a oclusão política, a contradição deste nacionalismo com a abertura da economia e da cultura nacional ao capital e interesses estrangeiros, em especial dos EUA, e mantinham o cabo-de-guerra, negando-se a “entregar” as tradições nacionais-populares à ditadura59. O sentimento do poeta pelo que se tornava a modernização no país, tão decantada pelo romantismo e modernismo brasileiros desde fins do século XIX, traduz-se no pequeno poema 57 Cf. CÂNDIDO, Antonio. A formação da literatura brasileira. Belo horizonte: Itatiaia, [1984]. No sentido que lhe dão HOBSBAWM e RANGER. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 59 Os problemas político-estéticos do Conselho Federal de Cultura, analisado por R. Ortiz (cf. cap.3), do tropicalismo e das difíceis formas de resistência (cf.cap.5) abarcam esta questão. 58 258 “E com vocês a modernidade” que recompõe o clima romântico vulgarizado para arrematá-lo com um profundo suspiro no último verso: Meu verso é profundamente romântico. Choram cavaquinhos luares se derramam e vai por aí a longa sombra de rumores e ciganos. Ai que saudade que tenho de meus negros verdes anos!60 Talvez um dos versos mais conhecidos de Cacaso, esta distorção paródica de Casimiro de Abreu61 pode ser lida em três círculos concêntricos, como um triplo lamento que se amplia, conforme a significação que se atribua aos “negros verdes anos”: a) do círculo da experiência pessoal: a mocidade perdida do sujeito individual; para b) o círculo mais largo da experiência nacional: os projetos românticos de nacionalidade perdidos pelo sujeito-social, pois apenas existem agora como uma tradição que só pode ser retomada como memória irônica de um passado de impossível atualização, uma vez que a potência edificadora de uma ampla experiência de formação social se perdeu com a apropriação e deformação dos sentidos de identidade pela ditadura militar62; e para c) o círculo de experiência ainda mais largo, referido na apresentação teatralizada do título: a modernidade, em sua longa duração, perpassando de modo subjacente toda a história ocidental. Residem aqui as três durações da experiência histórica63 que se cruzam, em cada momento da história, nas vivências de cada indivíduo, pois estes têm, ao longo de sua vida, experiências que são alternada ou simultaneamente: a) estritamente subjetivas, no sentido de vivências pessoais intransferíveis, psíquicas e familiares; b) geracionais, posto que as gerações se delineiam, mais do que por um corte biológico, pela força dos eventos políticos que marcam os indivíduos e aos quais eles respondem; c) um acúmulo de experiências do passado, cuja transmissão permite a formação de tradições, mantidas na forma de memória coletiva. Estas três durações da experiência correspondem aos três círculos de experiência e lamento presentes no poema de Cacaso. Em todos, o verdor das energias e sonhos iniciais (verdes anos) é obscurecido pela sombra das derrotas revolucionárias e dos obstáculos econômicos, ideológicos e políticos que 60 “E com vocês a modernidade”, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.42. Pertence ao livro Beijo na boca/Coleção Vida Artista, 1975. Reproduzido nas obras completas de Cacaso: BRITO, Antonio Carlos. Lero-lero. Rio de Janeiro/São Paulo: 7Letras/Cosac & Naify, 2002. 61 No poema “Meus oito anos”: “Oh, que saudade que tenho/Da aurora da minha vida/Da minha infância querida”... Este poema é sempre citado em antologias de poesia romântica brasileira e manuais escolares. 62 Como já dito, a questão é vasta, incluindo também o controle da educação no país (cf.cap.4). Para as disputas na linguagem, ver item “No campo minado das palavras”, cap3. Para a memória irônica, dada a impossibilidade de atualizar a tradição, cf. SANTOS, Antonio Carlos, in: Pedrosa, op.cit., p.88. 63 Cf. KOSELLECK, R. L’expérience de l’histoire. Ver cap.1, onde se apresenta a concepção do autor sobre experiência histórica; as durações (curta, média, longa) são trabalhadas a partir de Fernand Braudel. 259 impedem a plena realização de sujeitos e sociedades melhores (negros anos). Breve como o poema, a suma da modernidade brasileira é a saudade de uma sorte de existência que não se concretizou. “Toda felicidade é memória e projeto”, sintetiza o último verso de “Cinema mudo”64, que, à maneira agostiniana, atribui o tempo de ser feliz ao passado ou ao futuro, visto que o presente não existe... Entrava em pauta a discussão sobre o fim do otimismo moderno, que concebia a história como um progresso contínuo daquelas condições materiais e simbólicas que permitiriam à espécie o domínio sobre a natureza e o conforto de uma existência segura. Estas condições, entretanto, jamais estiveram eqüanimemente distribuídas por todas as nações e classes, concentrando-se em determinadas áreas e nas mãos de determinados grupos sociais, de modo que as promessas do progresso e da modernidade – nas formas sistêmicas em que os conhecemos, do desenvolvimento capitalista, do dito socialismo real, da social-democracia mediadora entre ambos, e dos desdobramentos tecnocráticos e totalitários de todos eles – nunca foram vividas regularmente. Formado em Filosofia e assíduo leitor de Antonio Cândido, que citava com freqüência em seus escritos críticos, Cacaso bem conhecia, e na própria pele, como habitante do “Terceiro Mundo”, as derivações problemáticas do Iluminismo, especialmente em sua rota versão latino-americana65. A impossibilidade dos filósofos clássicos darem respostas à experiência contemporânea, cuja irracionalidade intrínseca tornava impotentes as formas tradicionais da razão, exigia novas formas de pensar, sobretudo em países como o Brasil, cuja história cultural, desde os primórdios, apresentou características tão específicas e arrevesadas em relação aos ditames filosóficos europeus. O olhar acurado para esta questão foi traduzido em um poema-terceto cujo título é hilariamente maior do que ele próprio, à moda das obras portuguesas renascentistas: “Pré-história contemporânea periférica ou ninguém segura essa América Latina ou os impossíveis históricos ou a outra margem do Ipiranga”: “Jamais mudar pela violência/mas manter pela violência:/morte ou dependência”66... Não há tratado lógico ou metodológico que possa esquematicamente dar conta do tipo de dinâmica político-cultural “dependente” dos países de capitalismo periférico, onde as disputas de poder e os sentidos de liberdade, individual ou nacional, jamais seguiram critérios iluministas. Estes, mesmo para o mundo europeu, já se desvelavam inconsistentes após as catástrofes do século XX. Assim, o 64 In: Lero-lero, p.162. O poema pertence ao livro Grupo Escolar/Coleção Frenesi, 1974. Cf. CÂNDIDO, A. “Perversão da Aufklärung”, in: Textos de Intervenção, pp.320-327. O tema foi tratado no cap.4. 66 In: Lero-lero, p.156. Poema pertencente ao livro Grupo Escolar/Coleção Frenesi, 1974. “Ninguém segura esse Brasil” era frase de uma das canções ufanísticas propagandeadas à época pelo Estado ditatorial. 65 260 poeta põe Kant, enquanto figura-vértice da Ilustração européia, a dançar como seus juízos epistemológicos, estéticos e morais nunca fizeram: você sabe o que Kant dizia? que se tudo desse certo no meio também daria no fim dependendo da idéia que se fizesse de começo e depois – para ilustrar – saiu dançando um foxtrote67 Revertendo o sentido iluminista, pela ambivalência do verbo “ilustrar”, o poeta desconfia – não somente que o iluminismo não acaba em samba, nem em formas de bailar latinas, cujas histórias não deram bons sinais nem no princípio, nem no meio – mas que está dada a impossibilidade de racionalizar o mundo, tornando-o manipulável pelo pensamento humano, cujo contínuo progresso permitiria ao homem se tornar senhor de si e de seu medo. O extremo oposto da situação seria o sentimento geral de profunda insegurança e horror diante da possibilidade de “regressão” histórica de todos, de destruição das conquistas acumuladas, rupturas no processo de transmissão cultural e, no limite, retorno do humano às condições biológico-naturais primevas68. Sem chegar a tanto, um conjunto de espantos e estranhamentos nessa direção permeia a poesia dos anos 70. No poema “Praça da Luz”, Cacaso instaura uma atmosfera surreal num horrível cenário de circo, terminando o teatro sem alegria com o lastro das gargalhadas dos filmes de terror69: O inverno escreve em maiúscula sua barriga circense. Namorados sem ritmo povoam o espaço onde gengivas conspiram e chefes de família promovem abafadas transações. Um marreco aproveita a audiência 67 “Vida e obra”, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.42. Poema pertencente a Na corda bamba, 1978. É tentador imaginar que Cacaso fez Kant bailar como o deus que queria Nietzsche; mas, embora o poeta certamente o tivesse estudado, sua forma de pensar não parece caracteristicamente nietzschiana. A crítica à razão de Cacaso tendia não na direção do irracionalismo, mas da busca de um outro tipo de racionalidade, como demonstram suas leituras de Walter Benjamin e Adorno, citadas em pé de página. Severamente crítica das ingerências da razão ocidental no mundo pós-guerra – “nenhuma razão justificativa poderia encontrar-se a si mesma em uma realidade cuja ordem e cuja forma rejeitam e reprimem toda pretensão da razão” (Adorno, 1931) –, a Escola de Frankfurt se dedicou a distinguir e pensar diferentes formas de racionalidade, e não o irracionalismo. Cf. REALE e ANTISIERI. História da filosofia, v.III, pp. 837-850. Citação de Adorno à p.841. Uma longa discussão sobre o assunto é feita por MENEGAT, M. Depois do fim do mundo, cap.1. 68 Com exceção dos pensadores ligados à Escola de Frankfurt, em geral pouco se trata desta última possibilidade que, todavia, subjaz em um número crescente de criações artísticas e filosóficas. Penso, por exemplo, na dor contida nas pinturas de Iberê Camargo, ou na brutalidade das relações amorosas expressas pelos reality shows e pelos funks, pagodes etc., veiculados atualmente pelos meios de comunicação de massa. Para uma discussão complexa ver MENEGAT, Marildo. op.cit., e também o sugestivo título e a conclusão do livro de Argullol supracitado. 69 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p. 47. Pertencente ao livro Grupo Escolar, 1974. 261 e se candidata a senador. Anjinhos cacheados esvoaçam flâmulas e hemorróidas, corpos horrendos se tocam. Uma gargalhada despenca do cabide: marcial um cortejo de estátuas inaugura o espantoso baile dos seres. Tudo aqui é desarmônico, neste que é o lugar historicamente originário da vida pública e política. O tempo é frio; o amor é arrítmico, logo, desencontrado e inábil; as alusões ao humano o mostram em partes, ou feio, ou espúrio; as relações políticas são traiçoeiras e o candidato, reduzido a uma ave desengonçada e rouca. As bocas conspiradoras sequer possuem mais dentes. A provocadora antítese entre as hemorróidas e os anjos predicados com diminutivo e cachos rouba da imagem qualquer menção à beleza ou teologia barroca. Como música de fundo, uma risada súbita, vinda não se sabe de onde nem por que (ela despenca), soa como um sinistro deboche, que por meio dos dois pontos abre o cortejo ritmado das disciplinadas marchas militares. O deslocamento do verso de uma só palavra para o fim da linha introduz uma lacuna silenciosa que destaca a especialidade de tal condição e realça o contraste com a falta de ritmo poético dos namorados. O descompasso dos que desejam e amam com o contexto circundante não poderia ser mais nítido. O poema culmina o estranhamento com um duro jogo antitético: o cortejo, imagem fúnebre e militar em sua cadeia de associações comuns, não é composto de pessoas mas de estátuas, e resulta em uma duvidosa festividade de seres não qualificados como humanos, meros entes. É de fato espantoso a quê se reduziu o espaço da velha ágora: um circo surreal e terrível em que bailam e se alinham seres animalizados, petrificados, imobilizados – em outras palavras, reificados. Se a constituição de um espaço público, como locus de debates racionais e democráticos, consistiu em um dos eixos da modernidade ocidental, ei-la aqui em decomposição. A derrisão do cenário da praça surge em outros poetas com semelhante carga de desilusão: nos versos de Ana Cristina – “no picadeiro seco agora/só patos e cardápios/falam ao público/sangrento/de paixões [...]”70 – novamente aves palmípedes tomam conta da arena, reforçando o caráter politicamente esvaziado e paliativo das emoções violentas do panis et circensis romano, que se tornara referência cultural naqueles tempos em virtude do disco tropicalista de mesmo título, como substitutivo à perda de direitos republicanos da plebe, no período imperial. Não é mais feliz a “Praça da República dos meus sonhos”, de Roberto Piva, onde a imagem de devoração alcança agora o ultraromantismo 70 Do mesmo “Algazarra” citado no cap.5, in HOLLANDA, p.144-145. Vale lembrar que também se costuma chamar de “pato” a alguém tolo ou idiota. 262 fixado na estátua comemorativa e as piores lembranças são tratas levianamente: “A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela paisagem/de morfina/ [...] onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces/os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão/lábios coagulam sem estardalhaço/ [...]”71 Esta metáfora – bocas feridas e quietas pela praça – confere à crise da esfera pública um cunho machucado e sanguíneo, que se reitera na poesia marginal, cujas páginas são respingadas de sangue. Por sua vez, a menção à droga de profundo poder analgésico e soporífero predicando a paisagem sugere a devoração nada antropofágica não apenas de uma certa sensibilidade poética tida como ultrapassada, mas do trato sensível das relações sociais mesmas, pois não se trata de uma anestesia seletiva. De fato, a crise não atingia apenas a experiência espacial, mas sobretudo os laços políticos e a sociabilidade. Como esta, em especial (e também aqueles, se compreendidos amplamente), é fundante do humano, começa a surgir nos textos a figuração de bizarras criaturas ou seres deformados, bem como o profundo desconsolo com as formas assumidas pela subjetividade, conforme se aprende do “tu, rinoceronte improvável, flama sapientíssima” e “tu, monstro cingido de totais firmamentos” de Afonso Henriques Neto72, ou do triste “Ulisses”, de Roberto Schwarz: “A esperança posta num bonito salário/corações veteranos//Este vale de lágrimas. Estes píncaros de merda.”73 O qualificativo depreciador dos “píncaros” desfaz sua posição antitética ao “vale”, alocando as experiências de dor e glória no mesmo nível plano a que tudo se viu reduzido num mundo sem ideais. A brevidade corrosiva do poema desvelava, na verdade, a enorme distância existente entre a esperança utópica de uma existência elevada, em um mundo transformado, e a pequenez a que se viu reduzida a odisséia moderna, cuja inteligência heróica (sendo a astúcia o grande dom de Ulisses) foi dominada pelo valor de troca e obtenção de status social conferidos pelo dinheiro, transformado de meio em fim supremo, o que é uma inversão ética por definição. Analisando a relação de Baudelaire com a modernidade, na Paris oitocentista, Benjamin observou a ebriedade do poeta no seio da capital cultural do capitalismo em seu auge, quando o fetiche da mercadoria – a qual exercia sobre a multidão o mesmo charme inebriante que os viciados quando sob efeito da droga, e a 71 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.48-49. Neste poema, um ser que é designado como “tu”, criador divinizado ou causa originária de todas as coisas, ou simplesmente alguém, é predicado como: “o imperador dos charcos”, “o rinoceronte improvável, flama sapientíssima”, “o belzebu mudando-se em ovelhas”, “o sangue subjacente a toda arquitetura [...] semente desde sempre inexplicada, “o perfeito e o imperfeito”, “o monstro cingido de totais firmamentos”, “tu impossível, mesmo louco, só e eternidade”. Cf. “Ser”, in: O Misterioso ladrão... p.34-35. 73 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.85. Deste poema sai o título do livro de Schwarz da coleção Frenesi, Corações Veteranos, 1974. 72 263 multidão imantada por sua vez o repassava74 – começava a perfazer a sensibilidade poética a ponto de a “empatia com o inorgânico” se tornar uma de suas fontes inspiradoras, o que tenderia em prazo mais longo a uma certa mineralização da subjetividade criadora. Mas a multidão e a mercadoria não exerciam igual efeito embriagador sobre todos. O filósofo recupera de Engels a percepção do quanto, nas grandes cidades modernas, os cidadãos “tiveram de sacrificar a melhor parte de sua humanidade para realizar todos os prodígios da civilização [...] que centenas de forças, neles adormecidas, permaneceram inativas e foram reprimidas...”, resultando homens brutalmente indiferentes, um isolamento insensível dos indivíduos em seus interesses privados, o que se torna ainda mais repulsivo quanto mais eles se comprimem no espaço exíguo das ruas da cidade75. Não obstante, se esta pode ser reformada, por haussmans e pereiras passos, o homem não o pode, ao menos tão facilmente. Se o melhor do humano paradoxalmente se perde no que deveria ser um processo civilizatório, só podem de fato restar cortejos de estátuas, marrecos senadores, rinocerontes sapientes, lábios coagulados, ulisses apequenados, gengivas conspiradoras, restos de vísceras e arquiteturas desoladas que desfiguram a praça pública, no “espantoso baile dos seres”. As metáforas, metonímias, tropos e predicados vários os em seu intuito depreciador traduziam um “espanto poético” com o que se tornava o ser individual e social, o cidadão e as relações humanas. Como Raymond Williams havia notado na Inglaterra (com base em seus estudos sobre o século XIX e sua própria vivência no século XX), os produtores e pensadores da cultura efetivamente reagem às modificações da organização e da experiência humana engendradas pelo processo de industrialização e modernização capitalista, quando a forma mercadoria vai tomando conta da esfera da cultura, que se torna crescentemente um espaço dessa dominação e das exclusões que ela produz. Quanto mais o capitalismo supera suas crises internas e se readapta, mais se aprofunda uma crise cultural, aquela derivada da exclusão de necessidades humanas permanentes, que se tornam reprimidas ou alijadas do processo de desenvolvimento, provocando uma “restrição radical de concepções de humanidade ou de sociabilidade”. Somente uma revolução cultural, que revertesse a versão de 74 A multidão não era apenas um novo refúgio, mas também o “mais novo entorpecente do abandonado. O flâneur é um abandonado na multidão. Com isso, partilha a situação da mercadoria. Não está consciente dessa situação particular, mas nem por isso ela age menos sobre ele. Penetra-o como um narcótico que o indeniza por muitas humilhações.” Apesar de Baudelaire entender de entorpecentes, este importante efeito social lhe passou despercebido, diz Benjamin. Cf. A Paris do Segundo Império. In: Charles Baudelaire..., p.51 e 53. 75 Ibidem, p.52-55. Cf. citação de Engels, retirada de A situação da classe operária inglesa, na p.54. O mesmo pensamento é retomado em Sobre alguns temas em Baudelaire, idem, p.114-115. Para a idéia que se segue, comparando a reforma da cidade e do humano, ver p.86. 264 cultura e sociedade que o capitalismo impõe, poderia mudar tal quadro76. Mas como esta não ocorreu, ou foi sempre derrotada quando intentada, infundiram-se noções cada vez mais esfaceladas acerca do humano e da vida social, de onde o estranhamento revelado na arte. Não se tratava, porém, seguindo uma pista benjaminiana77, de um espanto filosófico produtor de conhecimento, ao modo, por exemplo, da dúvida mater cartesiana, mas de uma situação diversa e geradora de um assombro sem respostas ou nem mesmo perguntas. O espanto inqualificável se relacionava à incomensurabilidade das transformações da experiência de sociabilidade, que não encontrava termos de referência nas concepções que se tinha dos processos de desenvolvimento das sociedades e da história, ainda (como até hoje, apesar das vicissitudes) profundamente pautados pela noção de progresso. Esse espanto era quase informe, fruto de percepções em ato ou fatos inesperados, como aconteceu na descoberta de uma rusga decorrente da distinção sócio-econômica existente entre poetas da zona sul e da periferia do Rio de Janeiro. Em carta de 1976, Ana Cristina César registrava que – diferentemente do lançamento de um livro da Nuvem Cigana no Parque Lage, na semana anterior, onde houve “porra-louquice, uivos e até strip-tease”78 – em um encontro aparentemente pacato de poetas na Casa do Estudante Universitário (RJ), os poetas da Nuvem foram imprensados pelos poetas fudidos, mulatos, do subúrbio, que esses sim se consideravam verdadeiros opositores do regime, tanto no verso quanto na posição de classe. Criou-se desconfortável contradição: poetas de Ipanema x poetas de subúrbio. Quem não se incluía tentava segurar a discussão, que se perdia em agressões. Chico Alvim estava, e falou, e depois fomos para os bares do Leblon. Cacaso não abriu a boca, mas ouvia de olhos bem abertos. É engraçado estar 79 participando ao vivo da ‘história literária’ (pretensão?). Maior que a estranheza de Ana, era certamente o susto silente de Cacaso diante daquelas circunstâncias que ameaçavam o projeto coletivo do “poemão”, a despeito da boa 76 Cf. CEVASCO, M.E. Para ler Raymond Williams, p.126-130. Estas reflexões de Williams, cujo trabalho a autora analisa integralmente, encontram-se especialmente em Politics and Letters. 77 Ver Benjamin, W. Sobre o conceito de história – 8ª Tese. In: Magia e técnica, arte e política..., p.226: “O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ‘ainda’ sejam possíveis, não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável.” De modo semelhante, Adorno relata que, quando menino já vira, nos camaradas de escola, a tendência ao horror fascista, de modo que quando irrompeu o 3° Reich, seu juízo político foi surpreendido, mas não sua predisposição inconsciente ao medo. Um paralelo pode ser feito com o espanto do Brasil nos anos 70 em relação à violência, no entanto histórica e atávica. Cf. ADORNO, Mínima moralia, aforisma 123, p.168. 78 A visão aqui sobre a Nuvem Cigana é a de um “grupo de poetas porra-loucas [que] se esparrama pela cidade. Já conseguiram atrair carroções [polícia], que impediram o recital em Niterói. Na PUC agrediram o Affonso [Romano de Sant’Anna]. Hoje vem no jornal que o Almanaque Biotônico [...] foi apreendido por ordem do ministro da Justiça.” Carta para Cecília, 14 de maio de 1976, reproduzida in: LEMOS, op.cit., p.457. 79 Ibidem [grifo meu]. 265 vontade geral80. A poesia mais agressiva de Adauto, por exemplo, incidindo sobre a violência urbana, a religiosidade afro-brasileira e as regiões mais pobres da cidade, havia sido incorporada na antologia de Hollanda, de 1976: “– depois Q inventaram o metrô nesta/capital, acabaram com os tatus/com o mangue & com os undergrounds/mas os pássaros também cantam na/periferia...”81. Também Messeder Pereira chama a atenção, com base no poema “Arregaça” de Ronaldo Santos – “[...] vista alegre/brilho no olhar/colírio//pra quem entende de assalto/saltos mortais e alegria/pra quem se chega sorrindo/nas bocadas do subúrbio [...]//no morro da providência/pipas tem outro sentido [...]” –, para o contato dos jovens poetas (na verdade, segundo ele, de “toda uma geração”) com as populações dos subúrbios e dos morros, agregando-se em função do consumo de drogas e da ojeriza à polícia: “[...] crianças vigiam/e sacam polícia/pelo andar/pelo medo/pelo cheiro//Homens da Lei/é uzomi/Cela de Detenção é cubico/Realidade/é sufoco [...]”82. Para Messeder, esta relação se dava pelo reconhecimento de um tipo de vivência comum, independentemente da situação de classe, que passava ao largo, contudo, de uma identificação de tipo populista que se encaminhasse “no sentido de uma ‘heroicização’ daquelas populações”. Era a “malandragem das turmas de esquina” que em certos momentos se cruzava com a “malandragem popular”, conforme mostraram os depoimentos que coletou83. Nos anos seguintes, todavia, uma série de disjunções iluminariam cada vez mais iniciativas e problemas até então desconhecidos ou impensados acerca deste canto “periférico”. Existiam grupos inimaginados, como, por exemplo, os AdVersos, do bairro da Tijuca (RJ), que desde 1972 apresentava recitais que não circulavam muito além daquela circunscrição, seu próprio nome revelando sua posição extrínseca àquela movimentação 80 Uma possível conseqüência disto se vê em texto de 1978, já mencionado no cap.2, no qual Cacaso considerava que a vida cultural se represara “nos limites de classe da pequena burguesia e em setores médios ilustrados.” Cf. BRITO, Tudo da minha terra, op.cit., p.134, nota 4. Indagado sobre o assunto, Paco Cac considera que “sempre houve um lance de zona sul ter preconceito com o subúrbio, suburbano era sinônimo de atraso, provinciano, né?”, mas o “desejo suburbano” de morar perto do Centro se devia à necessidade de estar mais perto dos locais de trabalho. Todavia, diz ele, a situação era diferente no meio poético: “mas entre nós, artistas em geral, poetas, não havia isso, não. Pelo contrário, sempre buscávamos a aproximação maior possível”. Segundo correspondência eletrônica em 18/05 e 6/06/2007. 81 “Pólis III”, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.254. 82 Ronaldo Santos, “Arregaça”, do livro Vau e Talvegue, publicado pela Nuvem Cigana, 1975. Reproduzido em MESSEDER PEreira, Retratos de época, p.249-250. 83 Cf. MESSEDER PEREIRA, idem, p.247-250. Note-se que o autor insiste em desvincular a visão e/ou ação dos poetas marginais de uma linhagem populista. As dificuldades nesta relação, que começaram a aparecer naquele momento causando grande espanto, podem ser pensadas como mais uma entre as cisões mencionadas abaixo. O recente filme Quase Dois Irmãos, de Lúcia Murat, aborda o assunto, ao mostrar a relação “morro/asfalto” dos anos 30-50, a relação presos políticos/presos comuns sob a ditadura militar, e a impossibilidade destas nos anos 90. 266 “marginal”84. Entre os estudantes, algumas divergências começavam a despontar. Gandaia e Folha de Rosto buscariam uma dicção mais politizada, alguns de seus membros participariam da re-eclosão do movimento estudantil, que se daria em breve após tantos anos de encubação; Garra Suburbana ingressaria na luta anti-racial e contra a pobreza, entre outras. Na periferia do Rio de Janeiro, germinavam aqueles que na virada da década seguintes editariam a revista Amplitude, em Nova Iguaçu, buscando ampliar o espaço cultural da Baixada Fluminense, ao lado da Coomasp (Cooperativa Mista de Artistas Suburbanos Panela de Pressão) que atuaria junto a comunidades de subúrbio, preocupada com o que se chamava de uma política cultural de base85. No início dos anos 80, o tumultuado I Encontro Estadual dos Escritores Independentes do RJ revelaria diversas tensões, acumuladas no quarto final do decênio de 70, acerca das formas de organização ou sindicalização dos independentes, originadas de grande dissenso a respeito da atuação institucional e da definição e lugar do poeta, desde aqueles que defendiam uma associação nacional de cooperativas – pois o escritor não devia preocupar-se “com sua exibicionista marginalidade, e sim em como vender o seu trabalho”86 – até os que propunham uma produção totalmente desinteressada, autodenominado-se “independentes em trânsito”... todos se reunindo na mostra livre da Feira de Poesia da Cinelândia. Tudo isto traz indícios de um processo, sentido apenas por meio do espanto, que apontava para o fim de um Brasil dos abraços, conforme retratado por Schwarz em “Almoço no estrangeiro”, publicado na revista Ânima, ainda em 197687: O Brasil mudou não é mais como antes quando tudo terminava em abraço. Agora tem uma cicatriz. Em qualquer encontro ou jantar a diferença entre os que foram contra 84 Este só se tornou mais divulgado recentemente, com o lançamento de uma antologia, que se tornou melhor divulgada no meio acadêmico devido à participação do prof. Afonso Carlos, do curso de História da UFRJ. Cf. KURI, AFONSO CARLOS, IVAN WRIGG ET AL. AdVersos. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004. 85 Segundo Hollanda, o grupo iguaçuano, composto por Paulo Jordan, Meduan Matus e Djair Esteves; a Coomasp (Jênesis Genúncio, Jorge de Almeida et al.) atuando na área de Oswaldo Cruz, Vila da Penha, Campo Grande e Bangu; e a Feira de Poesia da Cinelândia (Centro) nas 6ª feiras à noite, eram promissoras manifestações do início dos anos 80. Cf. Marginais, alternativos, independentes. Publicado no Jornal do Brasil/Caderno B, 15/08/1981, reproduzido em GASPARI, HOLLANDA e VENTURA. 70/80 Cultura em trânsito, pp.215-220. 86 Citado por Hollanda que reporta este Encontro, ocorrido em agosto de 1981, do qual participou como convidada. Ibidem, p.216. A autora comenta: “não se fala impunemente de matéria tão complexa e sutil. A cultura alternativa-marginal-independente, no barato, apenas pelas discussões que provoca (ainda que estranhamente assessorada pelas várias instituições solicitadas pelo organizador do encontro), revela seu potencial de tema desconfortável e mobilizante no terreno precariamente problematizado do lugar do escritor no espaço das relações de produção. O tumulto persiste, provavelmente não será hoje que os escritores independentes chegarão a um consenso sobre a forma ideal de se ‘unir-cooperativar-organizar’”, p.217. 87 Apud MESSEDER PEREIRA, Retrato de época, p.35-36. Segundo o autor, trata-se da Anima de abril/maio, 1976. 267 e os que foram a favor pode aparecer. Em minha opinião a França até hoje não digeriu o terror de 93. O Brasil não havia conhecido isto. Antes houve o caso do Estadão que nunca perdoou ao Getúlio. É verdade, mas a coisa do Getúlio foi restrita e dirigida. Desta vez foi mais longe. Agora para ser brasileiro é preciso assumir inclusive isto. Em certo sentido o país ficou mais moderno. Pode-se imaginar claramente uma troca de impressões em uma conversa de almoço, de (auto)exilados e amigos em algum país estrangeiro, possivelmente a França, para onde partiu a maioria dos egressos ou banidos do país na segunda leva da ditadura, a partir de 196888. A não-digestão do terror remete ao trauma coletivo resultante da revolução francesa e que, como mostra E. P.Thompson89, atingiu poetas de outros países. Contudo, o trabalho de Oehler revela, a partir da obra de Sartre, Baudelaire, Flaubert e outros tantos, que o grande trauma sobre o qual a França silencia foram os massacres de 1848: as jornadas de junho e o genocídio foram a tal ponto monstruosos que dividiram a nação e produziram um recalque social, do qual a literatura foi ao mesmo turno cúmplice e vítima. O nexo entre a derrota da revolução, os massacres e a modernidade literária se fez pela experiência comum neurótica que o país viveu desde então. Neste ponto, a semelhança com o Brasil seria maior: não o trauma derivado de uma revolução criadora de novas formas civilizacionais, nem da violência jacobina, mas da derrota das alianças de classe e o esmagamento da esquerda popular, por parte de uma burguesia que apóia um Estado autoritário, capaz de subtrair qualquer resquício democrático em nome da condução do desenvolvimento capitalista. A literatura que daí derivou foi tomada por alusões indiretas aos acontecimentos impronunciáveis, bem como por sentimentos profundamente contraditórios e decepcionados com os caminhos trilhados pela vida social e política90. 88 Segundo a autora, houve duas gerações de exilados da ditadura brasileira, com características distintas: a de 1964, após o golpe civil-militar, que se dirigiu preferencialmente para o Uruguai, e a 1968, após o AI-5, acolhida no Chile e depois na França (não exclusivamente, mas em maior número). Cf. ROLLEMBERG, Denise. Exílio, entre raízes e radares. Rio de Janeiro: Record, 1999, p.49-52. 89 Ver observações no cap.1, a partir de Os Românticos. 90 Cf. Oehler, O Velho mundo desce aos infernos, passim. Oehler parte de observações de Sartre, em L’Idiot de la famille, acerca da “enfermidade crônica da psique coletiva” após 1848, gerando um processo em que textos tratando do assunto foram ignorados ou mal-interpretados. Resgatando vestígios testemunhais (cartas, diários, artigos de jornal, canções populares) e comentários políticos (Blanqui, Proudhon, Marx/Engels, Tocqueville, Victor Hugo), o autor busca compreender o contexto semântico da época e estuda as obras de Alexandre Herzen, Heinrich Heine, Baudelaire e Flaubert, que teriam levado ao extremo a pesquisa sobre a patologia da 268 Analogamente, no poema acima a referência à ditadura militar é indireta, não se fala dela, o que é uma forma de mimetizar o que é indizível socialmente. Explicita-se o tempo de Getúlio Vargas, o “antes” quando havia relações de conciliação e ligação social (“tudo terminava em abraço”) e a repressão do Estado Novo, como no caso do jornal Estado de S.Paulo (apelidado de “Estadão”), era mais restrita e dirigida que “agora”. Por derivação comparativa, a cicatriz do tempo presente consiste na ferida da ditadura posterior, que foi mais longe em sua perseguição aos adversários, adentrando o terreno baldio do terror de Estado e rompendo laços e consensos para implantar seu projeto de desenvolvimento. A identidade brasileira, desde então, exigiria que se assumisse tal fissura, o que não era ainda factível dentro do país e, mesmo quando externa, a conversa era alusiva. Sensível e quase impronunciável, a feia cicatriz deixava o Brasil moderno como “Europa, França e Bahia”. A idéia de cicatriz, remetendo a um corte profundo rasgando várias camadas de tecido, aponta para um conjunto de cisões superpostas na sociedade de difícil visibilidade. Na antologia 26 poetas hoje, ao lado das imagens de sangue/feridas, medo, “sufoco”/estrangulamento/nó na garganta, solidão, despedidas, circos/palhaços, música na vitrola, suicídios, amores e dissabores cotidianos, pululam aquelas de separação, corte, cisão, sem mencionar as incontáveis cicatrizes: “que cada uma das suas muralhas/supõe a seguinte e a anterior” (Geraldo Carneiro); “no longe corte do peito nas tontas/revoltas da cara [...] sobrevivo/com muito esforço/e as costelas partidas” (Leomar Fróes); “... quando a luz do sol vai entrando de novo/dividindo o quarto num tratado de tordesilhas/eu nervoso me olho no espelho/me jogo no sofá me vejo cortado/em duas postas” ou “lances assassinatos/essa noite acredito/cicatriz sinistra” (Adauto)91. No poema “Orate Frates”, Flávio Aguiar aborda a fraternidade não realizada e as hesitações do poeta, em um tempo incessante e entristecido (“o mundo roda sem festa”), onde os reflexos de si e do outro são ambíguos (“espelho claro e escuro”), aproximando-se, assim, da imagem do fim do tempo dos abraços: No poço fundo do mundo Encontrei minha bela irmã. Aquela que nunca tive, Aquela que não terei. [...] À beira do poço esquivo, 92 Hesito se pulo ou recuo. [...] modernidade, assim revelando “a parcela de experiência traumática do ano de 1848 na nova orientação dos autores que revolucionaram a literatura romântica e fundaram a modernidade crítica.”, p.9. 91 Todos in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, respectivamente, “A muralha da China”, p.152; “Descordenada”, p.202-203; “A pombinha e o urbanóide”, p.249 e sem título, p.252. 92 In: HOLLANDA, idem, p.135. 269 Tais imagens de uma fraternidade inviável, logo de esgarçamento de laços sociais, bem como fissuras e cisões evidentemente possuem correspondência na experiência histórica dos poetas. Um levantamento inicial na bibliografia estudada indica uma série de oposições que se radicalizaram na sociedade ao longo do período da ditadura militar, criando fendas nem sempre passíveis de sutura. “A turma da vida” e “a turma da morte” ou “do esquema geral da morte”, de que falava Torquato Neto93, são inconciliáveis. Assim, se observa um afastamento crescentemente tenso de setores sociais, envolvendo os seguintes itens: a) uma cisão entre militares e civis e, dentro deste grupo, entre os que foram contra e a favor da ditadura militar, como dito no poema de Schwarz, decorrendo em diferenças não estritamente políticas, mas de cunho econômico – como por exemplo entre os que ganharam e os que perderam com a modernização conservadora, a tendência à oligopolização da produção e ao crescimento das formas financeiras e especulativas do capital – e social, entre os que se entregaram às delações e contribuições com as comunidades de informação e segurança, reforçando o ethos persecutório que destrói a solidariedade social, e aqueles que se recusavam a qualquer prática autoritária, ainda que fossem obrigados a se calar; b) uma “fissura entre dois quereres de mudar o mundo”, com divergências sobre o que e como deveria ser mudado [que poderíamos chamar de modelos exemplares derivados do existencialismo e do marxismo], dividindo os jovens que ingressaram na luta armada e os que se identificavam com o modo de vida contracultural. Estes se diferenciavam ainda dos jovens que precisavam se sujeitar à ordem do mundo do trabalho, “amigos que ficavam para trás”, diz Francisco Carlos. Isto, no clima de incertezas e paranóias, gerava uma “tensão que iria pontilhar, ou mesmo esgarçar, a rede que reunia todos”94. c) diferenças profundas e talvez irrecuperáveis entre os que viveram operações desumanizantes, como prisões e torturas físicas e psicológicas, destruidoras de traços de civilização e por vezes de subjetividade, produzindo o conhecimento de um tipo de alteridade incompartilhável e, portanto, inumana, e o restante da sociedade. Dentro deste grupo se dividem torturados e torturadores. No seio das esquerdas militantes, por sua vez, acrescentamse fissuras várias, não apenas por suas diferenças ideológicas/políticas, mas pelos distintos comportamentos diante da prisão tortura, exílio etc., e as diferentes memórias que disto resultam95. Não há que esquecer, ainda, o abismo existente entre todos estes e os que nada 93 In: “A morte ataca”, Geléia Geral, 14/10/1971, reproduzido em Os Últimos dias de paupéria, p.108. SILVA, Francisco Carlos Teixeira. 1968: memórias, esquinas e canções, in: Revista Acervo, v.11, n.1-2, jandez 1998, p.13, 15, 16 e 20. 95 No cap.7., ao final do item “Uma ruptura ética”, serão observadas as dificuldades colocadas entre aqueles que falaram sob tortura e os que puderam calar, os que resistiram e os que morreram, os sobreviventes que foram 94 270 sabem, em razão de processos alienadores ou por pertencerem a gerações posteriores, cujo conhecimento histórico não chega a tanto. d) neste abismo cabe também o problema já referido do trauma da linguagem, uma vez que a sociedade não usa homogeneamente termos-chave da experiência histórica dos anos 60, ou seja, há uma fratura no processo de atribuição de sentidos para vocábulos que guardam toda uma gama de idéias ou conceitos que se perderam para as novas gerações, mudando seu campo de ressonância significativa na sociedade, como se procede, por exemplo, com “revolução”, “expropriação de bancos”, “rapto ou seqüestro político”, e mesmo “democracia” e “utopia”, entre outros96. Resultam daí dificuldades comunicativas para as quais nem sempre se atenta, além de uma fissura no sentido originário da linguagem mesma, que por definição é relação de comunalidade. e) há cisões também entre os que partiram para o exílio e os que ficaram no país, ambos de certa maneira idealizando a condição do outro97, e produzindo uma fenda onde antes havia condições de unidade. Pode-se notar no Brasil um processo análogo ao ocorrido na Argentina, onde a ditadura dos anos 70 provocou uma dupla fratura no campo intelectual, que, por um lado se tornou cindido entre os que permaneceram dentro ou fora do país, e por outro, sofreu os efeitos de um corte no tecido social interno, quando se isolou o contato dos intelectuais com os espaços populares, bloqueando o trabalho que se fazia no sentido de romper fronteiras entre cultura erudita e cultura popular98. Dinâmicas de isolamento intelectual, reavaliações sobre a função social do pensamento e da arte, auto-exílio ou exílio em terra natal, impossibilidades de retorno à pátria etc., que muitas vezes disputam entre si, estão relacionadas a este ponto. f) As diversas ditaduras militares latino-americanas, nos anos 60-80, produziram como um todo uma mudança no cenário das relações entre literatura e política, como mostra Vidal: a utopia, que marcara o boom literário da América Latina nos anos 60, de forjar uma capazes de elaborar a dor de sua história e os que não foram, os arrependidos e os que ratificam suas opções e atos, os que continuaram afirmam sua liberdade de escolha e os que justificam seus atos pelo valor da hierarquia e da obediência... 96 No recente documentário Hércules 56, de Sílvio Da-Rin, sobre os presos políticos trocados pelo embaixador americano, seqüestrado pelas organizações clandestinas MR-8/ALN, o uso do termo “seqüestro” foi discutido, mostrando já o problema na época das negociações através dos jornais. O chileno Tomás Moulián sintetiza: “Existe una carencia de palabras comunes para nombrar lo vivido. Trauma para unos, victoria para otros. Una imposibilidad de comunicarse sobre algo que se denomina de manera antagônica: golpe, pronunciamiento, gobierno militar, dictadura [...]”. Apud FUNES, P. Nunca Más: memorias de las dictaduras en América Latina. In: GROPPO, B. e FLIER, P. La imposibilidad del olvido, p.56. 97 Como mostra Herbert Daniel, em Passagem para o próximo sonho, o que também é comentado por Rollemberg em seu trabalho sobre o exílio, op.cit. 98 Cf. VIDAL, P. A história em seus restos: literatura e exílio no Cone Sul. São Paulo: Annablume, 2004, p.3233. Esta discussão é feita sobre artigo/depoimento de Beatriz Sarlo. 271 identidade cultural-regional própria, capaz de interagir com culturas externas numa dinâmica não dependente, passou a ser reavaliada após os golpes, sofrendo quer um distanciamento crítico quer uma aproximação nostálgica99. No caso brasileiro, isto se vê na reafirmação da antropofagia oswaldiana – próxima, como já dito, do conceito de transculturação de Angel Rama, que deu suporte à mencionada utopia literária – e no desenvolvimento paralelo de uma literatura preocupada em retratar o Brasil, quando não explicitamente nacionalista, o que também produz divisões no campo literário em auto-avaliação, envolvendo “teóricos” e “engajados”, estruturalistas e lukacsianos, vanguardistas e memorialistas, entre tantos mais100. Neste processo de reconfiguração literária, cisões ainda se farão sentir em outros itens, como se segue. g) no que se refere ao retorno à experiência, sobretudo à individual, que foi também tendência geral pós-golpes em toda a literatura latino-americana, fez-se sentir um quádruplo movimento de cisão: entre impulso vitalista e qualidade estética-formal; entre experiência subjetiva e sócio-histórica (conforme já tratado no cap.4); nesta última, a segmentação entre o espacial e o temporal; e na tendência à presentificação, a segmentação do tempo e a rasura na estrutura constitutiva do sujeito. Tudo isto derivou em relações bastante distintas com a tradição literária, e os processos históricos de transmissão cultural em geral. Na visão de Schwarz, procedera-se uma separação entre aqueles que consideravam que as condições sociais adversas, uma vez compreendidas e dominadas, poderiam ser transformadas em força literária, mantendo seu potencial de negatividade crítica, e aqueles que se voltavam para a vivência pessoal e a espontaneidade como uma espécie de álibi para sua produção conformista, tímida ou simplesmente adequada aos veículos de massa, deste modo apequenando a intenção literária101. “Munido de papel e tinta e de sua experiência”, diz ele, “um homem tenta dizer aqui e agora o sentido da vida atual”, mas no contexto da ditadura poucos se imbuíram da missão de fazê-lo: “todos nós conhecemos intelectuais que têm uma experiência ampla e desabusada das coisas brasileiras, e sabemos que morrerão sem terem formulado o que aprenderam, o que é uma perda extraordinária”102. Por muitas motivações a pesquisar – pela pesada teia de favores que tradicionalmente liga o escritor à classe dominante, como ensina Antonio Cândido; pela possível carreira política; pela manutenção de pontes com a imprensa e a televisão; por um traço de personalidade etc. –, não extraíram da literatura a força para dizer tudo o que sabem, refugiando-se na fidelidade regionalista, na 99 Ibidem, item “da utopia ao luto”, p.30-34. Cf. também SUSSEKIND, Literatura e vida literária, p. 62. 101 Cf. SCHWARZ, Crise e literatura, in: Que horas são?, p.159. Consiste numa comunicação na SBPC em 1979. 102 Ibidem, p.160. Para as pequenas citações que se seguem neste parágrafo, p.160-161. 100 272 experimentação de linguagem, na memória do passado, e até na violência urbana contemporânea, mas sem se colocar “à altura da complexidade do momento atual”. A crítica literária mesma, continua Schwarz, elogia autores por estas e outras razões, além de escreverem bem, mas não “porque tenham compreendido em profundidade o presente”. A própria importância que será atribuída a esta compreensão, ou não (aqui diferindo muito do ethos geral dos anos 50-60), será motivo de dissensões nas décadas que se seguiram. h) perpassando as questões anteriores, crescia a tensão entre as dicções poéticas mais próximas às vanguardas, que buscavam uma linguagem erudita, formal-elaborada, com base na dialética antropofágica do cosmopolitismo-localismo, e as dicções de teor mais próximo ao populismo ou à cultura nacional-popular, preocupadas com a comunicação de massas e o manuseio dos recursos da indústria cultural. Neste segundo caso, a despeito das melhores intenções, como se viu em Cacaso ou Leminski, o pêndulo tendeu para a despolitização do projeto político-poético em função da linguagem facilitada e não elaborada. Mas isto porque se havia criado uma cisão no público103, refletindo-se em fratura entre linguagem-artística e comunicação social, uma vez que haviam sido restringidos, na educação técnica voltada para o mercado de trabalho e para o interesse individual, os elementos formadores necessários à compreensão do papel social da poesia e sua fruição. Tudo isso, em verdade, acarretava um conjunto de esgarçamentos internos, ou mesmo derrotas, dos projetos estéticos vigentes: no caso pós-tropicalista, a intenção de unir as vias vanguardistas e a experiência exigia um receptor com maior informação cultural; por sua vez os marginais, que se colaram ao cotidiano em busca de nomeá-lo, tentando dizer o que era aquela experiência histórica dentro de registros de comunicabilidade social, não por precisar ligação com as massas – de resto suprida, e paradoxalmente impedida, pelos midia – mas porque tinham necessidade de comunicar seu espanto in-forme ou a dor social de seu tempo, encontravam um público em geral passivo, pouco disposto ou incapaz de ver ou ouvir o que tinham a dizer. Por fim, uma derrota de todos, porque a sociedade passou a se dividir entre aqueles interessados e capazes 103 Inspiro-me aqui em Oehler, que anota, na denúncia de Baudelaire ao leitor imune ao choque poético, uma cisão implícita do público, dividido entre os saturados, entediados, podendo suster uma aparência política hipócrita, e a parcela dos antiburgueses, insatisfeitos com a realidade do terror repressivo. Op.cit., p.283. Em uma chave interpretativa não-frankfurtiana, encontra-se também em Ian Watt uma crítica social ao que ele atribui ao “fracasso da educação individualista” e ao poder corruptor dos valores humanos pelos mídia: a crise da leitura, uma vez que o público torna-se despreparado para o esforço da interpretação, buscando crescente facilidade; a ênfase num “sempre novo” que contudo não é perturbador nem revolucionário, pois cria uma novidade que produz excesso, rapidez e volatilidade, mas não a consistência necessária ao aprendizado e à memória; as promessas de felicidade publicitárias, gerando consumidores individualistas, em detrimento da imaginação coletiva e épica. Como um todo, impera o que C.Lasch chamava de “cultura do narcisismo”, em que a perversão de valores faz as forças coletivas parecerem irreais e qualquer sentido de história se perde, em prol do culto ao egocentrismo, à “nova ignorância”, à frieza de sentimentos e ao hedonismo. Cf. WATT, op.cit., p.264-268. 273 de se envolver com o processo de formação social/nacional e aqueles que sequer o conhecem ou não se preocupam. Em suma, passam vigorar processos de fragmentação e corrosão do vínculo social – “Cada um deve ser pelo menos dois”, conclui Cacaso em “Mínimo divisor”104 –, bem como de erosão das bases da relação entre Estado e sociedade105. Isto se sobrepõe, porém, a cisões preexistentes, intrínsecas à cultura burguesa, seu tipo específico de metabolismo com a natureza, relações de trabalho divididas e fragmentadoras, mediações realizadas através de coisas, rompendo a relação sujeito-objeto (homem/natureza, homem/produto), “num movimento em que o objeto se transforma numa força estranha e hostil, que domina a relação”, diz M.Menegat106. Assim, as relações sociais e produtivas, que seriam em si – isto é, no processo de construção antropológica da sociabilidade – atividades criadoras, tornam-se em perda e separação, resultando em um empobrecimento subjetivo e sensível. O homem que é socializado e individualizado em tal contexto é levado a perder sua noção de pertencimento à espécie e à natureza, o que significa uma “alienação da atividade vital consciente [que] transforma o processo de produção da vida da espécie em um ato estranho, e a própria espécie adquire essa forma estranhada, pois perde a medida de sua universalidade.”107 Esse estranhamento vem a esgarçar e romper os mecanismo de reconhecimento social, incrementando as condições para o aumento da violência física e simbólica, de modo que as crises da sociedade burguesa, entendidas nessa chave, deixam de significar uma regressão momentânea e apontam para o aprofundamento da relação cindida dos sujeitos entre si, dentro de si e com o mundo por eles mesmos produzido. Enfim, as cisões acabam por revelar que a sociedade burguesa apenas pode realizar a fraternidade de modo abstrato, ou seja, escondendo suas fraturas originárias e constitutivas. Alimenta o fato o duplo caráter do progresso nas sociedades capitalistas, que, como observa Adorno, tanto potencializa a liberdade quanto a opressão, gerando uma situação em que a sociedade é crescentemente integrada no processo de dominação da natureza e de organização social, ao passo que a cultura, para atender estes fins, torna-se crescentemente coercitiva, de modo que os indivíduos vão-se tornando incapazes de ver em que sentido sua 104 In: Lero-Lero, p.261. Pertence à parte Inéditos & outros. “La fragmentación y corrosión del vínculo social, la desnaturalización del ejercicio del poder (asociado a prácticas de violência ilegítima) imponía reconstruir las bases mismas de la relación entre la sociedad y el Estado.” FUNES, P., op.cit., p.45-46. O elenco de cisões que procurei apresentar acima não tem a intenção de esgotar a questão, estando aberto a novas incorporações e a análises mais acuradas, que não cabem aqui. 106 MENEGAT, M. Reconhecimento e violência, op.cit., p.211. O autor parte da idéia de reconhecimento de Hegel e das discussões de Marx sobre alienação, nos Manuscritos econômico-filosóficos, para desenvolver o tema do antagonismo entre violência e reconhecimento, que se desdobra por outros capítulos do livro. 107 Ibidem, p.216. 105 274 cultura iria além dessa integração. Assim, os homens passam a estranhar, no sentido de não reconhecer, o próprio aspecto humano da cultura e o indivíduo vai perdendo a autonomia necessária para realizar efetivamente o gênero. Além do mais, a liberdade de escolha dos indivíduos para determinarem transparentemente suas vidas se retrai sob regimes autoritários, quando nenhuma palavra de honra subsiste e nenhum contrato é obrigatoriamente cumprido, diluindo os laços éticos. Tal diluição dos melhores laços da sociabilidade acirra a crise existencial, produzindo nos mais sensíveis imensa carga de angústia diante das perguntas sobre o que os sujeitos e os países são, não são, poderiam ser ou ter sido, como testemunha Cacaso. No entanto, a ruptura entre humanidade e cultura passa a ser, sob pena de insuportabilidade, também ela administrada... Caberá então aos poetas encontrar formas expressivas que os permitam manipular, com alguma soberania subjetiva, a rudeza, a insensibilidade e a estreiteza que foram objetivamente impostas ao oprimido108. A existência daqueles estranhos seres no universo poético reencontra neste quadro uma forma de equivalência, bem como o grande espanto, cuja in-formalidade ou dificuldade de representação aumenta proporcionalmente às camadas de cisões superpostas. Os “pelo menos dois” em que cada um se divide, segundo Cacaso, tornam-se pelo menos muitos, tantos quanto as aliterações do seu poema109: A parte perguntou para a parte qual delas é menos parte da parte que se descarte. Pois pasmem: a parte respondeu para a parte que a parte que é mais – ou menos – parte é aquela que se reparte A procura de compartilhamento da experiência, como antídoto deste processo de seccionamento a que todos estavam submetidos, foi certamente o que havia levado Cacaso ao projeto da poesia coletiva, enxergando uma continuidade profunda de experiência entre os poetas, que de alguma forma se manifesta na produção de cada um, com os poemas se interpenetrando, se confundindo uns com os outros, como se fossem partes complementares de um mesmo poemão que todos, sem qualquer combinação prévia, estivessem compondo juntos. Estamos diante de um caso em que o movimento conjunto, cuja densidade é crescente, balanceia e resguarda até certo ponto a falta de consistência pessoal, e onde todas as habilidades somam na formação de algo como um acervo comum.110 108 Para estas reflexões cf. ADORNO, op.cit., aforismas 17 e 96, p.31, 129-131. “Quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém”, in: Lero-lero, p.118. Pertencente ao livro Beijo-na-boca, 1975. O título é um verso de Vinícius de Moraes 110 BRITO/CACASO. Com a boca na botija. In: Não quero prosa, p.81-82. Trata-se de artigo publicado na Revista Almanaque, n.6, São Paulo: Brasiliense, 1978. Em uma entrevista rememorativa sobre a poesia dos anos 70, Chico Alvim afirma que isto exige ir além do literário e “recompor uma certa atmosfera político-afetiva”, o que significaria mergulhar num poço. O que ele se restringe a declarar, alusivamente, consiste num elogio a Cacaso, 109 275 A insistência na formação de um acervo comum de matéria poética e experiencial só faz sentido em um mundo onde ele não existe ou está abalado, e isto Cacaso não desconhecia. É um tal acervo, constituído lentamente ao longo do tempo, que permite a estruturação de tradições e daquilo que Antônio Cândido chama de um sistema literário nacional, com base, no caso brasileiro, no legado romântico e modernista, especialmente. Toda sua poética, como se vê, calcou-se no diálogo com esta herança, no contexto de sua erosão, e na preocupação com os destinos das relações humanas no tempo presente. À cisão no processo de transmissão dessas tradições (mais uma!), portanto à ameaça que se colocava a um fundamento necessário da cultura, Cacaso reagia com a veemência de seu espanto e sua liderança articuladora do projeto artesanal e coletivo da poesia marginal, ainda que isto fosse visto por outros colegas como uma ambição narcísica. Mas este gesto o impedia – e com ele “os marginais” – de submergir de todo na ferida funda das muitas cisões, sem contudo torná-los imunes, pois que ninguém escapa inteiramente aos ditames de seu tempo histórico. Abria-se, assim, um lugar particularmente diverso: novamente, um entrelugar específico. Benjamin havia observado um semelhante entrelugar na flâneurie de Baudelaire, uma vez que a mercantilização e reificação da criatividade e da sensibilidade poéticas operam de forma lenta, ambígua, e mesmo incompleta, variando conforme se estabelece mais ou menos intensamente o processo de organização capitalista das sociedades: Na medida que o ser humano, como força de trabalho, é mercadoria, não tem por certo necessidade de se imaginar no lugar da mercadoria. Quanto mais consciente se faz do modo de existir que lhe impõe a ordem produtiva, isto é, quanto mais se proletariza, tanto mais é traspassado pelo frio sopro de economia mercantil, tanto menos se sente atraído a empatizar com a mercadoria. Contudo, a classe dos pequenos-burgueses à qual pertencia Baudelaire ainda não chegara tão longe. Na escala de que tratamos agora, ele se encontrava no início do declínio. Inevitavelmente, um dia, muitos deles teriam de se defrontar com a natureza mercantil de sua força de trabalho. Esse dia, porém, ainda não chegara. Até então, se assim se pode dizer, podiam ir passando o tempo. Como na melhor das hipóteses, o seu quinhão podia temporariamente ser o prazer, jamais o poder, o prazo de espera que lhes concedera a História se transformava num objeto de passatempo.111 As características dessa condição de passatempo consistem no compasso de espera pelo que virá, no prazer limitado pela sociedade mercantilizada, desdobrando-se na mescla de gozo que confirma a importância daquele projeto: “a amizade e a camaradagem deram força à minha fraqueza. Havia um coro de assobios e, no que me toca, procurei modular o meu com o deles. Hoje continuo na memória. Mas como memória é distância e esquecimento, pode ser que a toada prossiga. Mas e o coro?” In: HOLLANDA. Entrevista: 26 poetas ontem/21 poetas hoje. Observações críticas e nostálgicas. Revista Poesia Sempre, ano 5, n.8, Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1997, p.350. 111 BENJAMIN, A Paris do Segundo Império, op.cit., p.54-55. 276 e receio de uma classe que pressente seu destino, em uma sensibilidade capaz de encantar-se diante das coisas danificadas e corroídas112 e, ao mesmo tempo, combatê-las. Este modo específico de passar o tempo ou ocupar o entrelugar pode ser chamado de condição intervalar do poeta de classe média no momento de consolidação da modernidade capitalista e da cultura burguesa. Justamente o processo que, no Brasil, se adensava sob a égide da ditadura militar e seus patrocinadores, obtendo a resposta difícil e ambígua da geração dos poetas da década de 70. A condição intervalar se manifestou para eles de diversas maneiras, seja nas tensões imagísticas introduzidas no corpo dos textos, seja na resistência inicial ao mercado editorial e à indústria cultural, seja na linguagem coloquial, popular, rasgada e suja que assumiam como matéria e instrumento do fazer poético, seja ainda no próprio nome de “poesia marginal”. Sua margem não era exatamente “fora”, mas “entre”: no lugar da cicatriz e do corte, não estavam de um ou outro lado do que se cindia, mas no meio do próprio rasgo, que alguns, como Cacaso, tentavam alinhavar como podiam. É assim que as imagens poéticas entreteciam humor e angústia; o tempo da espera e da pressa, da ação e da passividade; o falar e o calar; o silêncio imposto, o escolhido e o necessário; as pulsões de vida e de morte; experiência individual e coletiva; medo e ousadia; crença e desconfiança no progresso nacional e no papel dos meios de comunicação de massa; desilusão e esperança nas relações humanas; interesse econômico e gratuidade estética; trauma e desrecalque de elementos culturais; esquecimento e memória. É de sua condição intervalar os textos curtos e entrecortados, a poética lacunar e a resistência límbica que produziram, bem como seu modo muito próprio de testemunhar a experiência histórica em curso, buscando expressar a perplexidade diante do que era ainda incomensurável para o mundo das palavras. Por certo esta condição se relacionava com o lugar incômodo que ocupavam, como sujeitos-poetas, em um contexto de transformação do modo de constituição das subjetividades, de maneira que as formas subjetivas conhecidas se dissolviam, sem que novos sujeitos tivessem ainda emergido113, resultando em um certo estado de anacronismo ou extemporaneidade que, vale repetir, condiz com este marginal-entre. É possivelmente isto que explica a análise reavaliadora de Heloisa Buarque, no posfácio da antologia 26 poetas hoje, 112 Cf. Idem, p.55. Cf. Dedicatória de ADORNO in: Mínima moralia, p.8. Isto talvez responda à pergunta de Cacaso e Hollanda, no artigo “Nosso verso de pé quebrado”, em que discutiam o surgimento da nova poesia – na Expoesia I, como tratado no cap.4 – e perguntavam que tipo de subjetividade residia sob aquela dicção. Não me parece que as respostas da crítica que apontaram para um sujeito excessivamente narcísico sejam de todo satisfatórias, isto é, elas mostram a conduta de alguns jovens poetas que posteriormente se tornou tendência geral na sociedade, mas não explicam “tudo e todos” naquele momento particular. 113 277 não mais os considerando como “uma reapropriação do modernismo”, nem tampouco como “um antecedente do pós-moderno”: [...] talvez essa poesia ruim estivesse tocando em necessários pontos obscuros do debate literário ainda em mãos ortodoxamente modernistas. Talvez arranhasse, mesmo de forma incipiente e desorganizada, pontos nevrálgicos que já configuravam as grandes quebras que viriam marcar a inflexão cultural das décadas seguintes. Não diria que a poesia marginal, mesmo sinalizando mudanças paradigmáticas e anunciando-se plural, já estaria anunciando uma inflexão pósmoderna.114 Aquela geração poética – especialmente a geração mais velha dos “marginais” – formara-se no período do nacionalismo desenvolvimentista brasileiro, que havia propiciado no país uma mobilização social profunda e um imaginário social novo, como diz Schwarz. A despeito das “falácias nacionalistas e populistas”, desenvolvera-se um senso de responsabilidade histórica – caracteristicamente moderno, pode-se acrescentar – que incorporava a idéia de nação como um todo e a preocupação com o destino dos excluídos, criando na esfera cultural um desejo de consistência que a fazia testar-se pela prática social e transformar-se. A derrocada das promessas deste período com a ditadura militar não invalidou de todo, em um primeiro momento, “o sentimento das coisas que se havia formado”, malgrado o sofrimento que consiste em ver fogo no campo semeado, num imenso esforço humano que ameaça desaguar em vão115. Com este sentimento renitente, provido de um senso de historicidade e função social, ainda que dolorido e em dissolução, os poetas da década poetaram sobre sua experiência, no fragor da hora, sem distanciamento temporal que os permitisse ver em perspectiva o que viviam, mas intuindo e testemunhando o seu difícil lugar, entre promessa e desvão. Assim, a lira marginal viveu seu (contra)tempo. Vértice dessa condição intervalar – espantado, articulador e generoso na força coesiva e tensa que produzia com sua poesia e sua 114 HOLLANDA, Posfácio à antologia 26 poetas hoje, p.262. Como indica a autora, trata-se de versão modificada de “Observações críticas e nostálgicas?” publicado na Revista Poesia Sempre, ano 5, n.8, Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1997. Nesta, o trecho citado está na p.347, onde, ao parágrafo final – “prefiro pensar nos 26 Poetas como um trabalho irrecusável, visceralmente contextualizado, feito a várias mãos, construindo um cluster político-literário que, seguramente, ainda não disse tudo a que veio naqueles idos de 1976” – a autora acrescenta uma confissão de angústia: “Há ainda uma dúvida que não coloquei, não por esquecimento (penso nela desde primeira linha destas observações), mas por não querer pensar nisso: por que, proporcionalmente, tantos mortos entre meus jovens de 26 poetas?” O grifo, que é meu, indica a tendência de fuga ao luto de nossa cultura. 115 Tal sentimento só será derrotado de fato posteriormente, com os avanços da dessolidarização social nas décadas seguintes, especialmente nos anos 90, acompanhados de processos intelectuais de desautorização da experiência histórica e suas categorias explicativas, que vieram no bojo do pensamento “pós-moderno”. Derivo os comentários deste parágrafo de uma análise desenvolvida por Schwarz acerca da desconstrução literária e sua materialidade histórica no tempo presente, quando “os esforços de integração da sociedade brasileira resultaram num quase-apartheid”. Cf. Fim de século. In: Seqüências brasileiras, op.cit., p.157-159. Por sua vez, os contos de Ivan Ângelo, em Casa de Vidro, já apontavam um grau de violência e dessolidarização social, na década mesma de 70, cujas perspectivas não eram boas. 278 crítica –, o poeta Cacaso se moveu, no seio do corte, como “um pássaro [que] pensava suas penas/e já sem resistência resistia.”116 6.3. Chacal: tempo histórico, alegria e experiência no meio-fio A diferença fundamental no modo como a chamada segunda geração dos marginais vai traduzir a condição intervalar resulta de sua formação político-cultural, na qual aquela experiência de mobilização social e o senso de responsabilidade histórica já vinham sendo duramente golpeados117. Guilherme Mandaro, um dos membros da Nuvem Cigana, deixara isto bem claro em um texto publicado na revista Anima, em abril/maio 1976118: [...] a liberdade popular desapareceu de minha terra quando comecei a crescer. Restaram-me as arquibancadas e alguns dias de carnaval. Não me serviram as roupas feitas desse tempo. Os mais antigos passavam-me os livros Minha turma de rua singrava por entre seringas por um último suspiro. Os partidos e os programas Já traziam as marcas das prisões e talvez tenha sido sempre assim entre os que discutiam o futuro ela me ensinou a amar e que para semear a cidade e nele o coração dos homens é preciso mais do que um manifesto indignado [...] 116 Versos de “Grupo Escolar”, seu poema que intitula o livro de 1974, que caracteriza sua “conversão” à poesia marginal. In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.39. 117 As grandes linhas dessa diferença foram comentados no cap.5. Hollanda, que trata das duas gerações em Impressões de viagem, p.99-105, apresenta como diferenças básicas: o clima paradoxalmente ufanístico e de “vazio” cultural; a censura violentíssima, impedindo a circulação de manifestações críticas; o salto na indústria cultural, encontrando ressonância no consumismo da classe média; a ideologia da competência; a política cultural estatal, favorecendo a cooptação de artistas; o deslocamento tático do debate político para a “resistência cultural”, gerando toda sorte de mitificações e heróis quixotescos; a gradual configuração de um público que consome política comercialmente, de modo que as obras engajadas se vão tornando rentáveis para as empresas de cultura; o esvaziamento de conceitos como “nacional” e “popular”, que se tornam estereotipados; a universidade tecnocratizada, onde o ensino se especializa e onde, ademais, a moda estruturalista vai-se deformar em impostação intelectualizada, que não respondia aos anseios de alunos e professores; abertura de espaço, nos jornais alternativos, como o Opinião, para a crítica à política cultural, a divulgação de temas da micropolítica e do pensamento de Foucault, desdobrando-se em crítica da ortodoxia marxista e do autoritarismo de esquerda. 118 Apud MESSEDER PEREIRA, Retrato de época, p.34-35. Ver, no cap.1. a análise de Thompson sobre Os românticos ingleses, em que o autor nota, como fruto da desilusão política, o repúdio precipitado desta, sem que houvessem sofrido as etapas anteriores do processo. 279 Como roupas velhas, as referências até então orientadoras já não serviam mais e outras não haviam ainda surgido (surgiriam?). O novo poeta se via despido e a própria noção do tempo histórico se esgarçava, junto com as dúvidas que elidem as diferenças passadas (como acontece quando se afirma “foi sempre assim”) e as perspectivas futuras, postas em cheque pela crise das utopias e das visões teleológicas. Tal nudez, embora bela na dor de seu despojamento existencial, não permitia porém a criação de soluções. Sabe-se que um “manifesto indignado” não basta, mas o que basta, sobretudo para aqueles cujo instrumento é a palavra? A esperança apresentada no final do poema – “naquela luzinha de bloco habitacional/primeira que se acendeu/ao lado da estrada de ferro” –, frágil como uma vela no vendaval, não traz consigo nenhum sinal indicativo de como ela se realizaria. A “turma de rua” queimava navios sem saber construir pontes, ficando à mercê do mar, com a promessa das “seringas”, que em breve mostraria seus limites. A linguagem que resta é puramente lúdica e circense, uma poesia de prestidigitação, como neste poema em que Chacal inventa, em um universo de antíteses articuladas em torno da espera e do desespero, a possibilidade do mundo ser mudado magicamente, “enquanto o vento marasma” e se ouve “dilan na vitrola dedo nas teclas”, lembrando que a resposta “is going in the wind”: [...] espere baby não desespere temos um quarto uma eletrola uma cartola vamos puxar um coelho um baralho e um castelo de cartas vamos viver o tempo esquecido do mago merlim vamos montar o espelho partido da vida como ela é espere baby não desespere a lagoa há de secar e nós não ficaremos mais a ver navios e nós não ficaremos mais a roer o fio da vida [...] porque nesse dia chegará a roda da fortuna porque nesse dia se ouvirá o canto do amor o meu dedo não mais ferirá o silêncio da noite com estampidos perdidos. O raciocínio cede à ludicidade infantil e oscila entre o pensamento mágico e o princípio de realidade. A predominância de verbos no futuro e a declaração dos últimos versos desvelam pelo avesso, sob a evasão utópica, a atrocidade do tempo presente: o que não mais ocorrerá, eis o que é (e vice-versa). Mas, novamente, nada indica como se juntarão os cacos especulares da vida, nem como as circunstâncias se tornarão favoráveis ou como as pulsões vitais e eróticas superarão os instintos de morte ou impulsos suicidas que ferem o corpo da 280 noite. Os meios, o poeta irá tirá-los da cartola. A auto-imagem de poeta que Medeiros119 havia detectado na Nuvem Cigana, de uma figura enviesada, chapliniana, anti-herói como um palhaço auto-irônico, derivada das diversas referências circenses na poesia do grupo, adquire contornos mais precisos como um “poeta-mágico”. Tal combinação de ausência de projeto e pensamento desejante se tornaria marca registrada da linguagem deste grupo, que se queria desburocratizada, com o que acreditava revelar um “sentido crítico independente de comprometimentos programáticos”, pois o descompromisso mesmo seria a “resposta à ordem do sistema”120. Em conseqüência, produziu-se uma literatura de visões, e não juízos, avalia Hollanda, uma vez que foi atingida pelo processo de crescente quebra de referências filosóficas, políticas e existenciais, e, reativamente, desmistificava a obra de arte junto com tudo o mais que pudesse ter um ar de seriedade ou formalidade, obcecando-se por imagens comuns ou surpreendentes do cotidiano, elevado à máxima importância em registros irônicos e ambíguos, ou seja, nada ou qualquer coisa importava. É possível observar aqui um processo assemelhado àquele que Schorske viu no movimento geracional de Die Jungen (Os Jovens) austríacos no final do século XIX, marcado por forte tensão, que podia chegar a uma hostilidade de cunho edipiano contra seus pais, resultante da derrota política destes na sua defesa dos novos princípios liberais. Decepcionados com a geração anterior e com a sua própria, foram tomados de desilusão, o que os conduziu a situações de deriva existencial, despolitização ou recolhimento na vida psíquica. Transferindo-se para esta esfera a região germinal de sentidos, desenvolveu-se a tendência de pensar sem a história, conforme a expressão do autor121. A relação entre derrota política de uma geração e des-historicização da experiência histórica da geração seguinte – o paradoxo é apenas aparente, pois a experiência continua sendo histórica, mas não é pensada ou sentida como tal – é delicada em numerosos sentidos. Na modernidade, a fragmentação e a irregularidade temporal contribuíram para a perda do sentido de ordem estruturada que primara no mundo antigo e medieval, bem como de continuidade e unidade internas dos fatos. Desvanecida a crença numa ordem externa reguladora, o tempo veio a ser cada vez mais concebido dentro do contexto, ordem e direção da história humana. A própria verdade se tornou função do tempo e do processo histórico. Em virtude disto e da percepção de “aceleração” dos acontecimentos, cresceu num primeiro 119 MEDEIROS, Fernanda. Artimanhas e poesia: o alegre saber da Nuvem Cigana, op.cit., p.119 ss. HOLLANDA, Impressões de viagem, p.109 e 111. Para o restante do parágrafo, p.126. 121 SCHORSKE. Pensando com a história, p.176-178. 120 281 momento a preocupação com o tempo e a história no mundo moderno, adquirindo vulto a compreensão temporal em sua dimensão histórica: num mundo de mutação constante, a história se mostra o único substrato permanente, embora sua única lição pareça ser a mudança incessante e inexorável122. A consciência histórica se tornou, assim, um problema eminentemente moderno, como sugere Gadamer, na medida que passam a existir tradições em confronto, cujos cruzamentos precisam ser contemplados pelo ato da interpretação, historiográfica ou não. Se houvesse apenas uma tradição, na qual todos estivessem imersos, não haveria possibilidade de interpretação, apenas de repetição do mesmo, e por conseguinte não haveria consciência histórica, pois a história é formada de resquícios de uma(s) tradição(ões) dentro do presente, os quais de algum modo restaram do passado e nos interpelam. Assim, a consciência histórica operante desde o advento da modernidade pressupõe a imisção de passado e presente, do estranho e do familiar, de sujeito e objeto123. Todavia, novas transformações na experiência e no conceito de tempo adviriam com a crise da modernidade na segunda metade do século XX. Mudanças na sociabilidade e nos sistemas de crenças no seio da cultura ocidental se conjugam às mudanças econômicas e políticas que caracterizam o capitalismo tardio. A concepção da história como um processo linear progressivo, sempre voltado para adiante, revelou-se inconsistente, gerando uma “fratura no próprio centro da consciência contemporânea”. Os fracassos do progresso material e das revoluções políticas criaram uma atmosfera de dúvida geral, rompendo a crença na história e no futuro, que passa a ser visto com desconfiança: como diz Paz124, desenvolveu-se a percepção de que a modernidade teria supervalorizado “um tempo que não é”, apoiando-se num futuro “inatingível e intocável”. Assim, uma lógica da história havia nascido no século XIX para ser mais tarde substituída por um certo ceticismo: falta sentido para o movimento da história, seu universo é complexo e fragmentário, não há direção de todo ou há muitas direções, sem que, no entanto, haja significado em termos de aspirações e valores humanos. O declínio da idéia de progresso ou desenvolvimento humano e social reforça a fragmentação e a ausência de sentido. O tempo passa a ser experimentado como um fardo ou, numa tendência mais recente, como um valor neutro125. A mudança na sensibilidade da época, tendendo a afirmar a concretude e particularidade das coisas, favoreceu a irrupção do presente, a desvalorização do futuro e o rompimento do 122 Cf. MEYERHOFF, O tempo na literatura, op.cit., p.81-87 e PAZ, Os filhos do Barro, passim. Cf. GADAMER, O problema da consciência histórica, passim, especialmente Conferência 5. Observe-se que neste ponto, a visão de Gadamer tem pontos de semelhança com o pensamento de Benjamin, talvez porque ambos dialoguem com Dilthey e outros pensadores da hermenêutica. 124 As expressões entre aspas se encontram em Paz, idem, p.51-52 e 191. 125 Cf. MEYERHOFF, op.cit., p.88-91. 123 282 tempo linear. Transformou-se mais uma vez a imagem do tempo: o agora, e não o antes ou o depois, tornou-se o valor central da tríade temporal; passado e futuro são reduzidos a dimensões do presente, que se torna o centro de convergência dos tempos126. As transformações incessantes, e por vezes surpreendentes, e o alto grau de violência do século XX negam a suposta racionalidade do processo histórico; a própria história começa a ser concebida como plural: há muitos passados e muitos futuros possíveis. A temporalidade e a individualidade modernas, deste modo, pela força com que atingem e transformam a vida humana em todas as suas instâncias, tornaram-se traços marcantes da poesia do século XX. A literatura moderna, conforme sublinha Meyerhoff, passou a priorizar a manifestação do tempo vivido subjetivamente, em detrimento do tempo público, que seria o tempo da ação social e da comunicação, de validez objetiva na natureza, construção lógica e cronologicamente medida. Trata-se agora de priorizar o “tempo humano”, a consciência do tempo como um passado de experiências ou como parte da textura da vida; logo, um tempo psicológico, experimentado direta e imediatamente. A literatura contemporânea é, então, pródiga em obras que elaboram o tempo como dado imediato da consciência, como experiência127, como aqui se vê. Por outro lado, do prisma subjetivo, uma recusa absoluta de qualquer objetividade histórica, substituída por recursos do próprio sujeito, acaba na negação dele mesmo, uma vez que não resta medida comparativa para a “medida de todas as coisas”, conforme argumenta Adorno128. Na fusão que conseqüentemente se procede entre sujeito e objeto, dada a eliminação de delimitações, o eu vem a adquirir a nulidade das coisas e o humano é dominado pelas relações objetuais da sociedade burguesa. Nas sociedades em que a cultura é administrada por ditames estatais e industriais, os indivíduos vão-se vendo privados da experiência de si mesmos, seus dolorosos segredos reduzidos às fórmulas banais da cultura de massas, o que impede, ao invés de ajudar, um efetivo trabalho de autoconscientização psíquica, para constituição de uma subjetividade mais rica. Em outros termos, os sujeitos perdem os impulsos que não se designem por constelações reconhecidas, de modo que – ao contrário da transgressão que pretendiam com seu descompromisso histórico – o reino da normalização se estende. O que é incomensurável se torna, assim, falsamente comensurável, 126 Cf. PAZ, op.cit., p.51-2, 190-198. Cf. MEYERHOFF, idem. 128 O autor brinca com a frase do sofista Protágoras que se tornou lema do antropocentrismo: “o homem é a medida de todas as coisas”. Cf. Mínima moralia, aforismas 39 e 40, p.54-56, para o restante do parágrafo. A crítica de Adorno se dirige a uma psicologia convencional, que acompanhou a ascensão do indivíduo burguês, sem se dar conta que na ilusão da pura interioridade se repete o princípio da dominação do humano: o homem se divide em faculdades como projeção da divisão do trabalho; o sujeito adquire valor-de-troca como os objetos; o eu-privado reflete o mesmo valor que tem a propriedade no mundo burguês. 127 283 não porque tenham sido adquiridos melhores valores e recursos de percepção e reflexão, capazes de expressar o que era antes irrepresentável, mas porque se nivelou tudo por formas convencionais, ainda que novas. No entanto, nada permite afirmar que a preocupação ética que Cacaso sempre frisou na poesia de Chacal não fosse sincera. A Nuvem Cigana, como sugere Medeiros, acreditava verdadeiramente na experiência de transgressão ou exceção, realizada pela celebração da comunidade em festa, em contraposição à normalidade entediante da vida sob a ditadura, e por um “alegre saber” como forma de recusa indignada à violência e abusos do poder129. A linguagem lúdica e a alegria – características do universo infantil e juvenil (para este ponto, o desejo de maioridade social de Cacaso não convergia) – chamaram a atenção de todos como uma marca da movimentação poética da década. A contradição com o contexto plúmbeo gerava indagações, assim resumidas por Simon e Dantas: “Há, de um lado, degradação e violência, mas há também, surpreendentemente, muito prazer, algo de leve e ingênuo e uma alegria compulsiva”.130 A alegria, sobretudo, que aparecia menos no corpo textual dos poemas do que nos depoimentos, relatos e comentários críticos, promoveu dois grandes blocos de opiniões a respeito. Uma primeira visão, que se pode qualificar de mais compreensiva ou mais condescendente, seguia a leitura de Silviano Santiago, que percebia na alegria um modo maior, e não menor, encontrado pela literatura para manifestar sua “descoberta assustada e indignada da violência do poder” e a ela se opor. Misto de susto e indignação, a alegria comporta um valor de nobreza humana que o autor defendia ao diferenciá-la, como no romance Em Liberdade, já mencionado, do riso carnavalesco131. 129 Cf. MEDEIROS, idem, p.125-128. A autora segue, aqui, o raciocínio de Santiago, mencionado a seguir. SIMON e DANTAS. Poesia ruim, sociedade pior, op.cit., p.103. Veja-se o contraste, p.ex., entre a dicção poética de Afonso Henriques Neto e este seu depoimento a Messeder Pereira: “[...] eu saí de Brasília de terno e gravata [...] Já estava enlouquecido, a cabeça enlouquecida, porque aquilo não tinha nada a ver comigo e quando eu chego aqui, realmente, eu boto um tamanco no pé, deixo o cabelo crescer [...] e pra mim foi uma alegria... 72 foi um ano alegre pra mim porque foi realmente um encontro comigo mesmo [...]” MESSEDER PEREIRA, op.cit., p.189. 131 Silviano, pela voz do personagem Graciliano Ramos, mostra o desejo de prazer como efeito da prisão e da tortura: “Sou mais egoísta, busco uma situação em que não tenha mais só desprazeres. Quero o meu. Procuro menos a dor, mais e mais a alegria e o prazer”, mas também critica o uso político desse sentimento: “Os regimes fascistas têm a loucura pelo espetáculo. Através destes, confundem alegria e tristeza [...] a tristeza é pelo desaparecimento definitivo do outro, a alegria é porque a ordem do rei é brincar. São sentimentos impostos, não são espontâneos”. Por isso, “se quisermos falar da liberação do povo brasileiro, não será incentivando mais o espírito ‘alegre’, ‘fraterno’, ‘contagiante’, ‘democrático’ do carnaval. [...] O grito alegre de revolta no momento em que se é pisado. O gosto em confundir humilhação com humildade. Os infindáveis labirintos dos sentimentos, aparentemente livres, mas apenas permitidos.” Em Liberdade, p.114, 156, 158-159. Ver também SANTIAGO, S. Poder e alegria – a literatura brasileira pós-64 – reflexões. In: Nas malhas da letra. São Paulo: Cia.das Letras, 1989. Na mesma direção seguem as observações de Pedroso e Vasquez acerca da relação de artistas plásticos com o “incoercível anarquismo” do bloco de carnaval Cacique de Ramos, tornado símbolo de “uma alegria que não é nem tão alienada, nem tão inocente quanto querem seus detratores, sendo, ao contrário, 130 284 Concebe-se, assim, um teor de negatividade crítica ao contentamento que o retira do âmbito da alienação, consistindo, inversamente, na recusa de endossar a imposição de um mundo triste. O outro lado dessa recusa, todavia, não é refutável tampouco: uma espécie de excesso lúdico que zombava irresponsavelmente de toda e qualquer seriedade sem distinção, diz Costa Lima, apresentando resultados indesejáveis: “os anos esfuziantes, e não só os agentes torturadores, escondiam as masmorras à prova de som. A chacota era tomada como antídoto contra o terror.”132 Para além dos processos já bem conhecidas, em que a festividade e a sanha de diversão se revelam como mecanismos de fuga ao tédio, à tristeza ou ao spleen – que muito nutriram o imenso aparato de diversão da indústria cultural –, há também, nesta dinâmica social da alegria em momentos históricos muito pesados, um elemento insidioso de dominação política sutil, uma vez que “faz parte do mecanismo de dominação impedir o conhecimento do sofrimento que ela produz”, nas palavras de Adorno mais uma vez. O lema nazista de obter “força pela alegria” produzira uma confusão fatal na cultura que se instalou desde então, pois manter uma linha mínima de resistência no mundo intelectual e artístico contra a dominação em suas formas mais insidiosas passava a exigir o reconhecimento do “inferno em que se formam as deformações”, e que, perversamente, o “evangelho da alegria da vida” funciona como mecanismo de (auto)persuasão de que não se ouvem os gritos das vítimas133. Aquilo que se recusa a ouvir e ver, e sobre o que não se fala, é fruto de processos de medusamento que imperam na sociedade, na forma de uma paralisia causada pelo horror, ou uma movimentação só permitida para quem desvia os olhos. A metáfora da medusa, presente nos poemas ou textos explicativos da época o confirmam. Aarão Reis utilizou este termo para sugerir a (falta de) reação dos setores sociais que assistiram com a mesma passividade despolitizada à luta armada, aos jogos de futebol e aos programas de entretenimento na televisão134. O estudo de Vernant sobre as maneiras de figuração da alteridade no mito grego mostra que a Medusa, como uma das três Górgonas, traduz a experiência de um absolutamente outro, o outro do homem, mas que não o projeta para o alto, como na fusão dionisíaca com o divino, e sim para baixo, jogando-o na confusão do horror e do caos. Tratase da região do insólito e da estranheza, do embaralhamento das classificações e expressão da recusa em endossar um modelo social imposto por uma elite insensível e distanciada das preocupações reais do povo que governa”. PEDROSO e VASQUEZ, op.cit., revista Acervo, v.II, n.1-2,1999, p.79. 132 COSTA LIMA. Abstração e visualidade, op.cit., p.136. 133 Cf. ADORNO, op.cit., aforismas 35,38 e 91, p.49, 53, e 122. Também em Oehler há discussões sobre o significado da diversão entre escritores franceses pós-1848. Cf. op.cit., p.102 ss. 134 Cf. AARÃO REIS. Ditadura militar, esquerdas e sociedade, p.52. Comentado no cap.5. 285 enquadramentos habituais (masculino/feminino, belo/feio, celeste/infernal, humano/bestial etc.), numa confusão que gera pavor – simetricamente à confusão de Dionísios, que produz liberação pela alegria e beatitude – pois a imbricação produz uma deformação monstruosa dos traços, que oscilam entre o terrificante e o grotesco. O que rompe o choque e a tristeza, observa o autor, é um tipo de comportamento escandaloso, grotesco, anômico, como uma sexualidade desenfreada ou um certo registro poético, de invectiva satírica e derrisória, operando um efeito liberador pela linguagem: “ditos injuriosos, zombarias obscenas, gracejos escatológicos”135... como se pode ver na poesia de um Roberto Piva, ou no Jornal Dobrabil que Glauco Mattoso136 montava e enviava pelo correio no final da década, ou ainda na pornografia que dominou o cinema brasileiro naquele período. Mais que alegria, então, percebe-se euforia e escape: nas palavras de Chacal: “uma gargalhada no canto da sala [...] como se alegria tivesse sido convidada. Mas não foi. Tudo não passou de um mal entendido”137. Por outro lado, olhar nos olhos de Medusa, em confronto direto, traria ao homem o risco de fascinar-se, de perder-se, de cegar-se ou de identificar-se. Neste caso, quando se é invadido pela figura que se encara, diz Vernant, a imagem toma o lugar da identidade humana e produz o terror da alteridade e da petrificação: a terrível verdade do inumano138. Por isso, em Afonso Henriques Neto, [...] Há uma esperança nas ruas, nas pedras, no acaso de tudo, uma esperança, uma forma suspensa entre o aparente e a essência, entre o que vemos 135 VERNANT, J.P. A morte nos olhos: figuração do Outro na Grécia Antiga. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988, p.42-43. Para o restante, passim. Vernant descreve 3 modos de lidar com a alteridade: Ártemis, num eixo horizontal, que visa à reintegração, pois a deusa que caça nas regiões limítrofes entre natureza e cultura pode salvar o homem da bestialização; Dionísios, que embriaga de beatitude divina, projetando o humano verticalmente para cima; e Górgona, que projeta verticalmente para baixo, arrancando o homem de sua vida e de si mesmo em direção à fronteira infernal do mundo dos mortos: “nas paragens infernais, Treva, Pavor, aspectos e gritos monstruosos associam-se para exprimir a ‘alteridade’ dos poderes estranhos ao domínio das divindades celestes e ao mundo dos homens, a condição totalmente distinta [...]”, p.68. 136 A obra de Glauco obteve diferentes tipos de recepção, mas nenhuma deixou de marcar seu fascínio. Simon e Dantas anotam, sob o pastiche de todos os procedimentos e estilos, citações glosadas, humor escatológico, uma estratégia perversa que tira vantagens exatamente da indiferenciação estilística e do estado de nulificação do sujeito. Sua autoconsciência, usada para desqualificar e anonimizar o texto e a experiência, mostra uma “imagem aberrante e ameaçadora” daquela sensibilidade. Op.cit., p.102. Já Cacaso vê, nos abusos de Glauco, em que se misturam antropofagia e escatologia em chave experimental, um “sadomasoquismo de efeito purificador”, isto é, Glauco seria um caso à parte na poesia brasileira, uma “espécie de espírito maligno” que usa de tudo e de tudo desconfia, satirizando tanto a falta de seriedade quanto a falsa seriedade, cujo fito maior é “dar dignidade à dignidade e à sua falta”. Com isto, o poeta buscava o contato do leitor, mas não a cumplicidade, pois seu ponto de equilíbrio é o desequilíbrio de formas e valores. Cf. “Vinte pras duas”, in: Não quero prosa, p.232-233. Publicado originalmente no jornal Leia Livros, n.53, dez 1982/jan 1983. 137 Trecho de poema do 1° livro de chacal, Muito Prazer, Ricardo, escolhido pelo autor para declamar no vídeo CHACAL. Antologia Pessoal, 29 junho 1994, Arquivo histórico do CCBB, n° 378. O poema ilustra o comentário do poeta sobre o livro, escrito aos 19 anos de idade, quando “as coisas aconteciam de forma muito violenta em torno de mim.” 138 Cf. idem, p.101-103. 286 e a substância, uma esperança, uma certeza talvez de que o rio não se dissolva no mar, de que o ínfimo, o precário, a voz, a sombra, o estalar de carnes na explosão não se dispersem no todo, impensável medusa da inexistência. Há uma luz qualquer sonhando integração [...] enquanto somos e nos oxidamos, enquanto somos e prosseguimos.139 Neste trecho, a esperança se associa à “alegria” por seu papel de antídoto contra a dispersão e a inexistência, como uma “forma suspensa” que pode estar ou ver entre as coisas e, neste lugar intervalar, permitir a imagem da integração. Em sua polissemia poética, a “impensável medusa da inexistência” pode traduzir tanto o horror diante da morte, quando se desintegram os átomos da vida, quanto a dimensão desumana ou a-humana que se constitui como a extrema alteridade de um corpo social. Neste caso, a impossibilidade de mover, enxergar, pensar ou dizer remete aos mecanismos de um trauma coletivo e histórico, conforme descreveu La Capra. Uma das engrenagens deste mecanismo consiste na construção social de um bode expiatório sacrificial, que funciona como oferenda coletiva, promovendo um deslocamento da violência interna da sociedade para uma figura catalisadora. Quando o bode é eliminado, retorna o horror interno140. A função do medusamento traumático será, então, impedir que se vejam as terríveis cisões que ferem a sociedade por dentro. De modo semelhante, após a eliminação da luta armada e dos “comunistas”, que haviam funcionado como bodes expiatórios no Brasil da ditadura militar, a poesia indicava a vigência, em diversos setores sociais, destes processos traumáticos, turvando as fissuras que se produziram. A recusa “alegre” dos poetas marginais, no entanto, não parecia chegar a tal ponto. Obviamente, as formas festivas da alegria são um modo de evitar o luto social necessário, mas não se pode afirmar, a partir dos textos poéticos, que predomine o impacto imobilizante de quem vê o horror nos olhos de Medusa. Tampouco impera nos poemas a astúcia heróica de Perseu, que recorreu à estratégia do espelho para ver a Górgona sem encará-la, obtendo, como prêmio de sua luta vitoriosa, o cavalo alado Pégaso, que saiu da medonha cabeça cortada... Aquela poesia revelava sujeitos entre a integridade e a desintegração, entre o luto e o trauma, a história e a des-historicização, confirmando sua condição intervalar já abordada. À sua maneira ponderada, Chico Alvim – que Heloisa Buarque chama de “investigador catedrático 139 “Texto”, in: O Misterioso Ladrão..., p.21. O autor discute esta questão a partir de Derrida, que propõe a desconstrução dos pares binários (os bodes, o bem/mal) pelo discurso radicalmente descentrado, que poria em ato o sacrifício, neutralizando-o. Contudo, critica La Capra, isto dissemina a angústia e produz transferência, e não superação. Cf. Escribir la historia, escribir el trauma, p.48. 140 287 dos sentimentos de sua geração” – procurou explicar, anos mais tarde, o significado daquele sentimento, o que indica o quanto a questão foi problemática: É comum se associar a alegria de 70 à alegria de 22. Não parece tão evidente essa aproximação. A alegria de 22 era mais clara, mais transparente, surgia num espaço político aberto. Ao passo que a nossa alegria é de natureza fundamentalmente diferente, ela nasce do medo. Nossa busca de prazer é desesperada. A qualidade desse sentimento parece ter mais a ver com a literatura do século XIX. Como agora, as estruturas políticas estavam definidas, havia pouco a ser acrescentado, o processo literário era fortemente dissociado do espaço político. A alegria que disfarça o desespero.141 Independentemente das precisões históricas – pois seria preciso saber a qual literatura oitocentista o autor se refere – é bastante elucidativa a indicação do poeta acerca das ambigüidades e dilemas que atingiam a poesia marginal. O par alegria/desespero bem ilustra a laceração da experiência existencial e histórica. Prisões, sumiço de amigos e parentes, mortes, exílios, uso intenso de drogas, omissões forçadas ou não, enlouquecimentos, suicídios marcaram poetas e poemas. A relação dos poetas com o passado e o futuro se modificava, e o prazer presente de fazer poesia se eivava de angustiantes paradoxos. Ressoava possivelmente em todos os ouvidos, ou ao menos nos mais sensíveis e afeitos à memória, os versos de Torquato Neto em “Geléia Geral”, relendo a “alegria de 22” pautada por Oswald de Andrade: “a alegria é a prova dos nove/e a tristeza teu porto seguro”... A relação observada por Oehler na literatura francesa após 1848, marcada pela despolitização forçada e o luto social proibido142, é também notável no Brasil, com o selo de sua especificidade cultural: à repressão política, que põe obstáculos à elaboração necessariamente coletiva e pública do luto social, acrescenta-se o traço cultural da alegria como fator estruturante da auto-imagem identificatória do brasileiro, o que constitui um elemento a mais a ser considerado na peculiaridade do teor testemunhal das obras literárias nacionais. Entre ser alegre ou triste, os poetas marginais parecem haver seguido, ainda que um pouco à revelia de alguns, a senda de Cecília Meireles: “Não sou alegre nem sou triste:/sou poeta”143. Acompanhando, assim, a condição intervalar, sua alegria era igualmente intervalar, pendurada na corda-bamba de Cacaso ou no parapeito das janelas em que todos se punham a 141 Segundo HOLLANDA. A Hora e a vez do “Capricho”. In: GASPARI, HOLLANDA e VENTURA. 70/80 Cultura em trânsito, p.204. Originalmente publicado no Jornal do Brasil/Caderno B, 11/04/1981. sobre a “alegria de 22”, ver p.ex. A.Cândido, para quem “ a alegria turbulenta e iconoclástica dos modernistas preparou, no Brasil, os caminhos para a arte interessada e a investigação histórico-sociológica do decênio de 30.” CÂNDIDO. Literatura e Cultura de 1900 a 1945..., in: Literatura e sociedade, p.114-115. 142 Cf. OEHLER, D., op.cit., passim. 143 Em “Motivo”, do livro Viagem. MEIRELES, Cecília. Obras completas. 6. reimpr., 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987, p.81. 288 espiar o mundo, à beira dos abismos de si e da história. Na metonímia do meio-fio, Chacal, quiçá em um de seus mais belos poemas144, testemunhou a angustiante experiência da vida na cidade, sob a política dos coturnos, no tempo dos homens e mulheres partidos e da razão fragilizada: tem um fio de goma entre o chiclete e eu recém-mascado tem um fio de carne entre teu corpo e teu filho recém-nascido tem um fio de sangue entre a Razão e eu recém-partido 144 tem um fio de queijo entre eu e o misto quente recém-mordido tem um fio de vida entre eu e teu corpo recém-amado tem um fio de saudade entre eu e você recém-passado tem um fio de luz entre eu e mim recém-chegado “meiufiu”, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.222. Segundo Cacaso, este texto seria verdadeira “iluminação avulsa” do lirismo de Chacal. In: Tudo da minha terra, op.cit., p.147. Para a metonímia como figura característica do teor testemunhal, ver discussão efetuada com base em Seligmann-Silva, no cap.3 acerca do poema “Cogito” de Torquato Neto. 7. Vozes Presas: O Interregno de Alex Polari (1970-1979) quando o sol tornar a colorir a figueira da montanha aves iluminadas estarão cantando em teu silêncio. escutarás então o inexistente tempo fluindo sob o peso morno das lágrimas: sob sob. [...] saberás que atrás de cada tortura de cada assassínio de toda a impostura detrás de cada negação ou falsificação do humano manancial o olhar de vida o permanente olhar da vida sempre ardeu como um grito saltando do pó do avesso do ódio dos ossos das sepulturas dos cárceres do rosto vazio implacável. (Afonso Henriques Neto, “Quando o sol”, em Restos & estrelas e fraturas) A conjuntura de recrudescimento repressivo após o AI-5 configurou uma dimensão a mais de violência do Estado na história brasileira, que, brutal desde o princípio – basta lembrar o processo da colonização, a relação com os índios, a escravidão, além do tratamento dispensado aos imigrantes e aos pobres no período republicano –, acumulava agora mais uma camada de violência, com a diferença qualitativa de um amplo envolvimento das Forças Armadas e do planejamento, por parte dos governos militares, de aniquilação física e moral de seus opositores, como ocorreu nas diversas ditaduras latino-americanas, o que permitiu caracterizar a especificidade daquele momento político como terrorismo de Estado1. Naquele 1 Em alguns casos, como as ditaduras argentina (cerca de 30 mil mortos e desaparecidos) e chilena (c.3 mil), a violência foi ainda maior do que no Brasil (c.300) e Paraguai (no Uruguai, a repressão ligou-se à Argentina), o que não justifica seu uso, mas explica algumas diferenças. No entanto, os elementos de uma ação planejada estão também presentes no regime brasileiro, como se vê no relatório BRASIL: nunca mais. Em “Traumatismo de la memoria e impossibilidad del olvido em los países del Cono Sur”, o historiador Bruno Groppo observa: “El terror fue el instrumento elegido, conforme a los principios ideológicos de la doctrina de la ‘seguridad nacional’, no solo para destruir toda fuerza de oposición, sino también para disciplinar a la sociedad en su conjunto. Este terrorismo de Estado marcó un salto cualitativo en el ejercicio de la violencia em las sociedades del Cono Sur cuya historia, no obstante, no había sido precisamente pacífica: desde este punto de vista, las dictaduras militares de los años ’70 e ’80 se distinguen nitidamente de los regímenes autoritários anteriores”. O autor menciona o relatório Nunca Más da Argentina/CONADEP, que fala de “sistema de terror institucionalizado”. In: GROPPO, B. e FLIER, P. (org). La impossibilidadad del olvido, op.cit., p.22. Com o fito de assinalar essa diferença qualitativa na violência, Herbert Daniel escreveu: “Tortura sempre houve – e continua havendo: qualquer preso (comum) pode falar longamente das suas técnicas. O que caracteriza a nova fase que começa no final dos anos 60 e encontra seu apogeu em pleno milagre econômico é que a tortura deixou de ser um simples recurso policial para 290 quadro, arrefeceram-se as convicções na efetividade de uma oposição ou resistência pacífica à ditadura, de modo que aumentou o apoio – principalmente por parte dos estudantes – aos setores de esquerda que defendiam o recurso às armas como estratégia de luta revolucionária. No Brasil, a violência se exacerbou com a consolidação do aparato repressivo e as práticas de guerrilha rural e urbana, entre 1969 e 1973, quando entre o Estado e a chamada luta armada se criou uma espécie de mecanismo de confirmação recíproca, como denomina Fico, quando a ação de um passava a se justificar pela ação do outro2. De todo modo, o Estado de fato atuou com dureza, lançando mão inicialmente de diversos instrumentos legais, o que foi um forte traço da ditadura militar brasileira, que procurava disfarçar o arbítrio sob uma máscara de legalidade e normalidade, criando um simulacro de regime constituído e legitimado, pois impedia que a impostura da lei autoritária fosse reconhecida por investi-la da aparência da “força de lei”, apesar de ser sustentada efetivamente pela violência e, no extremo, pelo terror. Tal dissimulação gerou uma estrutura perversa do funcionamento do poder, como diz Irene Cardoso, em que a lógica subterrânea do horror era escondida pela lógica aparente da legalidade do regime, o que certamente contribuiu para a confusão dos setores sociais não envolvidos diretamente nas lutas contra o regime e, por conseguinte, para o ethos persecutório que se instaurou3. Assim, após o AI-5, o Estado legislou bastante, criando um intrincado de leis e regras que muito dificultava o trabalho dos advogados, como mostra Annina Carvalho. Destaca-se, no período de 1969 a 1971, uma série de normas que ampliaram o aparelho repressor: mais duas leis relativas à segurança nacional (o decreto 510, de março de 1969, que tornava o holdup/assalto em atentado à segurança nacional e o decreto 898, de setembro 1969, que ser erigida como ‘método de investigação da realidade’. Uma filosofia: cada filósofo tem um método de pesquisar a Verdade. A ditadura, filosoficamente, com seu método novo, não apenas investigava, como fazia sua verdade, extorquia com rigor, paciência e sangue. O mais extraordinário é ver como os mecanismos jurídicos evoluíram para se adaptar a este novo sistema filosófico. [...]”. Passagem para o próximo sonho, p.39. 2 Fico discute como, na memória de militantes de esquerda e de militares, se mantém esta interação, a medida em que a esquerda crê que foi levada à luta armada pelo AI-5 e os militares, que o Ato foi uma resposta à “radicalização” da esquerda. Evidentemente, a história não pode se render a explicações simplistas para a disputa de memórias. Por um lado, a guerrilha era um projeto de alguns setores (mas não todos) de esquerda; por outro, a criação de um “setor especificamente repressivo” também era um projeto dos militares, que se integrava à criação de outros suportes básicos do regime, como a espionagem, a censura, a propaganda, que eliminassem qualquer dissensão à “utopia autoritária” expressa na diretriz da segurança nacional. Cf. FICO, C. Espionagem, polícia política, censura e propaganda. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L. (org). O tempo da ditadura..., p.182. 3 Ver CARDOSO, Irene. O arbítrio transfigurado em lei e a tortura política. In: FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaias e GRANVILLE, Ponce (org). Tiradentes: um presídio da ditadura: memórias de presos políticos. São Paulo: Scipione, 1997, pp.471-483. Para as medidas legais aqui mencionadas, no mesmo livro, cf. CARVALHO, Annina Alcântara. A lei, ora, a lei..., pp.402-413. Ver também os trabalhos de Carlos Fico, já mencionados, e o capítulo “A montagem do aparelho repressivo e suas leis”, no relatório BRASIL:Nunca mais, organizado pelo Cardeal Arns (Arquidiocese de São Paulo), 20.ed. Petrópolis: Vozes, 1987, p.69-76. Trechos dos atos institucionais encontram-se no manual de CASTRO, F. História do Direito, p. 523-559. Uma reprodução integral dos 17 Atos institucionais foi encontrada no sítio eletrônico: <htpp://pt.wikipedia.org/wiki/> Acesso: 9 ago. 2007. 291 reintroduzia a pena de morte no país); o AI-13, também de setembro de 1969, que criava o banimento político, cujos efeitos na ação penal incluía igualmente efeitos de ordem pessoal, correspondentes à “morte civil” (ao todo foram banidos 130 cidadãos brasileiros); o AI-14, que instituía a pena de morte e de prisão perpétua para os “casos de Guerra Externa, Psicológica, Adversa, ou Revolucionária ou Subversiva” (por pressão internacional, não foi oficialmente aplicada a pena de morte, comutada em pena perpétua); uma renovação da Lei de Segurança Nacional, que assegurava a objetivação da doutrina de segurança nacional mediante o controle total dos meios de comunicação e das artes e a supressão das liberdades civis; a Emenda Constitucional nº1, que consagrava o arbítrio estatal ao dar ao Executivo a possibilidade de atuar “legal” ou “excepcionalmente”, sem previsão; o decreto 69.534, de novembro de 1971, que permitia ao presidente da República redigir “decretos secretos ou reservados” relativos à matéria de segurança nacional, em cuja publicação no Diário Oficial constaria apenas o número e pequeno resumo sem quebra do sigilo... Datam daí as operações de detenção em larga escala, chamadas “operações arrastão” ou “operações pente fino”, que chegaram a prender até dez mil pessoas em poucos dias, em cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo4; a institucionalização da tortura; a criação de órgãos repressivos especializados, como o DOPS (mais tarde DEOPS- Departamento Estadual de Ordem Política e Social), a OBAN (Operação Bandeirantes) que deu origem aos DOI-CODIs (Destacamento de Operações e Informações – Centro de Operações de Defesa Interna) e os centros de informação das Forças Armadas (Cenimar, CEI, CISA). A tensão política acumulou-se entre 1970 e 1973, no governo Médici, durante o qual perdurou a assim chamada “guerra suja”, que desmantelou violentamente os grupos revolucionários armados, perseguindo, torturando e assassinando seus membros. Presos diversos artistas e estudantes, e estudantes-artistas, participantes mais ou menos ativos das lutas, iniciou-se um processo de criação de arte e poesia dentro das prisões e porões dos órgãos de repressão que ainda não está de todo estudado. O artista plástico Carlos Zílio, por exemplo, pintava pratos de comida e papel; no presídio Tiradentes, artistas diversos realizaram trabalhos, como Bartolomeu José Gomes (Bartô), Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro, Carlos Takaoka, Sérgio Sister. Alex Polari começou a escrever poemas depois de preso 4 A maioria era liberada após averiguações, mas centenas ficavam detidas para interrogatórios, segundo Annina Carvalho, que constata não ser possível precisar o número de presos políticos detidos pela polícia civil ou militar no país, no período 1968-1971, pois os advogados não tinham acesso aos autos, alguns processos incluíam vários indiciados e a imprensa publicava informações censuradas. Relatórios de ONGs revelam ter havido, em 1971, cerca de 5 mil presos, detidos por meses ou anos, esperando julgamento no Brasil. Cf. CARVALHO, A. op.cit., p.404. 292 (1971-79), como forma de suportar e dar expressão ao sofrimento5. Evidentemente, estes trabalhos só vieram a público posteriormente, quando, sobreviventes, estes artistas encontraram apoio institucional e/ou humano que lhes fornecesse meios materiais e psíquicos de viabilizar a exposição ou edição de seus trabalhos. Alex Polari de Alverga, nascido em João Pessoa (PB), veio pequeno para o Rio de Janeiro, onde residiu e estudou até a vida adulta. Quando adolescente, conforme seu relato, assistiu espantado aos tanques na rua e à tomada do Forte de Copacabana em 1964, quando surfava naquela praia, momento em que se iniciou, então, nos problemas políticos e sociais do país. Estudante universitário ativo nas lutas do final dos anos 60 e membro da organização clandestina Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), no Rio de Janeiro, foi preso em maio de 1971, com vinte anos, após participar do seqüestro do embaixador suíço, o último dos seqüestros que objetivavam trocar personalidades diplomáticas por prisioneiros políticos, cuja negociação com o governo militar foi especialmente difícil6. Diversas vezes torturado, Polari assistiu da janela de sua cela a tortura fatal de seu amigo Stuart Angel, no pátio do Centro de Informações da Aeronáutica, na base Aérea do Galeão (RJ), também em maio de 1971 (ver carta em que relata os fatos a seu advogado em anexo7). A angústia dessa situação traduziu-se posteriormente em “Canção para ‘Paulo’ (A Stuart Angel)”: [...] Um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali, naquela sala. Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. [...] Então houve o percurso sem volta houve a chuva que não molhou e a noite que não era escura o tempo que não era tempo o amor que não era mais amor a coisa que não era mais coisa nenhuma. 5 Segundo depoimentos de Carlos Zílio, no Seminário 40 Anos do Golpe Militar (UFF/URFJ/CPDOC-FGV), e Alex Polari, no Seminário 64+40 (CFCH/UFRJ). O registro de algumas dessas obras de artes plásticas realizadas no Tiradentes encontra-se no livro de memórias organizado por FREIRE, ALMADA e PONCE, op.cit., p.385-393. Algumas reproduções, que posteriormente se tornaram cartazes de exposições e capas de revista, encontram-se também em RIDENTI, M. Em busca do povo brasileiro, páginas centrais, não numeradas. A Secretaria de Cultura de Diadema/SP realizou uma exposição de obras de presos políticos nos 20 anos do assassinato de Vladimir Herzog, outubro de 2005. 6 O relato de Polari se deu também no Seminário 64-40. Sobre os seqüestros dos embaixadores alemão e suíço, na visão das organizações armadas (incluindo uma autocrítica), ver Passagem para o próximo sonho, narrativa de Herbert Daniel, outro membro da VPR que, por sorte, nunca foi preso, vivendo na clandestinidade até se exilar. Ver também RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução, já citado. 7 Reproduzida em FERNANDES, A voz humana, p.235-237. O assunto é tratado no filme Zuzu Angel, sobre a luta da mãe de Stuart para obter informações do filho desaparecido, do diretor Sérgio Rezende, 2006. O anexo se encontra no 2º volume desta tese, junto com o Apêndice. 293 Entregue a perplexidades como estas, meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando.8 A exposição aos extremos da violência muda por inteiro o sentido da experiência, de eros, de tânatos, de cronos... e a dissolução de todas as coisas se avizinha, asa sombria do avesso de existir, mas um desfazer-se que não deixa morrer. A existência, o mundo e o Brasil dos Polaris nunca mais seriam os mesmos e a perplexidade se instauraria. Conforme era comum, Alex passou por várias unidades militares e prisões, como a Ilha Grande, a Fortaleza de Santa Cruz, o presídio Hélio Gomes (ex-Presídio Policial), quartéis da Vila Militar, até se achar no presídio Milton Dias Moreira, onde cumpria sua dupla condenação à prisão perpétua quando foi anistiado9. Na voragem de dores, transferências, visitas dominicais, correspondência violada, notícias fúnebres, expectativas, lembranças e desesperos, Polari sobreviveu e continuou, escrevendo ao longo dos oito anos de prisão: o poeta se tornou poeta ao cumprir uma das funções psíquicas da arte, como modo fundamental de elaboração da dor do sujeito que se constitui enquanto tal. Seu trabalho foi publicado pelo Comitê Brasileiro pela Anistia/RJ e Teatro Ruth Escobar (SP), em 1978, como parte do processo de luta pela anistia e redemocratização no país, quando presos políticos, entre eles Alex, faziam greve de fome de modo a obter visibilidade e pressionar as autoridades. Alguns textos foram fotocopiados e distribuídos nas manifestações estudantis de 1976-77 ou ainda traduzidos em outras línguas para divulgação internacional10. O livro Inventário de cicatrizes é o que diz o título; ou melhor, é um inventário de feridas que o título a posteriori fez cicatrizar. Nas quinze estrofes de abertura do livro que compõem “Recordações do Paraíso”, título este que é pura ironia, se lê: 4 Eu não me lembrava do meu antigo rosto 8 9 POLARI, Inventário de cicatrizes, p.36. Em “Requerimento celeste com digressões jurídicas (Por ocasião do pouso da Viking I em Marte)”, o autor ironiza: “Resolvi denunciar às amebas de Marte/(caso elas existam)/a minha sui generis situação jurídica/de condenado duplamente/à prisão perpétua,/olvidado em várias esferas/absolvido em uma das vidas/e esperando recurso da outra/e tendo ainda por cima/além de certas transcendências sustadas/mais quarenta e quatro anos de reclusão/a descontar não sei de qual existência. [...]”. Idem, p.39. 10 Segundo informações constantes na 4ª capa do livro, houve uma tradução sueca pela Anistia Internacional e em revistas de exilados chilenos impressas em Estocolmo; tradução francesa em coletânea de escritos de presos políticos brasileiros; publicação nos Cadernos do Terceiro Mundo, em Portugal; e cópias mimeografas e distribuídas em meios universitários da Itália e Alemanha. Outro livro de poemas, também com material escrito na prisão, na época da greve de fome e se preparando para ser solto, foi publicado em março de 1980, pela Ed. Global, com o título de Camarim de prisioneiro. O livro Em busca do Tesouro, uma biografia romanceada, segundo o próprio autor, foi escrito depois de liberto, quando foi reencontrar o mundo, a família, o filho que nascera enquanto estava preso. 294 até olhar na privada e cuspir nele. Não, não pode ter sido a mesma face, não me olhe assim, não tenho culpa. [...] 11 Algumas marcas desaparecem outras ficam por uns tempos aquele gosto aquele cheiro aqueles gritos estes permanecem calados lá dentro colados numa memória essencial sem intervalos possíveis, vale dizer, definitivos. [...] 13 Esse silêncio enlouquece se houvesse mais alguém seria mais fácil hoje veio o médico falou pro coronel que ainda dá pra bater nas minhas costas. 11 Ao menos três conjuntos de questões relativas à experiência histórica e à interface de literatura e história se colocam desde aqui, desdobrando-se por diversos outros poemas do livro e propiciando as discussões que se seguem. 7.1. A ruptura ética Um primeiro conjunto, de teor eminentemente ético, diz respeito à problemática da conivência de determinados setores sociais com a repressão e a tortura, como os médicos aludidos no texto; ao uso da ciência para fins destrutivos; à moralidade dos torturadores; à degradação da dignidade humana. A participação de médicos e enfermeiros em sessões de tortura, não somente para dirimir os sofrimentos, mas para reanimar os torturados de modo a continuarem sensíveis, bem como na assinatura de laudos e atestados de óbito inverazes12, 11 12 POLARI, Inventário de cicatrizes, p.11-14. O relatório BRASIL: Nunca Mais, apresenta um resumo dos 12 livros da pesquisa que reuniu quase a totalidade dos processos políticos que transitaram na Justiça Militar, especialmente na esfera do Supremo Tribunal Militar, entre abril de 1964 e março de 1979. Segundo o cardeal-arcebispo de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, um dos coordenadores do projeto, tratava-se de reunir documentos produzidos pelas próprias autoridades encarregadas da repressão, de maneira a obter provas irrefutáveis das denúncias já conhecidas da Igreja e da sociedade civil (p.22). Inúmeros destes autos registram o relato oficial de presos investigados sobre sua tortura, a presença dos profissionais da saúde, o assassinato testemunhado de companheiros, cujo atestado de óbito, entretanto, apresentava como causa mortis atropelamentos, suicídios, tiroteios com a polícia que inexistiram. O relatório cita o nome destes médicos. Um outro episódio que provocou escândalo foi a presença do médico e psicanalista da Polícia do Exército, Amílcar Lobo Moreira da Silva, nas sessões de tortura no Rio de Janeiro, no período de 295 provocou sempre grande assombro, seja nos presos e seus familiares, seja na sociedade em geral. Tal emprego da medicina, assim como de outras áreas da ciência aplicadas para o aprimoramento dos instrumentos de tortura, foi tratado por Alex Polari em poemas que questionam a lógica posta neste fato. “Trilogia Macabra (III – A parafernália da tortura)” observa, ao lado dos resquícios medievais e das chacotas e prepotência dos torturadores “que também não mudaram muito”, a modernidade do design dos aparelhos, com linhas arrojadas e funcionais, de material polido, metálico, “digno de figurar/em um museu do futuro”13. Esta vocação da técnica é típica do mundo contemporâneo, onde um “véu tecnológico”, como observou Adorno, encobre uma relação em que “há algo de excessivo, irracional, patógeno”, uma vez que a técnica, como meio seminal de autoconservação da espécie humana, passou a ser tomada como fim em si, e, deste modo, tornou-se mais um meio fetichizado, posto que se atualiza em detrimento dos fins primordiais, de uma vida humana digna, que têm sido velados e esquecidos14. Transformada em finalidade, à técnica é conferida uma aura de coisa boa ou neutra, que apaga das consciências a indagação sobre sua aplicação prática e suas conseqüências últimas. Em breves termos, ao poeta não escapou que a razão científica e tecnológica se instrumentalizava para a produção do horror e da degradação humana, em nome da segurança nacional e da civilização ocidental, com aquiescência de alguns setores sociais: Hoje faz-se sofrer a velha dor de sempre hoje faz-se morrer a velha morte de sempre com muito maior urbanidade 1969 a 1973. Em difícil entrevista ao Jornal do Brasil, em 1986, Lobo negou as acusações dos torturados, afirmando não haver praticado tortura, mas admite ter sido conivente. Quando soube, após quinze anos de silêncio, que seria reaberto o caso do desaparecimento de Rubens Paiva, cuja morte havia assistido, resolveu que contaria sua história. A professora e atual vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Cecília Coimbra, relata haver descoberto o nome de Lobo por acaso, quando presa no DOI-CODI/RJ, e que o teria denunciado quando solta, testemunhando contra ele nos Conselhos Regional e Federal de Medicina. O registro profissional de Lobo foi cassado em 1988, quando se iniciou o processo contra Leão Cabernite, presidente da sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro no início dos anos 70 e analista que respaldou as práticas de Lobo, atuando também junto a equipes de torturadores no DOI-CODI/RJ, entre 1970-74. Cf. COIMBRA, Cecília. A caixa preta da ditadura. Caros Amigos, ano 8, n. 92, nov. 2004, p.30-36 [Entrevista], e Algumas práticas ‘psi’ no Brasil do ‘milagre’, in: FREIRE, ALMADA e PONCE, op.cit., p.423-438. Coimbra fala também da participação de profissionais “psi” em pesquisas encomendadas pelo exército para traçar o perfil psicológico dos presos políticos, e da formação positivista predominante na área, contribuindo para construir o estereótipo dos militantes segundo as categorias de “drogado” e “subversivo”, filhos de famílias “desestruturadas”, de modo que a responsabilidade da opção política, e por desdobramento da violência estatal, era deslocada da esfera pública e histórica para a esfera privada da família e do indivíduo. Para a entrevista de Lobo, cf. A Psicanálise da tortura, por Zuenir Ventura, com colaboração de Jorge Antônio Barros e Susana Schild. Jornal do Brasil, 14/09/1986. Reproduzido em GASPARI, HOLLANDA e VENTURA, Z. 70/80 Cultura em Trânsito, pp.289-307. 13 POLARI, Inventário de cicatrizes, p.31. Diz Coimbra: “Depois houve a reforma, para eles transformarem o DOI-CODI num lugar mais ‘científico’, as torturas mais ‘científicas’. Então, em 1972-73, eles transformaram essas solitárias em ‘geladeiras’ [...]”. Entrevista à Caros amigos, p.31. 14 Cf. ADORNO, Educação após Auschwitz, in: Palavras e sinais, modelos críticos 2. Petrópolis: Vozes, pp.104123. Ver esta discussão especificamente na p.118. 296 sem precisar corar as pessoas bem educadas sem proporcionar crises histéricas nas damas da alta sociedade sem arrefecer os instintos dessa baixa sociedade. 15 A rima pobre entre urbanidade e sociedade ressoa como um eco, incluindo as “pessoas bem educadas” segundo a má-fé de uma ideologia que impunha a disciplina de Moral e Cívica a todas as instituições educacionais, das escolas às universidades, e fazia questão de “parar o país” nos festejos cívicos e datas comemorativas da pátria, como sói acontecer nos processos de construção da tradição nacional16, à revelia do respeito à pessoa humana, criando um campo magnético entre patriotismo, moral e violência de tal magnitude que o senso-comum dos educandos da nação se via impedido de estabelecer os necessários discernimentos, que o bom-senso exigiria, entre ordem, razão e disciplinamento a ferro e fogo (e eletricidade, água, substâncias químicas etc.) dos corpos e do espírito. Formas diversas de organização da sociabilidade, da sensibilidade e da razão, bem como projetos distintos de nação, ficam excluídos do processo social, reduzindo-se as inúmeras e difíceis dinâmicas da construção da eticidade a uma associação fácil entre moralidade e civismo institucional. Por isso, os torturadores, como diz o texto “Trilogia Macabra (I – o torturador)”, particularizam-se socialmente por uma “patologia singular” (mas não esquizofrênica, pois sua unidade interna está mantida por esta ideologia moral) que os faz ir “da infantilidade total/à frieza absoluta”, isto é, da impossibilidade do uso público da razão, para usarmos uma expressão kantiana, que caracteriza as crianças17, à insensibilidade psicopática18. Acreditandose “macho, nacionalista”, diz Alex, o torturador considera a violência como recurso necessário à preservação de valores morais e “trabalha em ambientes assépticos/com distanciamento crítico/– não é um açougueiro, é um técnico –”, sendo-lhe simples “racionalizar/que apenas põe a serviço da pátria/da civilização e da família/uma sofisticada 15 Trecho final de “Trilogia Macabra (III – A parafernália da tortura)”, POLARI, loc.cit. Remeto novamente à obra de HOBSBAWM e RANGER, A invenção das tradições. A crônica da época menciona, por exemplo, o culto à figura de Tiradentes tornado herói nacionalista oficial; o périplo da ossada de D.Pedro I chegando ao Brasil; as paradas militares nos feriados comemorativos da Independência e da proclamação da República. 17 Não se aplica aqui o conceito de infância de Agamben, conforme tratado em Infância e história, que o delimita como uma pré ou não-voz, não participante ainda na esfera histórica, ao passo que os militares e civis aqui em questão são, contrariamente, os dominadores da voz que impede a fala do alter, o que permitiria toda uma digressão sobre que (não)voz e (des)razão estava colocada nos crimes cometidos pelas ditaduras contra os direitos humanos. Cf. AGAMBEN, Giorgio. Op.cit. Este poema encontra-se em POLARI, idem, p.29. 18 “A frieza das mônadas sociais, do competidor isolado, enquanto indiferença frente ao destino dos demais, foi precondição para que só uns poucos se movessem. Bem o sabem os torturadores; tantas vezes o comprovam!” ADORNO, Educação após Auschwitz, op.cit., p.120. 16 297 tecnologia da dor/que teria de qualquer maneira/de ser utilizada contra alguém/para o bem de todos”. Tais meadas, emboladas pela doutrina de segurança nacional em países de capitalismo periférico de tão violenta história, produzindo impactos brutais sobre a psicologia coletiva, gerou estranhos conceitos políticos... É assim que aos verdugos se permite, no mesmo dia, torturar alguém e participar de uma solenidade oficial, “segurando uma bandeira/e um monte de crianças/emocionado feito o diabo/com o hino nacional”. Esta, a lição irônica de “Moral e cívica – II”, na qual a expressão coloquial “feito o diabo”, que substitui o advérbio de intensidade “muito”, amplia-se por efeito do contexto, constelando a imagem de um diabo movido a paixões e provido de tecnologia, o qual constitui o vértice da aporia ética da situação19. A violação da dignidade humana perpetrada em larga escala, como projeto de Estado, perpassou a vida social além limites imagináveis. A 14ª estrofe, ainda do poema “Recordações do paraíso”, condensa um sentimento à beira do insuportável e dificilmente traduzível em palavras. Uma sutileza depositada nos dois primeiros versos quase encobre a terrível contingência a que alguns presos políticos foram coagidos: A roupa que eu vesti hoje para cobrir um ponto frio não era a minha e podia ser a de alguém assassinado. A camisa tinha sangue coagulado, um cheiro estranho de súplica. 20 Pior que vestir a roupa impregnada dos sinais da morte humana – não a morte de alguém que completou seu ciclo natural de existência, mas cujo florescimento vital foi arbitrária e brutalmente interrompido – era ser obrigado a se apresentar (“cobrir”) em um encontro secreto de militantes de organizações políticas clandestinas (“ponto”), na condição, desconhecida dos parceiros, de preso acompanhado pela polícia à paisana, para que outros militantes fossem também identificados e presos. “Cobrir um ponto frio” (a gíria “uma fria” significava algo errado, insolúvel) representava a coação à traição e à indignidade, sob pena de se perder a própria vida. Da psique esfrangalhada que disto resulta pouco se comenta. Há um grau de violência não explícita atuante na repressão política que quase passa 19 Ver no relatório BRASIL:Nunca mais a frase do torturador que se tornou título de capítulo: “aqui é o inferno”. Para o poema, ibidem, p.49. 20 POLARI, idem, p.14. 298 despercebido, uma vez que, como lembra Pietrocolla21, a literatura sobre os direitos humanos e a anistia privilegia uma abordagem das dores em modalidades mais evidentes, como no suplício da tortura e da morte. Mas essa “dor moral” existiu e é testemunhada por todos os que viveram a experiência de terem seus sentimentos manipulados como instrumento de coação, como por exemplo nos casos em que se era obrigado a assistir a tortura de familiares e amigos, o que algumas vezes incluiu a presença de crianças e bebês, ou nos casos do “ponto frio” ou da falsa volta para casa. O que poderia restar, senão “um cheiro estranho de súplica” e gritos colados à memória auditiva, para sempre? Os poemas de Alex Polari trazem indícios deste tipo de sofrimento, ao qual se acrescentam sucessivos maus-tratos, e de sua lentíssima elaboração. Suas diversas perambulações em torno da vestimenta e da nudez22, dos verbos vestir, despir, revestir, cobrir, acenam para um jogo difícil de revelação e encobrimento de fatos e sensações por demais penosos para serem enunciados de diferente maneira – ainda que o poeta tentasse, em outros momentos, falar das sevícias diretamente. [...] tiraram nossa roupa nos revistaram, nos vestiram nos revestiram de oco e fizeram a chamada. [...] 23 Associado ao número de registro carcerário que dá título ao poema (“12.207”), o oco intraduzível é o reverso do ser, índice da desumanização do sujeito, de ambos os sujeitos, vítima e perpetrador da violência. “Eu vivi a coisa da desumanização, quer dizer, quando você desumaniza o outro, vale tudo. Eu senti que não era humana em alguns momentos”. Esta declaração de Cecília Coimbra – na época professora de história e estudante de psicologia, presa por haver abrigado militantes clandestinos em sua casa – completa um círculo de raciocínio com sua observação sobre como, até os dias de hoje, produzem-se torturadores nos treinamentos das Forças Armadas, num processo de dupla reificação, em que, mediante as humilhações, os exercícios físicos forçados, a perda de auto-estima, os aprendizes se coisificam e vão passando a ver o outro, contra quem serão levados a lutar, também como coisa, e não como ser humano24. 21 Sobre a violência implícita e a dor moral cf. PIETROCOLLA, Luci Gati. Um tempo sem trégua: as prisões políticas nos anos 60/70, in: FREIRE, ALMADA e PONCE, op.cit., p.449-470. 22 Que se mantém no segundo livro, como no poema “Reminiscências”: “Vestido de um velho/terno encanto/já surrado/numa cela insuspeita/nu e sozinho/suportei/todos os equívocos.” POLARI, Camarim de Prisioneiro, p.92. 23 Trecho do poema “12.207”, POLARI, idem, p.23. 24 COIMBRA, Entrevista à Caros Amigos, p.32 e 34. 299 A diferença essencial consiste, é evidente, em qual pólo da relação de brutalidade o sujeito-coisa se encontra, pois que sofrer sem condições de defesa um ato bestial não é o mesmo que executá-lo. D.Paulo Evaristo Arns, em seu prefácio ao relatório Brasil: Nunca Mais, lembra haver sido advertido por um general contrário à tortura que “quem uma vez pratica a ação, se transtorna diante do efeito de desmoralização inflingida. Quem repete a tortura quatro ou mais vezes se bestializa, sente prazer físico e psíquico tamanho que é capaz de torturar até as pessoas mais delicadas de sua própria família!”25 Muito já se discutiu sobre os excessos produzidos pelo sadismo nestas circunstâncias, esgarçando a ordem a ser “defendida” a ponto de rompê-la. Muito ainda se discute acerca da tentativa dos oficiais de alta patente em se isentarem das ações de tortura, praticadas sistematicamente em todo o país, procurando atribuí-las aos policiais ou militares de baixa patente26. Muito ainda há que se discutir sobre os efeitos desumanizantes de todo este processo, do elo da cultura que estala quando em uma sociedade se ultrapassam os limites do que é considerado dignidade humana. O aviltamento de uns, a desonra obrigada de outros, a degradação de todos, consolidam obstáculos ao reconhecimento social, bem como ao autoreconhecimento. A 4ª estrofe de “Recordações do Paraíso”, supracitada, traz um sujeito lírico que cospe no próprio reflexo, reflexo de seu rosto nas águas de um vaso sanitário, escoadouro de dejetos humanos, e recusa o espelhamento: “Não, não pode ter sido/a mesma face,/não me olhe assim, não tenho culpa.” O poeta fora colocado em uma incômoda posição, ao mesmo tempo vítima e sobrevivente daquele contexto de violência amplificada. À semelhança de Primo Levi – quando indaga É isto um homem? em sua literatura de memória e perplexidades27 –, o horror da própria imagem e a recusa em admitir como dimensão humana a degradação que se sofria 25 Arns, Cardeal. Prefácio a BRASIL: nunca mais, p.13. Vale lembrar a formulação, transformada em estereótipo, do vice-presidente de Costa e Silva, Pedro Aleixo, para quem o risco dos excessos da ditadura militar residia nos “guardas-de-esquina”. Como diz Carlos Fico, porém, “não se deve confundir a independência operacional com que trabalhava a polícia política com uma suposta autonomia em relação aos oficiais-generais” [grifos do autor]. É já comprovado que a tortura e o extermínio eram aceitos pelos comandantes e governos militares, que a viam como um mal menor ou necessidade conjuntural, ainda que diferenciassem a morte de um guerrilheiro no Araguaia e de um estudante comunista torturado. Provocou celeuma recentemente a revelação de Elio Gaspari sobre uma conversa gravada do Gal.presidente Ernesto Geisel com o Gal. Dale Coutinho, quando Geisel afirmou que “esse negócio e matar é uma barbaridade, mas eu acho que tem que ser”. GASPARI, A ditadura derrotada. São Paulo: Cia.das Letras, 2003, p.324. Deste modo, nas palavras de Fico, a tese dos “excessos” é hoje apenas parte de um discurso fraudulento, pois há evidências empíricas de que “a tortura e o extermínio foram oficializados como práticas autorizadas de repressão pelos oficiais-generais e até mesmo pelos generais-presidentes”. FICO, C. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Revista Brasileira de História, n.47, op.cit., p.35-36. 27 No poema de abertura do livro, em que o autor elabora sua experiência do campo de concentração nazista, se lê: [...] pensem bem se isto é um homem/que trabalha no meio do barro,/que não conhece paz,/que luta por um pedaço de pão,/que morre por um sim ou por um não./Pensem bem se isto é uma mulher,/sem cabelos e sem nome,/sem mais força para lembrar,/vazios os olhos, frio o ventre,/como um sapo no inverno.[...]”. LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p.9. 26 300 e se via ao redor levaram à noção de inumanidade como potência criadora de negatividade crítica e força de resistência. Por outro lado, percebe-se o sentimento característico dos sobreviventes, como observou Enzo Traverso, em que se mesclam pudor, culpa e humilhação, que não se aplacam de todo ainda que se esteja convicto de que a escolha de seguir com vida se deve ao justo motivo de que sua morte resultaria inútil28. Com efeito, estudos sobre a resistência a situações de violência mostram que ela consiste não em uma reação/oposição a esta lógica, mas em uma quebra, uma abertura de outras regras e encadeamentos, em que medo e esperança se embaralham e a ambigüidade diante da morte – pois embora negar a morte seja um modo de reificar a vida, para os sobreviventes é preciso não pensar na morte para poder criar imagens vitais – permeia a experiência, formando o substrato afetivo do resistir29. Por isso, o “permanente olhar da vida”, que o poeta Afonso Henriques afirma na epígrafe, sempre arderá, como o grito que salta “do pó do avesso do ódio/dos ossos das sepulturas dos cárceres do rosto vazio implacável.” No entanto, os problemas éticos colocados por este contexto histórico trazem seqüelas sociais até hoje não sanadas, não se sabe se cicatrizáveis. Os depoimentos e a literatura especializada sobre a época comportam numerosos sinais de uma impossibilidade de reconhecimento social e uma disputa de memórias talvez inconciliável, entre militares e civis, torturados e torturadores, os que falaram sob tortura e os que conseguiram calar, os que resistiram e os que preferiram (?) morrer, os sobreviventes que foram capazes de elaborar a dor de sua história e os que não foram, os arrependidos e os que ratificam suas opções e atos, os que sartrianamente afirmam sua liberdade de escolha e pensamento e os que se justificam pelo valor da hierarquia e da obediência... Benjamin dizia, em suas teses sobre a história, que todo documento de cultura é também um documento de barbárie e que esta afeta igualmente a transmissão cultural, que corre o risco de ter seu conteúdo reduzido por interesses privados e setoriais, reduzindo-se portanto seu alcance público30. Cabe então ao historiador resgatar não 28 Estudando as diversas reações dos intelectuais diante de Auschwitz, em L’Histoire dechirée, o autor os agrupa em quatro tipos: colaboradores; sobreviventes; cegos perante a ruptura de civilização em curso; e “alertadores de incêndio”. O sobrevivente é analisado especialmente com base em Karl Jaspers que, em trabalho sobre a culpa alemã, escreveu: “Nós, os sobreviventes, não buscamos a morte. Quando levaram nossos amigos judeus, não baixamos à rua, não gritamos até que nos destruíssem. Preferimos seguir com vida por um motivo muito débil, ainda que justo: nossa morte não teria servido de nada. O fato de que sigamos com vida nos converte em culpados. Sabemo-lo ante Deus, e isto nos humilha profundamente” [tradução livre]. Citado por TRAVERSO, La historia desgarrada: ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Barcelona: Herder, 2001, p.32. 29 Cf. PIETROCOLLA, op.cit., p.454-458. Mas os sobreviventes podem também desenvolver uma descrença total nas estruturas coerentes da existência, perdendo a confiança nos elos sociais e, no extremo, viver a experiência da morte em vida, p.465. A autora trabalha a questão da ambigüidade ante a morte com base em P. Ariès e W. Benjamin. 30 Cf. BENJAMIN, Tese VI e VII segundo tradução de Jeanne Marie Gagnebin e Marcus Lutz Muller, in: LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio, uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São Paulo: 301 as imagens do passado construídas pelos grupos vencedores – que sempre disfarçarão e perpetuarão a violência e a barbárie para manterem suas posições adquiridas –, mas as imagens dos perdedores, tornadas em cacos pela força da guerra e da opressão, cujos fragmentos o historiador precisa reunir como num quebra-cabeças, para vislumbrar e transmitir a existência, um dia, de possibilidades outras de experiência e vida humana, que, embora perdidas, possam quiçá valer como potência. Na história brasileira dos anos 70, haveria que se olhar com cuidado o legado da violência exacerbada, da ciência instrumentalizada, das fissuras políticas e sociais, observando a dimensão das forças de reificação e destruição e das forças humanizadoras capazes de estabelecer laços éticos, para avaliar, no inventário de feridas, a possibilidade de experiências históricas melhores que, porventura, tenham sobrevivido ao naufrágio. 7.2. Experiência violenta e voz testemunhal A denegação da culpa expressa no poema de Alex Polari – “não me olhe assim, não tenho culpa” – transporta, em seu bojo, o sentimento ambíguo e mesclado característico dos sobreviventes, criando uma zona de ambivalência entre culpa e inocência típica do mecanismo traumático. As ocorrências catastróficas, como se sabe, podem provocar grandes desarranjos psíquicos, interferindo no processo de subjetivação dos indivíduos, uma vez que desencadeiam um transbordamento de afetos e intensidades que não comportam sentido em si, de modo que a psique buscará soluções para dar significação àquilo que se configura como dor, o que sempre dependerá de uma rede intersubjetiva que inclui elementos intra e extra psíquicos, ou seja, dependerá tanto das possibilidades “internas” de quem sofreu o trauma Boitempo, 2005. “O perigo ameaça tanto o conteúdo da tradição quanto os seus destinatários. Para ambos o perigo é único e o mesmo: deixar-se transformar em instrumento da classe dominante. Em cada época é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo que está na iminência de subjugá-la”. Tese VI, p.65. Na interpretação de Löwy, o perigo “único” é duplo: o de transformar em instrumento das classes dominantes tanto a história do passado, a tradição dos oprimidos, quanto as classes dominadas atuais, como sujeito histórico depositário daquela tradição, o que significaria subjugar-se aos vencedores e sua historiografia confiante no progresso, quando para os oprimidos o passado não é uma acumulação gradual de conquistas, mas, inversamente, um série de derrotas catastróficas. Ou seja, trata-se do perigo de falsificação do passado em grande escala e de manipulação das massas populares, que o fascismo acabou por realizar – embora, é óbvio, Benjamin não pudesse prever Auschwitz, “apesar de sua vocação de Cassandra”. Isto, contudo, não quer dizer que Benjamin defendesse um “populismo cultural” que rejeita as obras de “alta cultura” como reacionárias. Ao contrário, ele se havia convencido que muitas dessas obras são aberta ou secretamente hostis à sociedade capitalista. Em seus últimos ensaios e nas teses, não fala mais da superação por amelhoramento (Aufhebung) da cultura tradicional burguesa, mas da necessidade da crítica dialeticamente preservar e explicar o “potencial utópico secreto contido no cerne das obras de cultura tradicionais”. Idem, p.67 e 79-80. 302 quanto da sustentação propiciada pela rede sociocultural. Segundo o estudo de Marisa Maia31 sobre as experiências traumáticas, estas podem ter aspectos positivos ou patológicos, consoante seus desdobramentos sejam subjetivantes ou dessubjetivantes. Em outras palavras, quando a afetação operada chega a modificar relações sociais vigentes, os códigos lingüísticos, a forma de ser e estar no mundo, acionando mecanismos psíquicos capazes de viabilizar a criação subjetiva e, por conseguinte, gerando sentidos e significações para o indivíduo e a coletividade, como na arte e na narrativa, então se trata de um processo subjetivante. Inversamente, quando o impacto traumático gera um efeito paralisante dos processos de simbolização e significação, seu efeito pode vir a ser aniquilador ou dessubjetivante, pois os excessos emocionais inassimiláveis e irredutíveis ao campo das significações imperantes na sociedade desafiam a memória e as possibilidades de elaboração e relato para além dos limites da integração do self. Deste modo, o que se vive é da ordem da violação-violência, “um campo de dor sem possibilidade de mediação”, em que o efeito do choque consiste numa comoção psíquica que traz a fragmentação, a desorientação e os mecanismos de defesa que produzem a clivagem do eu. Nestes casos, é comum que se instaure, mais que o recalque, o silêncio, pois nem aquele que vivenciou o trauma é capaz de criar uma rede de representações, nem a sociedade sustenta uma interlocução com ele. Antes, o senso comum costuma apresentar a falsa convicção de que o tempo e o silêncio resolvem por si só as feridas, o que produz o efeito cruel da solidão e da dor tornada em segredo a ser guardado, ocultado e esquecido, de forma que se cria uma espécie de atemporalidade ou suspensão – suspensão histórica, inclusive – do evento traumático, que não pode ser lembrado como fato vivo no tempo e no espaço. Funcionando como um buraco-negro, o segredo toma corpo no sujeito, seccionando-o em partes e endurecendo suas vias de afetação com o mundo. Os destinos desse imperativo de silenciar são imprevisíveis, diz a autora, “podendo trazer conseqüências tanto num âmbito pessoal, familiar e intergeracional, quanto num registro social e coletivo”32. Em geral, o silêncio social tende a ser adoecedor, patógeno à medida que produz clivagens talvez insuperáveis: “Esse silêncio enlouquece/se houvesse mais alguém/seria mais fácil”... É o conhecimento desse poder disruptivo da solidão silenciosa, por sinal, que subjaz ao castigo, 31 Cf. MAIA, Marisa S. Extremos da alma. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. As reflexões aqui tratadas encontram-se principalmente na parte II: Trauma ou catástrofe na experiência subjetiva. 32 Idem, p.155. A autora lembra, com base em Ferenczi, não ser incomum em relatos de torturados uma dissociação entre psique e corpo que lhes permitiu sobreviver ao sofrimento, como em pensamentos do tipo “quem sofre não sou eu, mas uma parte de mim”, o que constitui um tipo de clivagem psíquica. Cf. p.175. Uma outra clivagem, comentada por Pietrocolla, com base em M.Chauí e H.Pelegrino, é a que se cria entre corpo e mente, uma vez que, sob tortura, o alívio da dor física exige a dor psíquica, e vice-versa. Cf. PIETROCOLLA, op.cit., p.464-465. 303 hoje já considerado tortura pelos órgãos internacionais de defesa de direitos humanos, de trancafiamento de prisioneiros nas celas “solitárias”. No entanto em muitos casos, perante a falta de acolhimento e a incompreensão da sociedade e de si próprio, o silêncio pode constituir a única maneira do sujeito continuar sobrevivendo, mantendo em segredo o que não é passível de ser narrado, nem mesmo para si. Tendo por base esta explanação, tudo indica que a poesia de Alex Polari facultou um processo de elaboração da dor que, compartilhada com o leitor, permitiu a criação de sentidos comuns necessários à configuração de uma experiência traumática subjetivante, que o impediu de mergulhar nas sombras da desumanização que o rondavam. O exercício da poesia parece ter-lhe capacitado a se manter inteiro pela construção de um sujeito lírico que busca fidelidade a si mesmo: seja mediante poemas de amor, ciúmes e erotismo no cárcere, ou de raiva e de desejo de fuga; seja por elegias e réquiens; pela imaginação do mundo externo, onde se poderia ser um outro que nada mais seria que a projeção de si mesmo em condição livre; seja mediante numerosas críticas éticas e políticas; seja por certa habilidade em se subtrair à relação desumanizadora dos algozes33; seja, enfim, por todo um processo de autoavaliação geracional que, todavia, não invalidou o que foi intentado: “[...] Hoje a coerência dos sistemas/me parece ridícula/e se nos livramos/de uma certa pressa/entendendo melhor/a vida e a teoria,/isso não significa que o problema da opção mudou.”34 A crítica à afobação juvenil que se amalgamava ao anti-intelectualismo, obliterando a compreensão de uma melhor relação entre ação política e pensamento, como já comentado, não se convertia em niilismo ou narcisismo, mas possibilitava reafirmar, ao invés, o valor daquela experiência coletiva, como também se vê nesta “Idílica estudantil – III”: Nossa geração teve pouco tempo começou pelo fim mas foi bela nossa procura ah! moça, como foi bela nossa procura mesmo com tanta ilusão perdida quebrada, mesmo com tanto caco de sonho onde até hoje a gente se corta. 35 As palavras com que o poeta finaliza os versos criam uma cadeia de associações bastante significativa, se temos em mente a efervescência político-cultural interrompida: 33 Como se vê, p.ex., no poema “Conclamação”, de Camarim de Prisioneiro, p.93: “[...] A todos os convertidos [...]/poetas de estrofes feridas de sonhos/curados ou não pelo exercício do cotidiano/das esperanças veneráveis/e ilusões variadas/varridas dia a dia/por verdugos e verruga/ávidos de sangue/e dignos de pena”. 34 POLARI, “Indagações – I”, Inventário de cicatrizes, p.15. 35 Ibidem, p.18. 304 tempo-fim-procura-procura-perdida-quebrada-sonho-hoje-corta. Mas a idéia de “como foi bela nossa procura”, duplamente reiterada, enfatiza o senso de beleza – como um dos elementos fundantes da cultura e do humano36 – atribuído ao projeto de transformação subjetiva e social que a derrota transfigurou em ilusão onírica, e que, malgrado tudo, descobre ainda nas assonâncias ao mesmo tempo cortantes e ondulantes do fim do poema a forma de se fazer valer: a aliteração anasalada da vogal (sonho-onde-hoje) sugere a sensação da continuidade de uma onda, sustentando a permanência de uma beleza que a força incisiva da aliteração consonantal oclusiva (com-tanto-caco-corta) chega a retalhar, mas não a destruir. Contudo, para outros tantos que passaram por experiências traumáticas semelhantes às de Polari, a via da elaboração subjetivante e criadora de sentidos compartilháveis não se abriu. Seus cacos, talvez, se tenham estilhaçado demais e a solidão do silenciamento deles se apoderou, trazendo por vezes a loucura, o suicídio ou outras modalidades de dor e morte. Também neste sentido seu direito à expressão lhes foi subtraído. Assim, diversamente da voz encarcerada de Alex, que no entanto foi relativamente livre para fazer seu inventário de cicatrizes, tais outras vozes estiveram (e quantas ainda estão?) presas, dentro ou fora do cárcere. E é deste modo, caladas, que paradoxalmente elas falam da violência, para além do visível e audível, no país imperceptivelmente tornado em campo de concentração, como dissera Herbert Daniel37, mostrando mais uma vez pelo avesso a face impronunciável deste Brasil Grande. Mas há outra possibilidade para o silêncio, além da escolha ou da dessubjetivação. Trata-se da resistência à elaboração, discutida por La Capra como um movimento relativamente comum de pessoas traumatizadas por acontecimentos-limite, bem como daquelas que desenvolvem empatia com a situação, que mantêm um sentimento que se pode qualificar de fidelidade ao trauma, baseado em uma dinâmica melancólica que lhes dita a sensação inconsciente de que elaborar o passado para participar novamente da vida significaria trair os que restaram aniquilados ou destruídos pelo passado catastrófico. O laço com os mortos pode conferir valor ao trauma e gerar uma espécie de apego, que desautoriza qualquer forma de delineamento conceitual ou narrativo, como se este fosse uma clausura degradante para o que se sente, de onde a resistência a qualquer força que se lhe oponha, até mesmo as forças do luto, entendido não como pesar incessante, mas como “processo social que pode ser eficaz em parte para devolver àquele que sofre as responsabilidades e exigências 36 37 Cf. FREUD, Mal estar na cultura, op.cit. Conforme citado no capítulo 3. 305 da vida social.”38 A cultura e o pensamento contemporâneo, continua o autor, tenderam a converter o trauma em ocasião propícia para o sublime, transfigurando-o em uma porta de acesso ao extraordinário, posto que no sublime o excesso do trauma se transforma em fonte de euforia ou êxtase39. Funcionando como uma sorte de sacralização deslocada, a recusa da elaboração associada ao sublime também pode produzir “traumas fundacionais”, que se tornam tão preciosos para um indivíduo ou grupo que paradoxalmente passam a sustentar a identidade, ao invés de serem fatos que colocam e problematizam, até mesmo porque a cindem, a questão identitária. É certo que a modernidade produziu deslocamentos mais ou menos secularizados do sagrado e seus conseqüentes paradoxos, diz La Capra, e isto adquiriu teor traumático uma vez que o velamento, a morte ou a ausência de fundamentos absolutos, quer religiosos, quer éticos, políticos ou filosóficos, tornou a existência uma cena dominada pela angústia, que ameaça tomar e às vezes confundir todas as relações. Deriva também disto o mecanismo de fidelidade ao trauma, produzindo a aporia do luto incessante e impossível, correlato à recusa da elaboração. Em decorrência, o indivíduo e a sociedade imersos nesta situação ficam possuídos pelo passado e envolvidos no retorno traumático e na compulsão à repetição, o que lhes dificulta discernir a diferença entre passado e presente, bem como desenvolver a percepção da alteridade empática para além da lógica binária de identidade e diferença, além de juízos críticos mais agudos, necessários a uma vida social reinvestida, e este conjunto de dificuldades pode vir a tornar-lhes incapazes de uma conduta eticamente responsável40. No que se refere ao trauma histórico, a ausência de debate nacional – decorrente da falta de acolhida do relato e da memória traumática por parte de amplos setores sociais –, aliada à tendência moderna de se vivenciar as comemorações cada vez mais como formalidades ocas, tornam ineficaz um processo social de luto. O exemplo de regimes políticos surgidos após grandes cisões violentas – La Capra menciona o pós-guerra na Áustria e Alemanha e o apartheid na África do Sul – demonstra que algumas sociedades talvez não 38 “processo social que puede ser eficaz en parte para devolver al deudo a las responsabilidades y exigencias de la vida social”. LA CAPRA, Escribir la historia, escribir el trauma, p.46-47. 39 Dialogando com Derrida, Lyotard e Kant, La Capra discute a relação do trauma com o sublime do prisma da sacralidade e do problema ético que se coloca: sendo o trauma e o sublime dois pontos de fuga de uma contraposição extrema que ameaça romper com toda continuidade e mediação, eles se aproximam na medida que o excesso de abjeção, próprio do terror traumatizante, se torna uma transcendência negativa e, como tal, passível de sacralização. O sublime, assim, seria uma secularização extática do sagrado em uma forma excessiva ou transcendente que, sem contornos, é irrepresentável. Mas “o sublime, o excesso sacralizador e o abjeto parecem transgredir ou excluir a existência de limites, inclusive dos que concernem ao belo na arte e na vida ética [que, por definição, exigem limites e formas], que poderiam operar como mediação, ainda que não houvesse reconciliação plena entre os dois extremos” [tradução livre]. Idem, p.196. 40 Cf.Ibidem, p.86-90. 306 queiram admitir a necessidade de um contexto em que os perpetradores reconheçam seus atos passados e tentem construir uma relação distinta com as ex-vítimas e os sobreviventes, de maneira a permitir uma resposta social empática e o luto coletivo, para os quais a autocrítica e mesmo a tristeza são necessárias, ainda que não se deva confundi-las com as formas melancólicas e nostálgicas, que tenderiam a ser dessubjetivantes ou imobilizantes. Enquanto isto não ocorre, perambulam no mundo pós-traumático fantasmas do passado, os quais não pertencem a nenhum indivíduo ou grupo particularmente, mas que aparecem como sintomas sociais que não se apascentam porque há uma perturbação na ordem simbólica, derivada de um déficit no processo ritual, ou uma cisão tão atroz, ou uma morte tão injustificável e transgressora que excede os recursos de luto e expressão da dor de que a sociedade dispõe. Entretanto, qualquer reconciliação viável em âmbito coletivo, é preciso frisar, não depende apenas de processos de empatia e luto, mas igualmente de mudanças econômicas, sociais e políticas em contexto mais amplo, dentro do qual o luto adquiriria um sentido mais vasto, efetivamente político41. A violência não mediada, isto é, sem meios culturais de expressão, significação, representação e canalização das diferenças, das memórias e dos conflitos, tende a aumentar, trazendo empecilhos para o diálogo e as dinâmicas democráticas. Em contrapartida, a literatura e a arte em geral, por sua forma específica de linguagem aberta, têm sido meios privilegiados para abrigar a voz traumática em que afetos e representações se dissociam, melhor dizendo, para abrigar o esforço de elaboração daqueles que, desconcertados por não poderem representar o que sentem, ou por representarem anestesiadamente o que não podem sentir, tentam voltar a articular afeto e palavra/imagem. Diante de tudo isto, diz ainda La Capra42, abordar o trauma ou suas diversas formas de elaboração exige um modo ética e cognitivamente responsável, em que as reivindicações de verdade e veracidade não sejam unidimensionais, nem estreitas. Mas não há nada de simples nessa proposição. Em seu trabalho sobre a literatura dos anos 70, Flora Sussekind se preocupa com o que considera uma tendência ao neonaturalismo, a seu ver inadequado para o tratamento literário da violência. A autora critica a diluição do efeito de choque provocada pelas descrições detalhadas de tortura, cuja “retórica emocionada”, descritiva em exagero, em tom jornalístico, bloqueia a catarse do leitor, por criar uma espécie de “horror ornamental”: 41 42 Cf. Ibidem, p.216-217. Cf. Ibidem, p.64. Sobre violência e democracia, p.81. 307 Porque é mesmo muito difícil falar do que se passa propriamente no corpo. Tanto o prazer quanto a tortura chegam a parecer quase irredutíveis ao plano discursivo. Por isso quanto mais minuciosas e emocionais as descrições, mais o assunto e a sensação que se buscava produzir parecem escapar. Como o erotismo, também a tematização da dor e da tortura física exige da linguagem uma espécie de ascetismo, de depuração, uma quase frieza capaz de, por via transversa, chegar onde se deseja.43 A lapidação da linguagem permitiria um tratamento que, depurado ou indireto, criaria um efeito menos passível de reduzir o impacto emocional do mal e a decorrente reflexividade ética, o que não ocorreria diante da crueza da expressão. Esta, diz Flora, estaria ao gosto do leitor-vampiro que se constituiu na época, com clara preferência por relatos tristes e detalhados de cenas de tortura, perseguições policiais e confinamentos, que cresceram numericamente após o retorno dos exilados, no fim da década). Na verdade, há que precisar dois tipos distintos de leitores: uma jovem geração, cujo conhecimento da história recente do país era fragmentário e contraditório, marcado pelas versões oficiais, e por isso liam esse tipo de narrativa, para poder reordenar e reintrepretar a história; e o leitor ávido da experiência carcerária ou dos sofrimentos alheios, pontuando uma espécie de mea culpa da classe média que apoiara o golpe militar de 1964, ou se mantivera alheia, e agora, desencantada, se comprazia com “as minúcias do horror”, como uma forma de se penitenciar mediante a leitura de suas conseqüências44. Assim sendo, um poema como “Aquela Tarde”, de Francisco Alvim, não saciaria a sede deste tipo de leitor, atendendo, antes, aos que demandam sutileza, o que ilustra o que a autora pretende dizer: Disseram-me que ele morrera na véspera. Fora preso, torturado. Morreu no Hospital do Exército. O enterro seria naquela tarde. (Um padre escolheu um lugar de tribuno. Parecia que ia falar. Não falou. A mãe e a irmã choravam.)45 De fato, a questão é espinhosa. Se não representar a violência produz conseqüências sociais maléficas, representá-la mal, no sentido de impropriamente, também o faz. Imerso no violento seio da clandestinidade, rodeado de amigos torturados ou mortos, Herbert Daniel fez reflexões em uma direção semelhante, movido pelo pesadelo de que mais cedo ou mais tarde seria também ele preso e torturado e, portanto, precisava preparar-se para aquele sofrimento e para esquecer o que sabia, o mais que pudesse: 43 44 SUSSEKIND, F. Literatura e vida literária, p.88. Cf. Ibidem, p.74-75. Para a autora, essa literatura crua seria representada por obras como Em câmara lenta, de Renato Tapajós; O que é isso companheiro?, de Fernando Gabeira; Os carbonários, de Alfredo Sirkis; Cadeia para os mortos, de Rodolfo Konder, entre outros, em oposição à boa literatura de Caio Fernando Abreu, Rubem Fonseca, Sérgio Santana, Silviano Santiago, João Gilberto Noll, que trataram da temática da violência de forma criativa e condizente com a literariedade, ou seja, segundo exigências do critério de arte. Ver p.70-88. 45 In: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.19. 308 Talvez, não sei, por causa deste pesadelo repetitivo eu detestava ouvir relatos de tortura. Particularmente descrições mais ou menos detalhadas do tormento e dos torturados. Saber da existência da tortura, conhecer as técnicas utilizadas, sempre me pareceu desagradável, mas necessário. Saber do nome e dos detalhes envolvendo um torturado sempre me foi terrificante.46 Há, sem dúvida, diversas significações possíveis para esta sensação “terrificante”, das mais óbvias, resultante da associação de um rosto conhecido à dilaceração, até o horror da desumanização, do outro e de si. Compõe, por certo, esta sensação um fator de recusa à indiferença ante a dor e ao que se sucede com os demais, ou seja, recusa à frieza e à ordem social que a produz47, quando inverte a relação entre meios e fins, coisa e pessoa, valor de troca e de valor de uso, interpondo nas relações sociais burguesas uma série de mediações que afastam a afetividade, por definição direta e imediata, e impedem que se crie a identificação humana alicerçada na dialética de reconhecimento e alteridade, necessária à construção de uma sociabilidade realmente civilizada. Trata-se, então, de um modo de resistência àquilo que Adorno e Horkheimer viram como uma função sócio-pedagógica da tortura, qual seja, a de induzir à rápida adaptação dos indivíduos à coletividade, entendida como uniformização do pensar, do sentir e do agir à qual se deve obedecer, sob grave pena, mas à custa do processo de subjetivação, potencialmente capaz de constituir individualidades autônomas, éticas e ricas, se as circunstâncias fossem radicalmente diversas48. No entanto, a recusa à frieza e à expressão crua da violência não significa, ou não deve significar de maneira alguma, uma subtração ao confronto com o horror, pois isto conduziria ao recuo, ao invés da força de resistência requerida para se evitar a repetição de acontecimentos que, por sinal, não deveriam jamais ter ocorrido em uma civilização que se queira digna do nome e que pretenda manter-se enquanto tal. O aparente paradoxo entre as exigências de delicadeza e do princípio de realidade coloca problemas à expressão artística, especialmente poética, de experiências catastróficas. Já é bem conhecida a assertiva de Adorno a respeito, não sem haver provocado numerosas controvérsias interpretativas: 46 DANIEL, Herbert, op.cit., p.40. Daniel relata um movimento interessante do ponto de vista da memória: ele recorria a técnicas mnemônicas tradicionais para esquecer nomes, telefones, endereços etc., embaralhando-os propositalmente, de modo que operou uma inversão da função dessas técnicas. 47 Ver uma bela discussão destas questões em ADORNO, Educação após Auschwitz, op.cit., p.119-120. O ensaio discute a necessidade de um novo tipo de educação política, centrada na exigência de se impedir que as condições formadoras do fascismo e de Auschwitz se repitam. Para isso, é preciso conhecê-las e indagá-las, histórica, psicológica, sociológica e antropologicamente, para esclarecer que espécie de jogo de forças sociais subjaz à superfície das formas políticas, como se vê, por exemplo, no conceito de razão de Estado, manipulado para colocar o direito estatal e os interesses que ele representa acima dos membros da sociedade, quando então “já está colocado, potencialmente, o horror”, p.123. 48 Cf. Ibidem, p.116 ss. Uma análise aprofundada dos processos de reificação e alienação na modernidade, impedindo a subjetivação no sentido de constituição de individualidades ricas e a própria formação social encontra-se em MENEGAT, Marildo. Depois do fim do mundo, a crise da modernidade e a barbárie, esp.cap.1. 309 quanto mais totalitária for a sociedade, tanto mais reificado será também o espírito, e tanto mais paradoxal será o seu intento de escapar por si mesmo da reificação [...] A crítica cultural encontra-se diante do último estágio de dialética entre cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de porque hoje se tornou impossível escrever poemas.49 Segundo Enzo Traverso, isto, que constituiria um “imperativo categórico adorniano”50, significava um chamado à urgência de se refletir sobre a profunda transformação que a violenta história do século XX exerceu sobre as práticas culturais e sobre as próprias noções de cultura e civilização. Auschwitz não representou um momento de decadência ou um parênteses histórico, mas uma hipertrofia da razão instrumental, levada ao genocídio e ao irreparável, convertendo-se portanto na metáfora da culminação da história moderna na mais abjeta violência: “marca um vinco radical, um rasgo da trama mais profunda da solidariedade humana e de nossa civilização, sob a qual o pensamento se extravia do caminho de uma reconciliação com a experiência e as palavras padecem uma metamorfose”51. Assim, o que se tornava impossível depois, diz o autor, não era criar poesia, mas fazê-lo como antes, visto que a ruptura civilizacional produzida mudou o conteúdo das palavras, ou seja, mudou a matéria mesma da poesia, a relação da linguagem com a experiência, desfigurada para sempre pela catástrofe. Assim, a cultura só poderia subsistir como manifestação de uma dialética negativa, a elaboração estética de uma ferida que rechaça tanto o consolo lírico quanto a pretensão de recompor uma totalidade rompida52. Este conjunto de questões levou Adorno, acrescenta Gagnebin, a tentar juntar as duas exigências paradoxais que se dirigem à arte contemporânea: por um lado, lutar contra o esquecimento e o recalque, o que significa lutar pela rememoração e contra a repetição catastrófica53, mas por outro lado, impedir que a lembrança do horror se transforme em mais um produto de consumo cultural, como uma mercadoria, o que a integraria perversamente na (in)cultura que a gerou! Isto supõe a tarefa paradoxal de, ao 49 50 ADORNO, T. Crítica cultural e sociedade. In: Prismas, p.26. Grifo meu. Em referência aos imperativos categóricos que Kant, na Crítica da Razão Prática, estabelece como imperativos éticos necessários à civilização. Diz Traverso que, sobretudo na Dialética Negativa, Adorno insistia em que a experiência de Auschwitz mudou o olhar sobre a cultura e a história, e passou a exigir das novas gerações uma nova postura ética: “um novo imperativo categórico: pensar e atuar de modo que Auschwitz não se repita, que nunca ocorra nada parecido”, nas palavras do próprio Adorno. Cf. TRAVERSO. La historia desgarrada, cap.5, p.154. 51 TRAVERSO, idem, p.154. A frase citada traz a bela imagem da “história rasgada” que o título sintetiza. Os demais raciocínios do autor aqui trabalhados estão no mesmo capítulo, passim. 52 Cf. Ibidem, p.134. Caso contrário, a cultura tornar-se-ia aderente à desumanização que a dizima, à sua própria dissolução, pois que, por definição, a cultura funda os laços sociais imprescindíveis ao humano. 53 Diz Gagnebin: “Criar em arte – como também em pensamento – “após Auschwitz” significa não só rememorar os mortos e lutar contra o esquecimento, uma tarefa por certo imprescindível, mas comum à toda tradição desde a poesia épica, mas também acolher, no próprio movimento da rememoração, essa presença do sofrimento sem palavras, nem conceitos, que desarticula a vontade de coerência e de sentido de nossos empreendimentos artísticos e reflexivos.” GAGNEBIN. “Após Auschwitz”. In: SELIGMANN-SILVA, M. (org). História, Memória, Literatura. O testemunho na era das catástrofes, p.91-113, citação na p.106. 310 mesmo tempo, transmitir e reconhecer a irrepresentabilidade daquilo que há de ser transmitido, porque não se deve esquecer. Tal coisa requer uma especial delicadeza, que não pode ser proporcionada pelo comportamento mimético tradicional ou a estética clássica, baseados na relação de domínio do sujeito sobre o objeto. Este domínio, as ingerências da delicadeza substituem por uma dialética da distância e da proximidade, por uma relação cognitiva e expressiva de outro jaez, em que o sujeito não se apossa do objeto, mas ambos se tangem, se atingem mutuamente, dando lugar ao reconhecimento do não-idêntico, como se vê na lírica celaniana54. Com efeito, a obra poética de Paul Celan tem iluminado caminhos para se pensar a difícil relação entre poesia, história e violência. Havendo sobrevivido ao Holocausto, sua criação poética traz a marca do doloroso esforço de encontrar palavras para a experiência de uma fratura insuperável, como uma necessidade imperiosa que o conduziu a misturar léxicos, línguas55 e silêncios, compondo uma obra simultaneamente original e prototípica da linguagem testemunhal de um tempo de catástrofes. Sua visão de história como inferno e ferida tem como contrapartida uma concepção, que se poderia chamar de visceral, da função social e histórica da poesia, como uma linguagem que a experiência de dor alimentou com sentidos outros, de modo a poder alcançar uma história em ruínas e restituir a imagem de seus restos, porque a poesia passa através das asperezas e abismos do tempo, e não fora ou sobre ele, imersa em seu presente como um “acento agudo”. Carregando as cicatrizes do tempo, é capaz de conduzir, em sua grande fragilidade, fragmentos de verdade como “uma mensagem em uma garrafa”56, deixada ao mar para quem possa ou saiba recolhê-la e, assim, conhecer sua função restitutiva e orientadora, como a de um meridiano terrestre ou de um aperto de mão: Somente mãos verdadeiras escrevem poemas verdadeiros. Não vejo diferença de princípio entre um aperto de mão e um poema. E não nos venham aqui com ‘poieín’ ou coisa parecida. Isto significa, com todas as suas proximidades e distâncias, algo 54 Isto seria o “comportamento mimético autêntico”, ao qual, segundo a autora, Adorno chegou no final da Teoria Estética, ao analisar a obra de Paul Celan, em contraponto ao mimético dominador e não-dialético estudado em Dialética do Esclarecimento e outras obras. Cf. GAGENBIN, idem, p. 109. 55 Traverso discute o surpreendente uso do alemão como língua poética preferencial de Celan, e cita uma carta que comprova sua tenacidade poética como necessidade existencial: “Não há nada no mundo que possa levar um poeta a deixar de escrever, nem sequer o fato de ser judeu e o alemão a língua de seus poemas”. [tradução livre]. Na paisagem de ruínas e morte, permaneceu apenas a língua. Cf. o cap.6, Paul Celan y la poesía de la destrucción, in: TRAVERSO, op.cit., p.158. 56 A visão de história e poesia de Celan é estudada por Traverso em seus poemas e nos dois discursos que proferiu, quando recebeu o prêmio literário da cidade de Bremen, em 1958, e o prêmio Georg Büchner, em 1960, bem como no texto “Conversa na montanha”, op.cit., p.167-173. Uma tradução em português do discurso do prêmio Georg Büchner, “O Meridiano”, junto a uma seleção de poemas de Celan por Claudia Cavalcanti encontra-se em CELAN, P. Cristal. São Paulo: Iluminuras, 1999. Vale notar que a mesma imagem, de uma mensagem numa botelha ao mar, é apresentada por Haroldo de Campos na Revista NAVILOUCA. Cf. cap.3 deste trabalho. 311 bem diferente do que no seu atual contexto. [...] Vivemos sob céus sombrios, e... são poucas as pessoas. É por isso que existem tão poucos poemas. As esperanças que ainda tenho não são grandes; tento conservar o que me restou.57 O trabalho de Marcio Seligmann sublinha o compromisso ético requerido pelo testemunho e o teor testemunhal, requerendo de autores e leitores um cuidado com a experiência passada à qual se tenta dar forma, tanto no que diz respeito à veracidade histórica quanto à qualidade mimética posta em ato, isto é, ao modo como se lida com as aporias da representação58. Seligmann, juntamente com outros tantos críticos de arte e cultura, põem-se contra o que se pode chamar de estetização da catástrofe ou do horror, mediante um uso literal da palavra ou da imagem, em que a realidade é apresentada cruamente, como se não passasse por um processo de simbolização, canalizando a linguagem para a manifestação de um mal absoluto que impede a operação associativa da metáfora. Sobretudo no que concerne ao abjeto, se os limites da representação são elididos a obra perde seu teor de arte59. Movendo-se em tais meandros, os trabalhos de La Capra e Flora Sussekind aqui mencionados apontam para um leque semelhante de inquietações de cunho ético-literáriohistoriográfico. Particularmente, o que Flora considerou como efeitos perniciosos do neorealismo ou da má incorporação das formas da reportagem pelo romance, resultando na descrição das minúcias do horror, como ela disse, demonstram apreensão com um processo de criação-recepção literária que pode embrutecer, em vez de sensibilizar. No entanto, a tendência ao realismo e ao documental é característica da tradição literária de testimonio e do teor testemunhal, mediante os quais a experiência histórica encontrou expressividade no seio da literatura latino-americana, conforme mostrou Seligmann60. O trabalho de Renato Franco, sobre o romance brasileiro das décadas de 60 e 70, segue nesta direção, divergindo, por conseguinte, de críticas como a de Sussekind em diversos pontos. Em especial no que se refere à interpretação do livro Em Câmara Lenta, de Renato 57 Carta a Hans Bender, reproduzida em Cristal, p.165-166. Segundo Traverso, Celan participou com certo entusiasmo das manifestações de maio de 1968, em Paris, onde morava, acompanhado por seu filho e cantando a Internacional em várias línguas. Seu débil fio de esperança parece ter-se rompido em abril de 1970, quando o poeta se suicidou nas águas do rio Sena. Idem, p.179. 58 Cf. SELIGMANN-SILVA, “O testemunho: entre a ficção e o ‘real’”, in: op.cit., p.382-384. O assunto foi tratado no cap.1, acerca do conceito de testemunho do autor. Para uma discussão sobre o compromisso ético da historiografia, em uma outra chave teórica (entre a hermenêutica de Ricoeur e a 3ª geração da Escola de Annales), ver VIEIRA, B.M. Poesia e História: diálogo e reflexão. ArtCultura (Dossiê História e Poesia), Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia/Instituto de História. v.7, n.10, jan./jun. 2005. p.7-21. 59 Cf. SELIGMANN-SILVA, idem, p.82. Esta problematização é aplicada à filmografia do Holocausto, quando os críticos comparam, p.ex., o cinema de Alain Resnais, Marcel Olphus, Chris Marker e Claude Lanzman, que se recusam a mostrar imagens de documentários, substituindo-as por palavras ou registros indexais, e aqueles que apresentam a imagem sem depuração. 60 Cf. o assunto no cap.1 a partir de SELIGMANN-SILVA, idem, p.34-35 e 83-85 e PENNA, Camillo, neste mesmo livro de Seligmann, pp.355-374. 312 Tapajós, a diferença é clara: para Flora, este era exatamente o exemplo da narrativa diluidora, porque detalhada e explícita, a ser evitada pela literatura. Para Franco, porém, trata-se de uma escrita que tem a tarefa de lembrar acontecimentos dramáticos tornados quase inverossímeis por sua natureza, absurda e bárbara: a execução de sua companheira Aurora, sob tortura, sua impotência na prisão e o simultâneo desmoronamento do projeto político revolucionário que acalentavam. Assim, as minúcias do livro se referiam à narração repetida, como um flash back cinematográfico em câmara lenta, do núcleo do trauma – a morte de Aurora – por um sujeitoautor incapaz de enfrentar a dimensão da dor, bem como de entender a cadeia de fatos que culminou naquilo, sendo a repetição a tentativa de assimilar e representar a intensidade de uma experiência dolorosa que carece de significação. A despeito de tudo, urge comunicar que algo de fundamental ocorreu, e que precisa ser registrado por correr o grave perigo de ser esquecido ou apagado da história61. De certo modo, os dois autores parecem ter razão, alicerçada sua argumentação em prismas distintos. O teor testemunhal justifica as motivações e o caráter literário particular do texto, mas não subtrai os riscos estéticos apontados por Flora. Há que se pensar se a “solução” do problema reside na busca de “voz média” barthesiana, discutida por La Capra62, como tom adequado para tratar de acontecimentos traumáticos. Neste caso, seria interessante discutir se o poema “Réquiem para uma Aurora de carne e osso”, dedicado a esta triste história por Alex Polari, adequa-se ou não a esta classificação...63 De todo modo, para a historiografia, os testemunhos e testimonios são importantes como fontes, podendo prescindir de qualidade estética, embora seja crucial que o historiador saiba discernir em suas fontes literárias/artísticas os limites entre estetização grosseira e elaboração do trauma, o que não é tarefa fácil. Mas, porque influi em suas conclusões, tal avaliação é necessária, exigindo da historiografia um alargamento de suas fronteiras em 61 FRANCO, R. Literatura e catástrofe no Brasil: Anos 70, in: SELIGMANN-SILVA, História, Memória, Literatura, pp.355-374. Esta discussão está nas p.364-366. Cabe lembrar que Renato Tapajós é cineasta, de onde o recurso cinematográfico na narrativa. Seu depoimento encontra-se no livro de Freire, Almada e Ponce, sobre as memórias dos presos políticos do presídio Tiradentes. O assassinato de Aurora é mencionado no relatório Brasil: nunca mais. 62 O autor discute a proposta de Barthes para uma “voz média” como modo adequado de falar do sofrimento humano, mas redargúi também que muitas vezes os excessos, as formas hiperbólicas, antitéticas à voz média, são imprescindíveis para a elaboração do trauma. Cf. LA CAPRA, op.cit., p.91. 63 “AURORA/perseguida/quase linchada/AURORA torturada/AURORA militante/da manhã/da noite/e das tarefas/AURORA literal e metaforicamente/assassinada/AURORA/nome de companheira/e de palavra de ordem.//Na sala de tortura/te estraçalharam o crâneo/com o capacete de Cristo/mas o furor deles/as trevas deles/não serão capazes de impedir/o surgimento de novas AURORAS/hoje clandestinas.” Em Inventário de cicatrizes, p.53. Polari não era infenso às preocupações estéticas, como mostra seu poema “Escusas poéticas – II”, p.47, onde responde às “reclamações” críticas e políticas de companheiros de prisão sobre sua poesia. A última estrofe é reveladora das angústias que permeavam a relação entre poesia e política na época: “Quanto às outras críticas,/o que posso dizer é que a falta de lógica de meus sentimentos/não acompanha a lógica dos manuais de dialética/e que minhas intenções e objetivos/nem sempre correspondem à minha vida real”. 313 direção à arte, como propunham Benjamin e tantos outros autores desde então64, pois esta é uma das poucas maneiras – senão a única e se é que ainda há tempo – de fazer dos documentos de barbárie também um documento de cultura. 7.3. Da (im)possibilidade de esquecer e lembrar “aquele gosto/aquele cheiro/aqueles gritos/estes permanecem/calados lá dentro/colados numa memória essencial” [...] Retomando o poema “Recordações do Paraíso” de Alex Polari, estes versos remetem à vasta discussão da dialética memória-esquecimento que é parte integrante da voz testemunhal e da dinâmica política das sociedades. A noção de se ter vivido uma experiência indelével e possuir uma memória que não se apaga – “sem intervalos possíveis/vale dizer, definitivos” – e com a qual, direta ou indiretamente, o sujeito terá que lidar sempre, ainda que preferisse esquecer, é característica da dinâmica traumática. Para quem viveu experiências deste tipo, como já discutido anteriormente, configura-se um duplo movimento em que, ao mesmo tempo em que é preciso esquecer o ocorrido, pois o ônus dessa lembrança é pesado demais, é também necessário lembrá-lo e dizê-lo, justamente porque é apenas mediante a memória e a expressão que a elaboração do passado doloroso se fará, trazendo o almejado alívio. Ademais, no que diz respeito ao trauma histórico principalmente, o fato de lembrar e registrar, mostrando ao mundo uma experiência inimaginável que contudo foi vivida, a despeito da maior ou menor receptividade que se obtenha, permite ao indivíduo ir recompondo sua memória e sua história, ameaçada de inverossimilhança por ter sido feita de acontecimentos até então inconcebíveis, segundo os cânones sociais de sua época. O testemunho, fragmentado e confuso que seja, obriga o mecanismo de reconhecimento social a se modificar e, conjuntamente, transforma a concepção e a escrita da história, levada a incorporar aquela memória e o substrato histórico que a gerou. Alguns poemas de Alex Polari, como “Cemitério de Desaparecidos” e “Cardume de Mortos”, operam desta maneira, isto é, trazem o teor testemunhal-poético que busca relatar, registrar e repetir, como que para se convencer e convencer a todos da inacreditável história 64 Ver SELIGMANN-SILVA, Catástrofe, história e memória em Walter Benjamin e Chris Marker: a escritura da memória, op.cit., pp.391-418. O autor considera que as formas da historiografia tradicional, positivista ou representacional-mimética, já não dão conta do mundo a historiar, pois as catástrofes contemporâneas produziram um corte na história-experiência, tornando-a em estilhaços. Para lidar com as ruínas que sobraram, é preciso novas formas historiográficas, que, como o catador de trapos de Benjamin, possam recompor imagens, carregadas de tensões, a partir dos restos. Para ser capaz de tratar do choque e do trauma, mantendo uma força ética e política, a historiografia precisa assimilar princípios da memória e da arte, como procura fazer este autor. 314 dos corpos de militantes políticos que foram clandestinamente jogados ao mar pelas forças militares da repressão, sem qualquer registro de seus nomes ou trajetórias, que hoje apenas o oceano poderia dizer: [...] Faz silêncio nesse cemitério marítimo onde o ritmo das ondas não ocasiona nenhuma paisagem apenas afaga vagamente uma planície de fantasmas submersos que mal se localiza ou adivinha. [...] São nossos mortos decerto com os rostos ainda crispados de tortura em cujo leito de sargaços e anêmolas [sic] as algas já não rimam com seus próprios algarismos nada corresponde a mais nada tamanha a desproporção do que foi sentido do instante de despencar do céu até o momento do impacto. [...] até afundar, sempre afundar, afundar tão fundo e tanto que a impressão que se tem é que continuam afundando apenas para manter nossa ilusão de retê-los ainda em vida? [...] Vocês que passeiam por praias desertas por favor, ouçam com atenção qualquer ruído, o barulho de um corpo no mar é assim como o estalar da asa de uma mariposa muito frágil.65 Uma planície de fantasmas submersos soaria a realismo fantástico ou ficção científica, não fosse a triste verdade que veio a transformar o sentido das águas, de paisagem rítmica em silencioso cemitério. O mar já não é o mesmo. O poeta exorta aos que “perambulam pelos mares e pelo oceano” que o percebam e “prestem atenção a tudo que de sua entranha aflore: algum sinal, víscera, qualquer indício estranho”, que não são restos de navios de piratas (outra imagem recorrente em Polari), mas tesouros outros, resquícios de um mundo sonhado que desapareceu antes de se realizar, pagando o preço de uma dor tão incomensurável (“tamanha a desproporção do que foi sentido”) que desarticula toda coerência e correspondência possível, sem rimas que possam restabelecê-las: as algas já não encontram seus alga-r-ismos, como na matemática os números corresponderiam aos dados do mundo, e nas teorias (“ismos”) o 65 “Cardume de mortos”, in: Camarim de Prisioneiro, p.89-90. O poema “Cemitério de Desaparecidos” pertence a Inventário de cicatrizes, p.50: “Fala-se à boca miúda/nos corredores do Cisa,/Cenimar e Doi/que a Vanguarda Popular Celestial/(como eles denominam o local que os/guerrilheiros vão depois de mortos)/está sediada em algum ponto da Restinga de Marambaia./É lá que os corpos dos militantes presos/são jogados à noite de helicóptero: [...]” 315 pensamento e as palavras tratariam das coisas. Ainda assim, para não perder o fio da memória66 que possa conferir algum sentido à existência pessoal e coletiva, o poema realiza uma sorte de testemunho secundário, relatando uma experiência que não foi vivenciada pelo autor, mas que este soube e imaginou, por meio de um exercício de alteridade que pergunta em vários versos como aquilo pode ter ocorrido e o que teriam sentido aqueles que o viveram e não podem mais recordar e contar. A imaginação poética que os mantêm continuamente afundando, para alimentar a ilusão “de retê-los ainda em vida”, efetua de fato um movimento de construção de memória: pôs em uma garrafa ao mar, como pensava Celan, seu canto de réquiem, com a função de registrar para o futuro o que não pode ser esquecido, e nem de todo lembrado, cabendo à sociedade e à historiografia um cuidado muito especial, capaz de atentar para acontecimentos tão sutis quanto “o estalar da asa de uma mariposa muito frágil”. Sem embargo, não são corpos ao mar que fazem este ruído: é todo um espírito, um projeto de vida, país e mundo, toda uma dimensão da cultura brasileira que submergiu no cemitério marítimo – o ruído de asa quebrada é seu resquício e memória. Exatamente por essa fragilidade, é necessário que se diferenciem as lacunas necessárias da memória das disputas sócio-políticas em torno da dinâmica coletiva de lembrar-esquecer. É sabido que, à imagem da rede, a memória se faz de uma tessitura de fios e vazios, indispensáveis por definição, ao processo de armazenagem, seleção e reorganização de vestígios, como fragmentos de lembranças que são mobilizados pela recordação67. Se assim não fosse, ter-se-ia um continuum de momentos passados que impediriam o presente e o futuro e, por conseguinte, o próprio processo mnêmico. A questão que se coloca desde este ponto, acerca dos limites entre lembrança e esquecimento, tem sido longamente discutida, 66 O processo da memória é quem tece o fio que liga o passado ao presente e ao futuro, garantindo sentido aos movimentos dos sujeitos na história, permitindo a construção das identidades pessoais e grupais. Paolo Rossi mostra como a questão da memória/esquecimento foi recentemente retomada tendo como motivações, individuais e coletivas, o medo da descontinuidade que o esquecimento provoca e a busca de uma continuidade temporal que, podemos acrescentar, garanta um senso de identidade ou um fio de sentido para a história: “l'attuale, quasi spasmodico interesse per la memoria e per l'oblio è legato al terrore che abbiamo per l'amnesia, alle sempre nuove difficoltà che si frappongono ai nostri tentativi di connettere insieme, in un qualche accettabile modo, il passato il presente e il futuro.” ROSSI, P. “Ricordare e dimenticare”, in: Il passato, la memoria, l’oblio: sei saggi di storia delle idee. Bologna: Il Mulino, 1991, p.13-34. Citação na p.24. 67 Para esta imagem da memória como rede, Cf. VIEIRA, B. Itinerários da memória na poesia de Manuel Bandeira. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). Instituto de Letras, UFF. Niterói, 1997. [mimeo]: “enquanto releitura e reescritura, a memória é construção social, relação historicamente tecida, cujo espaço simbólico é a interseção, o cruzamento de vetores individuais e coletivos, isto é, constrói-se memória pelo entrecruzamento de agentes, de temporalidades, de espacialidades; entrecruzamento do oral e do escrito; do passado e do futuro; de acaso e intenção; de registro e ocultação. Envolvendo elementos conscientes e inconscientes, valores e pulsões, alterações e obliterações de fatos, signos e silêncios, a memória é uma rede cujos fios são constituídos de lembranças e perspectivas individuais e coletivas, indissociáveis de lacunas feitas de esquecimento e de ausência de significação. Esta rede, pedra de toque do conhecimento histórico, é fator essencial também ao discurso ficcional e poético.”, p.28. 316 com constantes referências a Nietzsche, por sua concepção do peso de um “excesso de história” no mundo moderno, e ao personagem Funes, de Jorge Luis Borges, que por ser incapaz de esquecer qualquer detalhe ou diferença, tornava-se incapaz de pensar – o que exige generalizações e abstrações, portanto, esquecimento de particularidades – e quedava imobilizado por um passado sempre presente. No entanto, se para a modernidade é necessário “lembrar de esquecer”, como condição do movimento de superação da força das tradições, sem o qual os aspectos da cultura moderna não se teriam afirmado, é mister igualmente “não esquecer de lembrar”68, porque além de dimensões culturais importantes terem ficado soterradas por este movimento – acarretando consigo a tendência de declínio da memória coletiva e da consciência do passado, contra a qual autores como Benjamin tanto lutaram –, somaram-se a isto os muitos processos contemporâneos de violação da memória, realizados em diversos países e de numerosas maneiras, seja pela mentira deliberada, pela reinvenção de passados idealizados ou míticos, pela deformação de fontes e destruição proposital de arquivos, pelo tráfico de documentos, pelos “apagamentos de arquivos” vivos (pessoas assassinadas por “saberem demais”), pelo revisionismo histórico que, intencional ou ingenuamente, rende-se a variadas armadilhas ideológicas. O cerne da questão, portanto, não reside na disputa entre lembrar e esquecer, mas sim entre o que se lembra e o que se esquece, e quais os critérios para esta dinâmica. Os problemas da memória na história contemporânea européia, especialmente a literatura e a historiografia italiana e alemã acerca do nazifascismo, têm contribuído como base de reflexão para a compreensão das ditaduras militares latino-americanas. Mantidas as devidas diferenças, evidentemente – os regimes dessas ditaduras não se caracterizam como fascistas, nem tampouco houve na região um processo de disciplinamento de mesmo teor, havendo o Estado induzido a população à obediência mais propriamente pelo medo –, a comparação é factível em razão do caráter traumático que todos estes regimes apresentam nas histórias de seus respectivos países69. Nas palavras de Bruno Groppo: 68 Este jogo de expressões é de Seligmann, que discute o problema aqui tratado em “Reflexões sobre a Memória, a História e o Esquecimento”, op.cit., p.59-89. O autor conclui pela consideração de que uma nova ética e estética da historiografia se pôs em curso em virtude da memória, uma vez que “a historiografia sobre Auschwitz e a sua metarreflexão têm-nos ensinado a cada dia a impossibilidade de segmentar radicalmente os campos da história e da memória. Nesse sentido, ela é paradigmática. Graças a ela desencadeou-se um processo de revisão crítica dos dogmas centrais da historiografia positivista advindos do século XIX, processo este que já havia sido iniciado com as obras de eminentes autores, tais como Nietszche, Bergson, Proust, Joyce, Maurice Halbwachs e Walter Benjamin.”, p.69. Sublinhe-se que a revisão crítica de que fala o autor não é o mesmo que o revisionismo histórico abaixo mencionado. 69 Cf. GROPPO, B. op.cit., p.26 e 30-39, e no mesmo livro Patrícia FUNES, Nunca más: memoria de las dictaduras en la América Latina, p.43-46. 317 Qualquer sociedade confrontada com um passado trágico e difícil de assumir desenvolve mecanismos de inibição, esforçando-se por esquecer os acontecimentos e as experiências cuja evocação provoca sofrimento e ameaça sua identidade, sua auto-estima ou seu equilíbrio. Voluntária ou involuntariamente, tenta arrancá-los de sua memória. Amiúde o logra, mas somente por um certo tempo, mais ou menos longo, depois do qual o passado reprimido volta à superfície. Não existe, com efeito, uma técnica ou uma arte do olvido que permita apagar voluntária e definitivamente uma parte do passado, ao passo que existem, desde a antiqüidade, técnicas de memória que ajudam a recordar.70 Realizando um estudo comparativo da Alemanha após o nazismo e da França após o governo colaboracionista de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial, bem como após a Guerra da Argélia71, com os processos de redemocratização das sociedades americanas do Cone Sul, Groppo observa o papel essencial tanto de lembranças quanto de esquecimentos compartilhados na constituição da memória coletiva requerida à identidade grupal e nacional. Este processo de constituição, longe de consistir em campo neutro, é um âmbito privilegiado de embate de memórias/esquecimentos contrapostos, em que cada grupo social tenta fazer valer sua leitura do passado, disputando lugares, objetos e datas comemorativas que dêem o suporte físico necessário à materialização ou objetivação da memória. A experiência européia indica a impossibilidade de um total olvido social, isto é, uma sociedade não consegue esquecer pura e simplesmente acontecimentos traumáticos e, cedo ou tarde, acabará por se confrontar com eles. Este “retorno do recalcado” só é superável quando o passado se converte totalmente em passado, o que não ocorre pela recusa em se lidar com eventos ou lembranças dolorosas, mas, ao invés, mediante a apropriação do que se passou até o restabelecimento da verdade, o que também se pode chamar de elaboração social do trauma. Contudo, como a sociedade que tenta recusar o passado e aquela que se vê às voltas com seu retorno não são iguais – pois, transcorrido o tempo, novas gerações cresceram, figuras importantes morreram e os problemas já não são exatamente os mesmos –, observam-se fases ou ciclos de memória social, em que se alternam períodos mais quietos e mais agitados, 70 “Cualquier sociedad confrontada con un passado trágico y difícil de asumir desarrola mecanismos de inhibición, esforzándose por olvidar los acontecimentos y las experiencias cuya evocación provoca sufrimiento y amenaza su identidad, su autoestima o su equilíbrio. Voluntaria o involuntariamente, intenta arrancarlos de su memoria. A menudo lo logra pero solo por um cierto tiempo, más o menos largo, después del cual el pasado reprimido vuelve a la superficie. No existe, en efecto, una técnica o um arte del olvido que permita borrar voluntaria y definitivamente una parte del pasado, mientras que existen desde la antigüedad técnicas de la memoria que ayudan a recordar.” GROPPO, idem, p.31. O autor anota que a anistia, ao impor um esquecimento oficial, não pode, porém, apagar a recordação. A irrupção da memória nos países do Cone Sul após as ditaduras militares tem, segundo o autor, três motivos básicos: a natureza dos crimes cometidos, contra a humanidade, pelo Estado; a importância crescente do tema dos Direitos Humanos em âmbito internacional; a “obsessão da memória” que se vê desenvolver em todas as sociedades ocidentais, como um fenômeno central desta época, marcada por um nível tal de violência que a constituiu como “era dos extremos”. Cf. ibidem, p.20-21. 71 Esta, em especial, tem relações diretas com a história das ditaduras latino-americanas, uma vez que a doutrina militar francesa, acumulada durante os conflitos do Vietnã e da Argélia, prevendo o recurso à tortura e ao desaparecimento de pessoas, exerceu influência significativa na formação de quadros militares na Escola das Américas. Cf. ibidem, nota 50, p.34. 318 conforme fatores externos ou especificamente nacionais reativem os debates, ou ainda um “rio subterrâneo” remonte à superfície. A história européia ensina também que são imensas as dificuldades para uma sociedade encontrar soluções satisfatórias depois da experiência traumática72 de um regime ditatorial e violento. Dos confrontos entre os setores que querem esquecer e os que precisam lembrar aos problemas suscitados por anistias não consensuais, passando pelos grandes tribunais de justiça e pela denúncia e definição dos crimes perpetrados, até hoje não se encontraram boas soluções, mas apenas, quando muito, o menor dos males. Sem embargo, ainda que todas “guerras de memória” estejam orientadas em direção ao futuro, disputando o tipo de sociedade que se deseja construir, a memória das vítimas ocupa um lugar especial na medida que é a única totalmente interessada no estabelecimento da verdade, impulsionando a sociedade a olhar o passado de frente, portanto a evitar que ele se repita, a criar políticas de memória e processos de reconstrução de sentidos, que significam, inclusive, dinâmicas de ressemantização da linguagem a respeito de termos que, ao longo do período ditatorial, passaram a designar conteúdos distintos, por grupos distintos (como revolução, governo, golpe, ditadura, nação etc.).73 Este é o quadro em que se têm produzido os movimentos políticos pela memória e os testimonios literários na América Latina. Na Argentina, é exemplar o caso das mães e avós da Praça de Maio que, girando por tantos anos em torno do obelisco, em frente ao palácio de governo, pedindo explicações sobre seus filhos desaparecidos, trouxeram para a dimensão simbólica e pública a questão quase irrepresentável da dor, da vida e da morte74, obrigando a sociedade argentina a representar um passado não oficial e a se modificar. Algo de semelhante envergadura social não ocorreu no Brasil, a despeito de algumas iniciativas importantes de recuperação de testemunhos e das memórias da ditadura militar. Se na Argentina alguns intelectuais se preocupam com o que consideram um certo exagero memorialístico ou vingativo75, no Brasil a tendência inversa não parece ter efeitos menos perniciosos, uma vez 72 Cf. as duas conclusões, ibidem, p.38-39. Cf. ibidem, p.39-40 e FUNES, op.cit., p.56. 74 Cf. MAIA, Marisa, op.cit., p. 159. A autora trabalha a partir de considerações de G.G. Reinoso (Le psychanaliste sous la terreur), para quem as Mães e Avós tornaram gradualmente uma dor privada em dor pública, inscrevendo-a no campo simbólico-social. 75 Para Patrícia Funes, a “voracidade memorialista” em relação ao passado recente que se assiste hoje naquele país “não necessariamente supõe uma profunda reflexão social que contribua a uma ação decididamente superadora do autoritarismo e da intolerância. Às vezes, inclusive, se logra o efeito contrário, ou seja, a trivialização por repetição”, embora essa “explosão memorialista” seja também ela fruto das limitações e pendências do tema dos direitos humanos e da recuperação da democracia política. Cf. op.cit., p.54. Em recente entrevista, Beatriz Sarlo discute a questão em outro viés: a dimensão jurídica dos testemunhos pessoais foi fundamental para provar os crimes cometidos pelo Estado, quando todas as outras formas de prova haviam sido 73 319 que a ausência de um amplo debate social obstaculiza o trabalho da memória e o processo de elaboração da dor por parte de grupos e indivíduos e, por conseguinte, traz questões especiais para a pesquisa e escrita da história. A este respeito, é bastante elucidativa uma declaração de Ivo Herzog, filho mais velho de Vladimir Herzog – jornalista e membro do PCB morto sob tortura no DOI-CODI de São Paulo, em outubro de 1975 –, em que revela um choque emocional tão grande que deixou seqüelas em sua memória e comportamento por longo tempo: Eu tive um problema que não sei bem o que foi, agora estou fazendo análise. Parece que depois que meu pai morreu eu entrei numa depressão muito forte. Os médicos nunca fizeram um diagnóstico preciso, mas hoje parece que tudo não passou de uma grande depressão. Perdi muito peso, era muito introvertido [...] Estou descobrindo 76 que talvez [a depressão] tenha durado trinta anos. Tal declaração aponta para os processos de medusamento social e conseqüente turvação da transmissão histórica, no Brasil, que se desvelavam também mediante a poesia, conforme se viu no capítulo anterior. De fato, tais processos não afetam apenas a geração que experimentou o ato traumático, mas também as seguintes, pois, como mostra o trabalho da EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial), as afetações dolorosas possuem caráter multi e transgeracional, ou seja, a situação traumática incide tanto sobre os que a sofreram diretamente, como sobre o conjunto do corpo social, com as várias gerações que o compõem, e a elaboração dos lutos, quando não realizada por uma geração, permanece pendente para as que se sucedem77. Uma vez que são afetados os sistemas de valores, destruídas, não havendo, portanto, discussão sobre este ponto. Mas isto não exclui os problemas típicos da memória – “todo tipo de manobras, os gêneros literários, a ideologia e os interesses em jogo”, motivados pelas batalhas político-culturais do presente – nem exime a sociedade de discutir também a violência revolucionária. Sobretudo, o testemunho tornou-se, como manifestação contemporânea tanto da cultura letrada quanto de massas, uma forma de excessiva legitimação da primeira pessoa na construção historiográfica, configurando uma “era do depoimento” que traz numerosos problemas à intelectualidade, aos historiadores em especial. SARLO, B. A história sou eu. Folha de São Paulo, São Paulo, 8 abr. 2007, Caderno Mais!, p.8. Entrevista a Sylvia Colombo. 76 HERZOG, Ivo. Filho de Herzog revela depressão e revolta. Folha de S.Paulo, 23 out 2005, p.A12. [Entrevista a Ricardo Melo]. É interessante observar como o trauma pode dificultar também a percepção ou compreensão de fatos aparentemente óbvios ou socialmente reconhecidos: Ivo diz, p.ex., que só há dois ou três anos lhe “caiu a ficha” (entendeu) que o pai era filiado ao PCB, embora existissem reportagens e livros a respeito, além de amigos à volta que lhe poderiam contar a história. Acerca da anistia – que no Brasil deixou os torturadores impunes – sua postura é conciliadora, seguindo a tendência geral: “É difícil, mas você tem que levar em conta o bem maior, e no caso a anistia era esse bem maior. Outra coisa que temos que lembrar é que as pessoas que torturaram eram operários de uma linha de produção, não eram diretores da fábrica. O importante é entender por que aquelas coisas aconteciam”. Num viés distinto, um dos filhos de desaparecidos argentinos declara: “não quero desaparecer eu também. Há muitas formas de desaparecer”, o que também indica a diferença das duas sociedades, brasileira e argentina. Ver NIETOS, vídeo produzido pela associação das Avós da Praça de Maio e pelos H.I.J.O.S. (Hijos Identificados por la Justicia y contra el Olvido Social), Buenos Aires, apresentado no painel História e memória na América do Sul, no Seminário Desafios da Integração Sul-Americana, CFCH/UFRJ, Rio de Janeiro, 26 mai. 2006. 77 Cf. KORDON, D.; EDELMAN, L.; LAGOS, D. et al. (EATIP - Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial). Memoria e Identidad: Trauma social y psiquismo. Afectación inter y transgeneracional. Construcción de redes biológicas y sociales. Buenos Aires, fevereiro 1999, pp.1-16. Disponível em: 320 resultam disto dinamismos éticos, semânticos e psíquicos, no sentido de uma crise da identidade individual e coletiva, desdobrando-se em uma tendência à des-historicização e à desvalorização da experiencia histórica enquanto tal: O traumático infecciona e modifica, às vezes estruturalmente, os sistemas de valores, mitos, fantasias e crenças no âmbito pessoal, familiar e social, e se articula com os ideais e cadeias de significação predominantes socialmente. […] O impacto do ocorrido fica instalado como um corpo estranho. Em alguns casos, as respostas que o sujeito tenta implementar entram em conflito com seus sitemas de valores. A pessoa entra assim em crise com relação à auto-estima ou à sua identidade em geral.//Seja então pela violência, massividade ou destrutividade da ação traumática, ou pelo que há de inaceitável para o próprio eu nas respostas implementadas, uma parte das vivências não é metabolizada e resta silenciada, para o próprio sujeito, que a repudia e repudia também esta parte de si mesmo e da história, que portanto permanece incomunicada.78 Assim, lembrando que tudo aquilo que acontece com o indivíduo é fruto de um cruzamento de dimensões pessoais e sócio-históricas indissociáveis, há experiências da década de 70 que a historiografia brasileira ainda precisa incorporar, em nome de uma melhor compreensão que possa ter sido a vida naquele período. Há gostos, cheiros, gritos e sutilezas “colados a uma memória essencial”, como diz o verso de Alex Polari, que aguardam o reconhecimento de sua dimensão de testemunho para que lhes seja conferido aquilo que Pierre Nora chamou de “a dignidade virtual do memorável”79. Ainda que esta experiência seja a da mais profunda perplexidade, como atestam os versos de abertura do poema “Inventário de Cicatrizes”80, indicando o quanto o plexo daquela geração foi perpassado – dos que, “de Bonsucesso a Amsterdan” espalhados, “estão marcados” por “pálidas cicatrizes/esmanecidas pelo tempo/bem vivas na memória envoltas/em cinzas/fios cruzes/oratórios” e “se demitiram do direito da própria felicidade futura” – e, com ele, a cultura brasileira e, com ela, dimensões fundamentais da Cultura com “c” maiúsculo: Estamos todos perplexos à espera de um congresso dos mutilados de corpo e alma. <http://www.eatip.org.ar/> Acesso em: 30 jul. 2006. Agradeço a Vera Brasil, do Grupo Tortura Nunca Mais, esta indicação. 78 Ibidem, p.10: “Lo traumático infisiona y modifica, a veces sustancialmente, los sistemas de valores, mitos, fantasías y creencias en el ámbito personal, familiar y social y se articula con los ideales y cadenas de significaciones predominantes socialmente. […] El impacto de lo ocurrido queda instalado como un cuerpo extraño. En algunos casos las respuestas que intenta implementar el sujeto, entran en conflicto con sus sistemas de valores. La persona entra así en crisis en relación a la auto estima o a su identidad en general.//Ya sea entonces por la violencia, masividad o destructividad de la acción traumática o por lo inaceptable para el propio yo de las respuestas implementadas, una parte de las vivencias no son metabolizadas y quedan silenciadas, para el propio sujeto, que las repudia y repudia también esa parte del si mismo y de la historia, que por o tanto permanece incomunicada.” 79 NORA, Pierre. “Entre memória e história: a problemática dos lugares”, p. 28. 80 POLARI, Inventário de cicatrizes, p.51. Os versos destacados abaixo são o terceto de abertura do poema. Conclusão: Mudança de Voz e Perplexidade (1977-1979...) eu não sou eu nem o meu reflexo especulo-me na meia sombra que é meta de claridade distorço-me de intermédio estou fora de foco atrás de minha voz perdi todo o discurso minha língua é ofídica minha figura é a elipse (“Metassombro”, Sebastião Uchoa Leite) A relação entre poesia e experiência histórica que aqui se procurou caracterizar, entre 1968 e 1977, sofreria inflexões a partir desta data aproximadamente, acompanhando as modificações no contexto histórico, especificamente político, sempre na forma dialética como literatura e realidade interagem. A crise econômica e a conseqüente crise de legitimação da ditadura militar levaram à gradual liberalização do regime, o denominado processo de “distensão” política, em que o grupo no poder conduziria as rédeas da “abertura lenta, segura e gradual” do regime sob o governo do general Geisel, não sem antes garantir a total destruição dos últimos focos clandestinos de esquerda, formados pelo PCB e PC do B; instituir a Lei Falcão que acabava na prática com a propaganda eleitoral gratuita na televisão, prejudicando o avanço da oposição legal; criar o “pacote de abril” de 1977 que cassava líderes moderados, impunha a figura do “senador biônico”, significando que 1/3 dos senadores seriam eleitos indiretamente, e redimensionava os coeficientes eleitorais de modo a beneficiar os estados federativos de maior apoio ao partido governista. Deste modo, garantia-se estabilidade para suspender gradativamente a censura e para uma sucessão tranqüila, por parte do general João Batista Figueiredo, responsável pela continuidade da “abertura” e pela condução da controvertida anistia recíproca. Mas se propiciara espaço para que as reivindicações que se encubavam reprimidamente desde o princípio da década aflorassem em torno de 1976-77, ensejando o início de um processo de criação de alternativas de participação popular. Estas se deram por meio das Associações de Moradores e Sociedades de Amigos do Bairro, que proliferaram em todo o país a partir de 1976; das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) vinculadas a setores progressistas da Igreja Católica; da atuação clandestina de organizações da sociedade civil, 322 que futuramente seriam denominadas Organizações Não-Governamentais (ONGs); do ressurgimento dos protestos estudantis em 1976-77 e a reorganização da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1979; da organização dos Comitês de Anistia, pedindo contas à ditadura, lutando pela desmobilização dos aparelhos repressivos e por uma anistia ampla, geral e irrestrita; da onda de greves na região do ABC paulista nos anos de 1978-79, quando surgiria um novo tipo de movimento operário. A trajetória desta abertura, porém, foi marcada por avanços e recuos, a cada passo das manifestações de oposição correspondendo um ato fortemente autoritário, resultando em nova vaga de operações repressivas entre 1975-79. O controle e desautorização da polícia política e da comunidade de segurança só se deu após os assassinatos sob tortura do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho, em São Paulo (1975), nas dependências do DOICODI, quando houve a demissão do comandante do II Exército, general Ednardo D’Ávila e, posteriormente, do ministro do Exército, Sylvio Frota. O propagandeado patrocínio do Estado à abertura política encobria a pressão das reivindicações sociais e a resposta repressiva por parte do governo. Estes novos atos de força, contradizendo as intenções de normatização institucional, provocaram forte reação social, que passou a envolver, além dos grupos mencionados, a comunidade científica, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Embora heterogênea, esta reação culminou por obter ganhos, como a extinção do AI5 em fins de 1978 e a adesão de setores “liberais” da sociedade ao projeto de abertura, como saída desejável para o impasse político que se vivia no país. O fim do AI-5, ao repor algumas liberdades legais – fim da censura à imprensa, prisões regularizadas, habeas-corpus – e ao reduzir mecanismos excepcionais de controle do Executivo sobre o Congresso e a sociedade, propiciou melhor organização da frente oposicionista, que liderou uma ampla mobilização pela anistia política, mantendo debates, passeatas, comícios e manifestações parlamentares, malgrado os esforços de desunião das oposições intentados pelo governo Figueiredo. As pressões impuseram à linha-dura a necessidade de negociar a forma de viabilização da anistia, cuja Lei foi decretada em agosto de 1979, quando se iniciaria um lento processo de disputa pela interpretação do texto jurídico até hoje vigente, uma vez que os militares estenderam as cláusulas legais a toda a corporação, incluindo os torturadores, baseados na tese de que havia ocorrido no país uma guerra revolucionária, cujos dois lados caberia anistiar1. 1 Para o quadro contextual, cf. AARÃO REIS, Ditadura militar, esquerdas e sociedade, p. 65-73; e MENDONÇA e FONTES, op.cit., p.70-77. 323 A “nova poesia” da década de 70 ou poesia marginal se envolveu profundamente neste contexto de repolitização social, tanto em sua temática quanto na participação ativa de poetas nas associações, comitês de anistia etc., a ponto de em certa medida se “dissolver” aos poucos no discurso político mais direto, assumindo formas cada vez mais explícitas de exposição dos temas de luta por cidadania, redemocratização e direitos humanos, como se observava em novas antologias/grupos como Ebulição da escrivatura (RJ), Contramão (SP), Águas Emendadas (Brasília), entre muitos outros. Um quarteto de Samaral, poeta que se destacaria nos anos 80, fundador da revista Urbana, condensava o anelo coletivo: “Com as massas tudo/sem as massas nada/ou amassa tudo/ou não amassa nada”2. Nas palavras de Cacaso, todavia, “essa falta de especificação que dissolve numa mesma retórica os interesses do cidadão e do poeta, com prejuízo para este último, acaba por esvaziar de sentido político a atividade literária enquanto tal, e tudo em nome de um desejo de maior participação política do poeta...”3 Como se vê, a complexa relação entre experiência histórica e poesia continuava e continuaria repleta de contradições. Ocorria que as mudanças político-institucionais, sobretudo a partir de 1978, como diz Hollanda4, repercutiram no campo da produção cultural, onde papéis e espaços se redefiniriam, de maneira geral apontando para o deslocamento do lugar privilegiado que a literatura, as artes e sua crítica haviam ocupado, durante a ditadura, como arena por excelência de debates sobre a vida nacional. O circuito alternativo de poesia e cultura, da maneira como se configurara ao longo do decênio de 70, começaria a se diluir no início dos anos 805, tomando outros rumos, fosse com novíssimos personagens ou com os já conhecidos. Tal mudança de eixo, no entanto, aconteceria gradualmente e desde dentro da intensa movimentação poética que marcou os últimos anos da década de 70, quando proliferaram 2 Samaral já se tornara conhecido no PoemAção, realizado no MAM (RJ) em 1974, mas sobressai nos anos 80 e 90, quando organiza eventos artísticos no Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro. O tablóide Urbana – poesia fanzine foi transformado em revista em 1992. Este poema se encontra na edição comemorativa dos 15 anos da revista, e homenagem a Samaral, falecido pouco antes. Ver Urbana, n.22., ano 15, outono, Rio de Janeiro, 2001, p.104. 3 CACASO/BRITO, “Com a boca na botija”, in: Não quero prosa, p.83. Texto original de 1978. 4 Cf. HOLLANDA, “Depois do poemão”, in: GASPARI, HOLLANDA e VENTURA, op.cit., p.186-190; publicado originalmente no Jornal do Brasil, 13/12/1980. 5 Cf. SUSSEKIND, F. Literatura e vida literária., p.122. Na mesma direção, Mª Amélia Melo – coordenadora do Centro de Cultura Alternativa, organizado junto a RioArte (RJ) no início dos anos 80, que hoje se encontra na Editora José Olympio – avaliava: “a produção independente diminuiu bastante, já não se vê mais pessoas vendendo seus livros [...] na literatura há uma grande vazio, os suplementos literários acabaram. Há um grande marasmo, as pessoas estão perdidas, talvez pela mudança de contexto histórico”. Texto de 1983, em Perspectiva Universitária, citado por Leila Miccolis, que entretanto discorda de tal avaliação. Cf. MICCOLIS, op.cit., p.70. 324 antologias e grupos6, os ensaios críticos se avolumaram, juntamente com debates e seminários que abrigariam no meio acadêmico a “poesia marginal” – como na SBPC de 1978 –, a despeito das contradições deste gesto e de uma certa reclamação por parte dos poetas envolvidos. Já se organizara também uma espécie de “rede editorial alternativa” em diversos estados do país7, onde frutificavam e reverberavam aquilo que podemos chamar de acontecimentos poéticos: em várias cidades, varais de poesia expunham trabalhos de poetas independentes que encontravam nas cordas estendidas em ruas e praças um meio de acesso ao público na luta pela divulgação de sua arte. Em São Paulo, os grupos Pindaíba, Poesia e Arte, Poetasia e Sanguinovo realizavam diversos eventos, de espetáculo a passeatas, levando às ruas palavras-de-ordem poéticas: “interferir no marasmo urbano de São Paulo, estimular uma participação popular e, principalmente, abrir espaços e conquistar corações.”8 A frase indica, mais uma vez, o incômodo sensível contra a frieza de relações e o automatismo rotineiro da vida nas grandes cidades (o “marasmo urbano”), que resultavam na inação e alienação de boa parte da população, cuja não-participação nas atividades artísticas e políticas destoava, não apenas da tentativa de resistência dos poetas marginais, como também de todo o processo altamente participativo das décadas de 50 e 60, anteriores à ditadura militar. Dentre os eventos da época, destacou-se ainda, em 1977, a “I Feira de Poesia e Arte”, organizada por Cláudio Willer no Teatro Municipal de São Paulo, reunindo poetas do eixo Rio-São Paulo como uma forma de comemoração dos 55 anos da Semana de Arte Moderna. Mobilizando um grande número de escritores, leitores e curiosos – cerca de 8 mil pessoas, segundo estimativa de poetas e críticos –, a feira se realizou “em clima de alta tensão”, consistindo no grande acontecimento literário daquele momento9. A quantidade de eventos e manifestações revelava o imenso desejo de unir poesia e vida, intervindo no cotidiano e alçando-o em grau máximo à condição de matéria poética. Fechando a década, as manchetes dos jornais paulistas noticiavam uma chuva de poesia no centro da cidade de São Paulo. Integrantes do grupo Poetasia, por volta do meio-dia de 14 de dezembro de 1979, 6 Ver Quadros Informativos no Apêndice. Estas informações da movimentação poética do final dos anos 70 encontram-se principalmente nos trabalhos de Miccolis, Hollanda e Messeder Pereira. Ver resumo em Poesia jovem/Anos 70 (col. Literatura comentada) dos dois últimos autores. 7 A título de exemplo, ver as editoras Trote, Nuvem Cigana, Cais (RJ); Sanguinovo, Pindaíba, Taturana (SP); Noa Noa (SC); Beija-Flor (PR); Cemflores (MG); Bandavuô (PE); Corisco (PI); entre tantas outras listadas nos Quadros apresentados no Apêndice. 8 Citado por HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, Poesia Jovem..., p.7-8. 9 No mesmo ano, a Bienal de Artes Plásticas (SP) realizada em novembro, expunha a nova poesia, enquanto a vanguarda-processo organizava na cidade de Natal (RN) a Expoética 77. Em 1978, a mostra “Poucos e Raros” expôs no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP) uma retrospectiva da produção independente da década. No Rio de Janeiro, a Casa do Estudante Universitário promoveu a “Mostra Nacional de Publicações Alternativas” e a partir de 1979/80, Flavio Nascimento liderava na Cinelândia a “Feira de Poesia”, às sextasfeiras à noite, que teria a duração de alguns anos. Cf. Ibidem. 325 precipitaram do 43º andar do Edifício Itália 40 mil folhetos com poemas sobre a cidade. A tentativa de poetizar o cotidiano, como marca fundamental e fundante desta geração poética, saudava a anistia política e a esperança de novos tempos com o mais pressuroso gesto. À sua maneira, todos confirmavam os versos de Leminski: Ainda vai chegar o dia em que tudo que eu diga seja poesia Isto, sim, seria um milagre, a plena realização da arte num país de capitalismo periférico e tardio, sob a vigência de uma ditadura militar, na crise da modernidade! Mas o que se viu, infelizmente, foi o momento de maior repressão política sobre a poesia. Já em 1970, conforme relatado, o poeta Flavio Nascimento havia sido detido por vender folhetos poéticos na feira hippie e, em 1976, o primeiro número do Almanaque Biotônico Vitalidade, teve problemas de liberação pela Censura Federal10. O ano de 1978 foi, porém, o mais profícuo em efeitos repressivos: sofreram-nos os poetas Ulisses Tavares e Aristides Kafke, convidados a depor no DOPS de São Paulo para responder pelo Jornal de Poesias Populares e, em Brasília, Nicolas Behr foi processado judicialmente por “porte de material pornográfico”, tendo libretos seus e alheios apreendidos11. Behr presume que seu material de impressão foi confundido com um “aparelho subversivo”. Como militava contra a manipulação exercida pela cultura oficial em Brasília, recebeu provavelmente uma leitura perversa ou moral de seus poemas, cujo tom predominante é ironicamente ácido: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação diga ao povo que direitos direitos, humanos à parte eu sei que errei mas prometo nunca mais usar a palavra certa Também em 1978 responderam inquérito os membros do conselho editorial do jornal alternativo Lampião da Esquina (RJ), porta-voz de grupos sexuais estigmatizados, e no início de 1979 a imprensa noticiava que o Centro de Informações do Exército (CIEX) havia preparado um documento no qual analisava as causas e características da imprensa alternativa, com o objetivo de propor medidas indiretas que coibissem a atividade, tida como nefasta, da imprensa nanica contestatória, como a dos jornais Pasquim, Em Tempo, Movimento etc. que 10 A repressão sobre a poesia e imprensa alternativa é relatada por MICCOLIS, op.cit., p.60-63. Sobre Flávio Nascimento ver cap.4, e para a apreensão do Almanque, ver relato de Ana C. no cap.6. 11 Miccolis relata o episódio anedótico da detenção de Tavares e Kafke, que, defendidos por um advogado-poeta, Souza Lopes, viram ao final um dos investigadores tirar da gaveta um poema e pedir sua opinião! O processo contra Nicolas Behr provocou reações espantadas e repercussão na imprensa (ver Quadros no Apêndice). O poeta foi absolvido em 1979. Seu caso também é relatado por MESSEDER PEREIRA, Retratos de época, p.51. Para as outras informações, ver MICCOLIS, ibidem, p.62. Os poemetos a seguir foram extraídos de ambos. 326 deveriam ser atingidos por sanções econômicas, cujo efeito prático seria mais rápido do que ações judiciais12. A repressão diz respeito não apenas ao conteúdo e forma de apresentação daquela “cultura alternativa”, como também ao comportamento e ao modo de inserção dos artistas e intelectuais, especialmente os mais jovens, no recrudescimento do movimento estudantil e na mobilização política em geral. Embora pareça estranho que a vigilância aumentasse justamente no momento de “distensão e abertura”, os estudos de Carlos Fico demonstram que, diferentemente da censura de imprensa, que acompanhou as cassações de mandatos, suspensões de direitos políticos, prisões, torturas, etc., cujo auge se deu entre final dos anos 60 e início dos 70, a censura de diversões públicas teve sua fase mais punitiva exatamente no final dos anos 70, em virtude da politização ocorrida nesta esfera devido ao controle dos costumes, o que gerara embates entre os grupos mais conservadores da sociedade e aqueles que haviam promovido mudanças comportamentais13, entre os quais sobressaíam os poetas marginais. A maior repressão à poesia era condizente, portanto, com sua maior movimentação na linha “alternativa”. Mas este não era o único caminho seguido por aquela poesia. A literatura, que liderara uma espécie de heterogênea frente ampla de oposição à ditadura revelaria, no final da década, suas diferenças ideológicas, formais e comportamentais. Na verdade, o declínio do boom editorial de 1975, acompanhando a crise econômica e a descompressão política nos moldes mencionados, impunha mais obstáculos à edição autofinanciada e gerava maior adesão dos poetas às editoras convencionais ou melhor estabelecidas no mercado, como a Brasiliense (SP), que no início dos anos 80 veio a publicar trabalhos de Chico Alvim, Ana Cristina Cesar, Leminski, Alice Ruiz, Chacal e, posteriormente, Cacaso. Tal processo, que se realizaria com relativo sucesso de público, ampliado de quinhentos conhecidos para cerca de dez mil leitores, provocou à época novos debates sobre a “cooptação” ou “rendição” dos marginais, agora mais à indústria cultural do que ao Estado, cujas agências culturais não puderam manter o mesmo ritmo de absorção de artistas de meados da década. A autores como Leminski, contratado 12 Cf. MICCOLIS, idem, p.63-66. Noticiado, segundo a autora, em artigo de Evandro Paranaguá, no Estado de S.Paulo, 18/4/1979 e no Jornal do Brasil, 19/4/1979. 13 Cf. FICO, C. Versões e controvérsias..., op.cit., p.37-38. O autor afirma que essa distinção entre as duas formas de censura aponta “para a necessidade de maiores pesquisas sobre fenômenos não explicitamente políticos (em sentido estrito)” em vista de uma visão mais global do período, para o quê a poesia marginal ainda tem muito a contribuir: “Em relação à censura de diversões públicas, por exemplo, sobrelevam, evidentemente, os conflitos entre setores mais conservadores da sociedade de então e questões referidas às mudanças comportamentais (como o movimento hippie, a liberalização das práticas sexuais e as manifestações artístico-culturais das ‘vanguardas’). Do mesmo modo, a perspicácia da TV globo a levou a criar o inovador produto que foi a novela de perfil realista-naturalista retratando, sobretudo, a vida urbana nas grandes cidades brasileiras, gerando alguns dos maiores problemas de censura de costumes do período.” Idem, p.38. 327 como poeta-tradutor pela Editora Brasiliense, ou Flávio Moreira da Costa, que recebeu um “salário de romancista” na Editora Record, ou ainda Bernardo Vilhena que migrou da Nuvem Cigana para as letras de rock, contrapunham-se aqueles que tentavam manter uma conduta alternativa à maneira dos anos 70, como Glauco Mattoso com seus Jornal Dedo Mingo e Jornal Dobrabil. O sistema literário brasileiro vivia uma crescente industrialização que, ao lado do Estado-mecenas, promovia a afirmação da lógica de mercado e da espetacularização na esfera da cultura, dentro das quais se abriam as portas da tão ansiada profissionalização do poeta14. Deste modo se explica o fenômeno, que muito espantou o público e os críticos literários brasileiros, de diversos artistas, militantes e intelectuais de oposição haverem mudado, no final dos anos 70, para posições que antes condenavam, efetivamente cooptados pelo Estado ditatorial ou premidos pela necessidade de trabalhar, tornando-se em certa medida apóstatas, esquizofrênicos ou mesmo cínicos, quando não yuppies bem-sucedidos ou oportunistas15. Na opinião de Costa Lima, os adeptos da contracultura no Brasil, ao contrário dos hippies norteamericanos, “que hoje exibem, nas ruas de Berkeley, suas tristes carecas e barrigas”, sumiram sem deixar vestígios, premidos pela estagnação econômica – que se estenderia aos anos 80 e 90, já chamados de décadas perdidas –, que conseguiu secar o otimismo mais do que o terror e a tortura o fizeram, segundo o autor, pois “o horror ao trabalho tinha de cessar. Cada um, se a morte não evitou a catástrofe, se ajeitou como pôde. Os poetas procuraram bicos, coerências deixadas à parte, antigos guerrilheiros se integraram a agrupamentos de direita.”16 Não se deve omitir, porém, que esta mudança não se fazia sem sofrimento e nunca é demais repetir que se trata de uma dinâmica difícil e contraditória, que atingia diferentemente os diversos indivíduos nela envolvidos e com diversas opiniões a respeito, como por exemplo a de Hollanda, que mostraria Cacaso mantendo sua verve alternativa ao articular a coleção Capricho, no início dos anos 80. Mas, com gosto ou agonia, por desejo ou necessidade, 14 Cf. SUSSEKIND, op.cit., p.122 e 152-155; e Entrevista em que Julio Cesar Monteiro Martins avalia o boom e o crack literário, considerando que as características dos anos 70, de panorama confuso, cético, patético e lúdico, foram substituídas pelos mais variados valores na década seguinte. Cf. HOLLANDA e GONÇALVES, A ficção da realidade brasileira, op.cit., p.155-157. Os críticos da “cooptação” não costumam ver em largo espectro os problemas derivados da crise econômica ou nada dizem acerca da sobrevivência do poeta fora da esfera pública ou da indústria cultural, de modo que a colocação do problema permanece insolúvel. Há que considerar também o fato de a Editora Brasiliense, a principal veiculadora das obras marginais, pertencer à época à família Prado (SP), que mantinha uma linha editorial politicamente à esquerda. 15 Há ainda um fator explicativo, seguindo um raciocínio de Adorno, para quem não é boa psicologia supor que a exclusão das tradições desperta apenas ódio ou ressentimento por parte dos excluídos; antes, também desperta interesse obsessivo e intolerante, de modo que não é incomum se ver aqueles que foram rejeitados pela cultura excludente e repressiva se tornarem seus maiores defensores, especialmente quando foram recrutados para grupos radicais quando jovens e ingênuos, acabando por desertar tão logo hajam adquirido consciência da força da tradição. Cf. ADORNO, Mínima Moralia, aforisma 32, p.44. 16 COSTA LIMA, Abstração e visualidade, op.cit., p.138. 328 reconciliados com o “sistema” ou não, a maior parte dos produtores culturais foi integrada nos esquemas institucionais antes combatidos, o que aponta para a derrota do veio anti-capitalista de seus projetos estético-políticos, que seriam então ressignificados como uma resistência democrática contra a ditadura militar, de onde seu caráter límbico17. De modo geral, retornando à criação poética dos anos 70, podem-se observar duas grandes vertentes ou tendências que ressaltam de toda aquela movimentação: primeiramente, despontam em fins da década os que serão considerados pela crítica os melhores poetas daquela geração, adentrando a seguinte: os nomes de Duda Machado, Sebastião Uchoa Leite, Dora Ribeiro, Ronaldo Brito, Paulo Henriques Britto, são apenas alguns entre eles, ao lado de Francisco Alvim, Ana Cristina César, Leminski e Armando Freitas Fº, resgatados do novelo anterior. Em segundo lugar, mas não menos importante, um fenômeno de diluição da lírica marginal, que nela se enredara desde cedo e já observado pelos críticos desde os idos de 1973 aproximadamente18– e que talvez se pudesse chamar de epigonia se o termo não fosse tão impróprio para uma cultura que se queria alternativa – tornara-se fortemente predominante, tendo então selado aquela poética com sua fisionomia. A crítica de Cacaso ao grupo Pindaíba (SP) demonstrava a preocupação do poeta-crítico com a estereotipia assumida positivamente pelos novos “marginais”, que alimentavam uma imagem já esvaziada de seu conteúdo social de início da década. Naquele momento inicial, haviam-se aberto as comportas da poesia, permitindo emergir uma multidão de novos poetas cuja expressão direta da experiência era estrategicamente mais relevante que a qualidade estética ou a individualização da voz lírica, porque significava o testemunho de verdade de um mundo em que tudo estava cindido e o doloroso processo de aprendizagem de uma consciência desencantada e crítica. A atitude mais recente, todavia, cultivava mais o desempenho social do poeta do que a poesia em si, mostrando, como no caso do grupo Pindaíba, um espírito pragmático revestido de ânsia de autenticidade, mais preocupado em obter os ganhos finais do que em vivenciar o jogo artístico ou criticar a fundo a própria 17 O autor vê semelhante dinâmica entre os ex-militantes das esquerdas armadas, cuja memória teria operado um deslocamento de sentido durante os debates sobre a anistia, quando a perspectiva revolucionária teria sido transformada em resistência democrática. Cf. AARÃO REIS. Ditadura militar, esquerdas e sociedade, p.70. O tema é porém controverso, pois nem toda perspectiva revolucionária é antidemocrática e há nuances a considerar no fato de ter sido “em plena exceção, no mais fundo dos exílios, que as esquerdas descobriram os valores democráticos”, embora o autor pareça correto ao afirmar que a cultura autoritária foi reatualizada e exacerbada no Brasil pela ditadura militar. Ibidem, p.72. 18 Ver no cap.4, p.ex., as críticas à nova lírica que surge na Expoesia, como as de Cacaso e Hollanda em “Nosso verso de pé quebrado”, e as de Affonso Romano de Sant’Anna, entre outras. Os poetas aqui destacados como melhores se encontram sugeridos nas obras de Sussekind e Costa Lima. 329 experiência histórica19. Isto derivava, e ao mesmo tempo estimulava a existência de condições para a desqualificação técnica da forma artística e a indiferenciação generalizada do “profissional” da poesia, em virtude, diz ainda Cacaso20, da valorização da informalidade como ideologia de resistência cultural pautada na multiforme contracultura brasileira, estendida do comportamento à estética: se arte e vida não deviam distinguir-se, concluiu-se equivocadamente que a possibilidade de criar não supunha maior capacitação e que todos indistintamente eram potenciais artistas... As críticas mais severas a este estado de coisas se seguiram na década seguinte, culminando na suma quase arrasadora de Simon e Dantas: aquela expressão poética que não se distanciava da experiência e da linguagem cotidianas, nas quais via possibilidades de desidentificar-se, logo de libertar-se, da ordem burguesa e do valor literário da poesia, engendrara involuntariamente seu contrário. Imersos em uma crise de representação e concebendo a espontaneidade e informalidade do cotidiano como brechas do mundo sistêmico, os poetas criaram raízes neste solo de modo pouco exigente e quase confortável, sem talvez perceber que era o mesmo solo da sociedade de consumo, regida pela lógica burguesa que se espraiava pela crescente atuação da indústria cultural, a qual incide no cerne mesmo da vida diária e da sensibilidade, entrando rotineiramente pelos olhos, ouvidos e mentes das pessoas através das programações de rádio e televisão, da propaganda e de quantos forem os meios da comunicação de massas. As formas antiliterárias e atitutes anticonvencionais dos marginais se adequavam melhor que o imaginado à linguagem simplificada e ao ritmo antitradicionalista requerido pela dinâmica cultural do mercado capitalista em expansão no país. Sem projeto comum de linguagem nem meta utópica construída, diferentemente dos pós-tropicalistas, recusando as perspectivas vanguardistas, tidas como autoritárias, e a tradição ligada a João Cabral de Melo Neto, tida como intelectualista, aquela poesia queimava navios, de modo que seu “recuo estratégico” aos modernistas se produziu sem refinamento estético ou intelectual, com clichês, ambigüidades, inconformismos sem alicerces, os quais os induziam a pastiches e paródias lacunares que esvaziavam a força paródica e a irreverência modernista, ao invés de incrementá-las, como se poderia esperar de uma herança mobilizada. Em prol da comunicabilidade, acabou-se por ajustar os recursos disruptivos da linguagem poética moderna à sensibilidade corrente, mais fluente e menos agoniada, cuja percepção da vida é imediatista, direta e parcamente seletiva, 19 Cf. CACASO/BRITO. Pindaíba de Tatu, in: Não quero prosa, p.90-94. Publicado originalmente no jornal Leia Livros, n.51, 15/10 a 14/11/1982. 20 Cf. BRITO, Tudo da minha terra, op.cit., p.139. 330 quando não impregnada de indistinções. Resultava disto uma solução artística singela, mas deveras precária, que ao construir poemas com a forma do dialeto cotidiano, naturalizava a percepção poética e os sentimentos dúbios e misturados, “de caos e paixão, gozo e horror, sedução e solidão, simpatia e rancor, vitalidade pessoal e anonimato geral”, tudo cifrado por uma constrangedora desqualificação, pois “nem a experiência emotiva tem qualidade como tal, nem a experiência estilística e literária pode dignificá-la”21, pois se carece dos meios expressivos e da dinâmica coletiva necessários para tal. Os problemas convergiam para dilemas parecidos, enfrentados pela arte de vanguarda e pós-vanguarda no mundo europeu, conforme descritos por Peter Bürger. As vanguardas, ao buscarem uma realização social da arte, negando sua autonomia e institucionalização e procurando diminuir a distância entre arte e vida haviam-se deparado com o papel contraditório oferecido à função estética na sociedade burguesa, na qual uma relativa distância da práxis se tornara condição do conhecimento crítico e, inversamente, uma aproximação, projetando uma imagem melhor do mundo, acabava por gerar acriticidade, ao aliviar a sociedade de pressões por mudanças. A derrota da proposta histórica vanguardista, de reorganizar a práxis da vida mediante a arte, não foi superada pelos gestos de protestos das neo-vanguardas dos anos 60, para as quais restaram sérias questões a tratar, assemelhadas às da poesia brasileira dos anos 70, quais sejam, lidar com a falência estético-política da geração anterior e, por conseguinte, com a arte como instituição reconhecida e com a impossibilidade de simplesmente negar o estatuto de autonomia artística e pretender efeitos diretos sobre o público, por mais que se esforçasse em organizar os mais criativos happenings22. O que se resgatava de válido em tudo isto, tal qual pequenas flores em meio às ruínas, como fez Silviano Santiago em um artigo reavaliador da prosa literária da década, exigia um cuidadoso discernimento entre as diferentes formas de inserção do artista na politização e mercantilização do fazer literário num país de modernização tardia, ou seja, seria preciso compreender as dificuldades de um quadro social catastrófico, como o do Brasil contemporâneo, sem entregar-se à ausência de critérios que permite os equívocos do vale-tudo mercadológico. O artigo realizava acurado trabalho de discernir, por exemplo, entre a banalização do objeto-livro e do objeto-corpo e a força de um saber literário e erótico; entre o narcisismo e o desrecalque do indivíduo no tecido social e político; entre a inspiração nos processos revolucionários de expressão democrática e o liberalismo clássico; entre um 21 22 SIMON e DANTAS, Poesia ruim, sociedade pior, op.cit., p.100. Cf. BÜRGER, P. Theory of the Avant-garde, p.50-57. É claro que a situação das vanguardas retratada pelo autor não é idêntica à brasileira, cujas diferenças já foram discutidas no cap.3., mesmo assim há semelhanças na experiência e nos problemas com que foi preciso lidar. 331 vitalismo irresponsável e uma força de vida que afirma o desejo “pelo liberdade e pelo prazer, desprezando o ser humano o gosto pelo martírio e pela dor no processo de civilização”; entre novas formas de lidar com a questão nacional e as já esgotadas, ou o desinteresse. Os relatos autobiográficos dos ex-exilados, após seu retorno a partir de 1979, e a poesia/prosa das assim chamadas minorias sociais – a literatura de mulheres, homossexuais, ambientalistas, regionalistas fora do eixo Rio-São Paulo – eram as boas-novas que exigiam a descentralização das instâncias de poder e de discurso, cujo desdobramento consistia na superação da concepção de história familiar-oligárquica, herdada da República Velha, e sua substituição por uma história do tempo presente, preocupada com a vida recente do país e com a memória dos grupos secularmente desprovidos de voz e ignorados pela História oficial, sendo sua marginalização compreendida como infindável exílio interno [grifo do autor], agora a superar23. Tratava-se do início das tendências políticas e literárias que, juntamente com o resgate dos movimentos de memória, ganhariam visibilidade e se consolidariam como corrente estética e comportamental nos anos 80, sob a égide da liberdade sexual, do discurso de gênero, do culto ao corpo, compondo o conjunto de manifestações que afirmavam os conceitos de diferença e fragmentação, que vieram a ser assumidas como micropolíticas do poder e do desejo, de veio foucaultiano24, e mais tarde, como políticas da diferença, de cunho derridariano, passando a incluir as discussões da relatividade cultural em lato senso. Mas estas manifestações podem ser e foram lidas também na chave da teoria crítica frankfurtiana, que fornece instrumentos outros para desvendar no texto literário a dor social que o hedonismo e a leveza, ainda que bem intencionados, não têm sido de todo passíveis de resgatar. Daí a busca deste trabalho em refletir acerca da poesia dos anos 70 nesta linha, tendo em conta, especialmente, a concepção de testemunho e teor testemunhal da literatura, conforme proposta 23 Cf. SANTIAGO, S. Prosa literária atual no Brasil, in: Revista do Brasil, ano 1, n.1., Rio de Janeiro: Secretaria de Ciência e Cultura do Governo do Estado/RioArte-Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, 1984, pp.46-53. Citação à p.51. 24 Foi exemplar disto a obra de Caio Fernando Abreu e, do ponto de vista da agitação espetacular, o Movimento Pornô, organizado no Rio com a participação de representantes do RS, SP, CE, MT, RN, que ao lado dos cariocas discutiam projetos para os anos 80, entre os quais a passeata pelo Topless literário, a elaboração do Manifesto Pornô, as “barricadas do desejo” na Cinelândia, as publicações da revista Gang. Cf. HOLLANDA e MESSEDER PEREIRA, op.cit., p.8. Os trabalhos de Hollanda, Miccolis, Cacaso analisam igualmente a voga da literatura feminina e feminista, que se consolida desde então. Afirmam-se nomes como os de Ana Cristina César, Olga Savary, Alice Ruiz, Josely Vianna Baptista, Hilda Hilst, ao lado de Lígia Fagundes Telles, Nélida Piñon, na prosa. Estas indicações não têm intenção de esgotar a lista, de incontáveis bons nomes, e nem mesmo de hierarquizá-los; apenas procura ilustrar o que foi dito. Por fim, cabe mencionar a existência de críticas que mais recentemente têm sido dirigidas a este tipo de política, que não teria sido eficaz em agir nas microestruturas da sociedade de massas para modificá-la, de modo que resquícios patriarcais, conservadores e autoritários se mantêm ativos, com a violência que lhes é peculiar, como atesta o crescimento de movimentos neofascistas entre os jovens, ou a conduta agressiva de skinheads ou “pitboys”, entre outros. 332 na obra de Seligmann-Silva, bem como as discussões ético-político-estéticas articuladas por Adorno e Benjamin, procurando enxergar e compreender, como sugeriu este último a respeito da obra de Baudelaire25, uma experiência que é tão intrínseca à poesia que seus temas não chegam a ser descritos, uma experiência que o texto lírico evoca incessantemente, mas não explicita. O que se pode ver, assim evocado como um perfume pela poesia em questão, é a incomensurabilidade de uma estranha mudança na experiência histórica, uma transformação em curso na década de 70 na própria estrutura da experiência social, segundo uma expressão de Benjamin, ou na estrutura de sentimentos, conforme proposição de Raymond Williams26. Em termos metafóricos, estava em andamento um vasto processo de mudança de voz, do qual as modificações de entonação observadas no fim do decênio são um arremate sem nó. A poesia marginal havia tentado dizer sua experiência histórica, mantendo diálogo com os impasses estéticos, econômicos e políticos da modernidade brasileira e com a opressão asfixiante da vida cotidiana sob a ditadura militar, mas é somente em textos posteriores, que se configuram como memória e reflexão dos personagens daquela época, que a compreensão daquela mudança seria gradualmente estabelecida. Na recente reedição do trabalho organizado por Adauto Novaes – Anos 70: ainda sob a tempestade – publicado primeiramente em 1979, os artigos da época contam com um comentário inicial, em que os diversos autores reatualizam cada qual o seu texto, funcionando portanto como um depoimento em que reviam tanto as artes naquele período quanto sua maneira de concebê-las. Quase todos os comentários apontam a “transformação cultural” ou a “mutação histórica” então ocorrida naquela “era de intensa transição”, ou recorrem ainda a termos correlatos que indicam mudanças na percepção – no tom, perspectiva e modo de entender – da cultura e da política no Brasil dos anos de chumbo27. Dos mais variados modos, os autores que tratam da época referem alguma forma de mudança mais profunda ou estrutural do que apenas o transcorrer do curso histórico. Não se trata, contudo, das rupturas revolucionárias pretendidas nos anos 60, em nenhuma de suas faces. Ao invés, são as 25 Cf. BENJAMIN, Sobre alguns temas em Baudelaire, op.cit., p.115. Cf. BENJAMIN, idem, p. 104 e para Raymond WILLIAMS, ver cap.1, onde o conceito é mencionado com base em Marxismo e Literatura e na obra de Elisa Cevasco a seu respeito, já referenciados. 27 Além da Introdução de Adauto Novaes, que define a “mutação histórica” por meio da presentificação do tempo, positivação da ciência e tecnologia, desvalorização da história e decadência do espírito nos valores culturais, o livro traz artigos e revisões de : José Miguel Wisnik, Ana Mª Bahiana, Margarida Autran (música); Heloisa Buarque de Hollanda e Marcos Augusto Gonçalves, Armando Freitas F° (literatura); José Arrabal, Mariângela Alves de Lima, Tania Pacheco (teatro); Jean Claude Bernardet, José Carlos Avellar (cinema); Mª Rita Kehl, Elizabeth Carvalho, Santuza Cambraia Naves, Isaura Botelho (TV). 26 333 transformações trazidas pela interrupção de uma intenção revolucionária na cultura28, resultando na manutenção de um ritmo de progresso avassalador, destrutivo e excludente, logo, na dialética de continuum histórico e mudança que Benjamin havia chamado de catastrófica e que, tanto por seus efeitos planejados quanto por suas seqüelas inimaginadas, modificava a experiência histórica nas suas dimensões fundantes do espaço-tempo, da sociabilidade, das formas culturais. Ou seja, a velha tradição política brasileira de “mudar para não mudar” adquiria lamentável vulto; as estruturas econômicas continuavam solidamente injustas e desiguais, enquanto as relações políticas e sociais perdiam coesão, os sujeitos se fragmentavam ou autodevoravam e a esfera cultural vivia acelerado frenesi. Como se as peças de uma engrenagem funcionassem em distintos ritmos, era na estrutura da experiência que esse processo de mudança/continuidade fazia suas maiores fissuras29. Não é de estranhar que a poesia de então fosse permeada de espanto e confusão. Em “Contos possíveis de 1970”, o ex-exilado Herbert Daniel apontava uma inflexão na esperança, que era ainda real até que “houve uma ruptura – quem sabe não no apogeu daquela batucada que chamava a nova década –, um rompimento despercebido onde a força de revelar o futuro foi substituída pela inércia de desconhecer o atual.”30 Autores marxistas, como Celso Frederico, falam em “uma mudança estrutural [que] se passava em nossa estrutura de classes, sem que na época se pudesse perceber com clareza”, e que veio a formar um vasto contingente de produtores e consumidores de cultura31. E Roberto Schwarz, em artigo que analisa o documentário, Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, que retomava nos anos 80 o projeto inicial desbaratado pelo golpe de 1964, transformando o tempo decorrido em matéria de reflexão, notava que o fio da meada se rompera e aqueles personagens, camponeses, diretor, equipe cinematográfica, que se reencontravam depois da provação da ditadura, já não eram os mesmos: “esta mudança que está inscrita em bruto na 28 A validade das idéias revolucionárias de então é outra história. De todo modo, em recente matéria jornalística, a força da intenção ou efervescência revolucionária no Brasil dos anos 60 é reafirmada pelo então embaixador dos EUA, Lincoln Gordon, que justifica o Plano de Contingência para o Brasil – documento preparado pela embaixada norte-americana no país, indicando que os EUA interviessem na situação política brasileira, em apoio a uma “tomada militar interina”, recebendo aprovação de Washington – dizendo que o Brasil “poderia virar uma segunda Cuba”. Os documentos sobre o envolvimento dos EUA no golpe de 1964 tem sido liberados e transformados em arquivo eletrônico em virtude de uma lei de liberdade de informação daquele país. Notícias eventuais têm sido publicadas e segundo consta, o historiador Carlos Fico tem procurado organizar este material. Cf. DÁVILA, Sergio. Plano dos EUA antecipou ação dos militares. Folha de S.Paulo, 15 jul. 2007, p.A12 e A13, incluindo entrevista do ex-embaixador. 29 É nesta chave de mudança/continuidade, produzindo estranheza e atingindo especialmente o âmbito da experiência, que as discussões que se seguem devem ser entendidas; ainda que seja priorizada a idéia de mutação, muitas vezes reiterada nas fontes, é da mudança histórica catastrófica, no sentido benjaminiano, que se trata. 30 DANIEL, H. Passagem para o próximo sonho, p.70. 31 FREDERICO, C. A presença de Lukács na política cultural do PCB e na universidade, op.cit., p.188. 334 matéria documentária do filme, é sua densidade e seu testemunho histórico. [...] Sob as aparências do reencontro o que existe são os enigmas da situação nova, e os da antiga, que pedem reconsideração”.32 No âmbito da crítica literária, Antônio Cândido, em debate de 1975 no qual analisava os traços formais da época e seus nexos sociais33, observava uma desconfiança latente quanto à ordenação verbal do mundo que não era, a seu ver, fruto de arbítrio ou capricho autoral, mas de uma “motivação cultural muito profunda”, vinculada ao “limiar desse novo ritmo de civilização” que se vivia. O que se indicava, portanto, possuía a escala ou a potência de uma mudança civilizacional, produzindo modificações na formação discursiva, na constituição dos sujeitos, nas relações sociais, na experiência histórica como um todo, de onde seu caráter incomensurável para a percepção imediata, ainda que as antenas sensíveis da arte pudessem fremir sugestões. A grande polêmica ocorrida em 1985, em torno do poema concreto de Augusto de Campos, “póstudo”, cuja crítica efetuada por Schwarz foi mal-recebida, gerando acalorado debate público em que se envolveram vários críticos34, revela que a dimensão e a direção da mudança em curso não eram ponto pacífico ou sequer claras. QUIS MUDAR TUDO MUDEI TUDO AGORAPÓSTUDO EXTUDO MUDO Do texto, cuja dimensão espacial-visual compõe sentidos tanto numa leitura horizontal quanto vertical, infere-se em cômputo geral que o desejo de mudança engendra mais mudança, e isto era naturalizado pelos debates sobre a cultura pós-moderna que começavam a 32 33 SCHWARZ, R. O fio da meada. In: Que horas são?, p.72. Muito sucintamente, tais traços, em busca de uma ordem espaço-temporal não linear, tendiam ao esgarçamento dos nexos, passando do discurso contínuo, analógico, metafórico, realista, referencial, para o descontínuo, paranomásico, fragmentário, anti-mimético, obcecado pelo recurso à visualidade, à ambigüidade e à polissemia, tornando a obra aberta em condição legitimadora do literário Cf. CÂNDIDO. Vanguarda: renovar ou permanecer, in: Textos de Itervenção, pp.214-225, em especial p.218. 34 O poema – que aqui se reproduz em detrimento de sua configuração gráfico-visual dada pelas letras desenhadas com linhas quádruplas – foi divulgado pela Folha de S.Paulo, em janeiro de 1985, e a polêmica foi travada nos meses de março e abril daquele ano, no suplemento dominical Folhetim, entre o crítico, o poeta e outros participantes. Para Flora Sussekind, as polêmicas literárias nos anos 70-80 significavam uma “prática autoritária revestida de prática democrática”, que têm tradição na história da literatura no Brasil. No regime militar, marcado por momentos alternados de repressão e cooptação de artistas, ter-se-ia reatualizado “a necessidade de polêmicas como duelos necessários para aproximar a discussão crítica da linguagem do espetáculo tão cara ao autoritarismo brasileiro.” Cf. SUSSEKIND, Literatura e vida literária, p.69-70. Cacaso rebateu esta visão, considerando-a um equívoco míope de Flora, defendendo o caráter democrático das polêmicas, desde que educadas, e explicando as posições de Schwarz, no artigo “Você sabe com quem está falando? (as polêmicas em polêmica)”, publicado na Revista do Brasil, n.5, 1986. Cf. BRITO, Não quero prosa, pp.102-111. 335 se acirrar no país. A leitura de Schwarz trilhava esta via, criticando-a, uma vez que a mudança em grande escala, tornada em norma e sem especificação – “o que é ‘mudar tudo’?” perguntava ele, para além de uma fala popular genérica que o concretismo costumava rejeitar? –, ocultava que a modernização havia desembocado “no equilíbrio do terror, sem saída à vista”, de modo que o termo mudança, “na sua generalidade se esvaziou, ou melhor, tornou-se ideologia conservadora, e requer particularização para ter sentido”. As escolhas, especificações e explicações históricas que faziam parte da condição moderna se esvaíam – e, pode-se acrescentar, os sujeitos já não agiam fausticamente sobre seu destino social. Por isso, o poema de Augusto era um “marco histórico”, aquele que sinalizava no Brasil a profunda transformação do programa da arte moderna35. A reflexão se aproxima da imagem do “limiar” de uma nova dinâmica civilizacional apresentada por Cândido e as fortes controvérsias demonstram o quanto a situação era incômoda. O último verso (“mudo”), se desfolhado, desvela o entrelaçamento nuclear de mudança e mudez, confirmando o quanto era espinhoso discutir a experiência de uma “continuidade e transformação” estrutural naquele contexto. Vivia-se de fato, conforme coloca Ismail Xavier, o esgotamento da constelação moderna, cujo dinamismo perdia o impulso e se diluiria, em meados dos anos 80, num contexto regido por novas forças36. Assim, no Brasil, como na América Latina em geral, os regimes militares não haviam significado um intervalo político ou uma intervenção temporária, mas uma modificação estrutural dessas sociedades, em seus aspectos econômicos, políticos, sociais, discursivos, imaginários... marcando uma guinada de conseqüências duradouras, como também sublinham historiadores latino-americanos37. Em outros termos, tratava-se de mudanças deveras espantosas, que, acompanhadas do aumento de grau na violência de Estado, de inúmeras cisões sociais, crises de identidade e corrosões na autoimagem humana, resultavam em penosas feridas. Como se viu, sendo a experiência um vértice onde convergem as transformações históricas de curta e longa geração, a amplitude dessas mudanças/continuidades produzia um corte traumático, simultaneamente subjetivo e 35 Para o autor, o programa moderno se transformava em “ideologia de consumo e conduta”, o que não era uma particularidade brasileira. Cf. SCHWARZ, Marco histórico, in: Que horas são?, p.57-66, citação à p.65. 36 Segundo Xavier, foi curiosamente no limiar da Nova República, a partir sobretudo de 1985, que se definiu “o marco mais decisivo da atomização e perda de élan – embora não o desaparecimento completo – da constelação moderna”. Esta havia sido hegemônica por mais de duas décadas, como “produto de duas gerações que viveram condições materiais particulares”, impulsionadas pelo processo do nacional-desenvolvimentismo, entre os anos JK e o período Geisel (1956-1979), com base no modelo de substituição de importações que desde então foi sendo transformado em arcaísmo pela nova ordem mundial. Cf. XAVIER. Cinema moderno brasileiro, p.34 e 40. 37 Estes regimes “modificaron estructuralmente las sociedades latinoamericanas, en sus bases econômicas, sociales, políticas y simbólicas”, de modo que o período “no constituyó um simple parêntesis sino que marcó um viraje y acarreó consecuencias duraderas”, dizem respectivamente FUNES, P. Nunca más..., op.cit., p.46 e GROPPO, B. Traumatismos de la memória..., op.cit., p.25. 336 objetivo, individual e coletivo, que não encontrava caminhos fáceis de representação, vindo a exigir reconsiderações também nos métodos historiográficos38. A poesia dos anos 70, situada no meio deste corte, ao mesmo passo sofreu e construiu aquela experiência histórica. Desde 1968, com os movimentos contraculturais e o AI-5, a cultura brasileira vivenciou inflexões que a poesia pós-tropicalista e a poesia marginal testemunharam, ao assumir crescentemente a vivência e a linguagem cotidiana como matéria lírica. Sua forma lacunar, sua mistura expressiva de alegria e amargura, denúncia crítica e alienação, seu modo peculiar de resistência límbica revelavam a condição intervalar da experiência poética e histórica em curso, vivida na corda bamba e muito esgarçada – de onde sua enorme tensão, por contraditório que pareça –, estendida entre as configurações modernas e o seu depois. Sua voz era entrecortada, seja na modulação interrompida, sufocada ou presa, que deram contorno às seções deste trabalho, tanto por ser isto característica do teor testemunhal literário, quanto por ser atravessada de silêncios, pois aos silêncios fundantes se misturavam o que é historicamente indizível, por não ter adquirido ainda significação social; o que se sabe mas não é dito, pela imposição da censura, lesando a elaboração e circulação de sentidos39; e os silêncios propriamente traumáticos, derivados de uma dor impronunciável. A profunda e tão criticada necessidade de fazer da experiência subjetiva a matéria poética por excelência solicita, por sua vez, uma indagação mais atenta do historiador: o que ela significa historicamente? Porque um esforço tão imenso em falar de si? Se a experiência e a subjetividade não estivessem de algum modo ameaçadas, seria preciso tal chão cotidiano? O registro voraz e reiterado da experiência, como um traço típico dos movimentos de memória, aponta o desejo de reter algo que se intui passível de se perder no roldão do tempo, e que se quer guardar por ser irrepetível ou, ao contrário, por constituir um fato atroz que não se deve esquecer para não repetir, ou ambos, configurando o paradoxo característico dos testemunhos de catástrofes. A busca de sentidos por parte da literatura da época, da prosa mais referencial, preocupada com os retratos do Brasil, à poesia mais subjetiva, espelhando-se como narciso, encontra sua chave naquela experiência histórica tensionada, que ameaçava com o ardor da extrema crise ou da dissolução as possibilidades de construção de identidades pessoais, sociais e nacionais que haviam consistido no substrato literário romântico e modernista, formadores das tradições culturais brasileiras. Por isso “o poeta, o tão difícil” qual “o diverso 38 Ver reflexões de Koselleck, no cap.1, sobre a relação entre mudança na experiência histórica e na historiografia, e também as observações de Seligmann sobre arte, ruína e historiografia, no cap.6 desta tese. 39 Orlandi mostra a história prejudicada pela ditadura até mesmo na produção dos seus silêncios: “O gesto da censura lesa o movimento da identidade do sujeito na sua relação com os sentidos. Ele lesa de algum modo a história.” Cf. ORLANDI, As formas do silêncio, p. 133. 337 amante/Sendo o nenhum e o dobro de si ao mesmo instante” – que habita solo incerto, sem desenho no mapa, o país de “Nenhures./Terra de difícil acesso/sujeita tanto/aos roedores/quanto à ação/das irradiações atrozes”, onde “os acontecimentos desencadeiam-se fatais/ou, ao contrário, lúdicos” – se diferencia da avestruz que tudo engole e indaga presto: Com quantas letras escreve-se “destroço?” e “pútrido”? com quantas “estrutura”? [...] para romper certas palavras o que se morde? O que sangra de início, a língua?40 Naquele momento, a língua principiava a sangrar e ainda não encontrara todas as letras necessárias. Tratar da experiência nesse contexto, como insistia Cacaso, significava falar de uma perda, entrevista, vislumbrada, mas sem nitidez, um alumbramento bandeiriano enevoado pela poeira das desconstruções e tristes alegrias. Por motivos que amalgamavam carência de maturidade intelectual, de recursos trágicos e de respaldo coletivo, o esforço individual para criar representações tornava-se enorme, o que talvez permita uma melhor compreensão dos “dedos gagos” de um Armando Freitas F°, do esconder-e-revelar da linguagem lacunar de todos, das confusões e indistinções de alguns, e da dignidade simbólica da tentativa do “poemão”. Assim, a dinâmica do dizer e calar, como parte normal das construções lingüísticas e da composição poética em particular, adquiria sentido especial e força de testemunho, com um componente traumático. As imagens trazidas por Sebastião Uchoa Leite na epígrafe, da carga bipartida, venenosa e vital da “língua ofídica”, de um sujeito “fora de foco” e figurado pelo misto de suspensão e sugestividade que a elipse comporta, como recurso criador de sentidos, indica que o somatório final dos vetores daquela experiência histórica se traduzia mesmo pelo meta-assombro do título. Tal espanto, como foi visto, não significava naquelas circunstâncias o impulso cognitivo de uma dúvida filosófica, mas a crisálida da mais pura perplexidade, quase imobilizante. De dentro da prisão, inventariando suas cicatrizes, Alex Polari havia anunciado: Existem muitas filosofias e racionalizações para tudo mas você verá, um dia, no rosto dos usuários, perplexidade.41 40 Trecho de “Termos de comparação” de Zulmira Ribeiro Tavares, in: HOLLANDA, 26 poetas hoje, p.97-101; o verso do diverso amante que é nenhum e o dobro de si pertence a Capinam, em “Poeta e realidade (o poeta de si), in: ibidem, p.82-83. 338 Os textos críticos, jornalísticos ou entrevistas que aqui serviram de fonte abrigam incontáveis menções aos impasses vividos na arte poética – não apenas por problemas estéticos intrínsecos, mas sobretudo em sua relação com o mundo extrínseco, sabendo-se que seus nexos são inextrincáveis – e à perplexidade decorrente. É significativo que Herbert Daniel sintetizasse um conjunto de reflexões com a curta assertiva: “A palavra perplexidade resumiu tudo”42. Resumia o que se passava não só entre os militantes de esquerda derrotados e os exilados, mas em toda a sociedade, nos meios culturais e políticos, entre os medusados e aqueles que estavam, como no poema de Duda Machado, “tão lúcido[s]/que era um suicídio”. Antônio Cândido já havia notado, no período pós-guerra, que “o presente momento [era] de perplexidade”, cuja motivação ele encontrava, entre outros fatores, no fato de justamente no momento em que a literatura brasileira conseguia forjar um sistema expressivo que a ligava ao passado e ao futuro, um conjunto de tradições literárias, estas começaram a não mais funcionar como força estimulante da cultura, ou seja, as formas de expressão e comunicação baseadas na leitura-escrita atingiram simultaneamente o auge e a crise, ante a concorrência dos novos meios expressivos fundados na palavra oral, na imagem e no som, exigindo um outro tipo de espírito e de enquadramento de público43. Se a sociedade de massas trazia à literatura situações de crise e perplexidade desde os anos 40-50, no período nacionaldesenvolvimentista, o que dizer da sua consolidação com a plena vigência da indústria cultural nos anos 60-70, senão que se superpunham crise sobre crise e perplexidade sobre perplexidade? Os principais problemas formais apontados pela crítica concernem ao modo como essas camadas atravessam as obras literárias, agindo na sua estrutura mesma, assim como atravessava os sujeitos em seu centro nervoso de compreensão sensível, como se depreende da própria palavra per-plexo. O descaso com a forma estética e os cuidados gráficos, por parte da “geração mimeógrafo” e boa parte dos marginais, remete a uma espécie de “desorganização formal da sensibilidade”44 que em última instância revela, mais do que simples iconoclastia, uma extrema dificuldade de reordenamento social sensível, ou mesmo desistência quanto à forma pela qual se vai estruturar a sociedade a partir de então. Perdia-se, com a derrota da utopia e de todo e qualquer telos, a rosa-dos-ventos que um dia fora criada como recurso cultural para fornecer rumos, pelos quais os homens se orientam para organizar 41 “Questão de Sistema – II”, in: Inventário de cicatrizes, p.32. 42 DANIEL, H, op.cit., p.64. 43 CÂNDIDO, A . Literatura e cultura..., op.cit., p.125-126. 44 Derivo esta idéia de Antônio Cândido, que observara nas revistas e agrupamentos poéticos e críticos dos anos 50 um fascínio por “problemas de organização formal da sensibilidade”. Cf., idem, p.117. 339 seu presente, imaginar o futuro e ler o passado. A imagística que se construiu, mostrando sujeitos inclinados à contemplação passiva do mundo pela janela, abdicando por vontade ou fracasso da tentativa de ação sobre a história e escolha dos destinos comuns, é fruto desta dinâmica. A forma interrompida e fragmentada, assim, é correlata a tal perda dos referenciais de sentido, cujo rompimento impede que se confira significação ao todo de uma experiência. Disto, bem como da vida modernizada a grande velocidade, emana também a forma rápida dos poemas curtos, instantâneos fotográficos encarnando a particular brevidade das certezas na condição intervalar. Este era o crisol das alegorias, metonímias, metáforas e demais tropos daquela poética em seu gesto de manter-se sempre viva. A incomensurabilidade para os coetâneos das transformações/continuidades em curso nas percepções espaço-temporais e nas relações sociais, materiais e espirituais, produzindo cisões e dores incalculáveis, além de uma dimensão de violência e desumanização dificilmente imagináveis, propiciava certamente uma sensação de estranheza-familiaridade que comporta o sentido do ominoso freudiano. Como sói acontecer, sobretudo no país do samba, do futebol e da novela televisiva, a sociedade o recalcou e seu luto resta inacabado, e tão mais incompleto quanto mais se considera que já esteja resolvido45. A indistinção que se cristalizou entre anistia e amnésia o confirma, relegando as atrocidades cometidas durante os vinte anos da ditadura militar, em nome do desenvolvimento nacional, aos interesses do olvido, e ao futuro incerto, sua dura e necessária memória. Tudo isto, a poesia dos anos 70 testemunhou como pôde: com a palavra perplexa daqueles que viveram no meio do rasgo da história do Brasil contemporâneo. 45 Seligmann comenta a impunidade e o esquecimento na América Latina, onde a situação é agravada pela colonização do imaginário, de culturas marcadas pela tradição mista do oral e do escrito, pela via tecnológica: “Em vez de uma herança viva, os traumas do passado são considerados ‘superados’, uma vez tendo sido devidamente expostos/cultuados na mídia.”. [grifo do autor] Cf. Reflexões sobre a memória, a história, o esquecimento, op.cit., p.83-84. Também Aarão Reis, em sua conclusão, resume um raciocínio comum em nossa cultura: “Até que ponto o exercício da memória não passa de autoflagelação? Não seria melhor e mais saudável cultivar a paz das consciências? E olhar para frente, deixando o passado sossegado, e as feridas, cicatrizando?//Entretanto, há alguns nós que precisam ser desatados [...]”, op.cit., p.72. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA LIVROS, COLETÂNEAS, TESES ETC. AARÃO REIS, Daniel. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. ADORNO, Theodor. Educação após Auschwitz. In: Palavras e sinais: modelos críticos 2. Trad. Maria Helena Ruschel. Petrópolis: Vozes, 1995. p.104-123. _____. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. Trad. Luis Eduardo Bicca. 2.ed. São Paulo: Ática, 1993. _____. Crítica cultural e sociedade. In: Prismas. Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Ática, 1998. ______. Lírica e sociedade. In: Textos escolhidos: Walter Benjamim, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jurgen Habermas. Trad. Rubens Torres F° e Roberto Schwarz. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p.193-208. (Os Pensadores). AGAMBEN, Giorgio. Enfance et histoire. Destruction de l’experience et origine del’histoire. Trad. Yves Hersant. Paris: Payot&Rivages, 2002. ARGULLOL, Rafael. O fim do mundo como obra de arte: um relato da cultura ocidental. Rio de Janeiro: Rocco: 2002. ARIÈS, Philippe. O tempo da História. Trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio d’Água, 1992. ARRIGUCCI Jr., Davi. Gabeira em dois tempos. In: Enigma e comentário: ensaios sobre literatura e experiência. São Paulo: Cia. das Letras, 1987. p.119-140. ÁVILA, Carlos. Poesia e sociedade de consumo. In: COSTA, Haroldo (org). A palavra poética na América Latina, avaliação de uma geração. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1992. BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 20.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. BARTHES, Roland. Aula. 6.ed. São Paulo: Cultrix, 1992. BATTILANA, Carlos. Diario de Poesía: el gesto de la masividad. In: MANZONI, Celina (org). Violencia y silencio: literatura latinoamericana contemporânea. Buenos Aires: Corregidor, 2005. p.145-164 BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. _____. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre história da cultura. Obras Escolhidas I. 7.ed. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. _____. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Obras Escolhidas III. 3.ed. 2a.reimp. Trad. José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 2000. BERMAN, Marshall. O Fausto de Goethe: a tragédia do desenvolvimento. In: Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Cia. das Letras, 1986. p.37-84 BITTAR, Eduardo. História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional. São Paulo: Atlas, 2003. p.269-271. BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 4.ed. São Paulo: Cultrix, 1984. _____. Culturas Brasileiras. In: Dialética da colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. p.308-344. BRASIL: NUNCA MAIS. Um relato para a História. Prefácio de D.Paulo Evaristo Arns. (Arquidiocese de São Paulo), 20.ed. Petrópolis: Vozes, 1987. BRITTO, Paulo Henriques. Poesia e memória. In: PEDROSA, Célia (org). Mais poesia hoje, Rio de Janeiro: SetteLetras, 2000. p.124-131. 341 BÜRGER, Peter. Theory of the avant-garde. 10.impr. Minneapolis/EUA: University of Minnesota Press, 2002. (Theory and History of Literature, v.4). BURKE, Peter. A história social da linguagem. In: A arte da conversação. Trad. A.L. Hattnher. São Paulo: UNESP. 1995. p.9-49. CÂNDIDO, Antônio. A formação da literatura brasileira. Belo horizonte: Itatiaia, [1984]. _____. Literatura e subdesenvolvimento. In: Educação pela noite e outros ensaios. 2.ed. São Paulo: Ática, 1989. p.140-162. _____. Textos de intervenção. v.1. (seleção e notas de Vinicius Dantas). São Paulo: Duas Cidades/Ed.34. 2002. _____. Literatura e sociedade. 8.ed. São Paulo: T.A.Queiroz/Publifolha, 2000. (Grandes nomes do pensamento brasileiro). CARDOSO, Ciro F. e VAINFÁS, Ronaldo. Domínios da história. Rio de Janeiro: Campus, 1997. CARDOSO, Irene. O arbítrio transfigurado em lei e a tortura política. In: FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaias e GRANVILLE, Ponce (org). Tiradentes: um presídio da ditadura: memórias de presos políticos. São Paulo: Scipione, 1997. p.471-483. CARVALHO, Annina Alcântara. A lei, ora, a lei... In: FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaias e GRANVILLE, Ponce (org). Tiradentes: um presídio da ditadura: memórias de presos políticos. São Paulo: Scipione, 1997. p.402-413. CASTRO, Flavia. História do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. CELAN, Paul. Cristal. Sel. e Trad. Claudia Cavalcanti. São Paulo: Iluminuras, 1999. CEVASCO, Maria Elisa. Para ler Raymond Williams. São Paulo: Paz e Terra, 2001. CHARPIER, Jacques e SEGHERS, Pierre. L’Art poétique. Paris: Ed. Seghers, 1956. CHAVEAU, Agnès e TETARD, Philippe. (org). Questões para a história do tempo presente. Bauru: EDUSC, 1999. CÍCERO, Antônio. A falange de máscaras de Waly Salomão. In: Finalidades sem fim. São Paulo: Cia. das Letras, 2005. p.31-53. COIMBRA, Cecília. Algumas práticas “psi” no Brasil do “milagre”. In: FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaias e GRANVILLE, Ponce (org). Tiradentes: um presídio da ditadura: memórias de presos políticos. São Paulo: Scipione, 1997. p.423-438. COSTA LIMA, Luis. Uma questão da modernidade: o lugar do imaginário. In: Pensando nos trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. p.57-77. ______. Teoria da literatura em suas fontes. 2.ed.. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. _____. Abstração e visualidade. In: Intervenções. São Paulo: EDUSP, 2002. COSTA, Haroldo. O centro está em toda parte: significado deste encontro. In: COSTA, Haroldo (org). A palavra poética na América Latina, avaliação de uma geração. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1992. p.18-27. COSTA, Iná Camargo. Tragédia no século XX. Prefácio. In: WILLIAMS, Raymond. Tragédia moderna. Trad. Betina Bishof. São Paulo: Cosac&Naify, 2002. COUTINHO, Carlos Nelson. Marcuse e a contracultura tupiniquim. In: Cultura e sociedade no Brasil, ensaios sobre idéias e formas. 2.ed. Rio de Janeiro, DP&A, 2000. p.84-88. DA POIAN, Carmen. A psicanálise, o sujeito e o vazio contemporâneo. In: Formas do vazio: desafios ao sujeito contemporâneo. São Paulo: Via Lettera, 2001. DANTE ALIGHIERI. A Divina Comédia. v.1. Trad. e notas Cristiano Martins. 2.ed. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1979. DEBORD, Guy. A Sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. DERRIDA, Jacques. A farmácia de Platão. Trad. Rogério da Costa. São Paulo: Iluminuras, 1991. 342 DETIENNE, Marcel. Os mestres da verdade na Grécia arcaica. Trad. Andréa Daher. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, [s/d]. DICK, André e CALIXTO, Fabiano (org). A linha que nunca termina, pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. DUBY, George e LARDREAU, Guy. Diálogos sobre a nova história, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1989. DURKHEIM, Émile. O suicídio. In: Durkheim (seleção de textos José Arthur Giannotti). Trad. Luz Cary, Margarida Garrido e J. Vasconcelos Esteves. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p.163-202. (Os Pensadores). ELIAS, Norbert. Sociedade dos indivíduos. (organizado por Michael Schröter). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. FARGE, Arlette. Lugares para a história. Trad. Telma Costa. Lisboa: Teorema, 1999. FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. São Paulo: Kairós, 1979. FERNANDES, Fernando Augusto. Voz humana, a defesa perante os tribunais da república. Rio de Janeiro: Revan, 2004. FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília Neves (org). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (O Brasil republicano, v.4). FICO, Carlos. Dos Anos de chumbo à globalização. In: PEREIRA, Paulo Roberto (org). Brasiliana da Biblioteca Nacional. Guia de fontes sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional/Nova Fronteira, 2001. p.349-365. _____. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L.N. (org). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (O Brasil republicano, v.4), p.193-205. FINAZZI-AGRÓ, Ettore e VECCHI, Roberto. (org). Formas e mediações do trágico moderno: uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004. FRANCO, Renato. Literatura e catástrofe no Brasil: Anos 70. In: SELIGMANN-SILVA, Marcio (org). História, Memória, Literatura. O testemunho na era das catástrofes. Campinas: Unicamp, 2003. p.355-374. FREDERICO, Celso. A presença de Lukács na política cultural do PCB e na universidade. In: MORAES, J. Quartim (org). História do marxismo no Brasil, v.2. Campinas: Unicamp, 1995. p.193-222. FREUD, Sigmund. O sinistro. In: Obras completas. v.3. 4.ed. Madri: Biblioteca Nueva, 1981. p.2483- 2505. _____. O mal-estar na cultura. In: Obras completas. v.3. 4.ed. Madri: Biblioteca Nueva, 1981. p.30173067. FUENTES, Carlos. Los 68, Paris, Praga, México. Buenos Aires: Debate, 2005. FUNES, Patrícia. Nunca más: memoria de las dictaduras en la América Latina. In: GROPPO, Bruno e FLIER, Patrícia (org). La impossibilidadad del olvido: recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen, 2001. p.43-62. GADAMER, Hans George. Are the poets falling silent? e The verse and the whole. In: MISGELD, Dieter e NICHOLSON, Graeme (ed). Hans Georg Gadamer on education, poetry and history. NY: State of University New York Press, Albany, 1992. _____. O Problema da consciência histórica. Trad. Paulo C. Duque Estrada. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. GAGNEBIN, Jeanne Marie. Os cacos da história: Walter Benjamin. São Paulo: Brasiliense, 1982. _____. Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de Janeiro: Imago, 1997. 343 _____. Após Auschwitz. In: SELIGMAN-SILVA, Márcio (org). História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. Campinas: UNICAMP, 2003. p.91-113. GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. São Paulo: Cia.das Letras, 2003. GAY, Peter. Freud para historiadores. Trad. Osmyr Faria Gabbi Jr. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. GIANNINI INIGNEZ, Humberto. La refléxion quotidiènne: vers une archeologie de l’expérience. Prefácio de Paul Ricoeur. Provence: Alinea, 1992. GILMAN, Claudia. Alcances mundiales del antiintelectualismo. Entre la pluma y el fusil. Buenos Aires: Siglo XXI-Argentina, 2003. p.183-187. Cap.4.4. GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. Trad. F.Carotti. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. _____. Relações de força. Trad. Jônatas Batista Neto. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. GINZBURG, Jaime. Cegueira e literatura. In: FINAZZI-AGRÒ, Ettore e VECCHI, Roberto (org). Formas e mediações do trágico moderno, uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004. p.8999. GOODY, Jack e WATT, Ian. The consequences of literacy. In: GOODY, J. (ed). Literacy in Tradicional Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. GROPPO, Bruno. Traumatismo de la memoria e impossibilidad del olvido em los países del Cono Sur. In: GROPPO, Bruno e FLIER, Patrícia (org). La impossibilidadad del olvido: recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen, 2001. p.19-42. GUIMARÃES, Julio Castagnon. Gerações e heranças: algumas indagações. In: COSTA, Haroldo (org). A palavra poética na América Latina, avaliação de uma geração. São Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 1992. p.188-196. HABERT, Nadine. A década de 70, apogeu e crise da ditadura militar brasileira. 3.ed. São Paulo: Ática, 2003. HARTOG, François (org). A história de Homero a Santo Agostinho. Trad. Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: UFMG, 2001. HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. HELLER, Agnes. Estrutura da vida cotidiana. In: O cotidiano e a história. Trad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p.17-41. HESÍODO. Teogonia: A origem dos Deuses. Trad. e estudo de Jaa Torrano. São Paulo: Roswitha Kempf, 1986. HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence. A invenção das tradições. Trad. Celina Cavalcanti. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. JACKSON, John E. Mémoire et création poétique. Paris: Mercure de France, 1992. JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. Artur M.Parreira [adaptação para a edição brasileira, Mônica Stael]. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994. (Temas). JAY, Martin. El modernismo y el abandono de la forma. In: Campos de fuerza, entre la historia intelectual y la critica cultural. Buenos Aires: Paidós, 2003. p.273-291. _____. Songs of experience: modern American and European variations on a universal theme. Berkeley/Los Angeles/Londres: University of California Press, 2005. JOBIM, José Luis. História da Literatura. In: Palavras da crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p.127- 150. KOFMAN, Sarah. O método de leitura de Freud. In: A infância da arte: uma interpretação da estética freudiana. Trad. Maria Ignez Duque Estrada. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996, p.67-125. KONDER, Leandro. A poesia de Brecht e a História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 344 KOSELLECK, Reinhart. L’expérience de l’histoire. Trad. A.Escudier avec collaboration. Paris: Gallimard/Seuil, 1997. LA CAPRA, Dominick. Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva visión, 2005. LE GOFF, Jacques. História e memória. Trad. Bernardo Leitão. 3.ed. Campinas: Unicamp, 1994. LE GOFF, Jacques; LE ROY LADURIE, E. et al. A nova história. Lisboa: Edições 70, 1983. LEMAIRE, Lia e DE DECCA, Edgard. Pelas margens. PortoAlegre/Campinas: URGS/Unicamp, 2000. LESPADA, Gustavo. Manifestaciones literárias de la sombra. In: MANZONI, Celina (org). Violencia y silencio: literatura latinoamericana contemporânea. Buenos Aires: Corregidor, 2005. p.225-226. LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988. LOPES, Rodrigo Garcia. Meu encontro com a “besta dos pinheirais”. In: DICK, André e CALIXTO, Fabiano (org). A linha que nunca termina, pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. p.49-53. LOWENTHAL, David. How we know the past. In: The past is a foreign country. Cambridge: University Press, 1988. p.185-259. LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio, uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. (Trad. das teses Jeanne Marie Gagnebin e Marcus Lutz Muller). São Paulo: Boitempo, 2005. MACIEL, Maria Esther. Nos ritmos da matéria, notas sobre as hibridações poéticas de Paulo Leminski. In: DICK, André e CALIXTO, Fabiano (org). A linha que nunca termina, pensando Paulo Leminski. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004. p.171-179. MAIA, Marisa S. Extremos da alma. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. MARCUSE, Herbert. A esquerda sob a contra-revolução. In: Contra-revolução e revolta. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. _____. Herbert Marcuse fala aos estudantes. In: LOUREIRO, Isabel (org). A grande recusa hoje. Petrópolis: Vozes, 1999. p.64. Entrevista. MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. In: FROMM, E. Conceito marxista do homem. 6.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. _____. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006. MAULPOIX, Jean Michel. L’Expérience lyrique. In: Du lyrisme. Paris: José Corti, 2000. p.373-402. MEIRELES, Cecília. Obras completas. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987. MENDONÇA, Sonia Regina e FONTES, Virgínia Maria. História do Brasil recente, 1964-1992. 4. ed. revista e atualizada. São Paulo: Ática, 2001. (Princípios, 152). MENEGAT, Elizete. Limites do Ocidente: um roteiro para o estudo da crise de formas e conteúdos urbanos. Tese (Doutorado Planejamento Urbano e Regional) . IPUR, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. MENEGAT, Marildo. Depois do fim do mundo: a crise da modernidade e a barbárie. Rio de Janeiro: FAPERJ/Relume Dumará, 2003. _____. O olho da barbárie. São Paulo: Expressão Popular, 2006. MERQUIOR, José Guilherme. Formalismo e tradição moderna: o problema d arte na crise da cultura. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense/EDUSP, 1974. _____. Comportamento da musa: a poesia desde 22. In: O elixir do apocalipse. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. p.166-177. MESSEDER PEREIRA, Carlos Alberto. O que é contracultura. São Paulo: Brasiliense, 1983 (Primeiros Passos, 100). MEYERHOFF, Hans. O tempo na literatura. Trad. Myriam Campello. Rev. técnica Afrânio Coutinho. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1976. NUNES, Benedito. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 1988. (Fundamentos). 345 _____. Tempo. In: JOBIM, J.L. (org). Palavras da crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p.343-365. OELHER, Dolf. O Velho Mundo desce aos infernos. São Paulo: Cia. das Letras, 1999. ORLANDI, Eni (org.). Discurso fundador: a formação do país e a construção da identidade nacional, Campinas: Pontes, 1993. ______. Eni. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 3.ed. Campinas: UNICAMP, 1995. ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. _____. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 2001. PAZ, Octavio. Os Filhos do Barro: do romantismo à vanguarda. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. _____. O Arco e a Lira. Trad. Olga Savary. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. (Logos). _____. Convergências: ensaios sobre arte e literatura. Trad. Moacir Wernek de Castro. Rio de Janeiro: Rocco, 1991. _____. Aguila o sol? 7.ed. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1990. (Colección popular). PEDROSA, Célia e CAMARGO, Maria Lucia. Poesia e contemporaneidade: leituras do presente. Chapecó: Argos, 2001. PEDROSA, Célia (org). Mais poesia hoje, Rio de Janeiro: 7Letras, 2000. _______. Paulo Leminski: señales de vida y sobrevida. In: CÁMARA, Mario. Leminskiana: antología variada. Buenos Aires: Corregidor, 2006. p.309-335. PENHA, João. O que é existencialismo?. 15. reimp. São Paulo: Brasiliense, 2004 (Primeiros Passos). PIETROCOLLA, Luci Gati. Um tempo sem trégua: as prisões políticas nos anos 60/70, In: FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaias e GRANVILLE, Ponce (org). Tiradentes: um presídio da ditadura: memórias de presos políticos. São Paulo: Scipione, 1997. p.449-470. PLATÃO. Crátilo, o de la exactitud de las palavras. In: Obras completas. Madri: Aguilar, 1981. p.508- 552. PRADO, Luis Carlos e EARP, Fabio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional e concentração de renda. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L.N. (org). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p.207-241. (O Brasil Republicano, v.4). RAMA, Angel. A cidade das letras. Trad. Emir Sader. São Paulo: Brasiliense, 1985. REALE, Giovanni e ANTISIERI, Dario. História da filosofia. 3 v. São Paulo: Paulus, 1990. REMOND, René. Uma história presente. In: Remond, R. (org). Por uma história política. 2.ed. Trad. Dora Rocha. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p.13-36. RICOEUR, Paul. A metáfora viva. Porto: Rés Ed., [s/d]. RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. São Paulo: UNESP, 1993. _____. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000. _____. Cultura política: os anos 60-70 e sua herança. In: FERREIRA, J. e DELGADO, L.N. O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.133-166. (O Brasil Republicano, v.4). ROLLEMBERG, Denise. A idéia de revolução: da luta armada ao fim do exílio (1961-1979). Que história é essa? A universidade vai à sociedade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/CCBB, 1994. _____. Exílio, entre raízes e radares. Rio de Janeiro: Record, 1999. ROMAGNOLI, Luis Henrique e GONÇALVES, Tânia. A volta da UNE, de Ibiúna a Salvador. São Paulo: Alfa-Ômega, 1979. (História Imediata, 5). ROSSI, Paolo. Ricordare e dimenticare. In: Il passato, la memoria, l’oblio: sei saggi di storia delle idee. Bologna: Il Mulino, 1991. p.13-34. 346 ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1987. SALGUEIRO, Wilberth Claython. Forças & formas: aspectos da poesia brasileira contemporânea (dos anos 70 aos 90). Vitória: EDUFES/CCHN, 2002. SANTIAGO, Silviano. Poder e alegria – a literatura brasileira pós-64 – reflexões. In: Nas malhas da letra. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. SANTO AGOSTINHO. Confissões. In: Santo Agostinho. 2.ed. Trad. J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Os Pensadores). SANTOS, Antônio Carlos. De pássaro incubado a tico-tico de rapina: a poesia de Antonio Carlos de Brito, o Cacaso. In: PEDROSA, C. e CAMARGO, M.L. Poesia e Contemporaneidade: leituras do presente. Chapecó: Argos, 2001. p.79-97. SARTRE, Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. In: Jean Paul Sartre. (Seleção de textos José Américo Motta Pessanha). Trad. Vergílio Ferreira. São Paulo: Abril Cultural, 1987. (Os Pensadores). p.1-32. SCHILLER, Friedrich. Poesia ingênua e sentimental. Trad. e estudo de Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1991. SCHORSKE, Carl E. Pensando com a história: indagações na passagem para o modernismo. Trad. P.M.Soares. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. SCHWARZ, Roberto. Seqüências brasileiras: ensaios. São Paulo: Cia. das Letras, 1999. SECCHIN, Antonio Carlos. Escritos sobre poesia e alguma ficção. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2003. SELIGMANN-SILVA, Marcio (org). História, memória, literatura. O testemunho na era das catástrofes. Campinas: Unicamp, 2003. _____. As literaturas de testemunho e a tragédia: pensando algumas diferenças. In: Finazzi-Agrò, Ettore e Vecchi, Roberto. (org). Formas e mediações do trágico moderno, uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004. p.11-40. SILVA, Alberto Ribeiro. Sinal Fechado: a música popular brasileira sob censura (1937-45/1969-78). Rio de Janeiro: Obra Aberta, 1994. SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: REMOND, R. (org). Por uma história política. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p.231-270. SOARES, Débora Racy. Um Frenesi na Corda Bamba – Análise crítica da obra poética Grupo Escolar (1974) de Antônio Carlos de Brito. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Letras/UNESP-Araraquara, 2003. [mimeo] SOUSA, Fernando Ponte de. Histórias inacabadas: um ensaio de psicologia política. Maringá: EDUEM, 1994. STERZI, Eduardo. Formas residuais do trágico, alguns apontamentos. In: FINAZZI-AGRÒ, Ettore e VECCHI, Roberto. (org). Formas e mediações do trágico moderno, uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004. p.103-112. SUSSEKIND, Flora. Seis poetas e alguns comentários. Papéis colados. 2.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. p.319-354. _____. Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. 2.ed. revista. Belo Horizonte: UFMG, 2004. THOMPSON, Edward P. Os Românticos: a Inglaterra na era revolucionária. Trad. Sérgio M.Rego Reis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. TOLEDO, Caio Navarro. 1964: visões críticas do golpe: democracia e reformas no populismo. Campinas: Unicamp, 1997. TRAVERSO, Enzo. La historia desgarrada, ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Trad. espanhola de Davi Chiner. Barcelona: Herder, 2001. 347 VECCHI, Roberto. O que resta do trágico: uma abordagem no limiar da modernidade cultural brasileira. In: FINAZZI-AGRÒ, Ettore e VECCHI, Roberto. (org). Formas e mediações do trágico moderno, uma leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco, 2004. p.113-126. VELHO, Gilberto. Subjetividade e sociedade: uma experiência de geração. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. VERNANT, Jean Pierre. A morte nos olhos: figuração do Outro na Grécia Antiga. Ártemis e Gorgó. Trad. Clovis Marques. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. p.42-43. VIDAL, Paloma. A história em seus restos: literatura e exílio no Cone Sul. São Paulo: Annablume, 2004. VIEIRA, Beatriz de Moraes. Intertextualidade poética e memória: o Brasil das Canções do Exílio. Trabalho monográfico. (Mestrado em Literatura Brasileira). ICHF, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 1995. [mimeo]. VIEIRA, B. Itinerários da memória na poesia de Manuel Bandeira. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 1997. [mimeo]. VIEIRA, Beatriz de Moraes. Apontamentos sobre a origem e pequeno histórico da relação entre poesia e história. Trabalho monográfico. (Doutorado em História Social). ICHF, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. [mimeo]. WATT, Ian. Coda: Reflexões sobre o século XX. In: Mitos do individualismo moderno: Fausto, D.Quixote, D.Juan, Robison Crusoé. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p.243-272. WILLIAMS, Raymond. Estruturas de sentimento. In: Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p.130-137. WOOD, Ellen e FOSTER, Jonh Bellamy. Em defesa da história:
Download