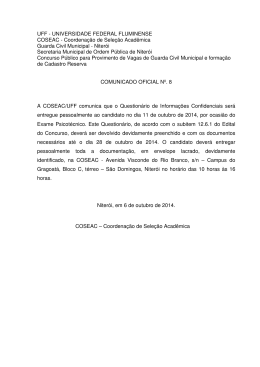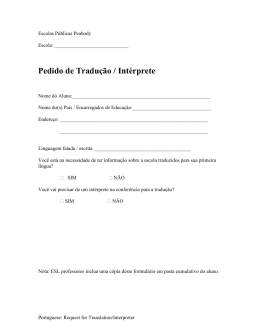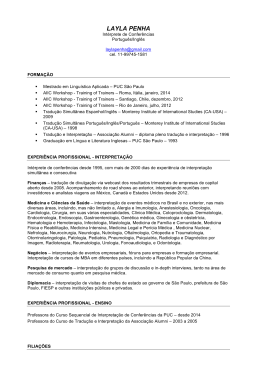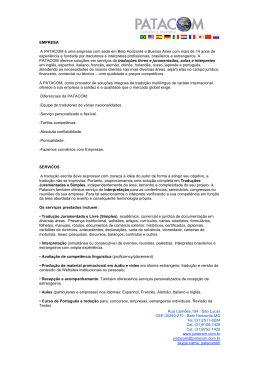Gragoatá n. 31 2o semestre 2011 Política Editorial A Revista Gragoatá tem como objetivo a divulgação nacional e internacional de ensaios inéditos, de traduções de ensaios e resenhas de obras que representem contribuições relevantes tanto para reflexão teórica mais ampla quanto para a análise de questões, procedimentos e métodos específicos nas áreas de Língua e Literatura. ISSN 1413-9073 Gragoatá Niterói n. 31 p. 1-328 2. sem. 2011 © 2012 by Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense Direitos desta edição reservados à– Editora da UFF – Rua Miguel de Frias, 9 – anexo – sobreloja – Icaraí – Niterói – RJ – CEP 24220-900 – Tel.: (21) 2629-5287 – Telefax: (21)2629-5288 http://www.editora.uff.br – E-mail: [email protected] É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da E ditora. Organização: Projeto gráfico: Capa: Diagramação Supervisão gráfica: Coordenação editorial: Periodicidade: Tiragem: Ângela Maria Dias e Paula Glenadel Estilo & Design Editoração Eletrônica Ltda. ME Rogério Martins Marcos Antonio de Jesus Káthia M. P. Macedo Ricardo Borges Semestral 400 exemplares Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Editora filiada à G737 Gragoatá. Publicação dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense.— n. 1 (1996) - . — Niterói : EdUFF, 2011 – 26 cm; il. Organização: Ângela Maria Dias e Paula Glenadel Semestral ISSN 1413-9073 1. Literatura. 2. Linguística.I. Universidade Federal Fluminense. Programas de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem e Estudos de Literatura. CDD 800 APOIO PROPPi/CAPES / CNPq UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Reitor: Vice-Reitor: Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Diretor da EdUFF: Roberto de Souza Salles Sidney Luiz de Matos Mello Antonio Claudio Lucas da Nóbrega Mauro Romero Leal Passos Conselho Editorial: Mariangela Rios de Oliveira – UFF - Presidente Maria Lúcia Wiltshire - UFF Fernando Muniz – UFF Jussara Abraçado - UFF Vanise Medeiros - UFF Maria Elizabeth Chaves - UFF Mônica Savedra - UFF Paula Glenadel - UFF Silvio Renato Jorge - UFF Xoán Lagares – UFF Arnaldo Cortina – UNESP/ARAR Dermeval da Hora – UFPB Eneida Leal Cunha - UFBA Eneida Maria de Souza - UFMG Erotilde Goreti Pezatti – UNESP/SJRP Jacqueline Penjon – Paris III- Sorbonne Nouvelle José Luiz Fiorin – USP Leila Bárbara – PUC/SP Mabel Moraña – Saint Louis University Márcia Maria Valle Arbex - UFMG Marcos Antônio Siscar - UNICAMP Marcus Maia – UFRJ Margarida Calafate Ribeiro – Univ. de Coimbra Maria Angélica Furtado da Cunha – UFRN Maria Eugênia Lamoglia Duarte - UFRJ Regina Zilberman – UFRGS Roger Chartier – Collège de France Vera Menezes – UFMG Sírio Possenti – UNICAMP Teresa Cristina Cerdeira - UFRJ Conselho Consultivo: Ana Pizarro (Univ. de Santiago do Chile) Cleonice Berardinelli (UFRJ) Célia Pedrosa (UFF) Eurídice Figueiredo (UFF) Evanildo Bechara (UERJ) Hélder Macedo (King’s College) Laura Padilha (UFF) Lourenço de Rosário (Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa) Lucia Teixeira (UFF) Malcolm Coulthard (Univ. de Birmingham) Maria Luiza Braga (UFRJ) Marlene Correia (UFRJ) Michel Laban (Univ. de Paris III) Mieke Bal (Univ. de Amsterdã) Nádia Battela Gotlib (USP) Nélson H. Vieira (Univ. de Brown) Ria Lemaire (Univ. de Poitiers) Silviano Santiago (UFF) Teun van Dijk (Univ. de Amsterdã) Vilma Arêas (Unicamp) Walter Moser (Univ. de Montreal) Site: www.uff.br/revistagragoata Gragoatá n. 31 2o Semestre 2011 Sumário Apresentação ................................................................................. Cruzamentos interculturais: uma apresentação Ângela Maria Dias, Paula Glenadel 5 ARTIGOS Meditação sobre o ofício de criar............................................... 15 Silviano Santiago Não culpado ................................................................................... 25 Michel Deguy Melancolia da desconstrução ..................................................... 31 Jacob Rogozinski Estética da morte ........................................................................... 51 Jaime Ginzburg Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: en(cena)ção ficcional de amores .................................... 63 Maria Conceição Monteiro Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada......................................................................................... 77 Sandra Regina Goulart Almeida A construção das éticas de tradução de textos literários a partir da experiência: a interação entre a academia e a sociedade .......................................................................................... 97 Maria Clara Castellões de Oliveira Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural ........................... 107 Meta Elisabeth Zipser, Michelle de Abreu Aio A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática ........... 119 Érika Nogueira de Andrade Stupiello Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos ............................... 135 José Cândido de Oliveira Martins Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D.......................................................................................... 151 André Rangel Rios Das atmosferas, acasos e turbulências ..................................... 171 Maria Cristina Franco Ferraz O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina ..................... 183 Milla Benício Ribeiro de Almeida Procedimentos de escrita e manejo de pigmentos: uma leitura de Esperando Godot e Fim de Jogo de Samuel Beckett . 201 Sônia Maria Materno de Carvalho O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot ........................................................................ 209 Davi Andrade Pimentel Política e produção de subjetividades: música e literatura... 225 Pedro Dolabela Chagas Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa ............................................................. 243 Vanderlei José Zacchi Poética do caos: a conquista de Babel........................................ 259 Arnaldo Rosa Vianna Neto Piazza del Popolo o el tono del desterrado ............................. 273 Margareth dos Santos Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy ........................................................................................ 287 Antonio Andrade RESENHAS Campos, Haroldo de. Galaxias/Galáxias. Tradução ao espanhol e notas de Reynaldo Joménez. Prólogo de Roberto Echavarren. Montevidéu: La Flauta Mágica, 2010. .. 301 Rosario Lázaro Igoa DIAS, Ângela Maria; GLENADEL, Paula (orgs.). Valores do abjeto. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. ......................................................................... 307 Renan Ji COLABORADORES DESTE NÚMERO ................................... 313 NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ............. 321 Apresentação Cruzamentos interculturais: uma apresentação Ângela Maria Dias Paula Glenadel “Primeiras palavras”: tradição, tradução e criação na cultura contemporânea A concepção segundo a qual toda escrita ou invenção é uma forma de releitura de obras já existentes, que certamente não deixa de ser congenial à constituição das séries artísticas do ocidente, embora se encontre mais assiduamente teorizada desde a vigência da literatura crítica da modernidade, consiste agora no processo-chave da criação de novas linguagens. Ela é visível não apenas na importância concedida à leitura e à resposta dos leitores, mas também na hibridização entre gêneros e práticas discursivas, com fronteiras cada vez mais indistintas, num espelhamento entre modalidades ficcionais, autobiográficas, históricas e ensaísticas. De certa maneira, a miscigenação de registros e formas artísticas, em cruzamentos de efeitos inusitados, ampliada desde a invenção do cinema, no início do século vinte, vem-se radicalizando contemporaneamente pela centralidade do computador, onde circulam vorazmente, numa disposição não hierárquica, textos, filmes, músicas, fotografias, pinturas e nos hipertextos, montagens de variada fatura, onde múltiplas interseções de linguagens se perfazem. Esta permeabilidade entre códigos e suportes, bastante difundida pelo processo da adaptação cinematográfica de romances, hoje se acentua pelo fluxo de metamorfoses constantes entre meios e suportes, quando uma mesma narrativa, ficcional ou não, pode ser veiculada de diferentes maneiras: como texto, ou vídeo, ou cinema, ou animação, ou entrevista, ou ainda como reportagem de televisão. Esta estética de migrações e transposições, entendida como modo de produção artístico-cultural contemporâneo decorrente do protagonismo da tecnologia, banaliza, de certa maneira, o intercâmbio e a integração de códigos e linguagens propostos pelas vanguardas, no início do século XX, e tende a entronizar uma dinâmica criativa altamente fundada no jogo intertextual da citação, da paródia, da tradução como constantes. Haroldo de Campos, em sua prolífica obra de crítico-tradutor, reiteradamente considera a Literatura como fazer e sua História, como um sistema não linear de produção de intertextos, Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 5 em que “a plagiotropia (...) se resolve em tradução da tradição, num sentido não necessariamente retilíneo” (CAMPOS, 1997, p. 48). Ao conectar tal jogo de citações com a paródia, o escritor lembra o “seu sentido etimológico de ‘canto paralelo’”, abrangendo nela tanto o “diálogo de textos” ou “intertextualidade” (na fórmula de Kristeva, derivada de Bakhtin), como a noção estrita (em Tinianov, por exemplo) de paródia como “inversão (cômica) do texto parodiado” (CAMPOS, 1997, p. 56) Nesse sentido, a ativação do acervo tradicional promovida pela tradução, ao constituir “uma operação de crítica ao vivo”, vai ser concebida pelo crítico como “transcriação”, distanciando-se da “tradução referencial, do significado” por proceder a “uma operação sobre a materialidade do significante” (CAMPOS, 1997, p. 46). Essa disposição dialógica inerente à vocação paródica da tradução é, ademais, vista por Haroldo de Campos como inerente ao próprio ato de escrever. Assim, ao debruçar-se sobre a tradução do Segundo Fausto de Goethe, o teórico interpreta a obra como um momento irônico de uma longa tradição de releituras, desde o primeiro Fausto de 1587, “uma singular epopéia dialógica” que carnavaliza o Paraíso de Dante (CAMPOS, 1997, p. 59). Mas a recodificação promovida pelo agenciamento tradutor deve ser de natureza poética capaz de reinventar a iconicidade do signo estético, no texto original, sua fisicalidade, o som, o movimento, a forma. Daí a convergência de tal concepção com a visão de Benjamin, no seu ensaio “A tarefa do tradutor”, sobre a oxigenação da língua tradutora sob o influxo da “língua pura” haurida do original, e entendida por Campos “em termos de um código intra-e-inter-semiótico, latente na poesia de todas as línguas, e exportável de uma a outra, como um sistema geral de formas significantes” (CAMPOS, 1997, p. 56). Semelhantemente, a visão derridiana de tradução, contemplando a “multiplicidade de línguas e a impureza do limite” (DERRIDA, 1999, p. 23) acaba revelando-se como equivalente a uma poética, por colocar como indecidida a questão de uma escolha simples entre linguagem e metalinguagem, bem como entre uma língua e outra. No seu empenho em vincular as duas línguas e estabelecer pontes entre elas, o tradutor elege a aventura da busca pela alteridade, movido pelo sentimento da diferença que modelou a torre de Babel como o fundamento da linguagem, na plasmação das linguagens. E nesse sentido, ele assume, no nosso “mundo de línguas em contato”, “o ethos comparatista ― a razão dialógica, o respeito à diferença e o reconhecimento da diversidade ― em contraposição à hegemonia, à homogeneização e ao monolinguismo” (SCHMIDT, 2010, p. 10). Assim, na atualidade imantada pela centralidade do aparato tecnológico-informacional, o principal viés-teórico metodológico da literatura comparada, como privilegiada estratégia de conhecimento e compreensão das diferenças identitárias 6 Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 no mundo globalizado, consiste na tradução. Os eixos do comparatismo ― “a intertextualidade, a interdiscursividade e a interdisciplinaridade” (SCHMIDT, 2010, p. 11) ― constituem os instrumentos da prática tradutória e as marcas do seu compromisso com a reconstituição dos diálogos culturais, na construção de uma historiografia francamente transcultural, fundada na ultrapassagem das limitações do conceito de literatura nacional. A compreensão da série literária ― hoje profundamente hibridizada com outros códigos e suportes artísticos e informacionais ― se balizada por um relacionismo não linear e polifônico, “em que cada novo texto funcionaria como interpretante do fundo textual anterior” (CAMPOS, 1997, p. 56), constituirá o melhor instrumento para o estudo da heterogeneidade histórico-cultural implicada na noção de comunidades interliterárias e interculturais. Em plena vigência da mundialização econômico-cultural, o impacto das incessantes transformações tecnológicas em diferentes contextos político-sociais faz da questão identitária, numa perspectiva anti-isolacionista, o núcleo crucial de indagações, frente a fenômenos simultâneos e conjugados, tais como o conflito de etnias, a emergência de novos nacionalismos, a importância estratégica das alianças regionais, o surgimento movimentos sociais de contestação forjados pela internet. O próprio conceito de literatura nacional, hoje atravessado pelo eco de vozes não hegemônicas e descontinuidades, mostra-se inteiramente incompatibilizado com os parâmetros restritos ao lugar de produção, característicos dos nacionalismos tradicionais, já que, além das alteridades internas, há nações não tão claramente separadas ou distintas por fronteiras geopolíticas, lingüísticas e culturais, além daquelas propriamente sem estado, como, por exemplo, as dos curdos, bascos e palestinos (SCHMIDT, 2010, p. 154). Por outro lado, numa confirmação do teor altamente complexo inerente à fisionomia cultural da contemporaneidade, “a nação continuaria funcionando globalmente como um componente irredutível da identidade, muito embora (...) esse termo (seja) incapaz de registrar as diferenças múltiplas e incomensuráveis que dividem uma nação de si própria e das outras” (SCHMIDT, 2010, p. 155). Por isso mesmo, a tradução constitui a pedra de toque do trabalho comparatista, num universo inundado de interseções e cruzamentos culturais, tanto a nível econômico e geopolítico, quanto em termos comunicacionais e artísticos. A tradução cultural, como operação indispensável para redução das dessimetrias entre poderes lingüísticos e culturais hegemônicos e línguas minoritárias, sem dúvida, está no centro do trabalho comparatista para promover trânsitos e remover fronteiras. Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 7 Spivak, em “Rethinking Comparativism”, de 2009, crê numa espécie de equivalência entre as línguas, fundada em “circuitos metapsicológicos de uma memória lingual” (SPIVAK, 2009, p. 612) e propõe que esta equivalência deva ser ativada pelo comparatismo, num esforço para produzir um simulacro, através da reflexividade da linguagem, capaz de traduzir, não o conteúdo, mas os movimentos “linguageiros”(“but the very moves of languaging”). Talvez possamos aproximar tal afirmação da hipótese benjaminiana sobre o horizonte de uma “língua pura” como fundamento da afinidade entre as línguas passível de emergir, pelo amoroso esforço da tradução em conceber na outra língua “o modo de intencionar do original” (BENJAMIN apud CAMPOS, 1997, p. 54). A tradução baseada na equivalência, porque pautada por uma profunda aprendizagem de línguas voltada para a “implosão de um simulacro da memória lingual”, poderia, segundo a autora indiana, contrapor-se aos jogos de poder implicados na desigualdade entre línguas hegemônicas e subalternas, e ser capaz de inaugurar um tipo de contato com o idioma estrangeiro, bastante diferente do “de um comparatista que supostamente ocupa um lugar acima das tradições lingüísticas a serem comparadas” (SPIVAK, 2009, p .613). O lugar do comparatista como tradutor transcultural, neste mundo de culturas entrelaçadas, tem a ver com o que Edward Said desenvolve, em suas conferências Reith, de 1993, sobre as “representações do intelectual”. Na atualidade abarrotada de especialistas, do alto de sua autoridade e das recompensas que auferem, o intelectual, fiel ao papel público, característico de sua vocação para representar ― isto é, “dar corpo e articular uma mensagem” (SAID, 2005, p. 25) reconhecida publicamente ― deve buscar esquivar-se aos “estereótipos e às categorias redutoras que tanto limitam o pensamento humano e a comunicação” (SAID, 2005, p. 10). Nesse sentido, o permanente questionamento de gregarismos como o “nacionalismo patriótico, o pensamento corporativo e um sentido de privilégio de classe, raça ou sexo” (SAID, 2005, p. 13) constitui o permanente desafio de um sujeito comprometido com a liberdade humana e o conhecimento. Mais adiante, ao falar sobre Adorno, como “o intelectual por excelência” (SAID, 2005, p. 63), Said recupera o que considera, na obra do pensador da Escola de Frankfurt, “a essência da representação do intelectual como um exilado permanente” (SAID, 2005, p. 64). A “perspectiva dupla ou de exílio” como “posto de observação do exilado para o intelectual” (SAID, 2005, p. 68) significa exercer o “desassossego”, o movimento constante, o deslocamento, a partir dos quais “uma ideia ou experiência é sempre contraposta a outra, fazendo com que ambas apareçam sob uma luz às vezes nova e imprevisível” (SAID, 2005, p. 67). 8 Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 Possivelmente, esta mesma perspectiva caracteriza a preocupação de Spivak com o comparativismo como um gesto político (SPIVAK, 2009, p. 616) na ultrapassagem da “injustiça histórica diante de línguas associadas com povos não competitivos dentro do modo de produção capitalista”, buscando estabelecer entre elas uma interconexão, na criação de uma coletividade subalterna de línguas fora das fronteiras da cultura das Nações Unidas. (SPIVAK, 2009, p. 613, 614) A perspectiva utópica da proposta de uma leitura das margens agenciada pelas línguas mais prestigiadas econômica e culturalmente, por meio de cuidadosa escuta, constitui um horizonte de expectativas capaz de revestir eticamente a tradução e o comparatismo que pressupõe, impedindo que se tornem reféns das malhas dos nacionalismos estreitos e ou da instrumentalização do outro. A estratégia do exílio como lugar do intelectual, ao obrigá-lo sempre a descentrar-se de sua própria casa, certamente, pode construir um profícuo “entre-lugar” em que as coisas nunca sejam vistas de maneira isolada; propiciando um enfoque transcultural, no qual, “uma ideia ou experiência seja sempre contraposta a outra, fazendo com que ambas apareçam sob uma luz às vezes nova e imprevisível” (SAID, 2005, p.67). Nesse sentido, em seu texto simultaneamente filosófico e autobiográfico sobre o monolinguismo do outro, que é também o seu, Derrida ressalta a importância dentro da própria cultura greco-latina-cristã do ocidente de certos pontos de passagem, ou de tradução, em que ela se comunica com um ailleurs, um fora, que permanece aberto, e demanda tradução: “khôra, a teologia negativa, mestre Eckhart e além, Freud e além, um certo Heidegger, Artaud, Lévinas, Blanchot, e alguns outros” (DERRIDA, 1996, p. 132). Este “fora” nos fala de uma outra racionalidade, de uma outra relação com a língua e com o outro, que teriam uma potência de estremecimento da geografia do centro e das margens, onde a tradução apareceria como contínuo deslocamento entre essas posições. Nesta encruzilhada difícil e melancólica, pois incerta e exigente, onde “Nada é intraduzível num sentido, mas em outro sentido tudo é intraduzível, a tradução é um outro nome do impossível” (DERRIDA, 1996, p. 103)”, talvez se possa vislumbrar a possibilidade de um inusitado e fortuito universalismo. O tema nas perspectivas dos artigos Os artigos que integram este número responderam à chamada para refletir sobre o tema de maneiras muito diferentes, comprovando a complexidade e a pertinência da reflexão sobre os cruzamentos interculturais em nossos dias. Em que pese a diversidade das abordagens apresentadas, é possível perceber que os artigos se distribuem em três grandes eixos – que, contudo, não se organizam de maneira linear no sumário. Entre Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 9 esses eixos de reflexão teórica, há todo um jogo de tons e temas, que presidiram à organização sequencial dos textos na revista. O primeiro eixo agrupa textos mais explicitamente vinculados à tradução, que trazem como contribuição o aprofundamento da compreensão de como o desenvolvimento de ferramentas de tradução afeta o envolvimento do tradutor com seu trabalho (Érika Nogueira de Andrade Stupiello), bem como dos valores que a tradução pode assumir num contexto de confronto com outras atividades ligadas à linguagem, como o jornalismo (Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio), e com o contexto do mercado editorial, da mídia ou da academia (Maria Clara Castellões de Oliveira). O segundo eixo é marcado por uma reflexão sobre o luto e a ética, em textos que buscam dotar os processos presentes na tradução de um valor teórico, seja integrando aspectos diversos da atividade do intelectual pós-colonial, marcados pela perda daqueles privilégios que o tradutor deteria com relação ao subalterno, que se transforma em solidariedade e hospitalidade (Sandra Regina Goulart Almeida), seja detectando uma certa melancolia da desconstrução como a (im)possível tradução da metafísica ocidental, da linguagem que nos constitui (Jacob Rogozinski); ou, ainda, sublinhando a importância de “traduzir”, refinando-as, nossas representações da morte como mera destruição para enxergá-la como motor de uma estética, notadamente na literatura brasileira (Jaime Ginzburg). Encontram-se aqui, ainda, a produtividade das noções de herança, tributo e homenagem na lírica moderna e contemporânea, marcadas por uma “política da amizade” que muitas vezes se desdobra em trabalho de luto (Antonio Andrade), a caracterização do “desterro” do poeta como fonte da dimensão solidária e ética de sua escrita (Margareth dos Santos) e o luto de uma mitologia da pureza linguística abrindo-se à criatividade no conflito entre as lógicas ocidental e crioula que gera debates sobre o uso da língua francesa por escritores francófonos (Arnaldo Rosa Vianna Neto). Numa perspectiva marcada pelo desencanto com o contemporâneo, porém combativa e interventiva, o texto de Michel Deguy procura fazer dialogar arte e justiça, julgamento estético e ético, lendo o filme de Lumet. No terceiro eixo, há os textos que encenam cruzamentos entre a literatura e as outras artes, refletindo sobre a carnavalização e a paródia na obra de Zappa (Vanderlei José Zacchi), a pintura no teatro de Beckett (Sônia Maria Materno de Carvalho), a música e a produção de subjetividades (Pedro Dolabela Chagas). Também fazem parte desse conjunto os textos que investigam fronteiras, como a que separa o homem dos animais (Milla Benício Ribeiro de Almeida), as representações literárias do masculino e do feminino (Maria Conceição Monteiro), o interior e o exterior de 10 Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 um texto de ficção (André Rangel Rios), ou a transposição daquilo que era dado ontológico do humano em dado neurológico, numa atual cultura somática (Maria Cristina Franco Ferraz). Alguns textos abordam a intertextualidade, vendo a reescrita como parte fundamental dos processos de criação intertextual para a literatura portuguesa contemporânea (José Cândido de Oliveira Martins), ou explicitando as relações entre a produção ficcional de Blanchot, relativamente pouco explorada entre nós, e a literatura de Kafka (Davi Andrade Pimentel). Merece especial atenção, pelo lugar anfíbio em que se move o seu autor, o texto em que se trata das relações indecidíveis entre o que é vida e o que é letra no universo de um escritor de autoficção (Silviano Santiago). Completando o conjunto de artigos da revista, há duas resenhas, uma das quais discute aspectos da tradução uruguaia das Galáxias de Haroldo de Campos (Rosario Lázaro Igoa), e a outra comenta a proposta de abordagem do abjeto na literatura e nas artes em coletânea recentemente publicada pela EdUFF (Renan Ji). Referências CAMPOS, Haroldo de. O arco-íris branco. Ensaios de Literatura e Cultura. Rio de Janeiro: Imago, 1997. DERRIDA, Jacques. Le monolinguisme de l’autre. Paris: Galilée, 1996. ______. Qu’est-ce qu’une traduction “relevante”? Actes des quinzièmes assises de la traduction littéraire (1998, Arles). Arles : Actes Sud, 1999. SAID, Edward. Representações do intelectual As Conferências de Reith de 1993. Trad. Milton Hatoum. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. SCHMIDT, Rita Terezinha. Apresentação. In: ___ (org.). Sob o signo do presente – intervenções comparatistas. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2010, p. 9-13. ______. Repensando o lugar do nacional no comparatismo. In: ______ (org.). Sob o signo do presente – intervenções comparatistas. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2010, p.149-166. SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Rethinking Comparativism. In: New Literary History n. 40, v. 3, p. 609-626, 2009. Niterói, n. 31, p. 5-11, 2. sem. 2011 11 Artigos Meditação sobre o ofício de criar1 Silviano Santiago Recebido em 22/05/2011 Resumo A autoficção é apresentada neste texto híbrido, entre literário e crítico, como lugar de confronto de uma prática de escritor com uma prática de intelectual. O confronto realimenta a reflexão do teórico sobre os paradoxos do eu, a partir da irrupção de uma subjetividade leitora na obra do autor de autoficção. Palavras-chave: autoficção; subjetividade; escrita Este texto foi apresentado numa palestra ministrada no SESC RJ a convite de Luciana Hidalgo. 1 Gragoatá Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 Gragoatá Silviano Santiago Em dois livros de ficção publicados recentemente – O falso mentiroso (2004) e Histórias mal contadas (2005) –, tentei dar corpo textual a quatro questões constitutivas do que tem sido para mim o exercício da literatura do eu – as questões da experiência, da memória, da sinceridade e da verdade poética. Se eu aceitei o convite para lhes falar hoje, não foi com a intenção de trazer ao palco o autor dos livros e, com ele, o objetivo de oferecer-lhes uma leitura explicativa daqueles dois e de outros textos autoficcionais meus. Pelo contrário. Só ao leitor compete a tarefa da leitura. Aliás, não sou escritor que busca minimizar o trabalho do leitor; em geral, complico-o. Subscrevo dois versos de Nietzsche/ Zaratustra, que dizem: “odeio todos os preguiçosos que lêem. / Alguém que conhece o leitor, nada fará pelo leitor”. Perguntado sobre se encenava peças para seu público, Antonin Artaud respondeu: “O público, é preciso em primeiro lugar que o teatro seja”. Em nossas palavras: O leitor, é preciso em primeiro lugar que a literatura seja. O objetivo primordial desta fala é o de lhes apresentar e, na medida do possível, discutir algumas questões abstratas que preocuparam e preocupam o escritor enquanto personalidade que reflete sobre o estatuto disso a que hoje se chama – e ele próprio passou a chamar – de autoficção. Se pedisse ajuda a João Cabral de Melo Neto, estas palavras trariam como título e intenção “Meditação sobre o ofício de criar”. A ele peço de novo ajuda para acrescentar que a meditação “nada tem de pregação e sequer da sugestão de receitas possíveis”. No meu caso, cheguei à autoficção através de um longo processo de diferenciação, preferência e contaminação. Passo primeiro à diferenciação e à preferência. Parti da distinção entre discurso autobiográfico e discurso confessional. Os dados autobiográficos percorrem todos meus escritos e, sem dúvida, alavanca-os, deitando por terra a expressão meramente confessional. Os dados autobiográficos servem de alicerce na hora de idealizar e compor meus escritos e, eventualmente, podem servir ao leitor para explicá-los. Traduz o contato reflexivo da subjetividade criadora com os fatos da realidade que me condicionam e os da existência que me conformam. Do ponto de vista da forma e do conteúdo, o discurso autobiográfico per se – na sua pureza – é tão proteiforme quanto camaleão e tão escorregadio quanto mercúrio, embora carregue um tremendo legado na literatura brasileira e na ocidental. Já o discurso propriamente confessional está ausente de meus escritos. Nestes não está em jogo a expressão despudorada e profunda de sentimentos e emoções secre16 Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 Meditação sobre o ofício de criar tos, pessoais e íntimos, julgados como os únicos verdadeiros por tantos escritores de índole romântica ou neorromântica. Não nos iludamos, a distinção entre os dois discursos tem, portanto, o efeito de marcar minha familiaridade criativa com o autobiográfico e o consequente rebaixamento do confessional ao grau zero da escrita. Em que pese seu legado insuspeito para as culturas nacionais, o discurso autobiográfico jamais transpareceu per se em meus escritos, ou seja, não me apropriei dele em sua pureza subjetiva e intolerância sentimental. Não escrevi minha autobiografia. Uma pergunta se impõe: Então, como tenho valido do discurso autobiográfico nos escritos? Para respondê-la, passemos ao terceiro movimento, o da contaminação. Ao reconhecer e adotar o discurso autobiográfico como força motora da criação, coube-me levá-lo a se deixar contaminar pelo conhecimento direto – atento, concentrado e imaginativo – do discurso ficcional da tradição ocidental, de Miguel de Cervantes a James Joyce, para ficar com os extremos. Não foi por casualidade que, na juventude, o crítico de cinema se matriculou na Faculdade de Letras e se tornou, na maturidade, professor de literatura. Se minha vida é a que me toca viver, minha formação foi e é estofada pela leitura dos ficcionistas canônicos e dos contemporâneos – independente de nacionalidade. Com a exclusão da matéria que constitui o meramente confessional, o texto híbrido, constituído pela contaminação da autobiografia pela ficção – e da ficção pela autobiografia –, marca a inserção do tosco e requintado material subjetivo meu na tradição literária ocidental e indicia a relativização por esta de seu anárquico potencial criativo. Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente (o discurso ficcional) significa relativizar o poder e os limites de ambas, e significa também admitir outras perspectivas de trabalho para o escritor e oferecerlhe outras facetas de percepção do objeto literário, que se tornou diferenciado e híbrido. Não contam mais as respectivas purezas centralizadoras da autobiografia e da ficção; são os processos de hibridização do autobiográfico pelo ficcional, e vice-versa, que contam. Ou melhor, são as margens em constante contaminação que se adiantam como lugar de trabalho do escritor e de resolução dos problemas da escrita criativa. A força criadora do eu – o que Michel Foucault chama de ressemantização do sujeito pelo sujeito – tropeça na pedra no meio do caminho que é a tradição literária ocidental. Tropeça na pedra, leva tombo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e se afirma como também produtora no embate com o poder esmagador da tradição Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 17 Gragoatá Memór ias de um sargento de milícias, Memórias póstumas de Brás Cubas e Memórias sentimentais de João Miramar. 2 18 Silviano Santiago ficcional. Dessa forma é que a ressemantização do sujeito pelo sujeito ganha tutano para questionar, pela produção textual, o estatuto contemporâneo tanto da técnica/artesanato da ficção (the craft of fiction, em inglês) quanto do cânone ficcional. Com o correr dos anos, o movimento de vai-vem do questionamento duplo abriu-me uma brecha de intervenção dramática e textual, onde tenho trabalhado as principais características – experiência, memória, sinceridade e verdade poética – da moderna literatura do eu. A fim de evitar mal entendidos, afirmo que em nenhum momento do passado remoto usei a categoria autoficção para classificar os textos híbridos por mim escritos e publicados. Quando pude, evitei a palavra romance. No caso de Em liberdade (1981), um diário íntimo falso “de” Graciliano Ramos, classifiquei o livro de “uma ficção de”, para o desagrado dos editores que preferem o ramerrão do gênero. Já a professora Ana Maria Bulhões de Carvalho o classificou de alterbiografia, um neologismo que já aponta para o caráter híbrido da proposta. Não tive pejo em usar “memórias” para O falso mentiroso. Memórias tem boa tradição ficcional entre nós.2 Finalmente, acrescento que fiquei alegremente surpreso quando deparei com a informação de que Serge Doubrovsky, crítico francês radicado nos Estados Unidos, tinha cunhado, em 1977, o neologismo autoficção e que, em 2004, Vincent Colonna, um jovem crítico e historiador da literatura, tenha valido do neologismo para escrever o desde já indispensável Autofiction & autres mythomanies littéraires (Paris, Tristram). Em suma, passei a usar como minha a categoria posterior e alheia de autoficção. Meu percurso certamente difere do percurso de Serge Doubrovsky e de Vincent Colonna, e é por isso que aceitei o convite que me foi feito por Luciana Hidalgo para participar deste encontro. Aliás, Colonna é bastante generoso na sua configuração do gênero híbrido – a autoficção, que motivou seu estudo, optando por classificar o conjunto das narrativas afins como “uma nebulosa de práticas aparentadas”. Escreve ele que é imensa a lista dos escritores que vêm emoldurando sua identidade numa montagem textual, acrescentando: “Desiguais em sua riqueza, as obras deles são também diferentes pela forma e pela amplidão dos processos de hibridização, mas todas elas marcam uma época, um momento da história literária, em que a ficção do eu [la fiction de soi] ocupa os mais diferentes escritores, para constituir não tanto um gênero, mas talvez uma nebulosa de práticas aparentadas”. Como a autoficção não é forma simples nem gênero adequadamente codificado pela crítica mais recente, eisNiterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 Meditação sobre o ofício de criar me à vontade para relatar-lhes meu caminho pessoal. Retorno à distinção inicial entre discurso autobiográfico e confessional. Não esbocei intencionalmente a distinção e muito menos a arquitetei por artes da inteligência ou da razão. Tampouco a constitui de maneira fria e pragmática como lugar original de minha prática literária. A distinção entre autobiográfico e confessional ganhou corpo textual no momento em que comecei a conjugar minha própria experiência infantil de vida com o auxílio dos verbos de minha memória. Ou seja, desde a mais tenra infância, a distinção entre autobiografia e confissão foi feita e existiu em mim e, desde sempre, existe como força a alavancar a imaginação criadora. A preferência pelo discurso autobiográfico e a conseqüente contaminação dele pelo discurso ficcional se tornou prática textual, ou seja, elas configuraram um produto híbrido, no momento em que o menino/sujeito teve a imperiosa necessidade de jogar para escanteio – ou para o inconsciente – o confessional e aliar a fala de sua experiência de vida à invenção ficcional. A contaminação se tornou prática propriamente literária no momento em que o adolescente/sujeito – um memorioso estudioso de Letras – revisitava as práticas textuais híbridas da infância para torná-las do domínio público. Ao revisitá-las pelo exercício da memória, tenta apreendê-las com o fim de equacionar o desejo de criar narrativas literárias que signifiquem no universo cultural brasileiro. Muita pretensão? Talvez sim, talvez não. Mas nenhum escritor se realiza sem uma “ambição justa”, para retomar a expressão de Autran Dourado. Portanto, a preferência pelos dados autobiográficos e a contaminação do discurso autobiográfico pelo ficcional existiram desde sempre lá na infância e estarão para sempre em meus escritos. Não tirei distinção, preferência e contaminação do nada, não as inventei recentemente e é por isso que vale a pena pagar uma visita ao menino antigo. Desde criança, por razões de caráter extremamente pessoal e íntimo – refiro-me à morte prematura de minha mãe – não conseguia articular com vistas ao outro o discurso da subjetividade plena, ou seja, o discurso confessional. Nisso talvez possa me oferecer como paradigmas a infância de Gustave Flaubert e, principalmente, a maturidade de Fernando Pessoa. Não estou querendo dizer que minha personalidade infantil, isto é, meus impulsos vitais e secretos eram-me desconhecidos. Pelo contrário, conheciaos muito bem. Tão bem os conhecia que sabia de seu alto poder de autodestruição e destruição. Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 19 Gragoatá Silviano Santiago Acreditei ter de esconder dos ouvidos alheios a personalidade de menino-suicida e menino-predador, escondê-la debaixo de discursos inventados (ficcionais, se me permitem), onde eram criadas subjetividades similares à minha, passíveis de serem jogadas com certa inocência e, principalmente, sem culpa no comércio dos homens. Criava falas autobiográficas que não eram confessionais, embora partissem do cristal multifacetado que é o trágico acidente da perda materna. Já eram falas ficcionais e, como tal, co-existiam aos montões. Nenhuma das falas era plena e sinceramente confessional, embora retirassem o poder de fabulação da autobiografia. O dado confessional que poderia chegar à condição plena ficava encoberto, camuflado, para usar a linguagem da Segunda Grande Guerra, então dominante. Não tinha interesse em escarafunchá-lo. Os fatos autobiográficos fabulam, embora nunca queiram aceitar a cobertura da fala confessional, visto que se deixavam apropriar pelo discurso que vim a conhecer no futuro como ficcional. O sujeito ressemantizava o sujeito pelo discurso híbrido. Não estou querendo dizer que não vivia a angústia de não poder articular em público o dado da subjetividade plena, dita confessional. Vivia-o, só que não o exercitava como fala nem o escrevia. Agarrar-me e subtrair-me a essa angústia era o modo vital da sobrevivência do corpo e dos impulsos vitais, era o modo como o discurso autobiográfico se distanciava do discurso confessional e já flertava, inconscientemente, com o discurso ficcional. Onde mais forte se fazia o sentido da angústia e mais necessária sua subtração era à mesa de jantar ou no confessionário. Fiquemos com este exemplo. Meu pai não era católico praticante, mas nos obrigava a ser. Segui o catecismo e fiz primeira comunhão. Ia à missa todos os domingos. Aos sábados, diante do padre-confessor de sotaque germânico (para as conotações, veja-se o período histórico), no escurinho protegido pelas grades do pseudo-anonimato (morava numa cidade do interior), tinha de fazer exame de autoconsciência e ser sincero ao enumerar e confessar os pecados da semana. Costumava trazê-los escritos numa folha de papel. Uma pitada de paranóia, e acrescento que os pecados eram muitos e, perdão pelo trocadilho, inconfessáveis. Apesar da lista avantajada, não proferia no confessionário uma fala sincera, confessional. Mentia. Ficcionalizava o sujeito – a mim mesmo – ao narrar os pecados constantes da lista. Inventava para mim e para o padre-confessor outra(s) infância(s) menos 20 Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 Meditação sobre o ofício de criar pecaminosa(s) e mais ajuizada(s), ou pelo menos onde as atitudes e intenções reprováveis permaneciam camufladas pela fala. Essas mentiras, ou invenções autobiográficas, ou autoficções, tinham estatuto de vivido, tinham consistência de experiência, isso graças ao fato maior que lhes antecedia – a morte prematura da mãe – e garantia a veracidade ou autenticidade. Aos sábados, diante do confessor, assumia uma fala híbrida – autobiográfica e ficcional – verossímil. Era “confessional” e “sincero” sem, na verdade, o ser plenamente. O menino ao confessionário já era um falso mentiroso. Faço minhas as palavras contundentes de Michel Foucault em A arqueologia do saber: “Não me pergunte quem sou eu e não me diga para permanecer o mesmo: é uma moral de estado civil; ela rege nossos papéis. Que ela nos deixe livres quando se trata de escrever”. Na infância, já era multiplicadoramente confessional e sincero, era autoficcionalmente confessional e sincero. O discurso confessional – que nunca existiu no domínio público – se articulava e se articulou desde sempre pela multiplicação explosiva dos discursos autobiográficos que faziam pacto com o ficcional. O discurso confessional – que na verdade não o era, era apenas um lugar vazio, desesperador, preenchido por discursos híbridos - só poderia estar plena e virtualmente num feixe discursivo, numa soma em aberto de discursos autoficcionais, cujo peso e valor final seriam de responsabilidade do padre-confessor – e, hoje, de meu leitor. Ao padre-confessor e ao leitor passava algumas histórias mal contadas. A boa literatura é uma verdade bem contada... pelo leitor... que delega a si – pelo ato de leitura – a incumbência de decifrar uma história mal contada pelo narrador. Competiu aos ouvidos do padre-confessor – e compete hoje aos olhos do leitor – preencher os brancos e os vazios de que é também feito um texto literário, aliás, não tenhamos dúvida, qualquer texto, que o diga o psicanalista. Compete ao leitor empinar (como a uma pipa) e endireitar (como a algo sinuoso) um objeto em palavras que lhe é dado de maneira corriqueira e aparentemente em desordem. Um exemplo? Pois não. Dom Casmurro é uma história mal contada pelo narrador Bentinho sobre o adultério de sua esposa, Capitu, com Ezequiel, o melhor amigo do casal. Caso narrada da perspectiva do leitor, a estória em primeira pessoa sobre o adultério de Capitu se transforma numa bem contada história sobre o ciúme doentio do personagem Bentinho. As histórias – todas elas, eu diria num acesso de generalização – são mal contadas porque o narrador, independentemente do seu desejo consciente de se expressar Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 21 Gragoatá Silviano Santiago dentro dos parâmetros da verdade, acaba por se surpreender a si pelo modo traiçoeiro como conta sua história (ao trair a si, trai a letra da história que deveria estar contando). A verdade não está explícita numa narrativa ficcional, está sempre implícita, recoberta pela capa da mentira, da ficção. No entanto, é a mentira, ou a ficção, que narra poeticamente a verdade ao leitor. Um dos grandes temas que dramatizo em meus escritos, com o gosto e o prazer da obsessão, é o da verdade poética. Ou seja, o tema da verdade na ficção, da experiência vital humana metamorfoseada pela mentira que é a ficção. Trata-se de óbvio paradoxo, cuja raiz está entre os gregos antigos. Recentemente, encontrei a forma moderna do paradoxo num desenho de Jean Cocteau, da série grega. Está datado de novembro de 1936. No desenho vemos um perfil nitidamente grego, o do poeta e músico Orfeu. De sua boca, como numa história em quadrinho, sai uma bolha onde está escrito: “Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité” (Sou uma mentira, que diz sempre a verdade). Esse jogo entre o narrador da ficção que é mentiroso e se diz portador da palavra da verdade poética, esse jogo entre a autobiografia e a invenção ficcional, é que possibilitou que eu pudesse levar até as últimas conseqüências a verdade no discurso híbrido. De um lado, a preocupação nitidamente autobiográfica (relatar minha própria vida, sentimentos, emoções, modo de encarar as coisas e as pessoas, etc.), do outro, adequá-la à tradição canônica da ficção ocidental. Figura 1: desenho de Jean Cocteau 22 Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 Meditação sobre o ofício de criar Toda narrativa ficcional em que a verdade poética está transparente – aquilo que se chama de romance de tese – é um saco. A verdade ficcional é algo de palpitante, que requer sismógrafos, estetoscópios, e todos os muitos aparelhos científicos ou cirúrgicos que levam o leitor a detectar tudo o que vibra, pulsa e trepida no quadro da aparente tranqüilidade da narrativa literária, ou seja, no mal contado pela linguagem. Nesse sentido, e exclusivamente nesse sentido, o bem contado é a forma superficial de toda grande narrativa ficcional que é, por definição e no seu abismo, mal contada. Para terminar, leio parte dum fragmento de “Sem aviso”, texto assinado por Clarice Lispector: “Comecei a mentir por precaução, e ninguém me avisou do perigo de ser precavida, e depois nunca mais a mentira descolou de mim. E tanto menti que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso – já atordoada eu sentia – era dizer a verdade. Até que decaí tanto que a mentira eu a dizia crua, simples, curta: eu dizia a verdade bruta”. Permitam-me a glosa. O sujeito em primeira pessoa começou a mentir por prudência e cautela e, como a realidade ambiente o incitava a ser prudente e cauteloso, continuou a mentir descaradamente. E tanto mentia, que já mentia sobre as mentiras que tinha inventado. E a tal ponto mente, que a mentira se torna o meu modo mais radical de ser escritor, de dizer a verdade que lhe é própria, de dizer a verdade poética. Abstract Self-fiction is presented in this hybrid text, somewhat critical and literary, as the locus of confrontation between an author’s practice and his practice as an intellectual. This conflict prompts theoretical reflections on the paradoxes of the self; as an eruption of a reader’s subjectivity in the work of the writer of self-fiction. Keywords: self-fiction; subjectivity; text Niterói, n. 31, p. 15-23, 2. sem. 2011 23 Não culpado Michel Deguy Tradução de Paula Glenadel Recebido em 03/03/2011 Resumo O artigo, em tom de ensaio poético bastante autoral, propõe breves e densas reflexões sobre os temas entrelaçados da justiça e da arte, exemplificando seu pensamento através do filme de Sidney Lumet, Sob supeita. Palavras-chave: ética; estética; desconstrução Gragoatá Niterói, n. 31, p. 25-29, 2. sem. 2011 Gragoatá Michel Deguy A Pierre Bergounioux N.T.: Em francês, respectivamente, rendre e prendre, relação que se perde na tradução para o português. 1 26 O julgamento é severo; é o seu predicado. Assim como o decreto segue a lei, a aplicação da sanção segue o julgamento. Na fonte desse momento, a tolerância interessa à juris-prudência. O juiz aprecia o caso, não-conforme ao direito e às leis, em consideração da lei. Julgamento determinante, diz o filósofo. A lei, inventada pelos homens, aplica-se aos indivíduos, às situações que chamamos de concretas. Um homem, o juiz, liga, articula, a lei ao caso. O juiz faz exceção do caso; a lei é feita para uma generalidade (“todos os casos desse tipo”); é preciso fazer a circunstância entrar sob a lei; ou descer a lei à singularidade e à particularidade daquele. A lei não pode ser aplicada “automaticamente”: summum jus summa injuria, diz o adágio. O estado de justiça requer a “flexibilidade” da lei, a adapatação do texto ao real – no exercício do julgamento que funde a lei e o direito na circunstância. E fundir tem vários sentidos, chegarei a isso. Se tomarmos as coisas pelo outro lado (a outra ponta do mesmo): o grau de intolerância mede a intransigência, a recusa da transação, o fanatismo da lei. “Tolerância zero” – esse desgracioso sintagma que só tem como concorrente em feiura seu gêmeo “zero tolerância” – tornou-se o slogan dos demagogos. Ora, assim como a margem do batente de uma porta permite apenas que uma junta ajuste o que ela junge, a tolerância é a condição de possibilidade de um regime justo de vida social e de um estado de direito no qual a juris-prudência dá a justeza pela justiça. O etimologista latinizante nos informa que dar se conjuga, em oposição, a tomar.1 Dar, é dar de volta. Em grego, a antidosis, o antídoto, diz a troca. Em Atenas, a “Antidosis” era uma liturgia. Troquemos nossos destinos, já que você alega estar sofrendo uma injustiça maior do que a minha ao dar o que é seu. Dar o troco seria o fingimento e a falsificação, o álibi, de um dar em troca primordial – anterior a qualquer sequência. Dar é sempre um dar de volta: o dom teve lugar. Estamos em dívida. A injustiça que sofremos ao exisitir (“Minha mãe infligiu-me a vida”, Chateaubriand) consiste em não poder deixar de cometer a injustiça por nossa simples existência. Albert Camus: “Eu sou uma injustiça em marcha”. O mal está feito. O dom em retorno remunera (palavra mallarmeana) o dom anterior. Assim a arte, a pintura, por exemplo, dá de volta, mais ou menos justamente (o que não é uma mímica), o dado, o fenômeno divino. Uma devolução por um dom. Platão em busca de justiça (peri tou dikaiou) emprega o verbo apodidonai (República 332). A justiça é aquilo que se devolve. Quem a devolve? O julgamento. Em 352a, o injusto é aquilo que divide, ergue uns contra os outros. A justiça pacifica, unanimiza. O julgamento, absolutamente distinguido de meu desejo, isto é, exercido a partir de um ponto de vista mais elevado, é requisitado Niterói, n. 31, p. 25-29, 2. sem. 2011 Não culpado A devastação e a espera, Gallimard, 2005. 2 pela troca de lugares da antidosis. “Ponha-se no meu lugar!” Essa impossibilidade implica o esforço de situar uma instância de juiz entre os lugares: in partibus, ou em parte alguma (diz-se “acima”). Dir-se-ia que a justeza encontra cada vez mais obstáculo ao seu exercício. Que a justiça não seja desse mundo, os homens sempre estiveram dispostos a aceitar isso. Mas que um “juiz” não se aplique mais a dar a justeza, é uma injustiça que revolta muito mais. A coisa que os modernos exigem mais do que tudo é a igualdade. Ora, a igualdade não é a outorga de um mesmo a todos. Se você tem mais fome do que eu, é justo que receba mais comida. O “julgamento de Salomão”, a mais famosa das sentenças, pronuncia isso: a imparcialidade distribui a diferença. Que a lei se aplique a todos significa precisamente que o espírito de justeza saiba estimar essas diferenças – sem “favor” nem vontade oculta de prejudicar. A aplicação é caso de justeza. A sede de vingança das vítimas não “deve” tomar conta do pretório. Mas de onde viria em última análise a corrupção da justiça, que é tornada evidente por essa substituição do cálculo material das reparações entre lesados (como se o mal não se relacionasse mais senão ao contencioso dos Seguros, sem referir-se doravante à aporia do “perdão do imperdoável”, J. Derrida), se não do fato de que, ali onde caiu a transcendência “divina” (de onde caía a lei), nenhuma invenção elevando uma transcendência humana (se “o homem ultrapassa infinitamente o homem”, como diz Pascal) consegue fixar o ponto a partir do qual um juiz pode exercer a justeza da justiça ? O tribunal de justiça está vazio devido à falta de substituição dos ídolos alegóricos pela formulação dos paradoxos sublimes da desconstrução. O que aconteceu com a corrupção? Desde a velha phtisis aristotélica, modo da kinesis, e cuja transposição literária dará nome vinte e cinco séculos depois à famosa doença do século XIX, a “tísica”, até a corrupção como fenômeno social total, se posso falar junto com Marcel Mauss, cuja apelação designa um estado global (globalizado) das trocas econômicas, dos costumes, e dos regimes políticos, atravessando (engolindo) as insurreições sangrentas da Virtude “incorruptível”, isto é, do terror no qual a utopia programa a fusão da moral e da política, a história é a do inexorável tornar-se corrupto do mundo, ao ponto de ela, a corrupção, valer como sinônimo dessa Devastação com a qual Heidegger nomeia a “época” em que estamos.2 Diversas vias descritivas se oferecem à análise que busca penetrar no coração do fenômeno, e eu estava hesitando sobre se iria elaborar um conceito de delinquência em indivisão com o implacável crecsimento do securizado, que é o aspecto do fenômeno tomado sob o outro ângulo – uma outra face do mesmo. Qualquer notícia, qualquer fait divers, exemplifica a corrupção: o Niterói, n. 31, p. 25-29, 2. sem. 2011 27 Gragoatá N.T.: No Brasil, o filme recebeu o título “Sob suspeita”. 3 28 Michel Deguy todo é como a parte que “o integra”. Prefiro escolher o exemplo desse filme recente e que é esclarecedor, com a condição que se deseje ser esclarecido. É um filme de Sidney Lumet, “Find me guilty”,3 de 2006. Um juiz americano, na clássica cena do processo, representando, portanto, o espírito das Leis, e a Justiça, o povo americano tradicional, devem julgar uma “família” mafiosa acusada de incontáveis crimes, e especialmente acusada na pessoa de um vadio, executor do trabalho sujo, tipo lamentável e monstruoso, simultaneamente de pequena e de grande envergadura, bom sujeito e crápula insondável. O processo dura meses. É um Tribunal, e é um júri popular que dará a sentença, a justiça. O filme conta a derrota do juiz e da justiça. Derrota singular e inédita, definitiva e profética, moderna, irreversível. O que acontece? O criminoso é absolvido. Pelo povo. O fim catastrófico da justiça é essa absolvição. O crime patente não é reconhecido. Ao longo de episódios burlescos, inesperados, admiravelmente e comicamente encenados, assiste-se à decomposição do julgamento, à impossibilidade de doravante dar a justiça. A compaixão, o calor familiar, a fraternidade corrupta, isto é, a conivência, o privilégio dos “ laços de sangue” supersticiosamente idolatrados (último “valor” popular), a enorme cumplicidade da imoralidade calorosa, tudo dissolve a justiça. O juiz, derradeira testemunha da justiça, derradeira muralha contra a dissolução, é sumergido na onda emocional levada até a torrente de lágrimas pela morte da mamãe do acusado, nesse meio-tempo transformado em mister Love. Os homens, tais como são, são absolvidos – não em benefício da dúvida, pois dúvida não há. Mas em benefício da “família”. É a justiça que é dissolvida, despedida, não por um ato da inteligência e uma solenidade, mas denegrida, desfeita, abolida – expulsa desse mundo sob as vaias da gentileza, da vida, a satisfação das vontades do à- vontade. Pois durante todo o filme, é o ritmo ordinário que se espalha, pessoas ordinárias que todos somos – aqui em “família” italiana. Os costumes da grosseria carregam com tudo – comida, prazeres, jogo de cartas, serviços sexuais machistas, o ventre, o centro, o cu central do viver… A abolição não é apenas a do J maiúsculo da Justiça, mas da justiça, aquela que o espírito tenta fazer tornar-se mundo porque “ela não é deste mundo”. As “pessoas” absolvem o culpado. Finalmente, a questão é a da transcendência. O que é a transcendência? “Piedade!” A súplica ergue os olhos em direção ao lugar, isto é, o vazio (e não a auréola) acima: acima do juiz, do amo, do torturador. Não ali horizontalmente ou obliquamente por sobre o ombro da força, perscrutando um horizonte de socorro, mas em direção ao alto vazio, o céu vazio, uma espécie de Niterói, n. 31, p. 25-29, 2. sem. 2011 Não culpado zênite sempre vazio atrás e no alto, por detrás e acima; acima da dominação e da soberania. Nenhum local preciso. Esse lugar vazio é visado, escancarado, suplicado. O vazio não é o nada, nem um não-ente. O lugar não é um nada, embora ele não seja cercado, circunscrito, indicado, situado como era a cella vazia do templo. É a justiça; que não é uma divindade, que é suplicada por essa petição bem diferente do famoso “desejo”, uma sede de justiça que olha o lugar vazio acima do dominante, em cuja direção suplica a súplica. E de onde não virá a sua realização, mesmo que sempre, e para sempre, o suplicante eleve a súplica, e espere. Abstract Written in the mode of a rather authorial, poetic essay, this paper offers brief but intense reflections on the intertwined themes of justice and art; Sidney Lumet´s Find Me Guilty (2006) is used by way of illustration. Keywords: ethics; aesthetics; deconstruction Niterói, n. 31, p. 25-29, 2. sem. 2011 29 Melancolia da desconstrução Jacob Rogozinski Tradução: Vicentina Marangon Revisão de tradução: Paula Glenadel Recebido em 10/04/2011 Resumo O artigo se interessa pelas análises que Derrida consagrou ao “trabalho do luto”, nas quais, tomando como referência a psicanálise, o filósofo distinguia o processo “normal” do luto, baseado numa absorção do objeto perdido, e suas formas patológicas em que ele subsiste como resto inassimilável, que retorna para assombrar o eu como um espectro. Paradoxalmente, o fracasso do trabalho de luto respeitaria mais o Outro morto do que o luto normal ou “exitoso”, e essa preferência de Derrida pelas patologias do luto seria confirmada por “uma melancolia da desconstrução”, reveladora de uma impossibilidade de “fazer o seu luto” da metafísica ocidental. Esta travessia crítica da desconstrução tem no seu horizonte, assim, por uma espécie de parricídio filosófico, que é também uma última homenagem prestada ao mestre morto. Palavras-chave: Derrida; desconstrução; luto; metafísica Gragoatá Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Gragoatá Cf. HEIDEGGER, M. Les Hymnes de Hölderlin (1934-35). Paris: Gallimard, 1988, p. 85-101 sq. 1 32 Jacob Rogozinski Por que se interessar por este objeto tão excêntrico, o pensamento do luto de Derrida? Porque todos nós passamos pela provação do luto no curso de nossa vida, e porque quase não conseguimos pensar direito sobre o que nos acontece, nós, os sobreviventes. As religiões esforçam-se muito para consolar-nos com a sedutora esperança de uma “sobrevida” num “além” – mas nós paramos (com ou sem razão, pouco importa) de dar crédito a esses além-mundos. Quanto à filosofia, ela aparentemente não nos oferece nenhum recurso: mesmo quando eles não se contentavam em fazer eco ao discurso dos padres, quando tentavam curar-nos do medo da morte, ensinar-nos a meditar sobre a vida e não sobre a morte, era antes de tudo de nossa morte que os filósofos nos falavam, e eles não nos davam nenhuma luz para compreender o que sentimos frente à morte dos outros. É significativo que a única oração fúnebre escrita por um clássico da filosofia, o Menexeno de Platão, se apresente como um pastiche irônico, atribuído, por brincadeira, a uma cortesã... Para que o luto se torne uma aposta séria para o pensamento, será preciso esperar por Heidegger. É nos seus seminários sobre Hölderlin que ele define o luto como o “tom fundamental” de nossa época;1 mas trata-se de um luto sagrado, aquele que suporta a aflição da ausência dos antigos deuses, e de um luto coletivo em que “desaparece o indivíduo com sua aflição particular”. Não é esse luto “historial” que sentimos quando da morte de um ente querido, não é a retração do divino que nos desespera, mas o desaparecimento daquele rosto, daquela voz, daquela presença carnal absolutamente singular (e o próprio Hölderlin, foi somente o luto dos antigos deuses que o precipitou na loucura, ao anúncio da morte de Suzette Gontard?). Certamente, a presença do divino ou sua retração, a assunção da morte pelos padres, orações, um ritual fúnebre, ou, então, o silêncio e o vazio da sua ausência, tudo isso conta na maneira como passamos pela provação do luto. Mas essa provação mesma não se remete à aflição provocada pela fuga dos deuses: é, ao contrário, a experiência a mais íntima, a mais pessoal do luto que traz subjacente o luto de uma Ideia ou de um deus. Afinal, o que é um deus senão uma figura eminente do Outro? Quando lamentamos a “morte de Deus” ou dos deuses, portamos o luto de uma figura do Outro – é o que torna possível um tal luto, o que lhe dá todo o seu sentido, é o luto primordial, a dor a cada vez singular que sentimos quando desaparece um outro bem-amado. Sobre esse fenômeno originário do luto, parece que a filosofia nada tem a nos ensinar. É, sem dúvida, por isso que, quando tentava pensar o luto, Derrida optou por “sair” da filosofia, por apelar à psicanálise. O que nos ensina Freud sobre o luto? Antes de tudo, isto: que “fazer seu luto” não acontece por si mesmo; que todo luto exige um processo psíquico complexo, um trabalho inconsciente cujo sucesso nunca está garantido por antecipação. Esse TraueNiterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução “O luto deve preencher uma função psíquica definida que consiste em estabelecer uma separação entre os mortos, de um lado, as lembranças e as esperanças dos sobreviventes, do outro”. (FREUD, 1976, p. 80) 3 Desses dois autores podem-se ler Maladie du deuil et fantasme du cadav re exquis e Deuil ou Mélancolie, introjecter-incorporer. In: L’écorce et le noyau, Paris: Aubier-Flammarion, 1978. Ver também “Fors”, prefácio de Derrida ao livro deles Cryptonymie. Le verbier de l’Homme aux Loups, Paris: Aubier-Flammarion, 1976. Nos seus trabalhos mais recentes, J. BUTLER recorrerá a esses conceitos para pensar a “melancolia do gênero” e a constituição da identidade sexuada. 2 rarbeit pode sempre fracassar: existem lutos patológicos, doenças do luto em que o eu não consegue suportar a perda do objeto de amor. Ou ele se esforça para “manter o objeto por uma psicose alucinatória”, como uma espécie de fantasma que assombra seu delírio; ou se identifica totalmente com ele, de modo que “a perda do objeto se transforme em uma perda do eu”, que o próprio eu se perca, que se torne seu próprio fantasma. É esse fracasso, esse impasse do luto que caracterizam a “melancolia”, a psicose melancólica. O que, então, define o luto “normal”, o luto “exitoso”? Uma separação e uma decisão. O traçado de uma linha divisória entre o vivo e o morto, de uma demarcação entre o eu e o objeto perdido, isto é, a decisão de se separar do objeto, de livrar-se dele.2 Em francês antigo, “luto” (deuil) escrevia-se, às vezes, “duelo” (duel), como se, por um estranho acaso, uma sorte da língua, essa palavra fosse o indício de uma luta entre a vida e a morte, entre o que em cada um de nós deseja viver e o que só aspira a morrer. O trabalho do luto impõe saber separar entre si mesmo e o outro morto – e saber fazer saber disto: anunciar-se a si mesmo (e, ao mesmo tempo, anunciar aos outros) a estranha decisão de continuar vivendo. É bem de uma decisão que se trata, em que o eu, que poderia escolher compartilhar o destino do objeto morto – de perder-se na melancolia – opta, apesar de tudo, pela vida, “deixa-se decidir [...] continuar vivendo e romper seu elo com o objeto desaparecido” (Freud, 1968, p. 168). Decisão sempre violenta, assassina, que redobra a insustentável violência da morte: o trabalho do luto, dizia o psicanalista Daniel Lagache, equivale a matar o morto – e, entretanto, a vida, o continuar-vivendo do sobrevivente, custa esse preço. Como é preciso entendê-la, essa decisão de sobreviver, esse deixar-se decidir ao mesmo tempo totalmente livre e totalmente passivo, que não corresponde a nenhuma das determinações tradicionais da liberdade, da deliberação e da escolha voluntárias? Se ela escapa aos conceitos da tradição metafísica, cabe à desconstrução dar conta dela? O pensamento de Derrida permite decidir-se pela vida? Fazer nosso luto e fazer saber dele: livrar-nos de nossos fantasmas? Nada é menos certo, nós o veremos no momento oportuno. Para abordar o luto de Derrida, o pensamento do luto segundo Derrida, um passo a mais é necessário, um passo além de Freud. Aquilo que fizeram dois psicanalistas, dois de seus amigos, Nicholas Abraham e Maria Torok, estabelecendo uma distinção entre introjetar e incorporar, entre o processo de introjeção, que subjaz ao luto “normal”, e o fantasma da incorporação, que faz parte das doenças do luto.3 Lá onde Freud considerava o trabalho de luto similar a uma separação, uma expulsão do objeto perdido, eles viam, ao contrário, uma interiorização, uma inclusão no eu. A introjeção permite efetivamente ao eu apropriar-se do objeto perdido e, assim, reforçar-se narcisisticamente identificando-se (ao menos parcialmente) com ele. Processo de Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 33 Gragoatá Jacob Rogozinski ingestão ou, se quisermos, de digestão: o luto normal é uma necrofagia. A incorporação supõe, ao contrário, a negação da perda, uma recusa ou um fracasso do luto: ela mantém o objeto morto sem conseguir integrá-lo nem expulsá-lo, nem vivo nem morto, nem dentro nem fora, nem digerido nem vomitado, “engolido e colocado em conserva”, colocado em um lugar secreto dentro de uma cripta no interior do eu. Esse termo convém muito particularmente aqui, pois designa, ao mesmo tempo, uma espécie de enclave interno, um túmulo assombrado por um fantasma, e uma criptagem, a marca de um nome ou de uma palavra estranha em que se dissimula um indizível segredo. Preso em um luto impossível, o eu se faz guardião dessa tumba que leva consigo. Devotando-se assim à guarda do outro morto, acontece do eu tornar-se inteiramente cripta, e essa oscilação de limites entre o eu e o outro, o vivo e o morto, é o que define a melancolia como patologia do luto. O luto normal e o luto patológico correspondem, assim, a dois modos de inclusão, a duas maneiras muito diferentes de introduzir o Outro dentro do Mesmo, quer dizer, dentro do eu. Introjetando-o, o eu absorve o outro morto; funde-se com ele, reconcilia-se com ele, para melhor superar sua perda. Em compensação, na incorporação, o outro se mantém como outro no interior do mesmo e perturba sua economia: se ele retorna, é como uma assombração, semelhante ao espectro da Morte Escarlate de Poe, cuja irrupção aterrorizante interrompe, de repente, a cerimônia. O espectro, a cripta, o segredo, uma certa indecidibilidade entre o dentro e o fora, entre a vida e a morte: motivos que encontramos em Derrida. Num certo momento – no início dos anos 1970 – a questão do luto, depois aquelas da sobrevivência, do retorno como espectralidade, vão se impor a ele cada vez mais intensamente: a partir de então, seus textos povoam-se de fantasmas. Naturalmente, convém descartar toda explicação ingenuamente biográfica para ater-se à sua abordagem teórica do conceito de luto. Sem esquecer, entretanto, que uma tal demarcação é, sem dúvida, insustentável, que a questão do luto segundo Derrida poderia bem ter a ver com o luto de Derrida, com um trabalho de luto real com o qual teria ele mesmo se confrontado naqueles anos. Deixamos, a seus futuros biógrafos, a tarefa de forçar a entrada da cripta – por exemplo, lembrando-nos de que o pai do filósofo (esse pai, Aimé Haïm Derrida, de quem ele fala tão pouco) morreu em 1970 – de um câncer, ele também, e exatamente na mesma idade que seu filho, aos 74 anos. E se nos perguntamos porque era para ele tão difícil amar a vida, ver nisso uma coisa que não fosse uma “economia da morte”, é preciso lembrar que haïm significa, em hebraico, “a vida”? Na verdade, uma “revelação” desse gênero não nos acrescentaria nada, tanto os efeitos desse luto real sobre seu pensamento parecem incal34 Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução Texto para ecoar, a partir de então, com Circonfession (1991), que colocará em cena a agonia da mãe, seu impossível luto, através da dor do filho que lhe sobreviveu. 5 Ele retornará em Circonfession a esse sonho “que eu poderia comentar até o infinito até incluir nele a minha história inteira” (DERRIDA, 1991, p. 283-284). 4 culáveis. Ficaremos convencidos disso lendo Glas, livro lançado em 1974, em que aparece, pela primeira vez, o motivo do luto – mas trata-se do luto da mãe, de uma mãe sobrevivente que “fica após ter matado aquele que ela fez nascer”4 (DERRIDA, 1974, p. 291 sq)... Centremo-nos, antes, no trabalho que ele opera sobre o Trauerarbeit. Se ele se apóia na psicanálise, é para elaborar seus conceitos e deslocar suas apostas, colocando em questão essa distinção normativa, nunca verdadeiramente questionada, entre o luto “exitoso” e aquilo que se designa como doenças do luto. Em qual sentido pode-se falar de um êxito do trabalho de luto? (Lembro-me de um seminário, era na rua Ulm, em meio ao cenário um pouco teatral da sala Dussane. Ele começara a sessão contando um dos seus sonhos, em que estava escrita, num livro, a expressão esquisita mourning well:5 ele queria entender nela, ao mesmo tempo, a saudação matinal – good morning! – e a indefensável, a insustentável injunção de “conseguir realizar” seu luto; mas, ele dizia, isto não funciona nunca). Introjetando o outro morto dentro do meu eu, apropriando-me narcisisticamente dele, eu consigo, claro, superar a dor da ausência, mas, ao mesmo tempo, faço-o desaparecer enquanto outro, eu o destruo. O que atesta o senso comum, bastante desagradável, da expressão fazer seu luto: diz-se que “se fez seu luto” de uma relação de amizade ou amorosa, de uma ambição frustrada; o que significa que se aceita renunciar ao que se deseja, que se resigna ao seu fracasso, à sua impossibilidade. Nesse uso banalizado, toda referência à morte é apagada: fez-se seu luto da morte – e do próprio luto. Seria preciso, sem dúvida, marcar melhor a diferença entre fazer o luto e portar o luto: entre o gesto de desembaraçar-se do que não existe mais, de matar de novo o que acaba de morrer, e esse outro gesto que consiste, ao contrário, em encarregar-se dele, de tomá-lo para si para melhor protegê-lo, lembrar-se dele, resguardá-lo. O que se traduziu em todas as culturas humanas por rituais particulares, por certas marcas corporais ou indumentais, a proibição de lavar-se, de barbear-se, a obrigação de rasgar as vestes, de jejuar, de vestir roupas de certa cor, etc. Antes de fazer seu luto, e para poder fazê-lo, seria preciso, primeiro, treinar-se para portar o luto... Uma tal distinção tem fundamento? Imagino suas reservas: ele nos teria advertido, como fazia sempre, contra uma demarcação certa demais, apressada demais. “Portar o luto”, nos teria dito, não se opõe forçosamente a “fazer o luto”, precisamente porque só portamos o luto para melhor suportá-lo, para superá-lo e desembaraçar-se dele. Assim, o “luto exitoso” fracassa inevitavelmente em preservar seu objeto: ele é o cúmulo da infidelidade. “Inversamente, o fracasso tem êxito: a interiorização que aborta é o respeito do outro como outro” (DERRIDA, 1986a, p. 54), a experiência de uma extrema fidelidade em que o sobrevivente, incapaz de fazer seu luto, consagra-se totalmente ao culto do objeto perdido. Nesse jogo de perde-ganha, o que pode parecer Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 35 Gragoatá É com essas palavras que se encerra a Dialectique négative de ADORNO (1966). Paris: Payot, 1978, p. 317. 6 36 Jacob Rogozinski uma falta de respeito, a recusa ou a impossibilidade de fazer seu luto, seria, afinal de contas, mais fiel do que as proclamações rituais de respeito e de fidelidade enlutada. É por isso que ele podia afirmar que o luto é uma “fidelidade infiel”. Se quisermos resguardar a memória do outro morto, seria preciso, a todo preço, evitar “fazer o luto” dele. Como evitar deixar-se pegar na armadilha desse double bind? Como não fazer seu luto, enquanto se faz seu luto? Há mesmo uma aporia do luto, um duplo entrave paradoxal que tende a desfazer a distinção entre o trabalho do luto e suas patologias. Se o luto o mais fiel – e nesse sentido, o mais exitoso – corresponde à incorporação, não é mais possível considerá-la como um simples bloqueio patológico da introjeção: ao contrário, é esta que se apresenta agora como uma forma indigente de incorporação, incapaz de guardar no interior do eu o que ela tenta interiorizar. Sua análise do luto atesta, assim, uma preferência pela exceção – para os casos-limite ou patológicos – em detrimento da regra e da norma. É essa preferência que, veremos, irá conduzi-lo, nos seus últimos textos, a tomar, como modelo, as doenças “autoimunes”, ao ponto de fazer delas a lei mortal de toda ipseidade viva e de toda comunidade. O que acabo de reconstituir aqui, a partir de notações esparsas em diferentes textos, é o esboço de uma desconstrução do trabalho de luto – ou, pelo menos, a primeira fase dessa desconstrução, com a inversão do privilégio que a psicanálise concede ao luto normal, isto é, à introjeção. É esse um bom exemplo, uma aplicação exemplar da operação desconstrutiva? Nada é tão incerto. Por ora, constatemos simplesmente que, contestando a primazia da introjeção, ele foi necessariamente levado a privilegiar o paradigma da incorporação. De maneira mais ou menos clandestina, sem mostrar abertamente sua preferência – e, entretanto, certos motivos essenciais de seu pensamento (o dobre de finados, a cripta, o retorno, a espectralidade e, também, vamos vê-lo, a desconstrução da Aufhebung) têm suas raízes nessa experiência, aquela de uma incorporação melancólica. Por mais alegre e jubilante que ela possa parecer, haveria então uma melancolia da desconstrução, a melancolia mesma de Penélope destecendo sempre de novo seu interminável trabalho. Para ser entendido, evidentemente, num sentido estritamente conceitual e não como o indício de uma patologia pessoal. De que, de quem seu pensamento portava o luto? Questão críptica, aí ainda, onde se deixa entrever o traço de um segredo. Arrisco uma hipótese: ele portava o luto da metafísica. Desconstruindo-a, ele sonhava guardá-la em si, retê-la cativa no interior de seu labirinto, como uma preciosa relíquia, uma morta-viva embalsamada, (“solidário com a metafísica no instante de sua queda” – é a esse gênero de guarda melancólica que aspirava também Adorno?)6. Era a paixão de Jacques Derrida, o único amor de sua vida, a única destinatária de seus Envois, de todos os seus escritos – e Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução a metafísica era louca por ele. Àqueles que ainda duvidariam disso, aconselhamos reler a narrativa de seu encontro com uma jovem mulher que se nomeia, a ela mesma, “Metafísica”: “Eu compreendi que eras tu. Sempre foste “minha” metafísica, a metafísica de minha vida, o “verso” de tudo o que escrevo (meu desejo, a palavra, a presença, a proximidade, a lei, meu coração e minha alma, tudo o que amo e que sabes antes de mim)” (DERRIDA, 1980, p. 212). “Viva a morte!”: o relevamento do luto N. do T. : Em francês, ambas as noções são expressas na palavra relève. 7 Como fazer seu luto da metafísica? Não pode se tratar de derrubá-la ou de superá-la, nem de acabar com ela (como sonham ingenuamente todos os positivismos “pós-metafísicos”), mas de tentar delimitá-la: demarcar seu campo estabelecendo seus limites e, ao mesmo tempo, marcar um lugar à parte, pontuando, no interior de sua clausura, o “traço do além-clausura”. Fazer a experiência da metafísica, resguardá-la para melhor atravessá-la. A questão complica-se ainda, redobra-se de maneira abissal, se consideramos que a metafísica não é um objeto qualquer entre todos aqueles dos quais temos de fazer o luto. Poderia ser, com efeito, que ela própria se dobrasse à lógica do luto, que ela se assemelhasse a um trabalho de luto. Que fazemos, quando de um luto normal? Esforçamo-nos para livrar-nos do outro morto, para negá-lo – para matar o morto em nós – e, simultaneamente, para lembrarmo-nos dele, interiorizá-lo, introjetá-lo em nosso eu. Esse gesto de negação que conserva o que nega superando-o parece-se com o que Hegel chamava de Aufhebung – um termo que designa a operação maior da dialética hegeliana e que Derrida propõe traduzir por relever (relevar). Achado notável, já que aufheben significa, em alemão, levantar ou erguer, mas também tirar, descartar, suprimir, e o termo francês possui a mesma ambiguidade (assim como quando se fala da “troca (relève) da guarda” ou quando se “tira” (relève) alguém de suas funções dispensando-o).7 É esse relevamento dialético que ele identifica com o trabalho do luto, e não se trata aí de uma vaga semelhança, de uma analogia exterior. No sistema de Hegel, a Aufhebung tem uma relação essencial com a morte: ela participa desta “vida do Espírito” que “suporta a morte e se conserva nela”, que “contempla o negativo face a face e permanece junto dele” afim de reconciliarse com ele, de convertê-lo em afirmação. Porque o relevamento é sempre relevamento da morte: ele “suprime a supressão pura e simples, a morte sem frase, a morte sem nome” (DERRIDA, 1974, p. 155); ele assegura a vitória da vida sobre esta “negação abstrata” que é a morte. Seu sentido se decide naquele duelo mortal em que cada consciência se confronta com a outra, no momento em que o vencedor opta por não matar o vencido, por deixá-lo viver para fazer dele seu escravo, de negá-lo como livre consciência de Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 37 Gragoatá N.do T.: Em francês, o verbo usado aqui foi se relever, que significa também reerguer-se. 9 N. do T. : A tradução literal desta palavra é “dobre de finados”. No livro, além deste sentido, o grupo consonantal GL da palavra é o fio condutor de uma série de interpretações da obra de Jean Genet. 10 E, vinte anos mais tarde, esta chamada: “Eu tinha tentado mostrar em outro lugar que o trabalho do luto não é um trabalho entre outros. É o próprio trabalho, o trabalho em geral, traço pelo qual seria preciso, talvez, reconsiderar o próprio conceito de produção – naquilo que o liga ao trauma do luto [...], à espiritualização espectral que está em trabalho em toda techné” (DERRIDA, 1993, p. 160). 8 38 Jacob Rogozinski si, conservando-o a seu serviço. O relevamento é a experiência dessa sobrevivência: é a “amortização da morte”, seu investimento especulativo na economia da vida; ele trabalha “para amortizar o custo absoluto, para dar um sentido à morte, para cegar-se ao mesmo tempo no sem- fundo do sem-sentido” (DERRIDA, 1967, p. 378). Ele é a Erinnerung da morte na consciência, sua interiorização e sua lembrança (segundo o duplo sentido desse termo em alemão). Se a negação “abstrata” – a ameaça de uma perda absoluta da qual a consciência não se reergueria8 – corresponde ao luto impossível, à doença do luto, a Aufhebung coincide, ao contrário, com aquele processo de introjeção que caracteriza o trabalho normal do luto. Derrida é o único leitor de Hegel e de Freud a aperceber-se dessa coincidência, a compreender que o trabalho de luto é a força secreta do sistema hegeliano. Isto não quer, sobretudo, dizer que a psicanálise nos daria a “chave” da filosofia hegeliana ou, ao contrário, que Hegel teria enunciado por antecipação uma tese essencial da psicanálise. Reelaborados dessa maneira, os conceitos de luto, de relevamento ou de introjeção tornam-se inclassificáveis. Nem puramente filosóficos, nem puramente psicanalíticos, eles se evadem de seu contexto inicial e rompem todas as fronteiras, circulam entre os dois domínios, desaferrolhando suas trancas, fazendo encaixes de teorias aparentemente muito distantes, e nos permitem, assim, abordar, sob outro ângulo, o projeto da psicanálise e o destino da metafísica. Sabe-se que Hegel pretendia dar por completa a filosofia (e a totalidade do saber) compreendendo o conjunto de suas figuras sucessivas como momentos internos de seu sistema, posições logo depositadas, depostas, ao mesmo tempo confirmadas e superadas, relevadas. Com o Saber Absoluto hegeliano, a metafísica ocidental se extingue fazendo o luto dela mesma. Ela faz soar seu próprio dobre de finados. Glas:9 é precisamente o título desse livro atordoante – o Finnegan’s Wake da filosofia francesa – em que ele encena a epopéia da Aufhebung, desdobra-a em todas as direções fazendo-a entrelaçar-se com os motivos da castração e da diferença sexual, da ereção e do fetiche, do nome próprio e da assinatura, da Sagrada Família, da Imaculada Conceição, do Judeu, da prótese, do resto, da flor, do dom, da morte... é nessa perspectiva que ele faz uma primeira reelaboração do conceito freudiano do luto enxertando-o naquele do relevamento. Um outro enxerto se segue, uma nova transposição que fará do trabalho de luto o paradigma de qualquer trabalho, na sua dimensão “relevante” e sacrificativa: “todo trabalho não é um trabalho de luto? e , ao mesmo tempo, de apropriação do mais ou do menos de perda?”10 (DERRIDA, 1974, p. 100, p. 140 sq.) Isto jamais será repetido o suficiente: tal como ele a praticava, a desconstrução não é uma operação somente “negativa” ou “destruidora”. É profundamente afirmativa, abre um novo espaço de elaboração para antigos conceitos transmitiNiterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução Cf. ROGOZINSKI, J. Déconstruire – la révolution. In Les Fins de l’homme, à partir du travail de Jacques Derrida. Paris: Galilée, 1981, p. 516-529. Muito tempo depois, ele ia evocar essa discussão num dos seus últimos textos – cf. Penser à Strasbourg. Paris: Galilée, 2004, p. 54. Um dos nossos primeiros encontros e o derradeiro. Vinte e quatro anos: o tempo, sempre tão breve, de uma distante “amizade”? 11 dos pela tradição, relaciona-os, generaliza-os, oferece-lhes uma maior envergadura: dá um sentido mais amplo às palavras da tribo. Quando ele expande a significação do trabalho do luto, que ele estende ao conceito de trabalho em geral, não se trata de uma aproximação arbitrária: é o próprio Hegel que descrevia o processo do trabalho como uma operação dialética, um modo de relevamento. Trabalhar equivale sempre a negar-conservarsuperar uma coisa natural transformando-a, a apropriar-se da Natureza e, assim, livrar-se dela: a fazer o luto dela. Tal será o destino do escravo, quando se tornar o Trabalhador ou, na versão de Marx, o Proletário: seu trabalho de luto torná-lo-á livre. Se reelaborarmos o pensamento de Marx na sua linha hegeliana, a questão do luto adquire um valor político: ele se liga à crítica da alienação do trabalho, ao projeto da revolução proletária. O advento do comunismo coincidiria com o luto exitoso, uma Aufhebung terminal capaz de exorcizar os espectros do passado, de colocar fim ao que Marx chama de “a ressurreição dos mortos”. Mas como isso é possível? Como o proletariado poderia fazer seu luto (do Capital, do Estado, da divisão do trabalho...) e passar além desse luto? (Lembro-me do nosso primeiro encontro, em 1980, na ocasião daquele colóquio de Cerisy, onde, com outros “jovens pesquisadores”, eu participava do seminário “político”. Na minha exposição eu me perguntava se poderia haver uma política da desconstrução. Insistia sobre o que, no gesto desconstrutor, colocava em questão toda separação bem definida entre um dentro e um fora, toda ruptura irreversível entre um Antes e um Depois. Procurando fazer meu luto do marxismo, eu chegava a questionar a “lógica incisiva da revolução” e definia – um pouco apressadamente – a revolução proletária como um projeto metafísico de autofundação do Homem novo. Impossível desconstruir, eu dizia, sem desconstruir a revolução – e sem analisar a dívida secreta que liga ainda a desconstrução ao esquema de ruptura e da revolução. Apelando para uma “política de resistência”, eu o compelia a considerar o mal radical, esse “abismo do político” no qual um projeto de emancipação pode se deixar desviar para o serviço de uma nova tirania. Ele me respondera, marcando, ao mesmo tempo, seu acordo sobre o básico – sua “desconfiança sobre a idéia de revolução” – e sua recusa em “participar de um concerto antimarxista por um ataque frontal contra um projeto revolucionário”: “há, dizia ele, do lado da ideologia da revolução, alguma coisa (que eu) não posso simplesmente condenar”. Daí provinha uma espécie de recuo, esse silêncio ou esse “branco” na sua relação com Marx, que era preciso pensar, também, como um “gesto político”)11 Essas questões que ele ia abordar longamente a seguir, notadamente em Espectros de Marx (Spectres de Marx) – prefiro deixá-las aqui em suspenso e pesquisar em outro lugar a recorrência da lógica do luto. Acabamos de vê-lo: na economia da Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 39 Gragoatá Cf. HEGEL, G. W. F. Phénomé nologie de l’Esprit (1806). Paris: Aubier-Montaigne, 1947, t. II, p. 136-140. Mal saído da minha descoberta de Glas, eu tinha tentado, em outros tempos, reexaminar a política de Marx e a questão do totalitarismo a partir dessa critica hegeliana do Terror – cf. À double tour, em Le retrait du politique (recueil). Paris: Galilée, 1982. 13 Cf. LYOTARD, J.-F. Les fins de l’ homme. Paris: Galilée, 1981, p. 311-312. Essa conferência de Lyotard será desenvolvida em Le différend. Paris: Minuit, 1984. 12 40 Jacob Rogozinski luta mortal, do sacrifício, do relevamento dialético, o trabalho (de luto) libera. Para dizê-lo em alemão, Arbeit macht frei... Por que tudo isso aqui lembra irresistivelmente a divisa que ornava a entrada do campo de Auschwitz? Diferentemente dos carcereiros da Kolyma, os nazistas não eram, entretanto, hegelianos. É preciso ver nesta sentença auch ein Witz, “ainda um chiste” de uma insondável e rangente ironia? Aquilo que se anuncia ali, à sombra dos crematórios, seria justamente o limite absoluto de todo relevamento dialético, o impasse do Absoluto, sua sentença de morte. Hegel pressentira talvez a aterrorizante possibilidade disso, quando evocava a “morte a mais fria e mais banal”, aquela das vítimas do Terror, uma morte que “não dá nada em troca do sacrifício”, “que não tem mais sentido do que cortar um pé de repolho ou beber um gole d’água”.12 Seria isto, a morte sem nome, a “doação em holocausto” mencionada alusivamente em Glas (DERRIDA, 1974, p. 270)? Alusivamente demais: ele jamais se confrontou com a Shoah (ou, de modo mais geral, com a questão do terror totalitário ou do extermínio). Com algumas poucas exceções: numa meditação sobre a poesia de Celan, quando de um diálogo com Lyotard e, mais recentemente, em Fichus, a partir de Adorno. Ele evoca, então, a Shoah como a ameaça de uma “amnésia sem resto” (DERRIDA, 1986b, p. 83): apagando todos os nomes, privando as próprias palavras de sepultura, ela “transpôs aquele limite em que o próprio luto nos é recusado” (DERRIDA, 1986b, p. 95). A melancolia da desconstrução encontraria sua fonte nessa experiência extrema de um luto impossível? Essa transposição do limite, esse apagamento do Nome, não significariam o fracasso de todo trabalho de luto, o desastre final, abismo em que se precipitam toda metafísica e toda dialética? Aqui se imporia uma releitura de O diferendo (Le différend), daquela passagem em que Lyotard analisa a “frase SS” (eu lhes ordeno, morram!): na pista de Adorno, ele descobre aí “uma experiência de linguagem que pausa o discurso especulativo” hegeliano, indício de um erro radical que impede de concatenar – dialeticamente ou não – com uma outra frase. (Lembro-me ainda de Cerisy, do silêncio que acompanhara a admirável conferência de Lyotard, Frasear após Auschwitz (Phraser après Auschwitz),13 do diálogo que Derrida estabelecera, então, com ele, questionando o “privilégio unânime” que “nós, os ocidentais, atribuímos a Auschwitz”, advertindo contra o risco de esquecer os “outros nomes abomináveis”, inclusive “os nomes que não têm nome”; insistindo sobre a exigência ética e política “de articular sobre Auschwitz”, justamente porque não é possível articular). Ao argumento de Lyotard, ele opõe, então, o imperativo de articular sobre o nãoarticulável. Essa injunção deixa-se traduzir no léxico do luto? É preciso dizer que, porque o luto é aqui impossível, um trabalho de luto e de memória é, apesar de tudo, necessário? Mas como Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução fazer seu luto daquilo que torna todo luto impossível? Como articular sobre um erro radical sem anulá-lo imediatamente, sem relevá-lo? Como colocar em questão a “centralidade” do nome maldito de Auschwitz, sem injuriar as vítimas? E, inversamente, como afirmar sua centralidade, até mesmo sua “unicidade” sem insultar inúmeras outras vítimas? Essas questões continuam ainda hoje nossas questões. Se a tese de Lyotard está correta, torna-se, enfim, possível delimitar o campo da “metafísica”: suas fronteiras são aquelas do trabalho do luto; elas circunscrevem um espaço em que um luto, um relevamento dialético, o encadeamento de uma frase sobre a outra seriam ainda possíveis; em que a melancolia poderia ser superada. Pareceu-nos que a tradição filosófica não servia de socorro algum para compreender o que é o luto. Descobrimos agora que não se trata de uma negligência, de um esquecimento acidental. Se ela não consegue pensar o luto, é porque é incapaz de refletir sobre ele de fora, colocando-o à distância como um objeto entre outros: o que é chamado de metafísica seria apenas um longo, um interminável trabalho de luto – e é por isso que a verdade do luto lhe escapa. Somente um pensamento não-enlutado, um pensamento que fosse colocado além do luto, seria rigorosamente capaz de pensar o luto, sua possibilidade como sua impossibilidade (isto é, também aqueles do trabalho e da produção, o terror, o extermínio...) Há muito tempo que a filosofia ocidental rumina seu próprio luto, desde sua origem grega, desde que Platão a definira como uma mélétè thanatou, um exercitar-se para morrer, uma aprendizagem da morte. O que não significa, como se crê muito frequentemente, que o filósofo teria de meditar sobre a possibilidade futura de sua morte: é a cada instante que ele se mortifica, que sua alma se esforça para «curvar-se em si mesma», para voltara si separando-se tanto quanto possível de seu corpo, como se ele já estivesse morto. Comentando essa passagem do Phédon, Derrida observa que a psyché só desperta para si mesma no exercício da morte, como se lhe fosse preciso, para poder nascer para si mesma, celebrar antecipadamente seu próprio luto (DERRIDA, 1999, p. 21-23). “Estou de luto, então existo”: desde meu nascimento já estou morto, sempre já em luto de mim mesmo. De Platão a Hegel – e talvez a Heidegger – esse luto originário de si mesmo é o que constitui o ser-si-mesmo da alma, do ego, do sujeito ou do Dasein (DERRIDA, 1996, p. 111). Assim, a filosofia ocidental começa e acaba no luto. Pelo menos uma certa versão dessa filosofia, a mais maciça, essa que domina desde os Gregos com a bênção da Igreja, de todas as Igrejas – mas ela não é a única. Uma luta sem perdão, uma gigantomaquia põe em confronto aqueles Amigos da Morte e aqueles que chamarei de Filhos da Vida, aqueles que sustentam que a morte não é nada para nós, que o sábio não pensa em nada menos que na Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 41 Gragoatá Na revista Rue Descartes nº18, 2005 (“Salut à Jacques Derrida”). 15 N. do T. : Em francês, arrêt de mort, onde se lê, além da decisão do juiz, a parada que ela impõe. 16 C f. De l’é conom ie restreinte à l’économie générale – un hégélianisme sans réserve. In : DERRIDA, 1967, p. 369407. A via batailliana decifrada nesse texto será depois explorada por J.-L. NANCY em La Communauté desœuvrée. Paris: Bourgois, 1986, e, posteriormente, em La pensée dérobée. Paris: Galilée, 2001. 14 42 Jacob Rogozinski morte, que sua sabedoria é meditação da vida, afirmação da vida em seu Eterno Retorno. Por que ele não evoca nunca esta outra tradição, aquela de Epicuro, de Spinoza, de Nietzsche? Ele estaria ligado à orientação dominante, teria se tornado um desses “pregadores da morte” de quem zombava Zaratustra? O que mantém seu pensamento sob o horizonte da morte e do luto? O que o impede de se deixar decidir pela vida? A desconstrução seria apenas uma variante daquele viva la muerte especulativo, essa tanatologia? Isso não é possível, nos dirão: porque ele era, ele também, um Filho da Vida, porque seu pensamento é uma afirmação da vida, além do luto e da melancolia. Estamos bem certos disso? Seu “amor pela vida” de que ele falava às vezes – raramente – não cede diante da exigência imperiosa de desconstruir uma metafísica que é, de início, metafísica da Vida? E a morte, nesse combate, não era a sua mais poderosa aliada? (Lembro-me daquela tarde de outubro em Ris-Orangis, da luz de outono sobre as tumbas, da multidão silenciosa e das lágrimas. Da voz de Pierre, seu filho mais velho, lendo para nós sua última mensagem: “...Sorriam para mim, diz ele, como eu lhes teria sorrido até o fim. Prefiram sempre a vida e afirmem sem cessar a sobrevivência... Eu os amo e lhes estarei sorrindo de onde estiver”. Referindo a amigos as suas últimas palavras, não tinha me esquecido de nada, a não ser essas palavras, esse estranho imperativo de preferir a vida e afirmar a sobrevivência. Eu as descobri, com surpresa, quando a mensagem foi publicada.14 Ainda hoje não as leio sem surpresa). Mas a metafísica é igualmente um pensamento da morte, uma interminável ruminação enlutada. Se esse trabalho de luto culmina na Aufhebung de Hegel, se o “SA” – o Saber Absoluto hegeliano – é o ponto onde se encerra a metafísica ocidental, a desconstrução deve aplicar-se em resolver com prioridade esse relevamento da morte. Como é possível? Como voltar a Aufhebung contra ela mesma? Como localizar seu ponto de não-retorno, lá onde “a apropriação absoluta” equivale a uma “expropriação absoluta”, onde o relevamento dialético inverte-se em “lógica da perda ou da despesa sem reserva” (DERRIDA, 1974, p. 188)? Onde situar os pontos de ruptura do sistema? Diferentemente de Adorno ou de Lyotard, ele jamais consentiu em designar Auschwitz como a sentença de morte15 da filosofia ocidental. Para abalar a clausura do Sistema, eralhe necessário rodear de outra maneira suas defesas, explorar outros caminhos nas margens da filosofia. Apelar à literatura, por exemplo à heterologia de Bataille que denuncia a Aufhebung como servil, opõe-lhe a operação soberana em funcionamento na despesa improdutiva, no riso, no jogo, no êxtase erótico ou místico.16 Ou então a Genet, a todos aqueles motivos que, em Glas, não param de passar clandestinamente da colunaGenet à coluna-Hegel, transformando a ereção gloriosa do Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução Sobre essa ética do luto, cf. as belas páginas de M. CRÉPON em Langues sans demeure. Paris: Galilée, 2005, p. 76-85, e as análises de S. CRICHTLEY em Ethics, Politics, Subjectivity, Verso Press, 1999. 17 Espírito em fetiche e seu Saber Absoluto em fantasma. É nessa perspectiva – essa procura de novos aliados fora da filosofia – que acontece seu apelo à psicanálise. A distinção entre introjetar e incorporar encontra aqui toda a sua importância. Se é verdade que a metafísica caminha para o luto, para o relevamento, para a introjeção, então a incorporação melancólica indica sua fraqueza, o ponto em que sua lógica se desequilibra, em que seu trabalho de luto se torna impossível. O que a desconstrução se aplica em desvendar, é esta cripta da metafísica, este resto inassimilável do Sistema: “o não-engolido-nem-cuspido, o que continua na garganta como outro” (DERRIDA, 1992, p. 49). Impossível, então, desconstruir a metafísica sem colocar em questão a possibilidade do luto, do trabalho de luto “normal” ou “exitoso”. Cada processo de luto gera um resto, o retorno de um espectro, e esse retorno compromete necessariamente o cumprimento do ritual. Ele teria, sem dúvida, dado, a essa dificuldade, a forma de uma aporia (para que o luto tenha êxito, é preciso que ele fracasse; ele consegue apenas fracassar; sua possibilidade supõe a sua impossibilidade, etc.), mas, também, aquela de uma injunção arqui-ética, a obrigação de acolher o estrangeiro, de respeitar a alteridade do outro morto, de dar, ao que retorna, o seu lugar, de render-lhe justiça. Um imperativo ético, a própria lei da ética: é nesses termos que, num de seus últimos livros, ele assinalará a obrigação “melancólica” de portar o outro morto, sem absorvê-lo em mim. “Se eu devo (é a própria ética) portar o outro em mim para lhe ser fiel, para respeitar a alteridade singular dele, uma certa melancolia deve protestar ainda contra o luto normal. Ela não deve nunca resignar-se à introjeção idealizante”17 (DERRIDA, 2004, p. 73-74). Injunção, sem dúvida, insustentável: porque ela exige saber levar em conta o fantasma – discernir com exatidão o que retorna ao morto (a fidelidade, a homenagem, o respeito ou a preservação da memória) e o que retorna como morto, isto é, como obsessão, como o nem-vivonem-morto do qual não acabaremos nunca de fazer nosso luto. Como conseguir isso? Como fazer a separação entre o que resta como Corpo glorioso, Nome inapagável invocado e comemorado sem cessar, e o que resta somente como resíduo ou como espectro? Entre o que se deixa introjetar, relevar no trabalho normal do luto e o que resiste a essa reapropriação enlutada? O que, no nosso luto, resiste ao luto – por exemplo, ao luto de Jacques Derrida? É a sua escrita, uma certa parte (mas qual?) de sua escrita, as criptas ou as margens de seus textos? É, ao contrário, o traço de uma certa “presença” encarnada, a singularidade viva de um movimento, de um rosto, de uma voz? (contrariamente às aparências, a segunda hipótese não me parece menos “derridiana” do que a primeira). Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 43 Gragoatá Jacob Rogozinski Como fazer seu luto do luto? Diferentemente de Bennington, não penso que a noção de “meio-luto” seja elaborada o bastante para oferecer uma saída – cf. Derridabase. In Jacques Derrida de BEN NINGTON e DERRIDA. Paris: Seuil, 1991, p. 139. 18 44 Melancolia da desconstrução: ela confirma o impossível luto da metafísica. Se é verdade que a metafísica é a doença do Ocidente, então a incorporação melancólica seria seu remédio, seu pharmakon, tão perigoso, talvez, quanto o mal que ele pressupõe curar. Mal contra mal, luto contra luto, pode-se dizer que não se sai de uma certa economia da morte; que a fronteira passa somente entre duas versões do luto, duas maneiras de (não) fazer seu luto, de ter sempre na lembrança o que está morto, de permanecer junto dele. Much ado about nothing: tantas leituras sutis, tantas estratégias astuciosas para ao fim se contentar do prazer de jogar uma forma de luto contra uma outra. Pelo menos seria o caso se a desconstrução se reduzisse à simples inversão do paradigma dominante (aqui, aquele da introjeção); mas ela não se limita nunca a isso, empenha-se, ao contrário, em revelar a secreta conivência que une os dois termos opostos e torna-os indecidíveis; o que a leva a arranjar, a cada vez, um novo conceito, um terceiro termo que escapa à oposição deles. E ela consegue isso no caso que nos interessa aqui? E se não, será preciso falar de um limite, até mesmo de um fracasso da desconstrução, que repetiria, num outro nível, o fracasso do trabalho do luto?18 Porque o luto, todo luto fracassa, sempre. A introjeção, já foi visto, não consegue resguardar fielmente o objeto perdido: ela faz seu luto dele, releva-o, digere-o e esquece-o no momento mesmo em que ela pretende comemorá-lo. Mas a incorporação fracassa, ela também, de uma outra forma: “resistindo à introjeção, ela impede a assimilação amorosa e apropriante do outro” e assim ela se preserva ”dessa relação com o outro ao qual, paradoxalmente, a introjeção é mais aberta” (DERRIDA, 1976, p. 26). Como Orfeu incapaz de desviar seu olhar da sombra de Eurídice ou como o herói de O quarto verde de Truffaut, o sobrevivente agarra-se ao objeto de seu luto impossível, petrifica-o, transforma-o em relíquia. Recusando-se a assumir sua perda, ele o perde de novo enquanto objeto de amor – de um amor vivo do qual não lhe resta mais do que um simulacro irrisório, uma sombra pálida que recai nas trevas. Como no caso das doenças auto-imunes, o que protege é, ao mesmo tempo, a pior ameaça e destrói o que devia proteger. Dupla injunção, duplo fracasso do luto: que o objeto de amor perdido tenha sido introjetado ou incorporado, nos dois casos trata-se, antes de tudo, de assegurar-se de “que o morto continue morto, no seu lugar de morto” (DERRIDA, 1976, p. 57). Que ele se deixe digerir ou esquecer, ou que retorne para assombrar-me como fantasma, jamais conseguirei preservá-lo como este outro absolutamente singular que ele era para mim. Uma coisa ao menos é certa: essa singularidade não saberia ser aquela de um fantasma. Um morto que retorna nunca é singular justamente porque ele retorna, repetindo, imitando a singularidade viva que Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução Vinte anos mais tarde, essa (im)possibilidade persiste ainda como uma questão que assombra cada questão: «Como fazer seu luto do luto? Mas como fazer de outro jeito, a partir do momento em que o luto deve ter fim? E que o luto do luto tem que não ter fim? Impossível na sua própria possibilidade? Eis a questão que é chorada através das lágrimas de Antígona [...], mas é talvez a origem de toda questão» (DERRIDA, 1997, p. 101). 20 N. do T. : Em francês, sujet, “assunto”, mas também “sujeito”. 19 ele assombra. Nunca se fará seu luto de um fantasma. Enunciado que pode ser entendido em dois sentidos muitos diferentes: em primeiro lugar, ele quer dizer que o que retorna é o que escapa ao luto, desregula a ordem ritual da comemoração e do esquecimento. Nem integrado nem rejeitado, ele retorna interminavelmente e, nesse sentido, a melhor maneira de respeitar um morto, de poupá-lo do esquecimento, consiste em fazer dele um fantasma. E, entretanto, o retorno do espectro é, ao mesmo tempo, o que apaga toda singularidade, o que a reduz a uma simples réplica inconsistente, um rastro de rastro, uma sombra furtiva, um eco: o que a faz desaparecer sem retorno na qualidade de esta singularidade única, insubstituível, da qual portamos luto. Fazer de um morto um fantasma, fazê-lo retornar como fantasma, é condená-lo ao mais profundo esquecimento e não há melhor maneira de ultrajar sua memória. Nada é mais aterrorizante do que um espectro, porque ele traz, nas dobras de sua mortalha, a ameaça ou a memória de uma morte pior do que a morte. Entre o trabalho do luto e o retorno, entre introjetar e incorporar, relevamento e melancolia, parece, a partir de então, impossível saber separar : há sempre um momento em que acabam por se confundir, aparecem como duas versões da morte, dois modos secretamente cúmplices de um mesmo esquecimento. Como escapar dessa economia da morte? Como conseguir fazer seu luto do luto? A um interlocutor que lhe perguntava o que “o fazia escrever ou falar”, ele respondia de maneira enigmática, evocando “uma coisa terrível que não amo, mas que quero amar”. É, dizia ele, “a única coisa que finalmente me interessa”: o que “me dá e me recusa o idioma” e “que eu chamo, ainda inadequadamente, de luto do luto”19 (DERRIDA, 1992, p. 54). Talvez nos aproximemos aqui da cripta mais secreta. Em que essa Coisa é “terrível”? O que ela ameaça, o que ela protege ameaçando? Em qual sentido ela determina, ao mesmo tempo, o dom e a retração do idioma, o que faz a singularidade de uma escritura, de um “assunto”,20 de uma “vida”? Por que ele não podia ou não queria nomeá-la? E se todo nome faz falta, como se poderia passar além do princípio do luto? Ele nos advertia de todo modo que essa expressão – fazer seu luto do luto – não é propriamente conveniente para dar nome à Coisa em questão. Como o “meio-luto” de que ele fala às vezes, ela traz ainda, na sua própria letra, a marca do luto, repete e reduplica o que pretendia superar. Mas por isso mesmo, é muito conveniente para representar a aporia em que se enreda todo pensamento, quando ele tenta pensar o luto, o impasse da introjeção e da incorporação, todas as duas infiéis, todas as duas incapazes de preservar a singularidade destruída. Se é verdade que a desconstrução porta o luto da metafísica, essa injunção determina sua relação mais íntima com este Outro espectral, essa tradição sedimentada chamada “metafísica” – e, mais geralmente, a relação de um pensamento novo com o já-pensado que Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 45 Gragoatá Jacob Rogozinski o cerceia, a luta de um acontecimento de verdade com a nãoverdade que o impede de acontecer. Quando ele tenta descrever essa relação, evoca duas estratégias possíveis da desconstrução e os limites dessas duas posturas, o inevitável fracasso delas. Ela teria de escolher entre: 1. um gesto de ruptura (de estilo marxista ou nietzschiano) que pretende fazer tábula rasa do passado “instalando-se brutalmente fora dele”, mas se arrisca continuamente a “reinstalar o ‘novo’ terreno sobre o mais velho solo” – e 2. um gesto de repetição (de estilo heideggeriano), que corre o risco de consolidar o que devia desconstruir. Nos dois casos, a lógica da relação com o fora “transforma regularmente as transgressões em ‘falsas saídas’ ” (DERRIDA, 1972, p. 162). Parece-me que a mesma temível lógica trabalha também na relação com o antes, com o já-pensado, com o já-morto; que nos condena a oscilar permanentemente entre a expulsão que esquece, própria do luto “exitoso”, e o interminável sofrimento da melancolia. Para escapar desse impasse, para fazer seu luto do outro morto e levar o luto a termo, a desconstrução ou o luto do luto deveriam preservarse igualmente da ilusão de ruptura e da guarda repetitiva, da introjeção e da incorporação. Mas isso parece fora de alcance, ou pelo menos nenhum novo conceito permite abordar. Essa falta de saída é o limite último da desconstrução, incapaz de subtrair-se à “terrível lógica do luto”? Ou, então, o limite de toda filosofia, de todo pensamento, face ao impensável da morte? É certo que a economia do luto não deixa entrever nenhuma saída? Que é, afinal, impossível preferir sempre a vida? Se um além do luto fosse possível, ele deveria proceder ao mesmo tempo da incorporação e da introjeção, articular de maneira inédita alguns dos seus traços. Não poderia ser uma ruptura mais radical, um esquecimento mais definitivo: como na incorporação, uma relação privilegiada com o outro morto deve manter-se no que ele tinha de mais singular. Tratar-se-ia de manter-se tão perto quanto possível dessa singularidade desaparecida, de ajudá-la a retornar, a passar da outra margem àquela dos vivos – por exemplo, no caso de um amigo ou de um mestre, esforçando-se em recolher o legado de sua questão. Ao mesmo tempo, trata-se, apesar de tudo, de fazer seu luto do luto: de livrar-se dessa fascinação fatal, dessa obsessão que transforma o morto em espectro. Como a introjeção, o luto do luto implica um trabalho, um combate entre o vivo e o morto que deveria permitir, finalmente, ao sobrevivente, livrar-se da influência da morte, deixar-se decidir a continuar vivendo. Mas como decidir-se pela vida sem esquecer, de um modo ou de outro, aquele que está morto? E como preservar sua memória sem se deixar devorar por ele, na melancolia interminável de um luto impossível? Ei-nos novamente no coração da aporia. Qual seria o “terceiro termo” da alternativa, o nome ainda inaudito que poderia indicar-nos uma saída? Um desses nomes poderia 46 Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução ser aquele de messias: segundo a tradição judaica, à vinda do messias os mortos ressuscitarão; ou, pelo menos, seu advento deveria fazer justiça aos vencidos e aos mortos, a todas as singularidades humilhadas, esquecidas, destruídas; o que poderia, enfim, permitir que se faça o luto do luto. Eu gostaria de entender nesse sentido esse estranho aforismo do Zohar que anuncia que o messias não virá “antes que todas as lágrimas tenham sido vertidas”... Entretanto, se a referência ao messiânico – a uma messianidade sem messias – faz-se cada vez mais insistente em sua obra, ele jamais vinculou “o invencível desejo de justiça” que se liga à sua espera à promessa de um além do luto. Uma outra palavra possível, numa outra tradição, seria aquela da verdade, da alétheia. Para os Gregos dos tempos arcaicos, a palavra do poeta é dita “verídica”, porque, cantando os heróis mortos em combate, ela arranca o nome deles do lethe, do véu das trevas e do esquecimento que os encobre, o que é uma outra maneira de re-nomear o nome dos mortos, de render-lhes justiça. Vista dessa maneira, a revelação da verdade poderia, também, ser entendida como um acontecimento messiânico (com a condição de saber diferenciar a celebração do herói e a reparação devida à vítima). Para dizê-lo em jewgreek, o messias bem que poderia chamar-se alétheia. Aí ainda, é preciso salientar que ele nunca enveredou por esse caminho. Aconteceu-lhe, na sua leitura de Celan, de invocar a verdade do poema que “abre a possibilidade de fazer seu luto do que está perdido sem resto (a família exterminada, a incineração do nome...)”(DERRIDA, 1986 B, p. 68 e 94). Ele o fez apenas uma vez. O mais frequente é ele efetivamente afastar toda referência à alétheia como um fantasma ou um artifício, sem atentar para a busca da verdade que está na base de seu próprio pensamento. É isso, essa revocação da verdade, essa recusa em decidirse entre a verdade e a não-verdade, que o impedem de avançar na direção do luto do luto? Sem dúvida – do mesmo modo que é sua dificuldade de pensar a chegada, de distinguir a vinda e o retorno, que o impede de dar todas as chances ao acontecimento, ao messiânico, à aletheia, e, assim, passar além do luto. Mas uma outra decisão também lhe falta: como ele se recusa a diferenciar a vida da morte, a possibilidade de preferir a vida, de “deixar-se decidir” por ela, lhe está, do mesmo modo, impedida. Segundo ele, todo luto e toda relação com a morte têm suas raízes no luto de si mesmo (que é, ao mesmo tempo, um luto do outro em mim), na relação com o si-mesmo espectral de um eu-fantasma morto desde sempre. “Já estou morto” – “eu lhes digo que estou morto”: desse enunciado impossível, ele fez a divisa de sua obra. Com as consequências que isso implica: se eu sempre já estou em luto de mim mesmo, é porque nunca vim à vida, porque não há um eu que poderia decidir-se a continuar vivendo. Como o teria dito Freud, a perda do objeto transformou-se, aqui, na perda do eu; o que confirma, se isso fosse necessário, o caráter essencialmente Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 47 Gragoatá Jacob Rogozinski melancólico da desconstrução. É com essa revocação enlutada do ego – com esse egicídio – que devemos agora nos confrontar, se quisermos saber qual sujeito seria capaz, sem naufragar neles, de atravessar o luto e a melancolia. Abstract This paper addresses Derrida´s texts on “the work of mourning”, in which the philosopher, borrowing from psychoanalytic theory, postulates a distinction between mourning as a “normal” process of introjection of the lost object, and its pathological forms, in which mourning does not succeed. Failure to mourn is paradoxically more respectful of the dead Other than the so-called “normal” or “successful” mourning. Derrida´s inclination for pathological mourning would be restated by a “melancholia of deconstruction”, which reveals his impossibility to take leave of western metaphysics. The critical trajectory of deconstruction thus seems to envisage a type of philosophical parricide, itself a last tribute paid to the dead master. Keywords: Derrida; deconstruction; mourning; metaphysics Referências DERRIDA, Jacques. L’écriture et la différence. Paris: Seuil, 1967. ______. Marges - de la philosophie. Paris: Minuit, 1972. ______. Glas. Paris: Galilée, 1974. ______. Fors. Préface au Verbier de l’Homme aux Loups de N. Abraham et M. Torok. Paris: Aubier-Flammarion, 1976. ______. La Carte postale: de Socrate à Freud et au-delà. Paris : Flammarion, 1980. ______. Mémoires - for Paul de Man. New York: Columbia University Press, 1986 a. ______. Schibboleth. Pour Paul Celan. Paris : Galilée, 1986 b. ______. Circonfession. In : Jacques Derrida de Bennington, G. e Derrida, J. Paris: Seuil, 1991. ______. Points de suspension. Entretiens. Org. E. Weber. Paris : Galilée, 1992. ______. Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris: Galilée, 1993. ______. Apories: mourir – s’attendre aux «limites de la vérité». Paris : Galilée, 1996. 48 Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 Melancolia da desconstrução ______. De l’hospitalité. Paris : Calmann-Lévy, 1997. ______. Donner la mort. Paris : Galilée, 1999. ______. Béliers. Le dialogue ininterrompu. Entre deux infinis, le poème. Paris: Galilée, 2004. Freud, Sigmund. Deuil et Mélancolie (1915). In: ___. Métapsychologie. Paris: Gallimard, 1968. ______. Totem et Tabou (1913). Paris: Payot, 1976. Niterói, n. 31, p. 31-49, 2. sem. 2011 49 Estética da morte Jaime Ginzburg Recebido em 17/07/2011 Resumo Este ensaio é fundamentado em estudos sobre a morte realizados por Michel Schneider e Sandra M. Gilbert. A presença da morte na cultura brasileira é constante. Se consideramos essa constância em perspectiva histórica, é possível examinar alguns elementos textuais como base para pensar em uma estética, relacionada a diversos escritores e artistas. Dentre esses elementos, são avaliados a configuração do tempo, o ponto de vista narrativo e a base epistemológica dos textos. Limite branco, Inventário do ir-remediável e O ovo apunhalado, livros do início da trajetória de Caio Fernando Abreu, são fortemente relacionados a esses elementos. Palavras-chave: Estética; morte; literatura brasileira; Caio Fernando Abreu Gragoatá Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 Gragoatá Jaime Ginzburg Este trabalho consiste em um momento inicial de uma elaboração de uma hipótese. Para o seu desenvolvimento, serão necessários outros estudos posteriores. Portanto, não se trata de apresentar conclusões, mas de formular um problema. Em seu ensaio Death`s door, Sandra M. Gilbert propõe, com convicção, que a morte constitui história. Em termos individuais, as datas de nascimento e morte delimitam histórias de vidas. Falar de alguém, centrando a atenção em sua relação com a sua morte, leva a considerar sua ausência e seu passado como matéria para interpretar a imagem desse alguém. Em termos coletivos, de acordo com a autora, “mortes de líderes carismáticos, dissoluções de antigas ideias, destruições de costumes tradicionais, desintegrações de estruturas sociais antiquadas” fundamentam o que chamamos de história (GILBERT, 2006, p. 105). Na cultura brasileira do século XX, a presença da morte é de tal modo constante, que é possível conceber a hipótese de que ela consiste em um critério de articulação historiográfica. Em obras literárias, pictóricas, cinematográficas e musicais, a morte aparece como elemento nuclear. O suicídio de Madalena em São Bernardo de Graciliano Ramos, a cena de confronto entre Diadorim e Hermógenes, perto do final de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, o final destinado a Macabéa em A hora da estrela de Clarice Lispector, e o assassinato da filha pelo pai em Lavoura arcaica de Raduan Nassar estão entre os momentos de ficção brasileira que fazem parte de um percurso insistente de proposição de imagens da morte. Esse percurso não se restringe a um interesse temático. Mais do que isso, existem na cultura brasileira configurações que levam a pensar em uma estética da morte. A expressão foi consagrada por Michel Guiomar, que em suas reflexões elaborou uma importante perspectiva de análise da arte impregnada pela morte (GUIOMAR, 1988). No entanto, neste artigo, não está sendo apresentada uma aplicação da proposta de Guiomar. Michel Schneider, embora não esteja apegado ao emprego dessa expressão conceitual, oferece ideias muito importantes para abordar o assunto, em seu Mortes imaginárias. Esse livro de Schneider não hesita em considerar a relação entre escrita e morte como incontornável, em sua perspectiva que acentua a presença da temporalidade no processo criativo. “Somos feitos (...) da morte dos outros”, diz o autor, propondo que a presença dos que se foram em nós se apresenta na presença de palavras em nossa memória (SCHNEIDER, 2005, p. 10). Cabe destacar, nesse livro, algumas observações nos capítulos fundamentais dedicados a Sigmund Freud e Walter Benjamin. No caso do primeiro, Schneider indica que ele teria lido até o fim da vida; “Se Freud ama tanto a literatura, é porque ela restaura o que a vida nos faz perder: ‘Ainda encontramos ali homens que sabem morrer`” (Idem, p. 212). No caso de Benjamin, 52 Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 Estética da morte Schneider alude ao texto a respeito de Nikolai Leskov, redigido pelo pensador alemão, para acentuar a ideia de que “no moribundo que toma forma comunicável não somente o saber ou a sabedoria de um homem, mas, antes de tudo, a vida que ele levou” (Idem, p. 220). O argumento aponta para a aproximação da morte como um impacto intenso, levando à culminância a possibilidade de narrar. O livro de Michel Schneider, com seus recursos filosóficos e narrativos, elabora de modo plural, considerando especificidades em contextos históricos e notas biográficas, um problema que diz respeito tanto à filosofia da linguagem como à antropologia: a ideia de que a significação das palavras, na escrita literária, pode estar associada, de modo nuclear, à exigência de lidar com a morte. Haveria uma relação incontornável entre o impacto de morrer (com a incerteza sobre o que acontece com o humano após a morte, ou com a necessidade de avaliar a vida a partir da consciência da finitude) e a linguagem, entendida de modo ambíguo: continuamente produtiva e ao mesmo tempo em debate com seus próprios limites. Falar em uma estética da morte leva a conceber um movimento necessariamente ambíguo: a aproximação da morte evoca imagens destrutivas; porém, assumir essa concepção estética consiste em tornar essa aproximação produtiva, capaz de fazer a linguagem se constituir. Destruição e constituição estão associadas. Uma das tendências, na literatura brasileira recente, de manifestação de estética da morte consiste em articular problemas que estão no campo do limite, do extremo ou do indizível. Frequentemente, esses problemas são desenvolvidos em torno de movimentos de constituição subjetiva não linear e não totalizante. A acentuação do componente processual da constituição do sujeito, pautado por sujeição permanente à mudança e à indeterminação, é conduzida por escritores a pontos agônicos. Leitores de ficção recente estão constantemente dedicados a descrevê-la com categorias como instabilidade, fragmentação, tensão interna, impossibilidade de definir uma identidade unívoca ou fechada. Parte do que está se apresentando nas últimas décadas na produção ficcional ultrapassa o que essas palavras, semanticamente, podem caracterizar. A estética da morte na literatura brasileira recente aponta para uma situação hiperbólica, de acordo com a qual a incursão pelo território da destruição é um princípio fundador da enunciação. Cabe reforçar, nesse sentido, a importância da pesquisa de Francisco Foot Hardman sobre espectros na literatura brasileira (HARDMAN, 2009). Existem obras com essa caracterização em outras literaturas. A produção ficcional hispano-americana é fortemente marcada por ela. Isso não invalida a demanda de pensar o que Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 53 Gragoatá Jaime Ginzburg ocorre especificamente com escritores brasileiros, considerando elementos intertextuais e contextuais. Os escritores João Gilberto Noll, Hilda Hilst e Bernardo Carvalho fazem parte do grupo de autores que redigiram textos inclinados a formular uma combinação de vocabulário, sintaxe, imagens, foco narrativo e conflitos que aponta para uma negatividade constitutiva. A forma dissociativa se articula com a presença de elementos referentes à exposição do humano à destruição; e essa articulação, contrariamente a qualquer expectativa de esterilização, se torna fundamento para a demanda de atribuição de sentido e contribui para a exposição de trabalhos dos autores ao debate crítico qualificado. A estética da morte corresponde a um contexto em que a existência se apresenta como possível em meio à violência continuada, com o risco incontornável de vulnerabilidade. Nesse contexto, a busca de afirmação, prazer e satisfação aparece com intensidade, em contraste com a apatia e a entrega à miséria e ao vazio. Essa busca, muitas vezes, não se dissocia de uma sujeição à auto-destruição. Uma das configurações mais nítidas de uma estética da morte no Brasil está nos primeiros livros de Caio Fernando Abreu. Nesse caso, a situação é particularmente acentuada. A produção de Abreu se funda, em diversos gêneros (poema, conto, crônica, romance), em uma investigação sobre a morte. É pouco provável que encontremos termos de comparação em termos de um discurso tão familiarizado com territórios de destruição como este. E desde seu início, a trajetória da linguagem de Abreu se desenvolve em um espaço que prioriza três elementos, relacionados entre si: a presença da morte como tema; a elaboração de imagens dissociativas da existência, tanto individual como coletiva; a afirmação, como imperativo, da importância do confronto com os limites subjetivos para o esboço de mudanças. Conotativamente, a produção do escritor propõe um problema importante para a interpretação do Brasil contemporâneo. Levando em conta a presença ostensiva da morte na vida social do país – no modo, por exemplo, da grave e continuada violação de direitos humanos – a obra de Abreu propõe uma ambiguidade importante. É no território fúnebre de confronto com a destruição que se manifesta o esforço de afirmação da vida. Abreu não escreve com uma posição cética, e menos ainda com uma ingenuidade otimista. Ele escreve a partir de um lugar em que, bem depois do defunto Brás Cubas, diante da morte se criam percepções necessárias do que está ocorrendo à volta. No período em que permaneceu em atividade, Caio Fernando Abreu teve uma produção muito diversificada. Escreveu textos que podem ser classificados como contos e romances. 54 Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 Estética da morte Elaborou peças de teatro. Redigiu muitas cartas. Publicou textos em jornal que hoje estão sendo classificados como crônicas. Tem poemas muito pouco conhecidos. Além de tudo isso, em suas diversas funções profissionais, escreveu muito mais. A variação formal é articulada com uma diversidade no campo temático. Em seus escritos, Caio transitou por muitos universos. Entre os tópicos de seu interesse, estiveram a repressão do comportamento, a ditadura militar, a redemocratização, a desigualdade social no Brasil, o exílio, a constituição do sujeito, a memória, a família, o cenário urbano, a sexualidade, o afeto, o corpo, o prazer, a dor, a violência e a morte. O valor de Caio Fernando Abreu para a cultura brasileira ainda está por ser compreendido. Sua recepção crítica ainda é restrita nas universidades. A tradição canônica é muito forte e conservadora. Para essa tradição, Caio seria um escritor sem força para ter presença em escolas e universidades. Seus livros não ganham espaço no disputado campo da literatura consagrada, em que continua firme o nacionalismo do escravista José de Alencar. A recepção crítica de Caio, em certa medida, está em confronto com tradições canônicas de leitura, e o escritor esteve em contrariedade com linhagens brasileiras autoritárias de escrita. A sua literatura propõe recusa ao nacionalismo ufanista, assim como a qualquer ideologia da unidade brasileira, ou a correntes de pensamento autoritário dominantes durante a ditadura militar, ou mesmo a suas heranças. Desde o início de seu trabalho, em Limite Branco, está presente um componente de forte elaboração formal. O precoce livro foi escrito em 1967, antes de que o autor completasse vinte anos. Ali estão dois elementos estruturais que permanecerão constantes adiante em sua produção. O primeiro consiste no modo de elaborar diálogos entre personagens, em que as entoações emocionais são matizadas e moduladas em detalhes, de acordo com reações sutis às transformações e às revelações apresentadas. Antecipam, de modo incipiente, os interesses do autor por teatro e cinema: os diálogos do livro, muitas vezes, têm função decisiva. Não se restringem apenas à manutenção de características dos personagens ou sustentação do estado dos acontecimentos, mas são constitutivos da complexidade das tensões da narrativa. O segundo se refere ao fluxo da narração. Desde seu primeiro trabalho, Caio rompe frontalmente com a concepção realista oitocentista de narração, pautada pela fundamentação cartesiana. O “moderno realismo parte do princípio de que o indivíduo pode descobrir a verdade através dos sentidos: tem suas origens em Descartes” (WATT, 1990, p. 14). A escrita de Limite Branco está voltada para a indeterminação das condições de quaisquer “verdades incondicionadas” (NIETZSCHE, 1983, p. Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 55 Gragoatá Jaime Ginzburg 117). A realidade não é um universo previamente pronto, exposto aos sentidos e dado para seu conhecimento; ela está sob constante interrogação, consistindo em um campo polissêmico, que pode ser entendido de mais de um modo. Limite Branco reserva a seu leitor uma mediação enigmática, o cifrado capítulo O sonho, em que diversos temas do romance se articulam de modo inesperado com relação aos capítulos anteriores, acenando com uma libertação das dificuldades, “uma fuga que jamais aconteceria” (ABREU, 1994, p. 90). Em uma alternância estilística de prosa, o livro oscila entre o modo do relato e páginas de diário, com níveis diferenciados de percepção analítica dos acontecimentos, e organizações distintas de vocabulário. Essa alternância impede que se constitua qualquer ilusão de verdade absoluta no universo narrativo, sugerindo, diferentemente, que a constante mudança de perspectiva acaba por dificultar a delimitação dos acontecimentos. Em sua apresentação para a segunda edição do livro, escrita em 1992, Caio lembra que o escreveu durante o primeiro ano do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1967; faz referência a João Gilberto Noll, a quem o livro foi dedicado, a Hilda Hilst, responsável pelo título, e expõe sua relação crítica com o texto. Fala das “precariedades constrangedoras de escritor e ser humano principiantes”, e do contexto histórico que cercou sua redação. Chama a atenção para a presença na trama do suicídio, e analisa o protagonista, Maurício, com rigor – ele teria muito de “moralismo, preconceito, arrogância, egoísmo” (ABREU, 1994, p. 5-6). Hilda Hilst de fato acertou na sugestão do título, trata-se de um livro sobre a experiência de um limite. Mais do que isso, a questão de experiências limítrofes seria central para o escritor ao longo da trajetória, e ali estava anunciada em uma de suas dimensões, a aproximação da morte, caracterizada a partir da perspectiva do despreparo. A construção cíclica do livro, em que o silêncio está no capítulo inicial e no final, aponta para uma ambiguidade importante associada ao campo do limite: o protagonista Maurício vivencia deslocamentos, transformações internas, impactos, mas é obrigado também a lidar com reencontros com episódios do passado, e nesse sentido, a reencontros incontornáveis consigo mesmo. A morte não é colocada em Limite branco na perspectiva remota do futuro incerto; ela se inscreve no contato com a família e o passado, inserindo o senso de limite da existência em uma temporalidade não linear. É na articulação entre a morte da mãe e o conhecimento de si, nas últimas páginas de Limite branco, que se define o alcance da relação entre passado e presente, como uma relação de interdependência. Caio foi muito preciso ao delimitar os termos de sua relação com o livro, vinte e cinco anos depois de escrito, apontando 56 Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 Estética da morte dispersamente elementos que se tornariam referências para compreender sua trajetória de conjunto. Estão ali, em sua apresentação da segunda edição, os excelentes Hilda Hilst e João Gilberto Noll, também ainda menos compreendidos pela crítica e pelo público do que mereceriam, ambos autores voltados constantemente para contatos com vivências limítrofes. Está ali o senso de que o personagem principal, Maurício, não é heroico, virtuoso ou um protagonista em superação linear de suas dificuldades. Diferentemente, trata-se de um caso de um percurso pautado pelo individualismo, em que o despreparo para os confrontos com a realidade não justifica as escolhas realizadas. Está também presente a indicação de uma precariedade do humano – o humano principiante, diz ele. A morte está no fundamento de Inventário do ir-remediável, primeiro livro publicado por Caio. Na dedicatória aparece o nome de Hilda Hilst, e na epígrafe, Cecília Meireles. Relata o autor, em sua apresentação à edição de 1995, que foi na casa de Hilda que deu forma final ao livro; e reconhece que nele está a “base de todos os livros que vieram depois” (ABREU, 1995, p. 6). Como explica Valéria Freitas Pereira, seguindo o mesmo ensaio de Benjamin sobre Leskov indicado anteriormente, enquanto o percurso da modernidade aponta para um distanciamento da morte, Abreu segue em “contramão” negando a tendência a rejeitá-la (PEREIRA, 2008). Encontramos, logo no início do livro, versos atribuídos a Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Descansa: pouco te chorarão... O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco, Quando não são de coisas nossas. Quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte, Porque é a coisa depois da qual nada acontece aos outros... (ABREU: 1995, p. 11) Caio não indica explicitamente que se trata de uma elaboração poética sobre querer se matar, contextualizada entre frases como “Talvez, acabando, comeces” e “Sem ti correrá tudo sem ti” (PESSOA, 2006, p. 357-358). O texto Apeiron, que foge à estrutura habitual de um conto tradicional, propõe uma elaboração da morte. Em sua construção detalhada, encontramos, de acordo com a percepção de um narrador em terceira pessoa, um corpo transformado e uma auto-imagem delicada do personagem principal: “Ele, meu Deus, ele que tinha sido siroco ardente ou minuano gélido, ele brisa, agora. Ou nem brisa: ausência de ventos. (...) E o ventre raso. Os pés sem calos. O pescoço sem rugas. As coxas sem flacidez. E tudo, tudo voltava a ser antigo, e no entanto novo, compreende? (...) seu centro havia-se tornado gentil e um pouco ausente, como ilustração de romance antigo para moças. Nada Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 57 Gragoatá Jaime Ginzburg nele feria. Tinha campinas verdes pelo cérebro e colinas suaves e palmeiras esguias e um céu cor de rosa encobrindo um lago azul no quieto coração.” (ABREU, 1995, p. 35) A transformação, antes incompreendida, é finalmente entendida: “Meu Deus, isso é horrível, é horrível, quis gritar. Já não podia. O padre fechava rapidamente a tampa do caixão. Em breve viriam os vermes.” (ABREU, 1995, p. 35) Trata-se de um texto sobre a tomada de consciência de estar morto. Esteticamente, ocorre uma subversão da mimese tradicional, em favor de uma concepção ambígua de percepção (conforme NOGUEIRA, 2010). A tensão da diferença entre não saber e saber da finitude é acentuada pela diferença entre as duas perspectivas, estar dentro e fora do corpo morto, em primeira e em terceira pessoa, os dois modos pelos quais a enunciação é articulada. Em termos epistemológicos, o conto relata “uma oscilação na qual o eu ora se encontra extremamente próximo do objeto, tendendo a confundir-se com ele, ora busca afastar-se excessivamente deste, com o risco da perda do próprio sentido de si mesmo” (VILLA e CARDOSO, 2004, p. 67). Apeiron mostra o personagem tomando consciência de que se transformou. O mundo exterior, no entanto, não tem a mesma percepção que ele. Pelo contrário, fecha o caixão e o abandona ali. Como no caso dos versos de Pessoa, com esse personagem, ao morrer, algo começou, uma mudança. A sugestão do cadáver consciente da própria destruição o aproxima do comportamento de um enterrado vivo. Não se trata, textualmente, no entanto, de um homem vivo; se trata da vivência limítrofe de falar a partir do ponto de vista da morte, a partir do qual “a vida é a produção do cadáver” (BENJAMIN, 1984, p. 241), considerando-o horrível. Ao ser fechado o caixão, seguindo os versos de Pessoa, a vida dos demais continuará sem ele. Como quatro pontos cardeais próprios do autor, ou elementos da natureza de seu cosmos particular, há tópicos que delimitam capítulos do livro: morte, solidão, amor e espanto. Articulados e contraditórios uns com relação aos outros, eles estabelecem uma dinâmica que projeta o livro em um horizonte de oscilação entre momentos de afirmações e frustrações. A leitura de Limite branco e Inventário do ir-remediável lança uma questão central para a interpretação de conjunto da produção de Caio Fernando Abreu. A presença da morte como tema nos dois livros não é casual, nem desimportante. Ao contrário, ela ajuda a definir uma atitude estética. Em 1967, ano em que escrevia Limite Branco, Caio publicou no Correio do Povo o poema Alento, que se refere à situação em que o esvaziamento se encontra com o impulso para o movimento: “Quando mais nada houver, / eu me erguerei cantando, / saudando a vida (...)” (ABREU, 2005, p. 144). Em sua polissemia, 58 Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 Estética da morte os versos podem ser interpretados como indicadores de que, no momento da morte, o sujeito lírico se erguerá para afirmar a vida. Nesse sentido, é importante uma observação de Luana Teixeira Porto, em seu estudo de Morangos mofados: a pesquisadora propõe uma conexão entre a exposição à morte e a afirmação da vida (PORTO, 2005, p. 88). Na abertura do livro O ovo apunhalado, encontramos o breve texto Nos poços. Nele, é configurada a metáfora de cair no poço em associação a morrer. Nessa articulação, a proposta é observar o caráter constitutivo da situação. “A gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois: no fundo do poço do poço do poço do poço você vai descobrir quê.” (ABREU, 1992, p. 19) O texto encerra de modo suspenso. De fato, a produção textual de Caio, em grande parte, pode ser interpretada como um movimento textual que tenta responder uma pergunta difícil: em um mundo em que a morte se impõe desde o início, como propor um sentido afirmativo para a existência? Em desdobramento, outra pergunta se segue: o que e como escrever, em um mundo caracterizado pela onipresença do risco de morte, de modo que se possa falar dessa onipresença e configurar a vida sem submeter-se a ela? O movimento inaugurado por um conjunto de textos que inclui um romance sobre o limite, contos sobre o irremediável e um poema sobre o alento consiste em procurar, no interior da escrita, lidar com forças opostas, o processo de construção, afirmação da existência, e a sujeição à destruição, inevitabilidade da exposição à perda do outro e de si - da mãe, do próprio corpo, de tudo o que está à volta. A ideia de formular uma hipótese referente a uma estética da morte na literatura brasileira exige conhecimento de autores que se dedicaram a relações entre morte e linguagem, como Michel Guiomar, Michel Schneider e Sandra M. Gilbert. No entanto, o encaminhamento aqui proposto não consiste em aplicar um modelo previamente definido, mas em pensar em problemas referentes às especificidades do trabalho de autores brasileiros. Cabe fazer um percurso incluindo, entre outros, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Hilda Hilst, João Gilberto Noll, e também o cinema de Glauber Rocha e Sérgio Bianchi, a arte de Cildo Meireles e Iberê Camargo, e a música de Cazuza. A leitura dos primeiros livros de Caio Fernando Abreu permite observar alguns elementos textuais relevantes – a interdependência entre passado e presente, o emprego de mais de um modo de enunciação, a rejeição a concepções absolutas de verdade, a articulação entre aproximação da morte e avaliação do valor da existência. Nesse sentido, elaborar uma estética da morte envolve reflexões sobre o tempo, construído fora da linearidade; sobre o foco narrativo, alheio à tradição realista; sobre Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 59 Gragoatá Jaime Ginzburg a concepção de conhecimento, ou seja, a base epistemológica do discurso, herdeira de Freud e Nietzsche; e sobre o valor da existência humana, campo que, desde o pós-guerra e principalmente os anos de 1960, se articula com a pauta dos direitos humanos. Uma pesquisa sobre estética da morte pode congregar essas diferentes reflexões, levando em conta as especificidades da produção cultural brasileira, que lança muitas questões difíceis de abordar. Se de fato Gilbert tem razão, uma estética da morte necessariamente é um modo de pensar processos históricos. As presenças de imagens da morte nas produções culturais, à luz dessa perspectiva, deixam de ser casos isolados que se acumulam, e passam a configurar uma questão ampla, a exigir interpretação: o que, à primeira vista, pode parecer um caso individual de morte, faz parte de um mundo que pode ser definido por sua capacidade de vivenciar a destruição coletiva. Abstract This essay is based on Michel Schneider`s and Sandra M. Gilbert`s studies on death. We consider death as a constant presence in Brazilian culture. If this is considered as an historical process, it is possible to evaluate some textual elements as a basis to an aesthetics, related to many writers and artists. Within these elements, we evaluate the structure of time, the point of view and the epistemological basis of the texts. Limite branco, Inventário do ir-remediável and O ovo apunhalado, first books written by Caio Fernando Abreu, are strongly related to this aesthetics. Key-words: Aesthetics; death; Brazilian culture; Caio Fernando Abreu Referências ABREU, Caio Fernando. Limite branco. São Paulo: Siciliano, 1994. 2 ed. ______. Inventário do ir-remediável. Porto Alegre: Sulina, 1995. 2 ed. ______. Caio 3D: O essencial da década de 1970. Rio de Janeiro: Agir, 2005. ______. O ovo apunhalado. São Paulo: Siciliano, 1992. BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. ______. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: __. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985. (Obras escolhidas, 1). 60 Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 Estética da morte GILBERT, Sandra M. Death`s door. Modern dying and the ways we grieve. New York: W.W. Norton, 2006. GUIOMAR, Michel. Principes d’une esthétique de la mort. Paris: José Corti, 1988. HARDMAN, Francisco Foot. A vingança da Hileia. Euclides da Cunha, a Amazônia e a literatura moderna. São Paulo: UNESP, 2009. LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. In:___. Obras incompletas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Os Pensadores). NOGUEIRA, Roberto Círio. Antagonismos político-sociais em Caio Fernando Abreu. Literatura e autoritarismo, Santa Maria, jul. 2010. Disponível em http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/ dossie03/sumario.php Acesso em 30.6.2011. PEREIRA, Valéria Freitas. Linguagem e morte em um conto de Caio Fernando Abreu. Literatura e autoritarismo, Santa Maria, nov. 2008. Disponível em http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/ dossie/sumario.php Acesso em 30.6.2011. PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. PINHEIRO, Paulo Sérgio e MESQUITA NETO, Paulo de. Direitos humanos no Brasil. Perspectivas no final de século. DH Net. Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/ pspinheiro/pspinheirodhbrasil.html Acesso em 30.6.2011. PORTO, Luana Teixeira. Morangos mofados, de Caio Fernando Abreu: fragmentação, melancolia e crítica social. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS, 2005. Dissertação de mestrado. RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1981. ROSA, Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. VILLA, Fernanda Collart e CARDOSO, Marta Rezende. A questão das fronteiras nos estados limites. In: CARDOSO, Marta Rezende, org. Limites. São Paulo: Escuta, 2004. WATT, Ian. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. Niterói, n. 31, p. 51-61, 2. sem. 2011 61 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores Maria Conceição Monteiro Recebido em 15/07/2011 Resumo Focado no romance produzido no âmbito das literaturas de língua inglesa, o texto parte de um recorte temático que colocará em relevo as figurações narrativas da vida conjugal. Trata-se pois de explorar o casamento num sentido duplo: o “casamento” (perfeito) entre a forma do romance e a encenação ficcional de amores; e o casamento enquanto tema de romances. Privilegiando-se o subtema do adultério de personagens femininas, a análise incide em momentos especialmente intensos das tramas romanescas (“cenas”, nos quais o desejo eclode em forma textual até certo ponto destacável do conjunto narrativo em que se insere). Como ilustração da teoria, propõe-se uma leitura do romance The End of the Affair (1951), de Graham Greene. Palavras-chave: adultério; corpo; desejo erótico; feminismo; subjetividade Gragoatá Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Gragoatá Maria Conceição Monteiro Bastidores Segundo certa crítica, enquanto na segunda metade do século XIX o romance sobre o adultério da esposa florescia na Europa continental, na Inglaterra o tema permanecia um tabu. Não estava, contudo, ausente do mundo literário vitoriano, antes mesmo de Elizabeth Braddon, Meredith, Hardy e James. Chegara inclusive a ser um tema-chave em várias narrativas inglesas desde o final da Restauração até fins do século XVIII, cabendo lembrar que Love-Letters Between a Nobleman and his Sister (1684-1687), de Aphra Behn, por muitos considerado o primeiro romance inglês, é um romance de adultério. Assim, já no final do século XVIII diversos romances de adultério foram escritos por mulheres, gerando muita controvérsia. Talvez o motivo para a redução do seu número no século subsequente tenha sido a transformação de conduta e mentalidade operada no período. Para o historiador Lawrence Stone (1977), apesar de as manifestações e causas dessas mudanças variarem entre as classes, nesse período ocorreu uma grande alteração nas atitudes e comportamentos sexuais. Entre dois períodos de repressão moral — sob o influxo do puritanismo no começo do século XVII e sob a liderança metodista e evangélica no início do século XIX —, por mais de um século os ingleses de alta e baixa classes assumiram uma atitude tolerante em relação ao comportamento sexual. É verdade que a posição de Stone tem sido questionada, mas não se costuma pôr em dúvida que o período que se estende da Restauração até as primeiras décadas do século XVIII foi de tolerância sexual fora do comum, tanto na linguagem quanto na ação, pelo menos nos meios aristocráticos e na alta burguesia. Desse modo, a emergência de tal ficção na Inglaterra deveuse em boa medida a uma cultura de condescendência em relação à vida sexual nas altas classes, especialmente na Corte, de que é indício a difusão do pensamento libertino e o gosto por certo tipo de narrativa já comum na França, que girava não apenas em torno do amor, mas do escândalo sexual. Dessa forma, a ética do amor nos romances do período pode ser explicada, em parte, como no caso do romance de Behn, como resposta ao sistema de casamento arranjado, prática que se estende até o século XIX, nos meios aristocráticos. Entre os motivos alegados para a ausência do romance de adultério na Inglaterra oitocentista figuram a censura oficial e a extra-oficial, bem como a ideologia e a prática do casamento por amor. Outro motivo é que, depois do Ato da Causa Matrimonial de 1857, o tópico do adultério teria migrado para o jornalismo dedicado a cobrir os julgamentos ocorridos no âmbito da Corte Britânica de Divórcio. Outro motivo seria ainda o fato de que os escritores se achavam tanto intimidados por reações políticas 64 Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores quanto limitados por uma moralidade evangélica, assim como pela luta que tiveram de travar para legitimar o romance como forma literária respeitável. Por isso, certamente, preferiam não aventurar-se por um tema que lhes ameaçaria a reputação. Todas essas razões devem ter contribuído para explicar o motivo de o tema não ter sido tão difundido na Inglaterra como o fora na França, mas o fato é que todos esses motivos não foram suficientes para eliminá-lo da produção ficcional do período. Observa-se que o próprio adultério é de tal modo carregado de consequências morais e ideológicas que qualquer tipo de consenso, até mesmo sobre a representação literária, nunca é muito viável. Acrescente-se a isso que não há concordância sobre o que conta como adultério na ficção, ou mesmo o que é um romance de adultério. Tonny Tanner (1979), ao analisar La Nouvelle Heloïse, de Rousseau, e Die Walverwandtschaften, de Goethe, afirma que nessas obras o ato físico do adultério nunca na verdade ocorre. Entretanto, Bill Overton (2002) ressalta que por romance de adultério entende-se qualquer romance em que uma ou mais ligações adúlteras são não apenas centrais, mas revelam perfeita identificação com a ação, o tema e as estruturas propostas. Somente nesse tipo de romance — quase sempre figurando o adultério de esposa — o tema condicionará toda a estrutura narrativa. Convém notar que também há romances onde o adultério ocorre sem se constituir no foco principal, como é o caso de Vanity Fair, de Thackeray, entre outros tantos. Existem ainda romances onde o adultério acontece apenas no plano do desejo, como, por exemplo, em Wuthering Heights, de Emily Brontë. Vale ressaltar, contudo, que a simples circunstância de o desejo adúltero se manifestar, de fato ou apenas na fantasia, sinaliza para a mesma problemática, ou seja, a insatisfação da mulher no espaço matrimonial. A presente análise incidirá em momentos especialmente intensos da trama romanesca, nos quais o desejo eclode em forma textual até certo ponto destacável do conjunto narrativo em que se insere, forma a que denomino “cena”. Assim, o ensaio consistirá no destaque de “cenas” do romance The End of the Affair, de Graham Greene, visando a verificar a adequação recíproca entre dispositivos formais e perspectivas de tratamento ficcional do tema em causa. Abrem-se as cortinas Apesar de parecer datado, devido aos avanços econômicos e políticos na situação da mulher, o senso comum tende a concordar com Simone de Beauvoir, quando ela afirma que o casamento é o destino tradicionalmente oferecido à mulher pela sociedade. Assim, o casamento moderno só poderá ser compreendido à luz de um passado que tende a se perpetuar. Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 65 Gragoatá Maria Conceição Monteiro No século XIX, a mulher ainda era subordinada ao homem. Ele era a cabeça do empreendimento econômico do casal. Até nos nossos dias, a mulher, com algumas exceções, ainda adota o nome do homem, tornando-se a sua metade. Nas palavras de Beauvoir, a mulher estava condenada à continuação da espécie e aos cuidados da casa — ou seja, à imanência. No entanto, o fato é que a existência humana envolve transcendência e imanência ao mesmo tempo, e o casamento para o homem permite uma síntese feliz das duas dimensões (cf. BEAUVOIR, 1997, p. 449). À vista disso, em uma sociedade patriarcal, em que os interesses e prazeres masculinos têm prioridade, o prazer sexual da mulher é limitado a uma forma específica e não individualizada. Entretanto, ainda que ambos os sexos sofram as consequências de uma sexualidade institucionalizada, à mulher cabe sempre a menor parte do latifúndio do prazer. Em outros termos, ao cumprir a tarefa de agente reprodutor, o homem obtém, de alguma forma, o prazer sexual; na mulher, ao contrário, a função reprodutiva é usualmente dissociada do prazer erótico. Nesse contexto, o que o otimismo burguês tem a oferecer à mulher não é a satisfação erótica, mas uma felicidade calcada em um equilíbrio tranquilo, uma vida de imanência e repetição, sem paixão. Ainda assim, mesmo com dificuldade de libertar-se dessas influências e dos princípios que passa a vida repetindo, a mulher é capaz de preservar a sua própria visão peculiar das coisas. Essa resistência faz com que ela se subtraia ao domínio do outro. Vale lembrar, contudo, que desde o nascimento do Cristianismo a figura da mulher tornara-se espiritualizada. Todos os atributos femininos desejados pelo homem deixam de ser qualidades tangíveis, passando a mulher a ser sua alma, a verdade do mundo. A mulher torna-se a alma do lar, da família. Segundo Beauvoir, a mulher existe além dessa invenção. Daí não ser apenas a encarnação do sonho masculino, mas também a sua frustração. Não existe imagem figurativa da mulher que não suscite o seu oposto: ela é vida e morte, natureza e artifício, luz e noite. Sob qualquer aspecto que a mulher seja considerada, haverá sempre esse movimento alternado, pois o não essencial retorna necessariamente ao essencial (cf. BEAUVOIR, 1997, p. 218). Contudo, para que a mulher se tornasse submissa ao homem, através de cerimônias e contratos, era necessário elevá-la à posição de pessoa humana, dando-lhe liberdade. Mas a liberdade, todavia, sendo aquilo que escapa à sujeição, pode prestar-se a uso negativo, daí decorrendo sua rejeição pela mulher. Desse modo, a mulher liberta-se quando se torna cativa; ela assim renuncia à liberdade para adquirir poder como objeto natural. Por isso, está destinada à infidelidade, forma concreta de recuperação da liberdade. Consequentemente, só através do 66 Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores adultério a mulher prova que não é propriedade de ninguém, conquistando assim a posição de sujeito. Se, por outro lado, a mulher rompe com as regras da sociedade, ela perde as forças incontroláveis, restando-lhe, assim, o medo, que está sempre ligado à conduta licenciosa feminina (cf. BEAUVOIR, 1997, p. 222). Entretanto, assim como o Cristianismo, ao criar as ideias de redenção e salvação, deu à palavra salvação um significado completo, também o fez ao colocá-la em contraste com a mulher santificada. Observa-se, assim, o Bem e o Mal como opostos: a mãe devotada e a amante pérfida. Por entre esses polos fixos pode-se discernir uma multiplicidade de figuras ambíguas, como a angélica, a diabólica, a vítima, a pecadora, etc. Por ser considerada o Outro, a mulher é outro dela mesma, outro do que é dela se espera. E ao ser tudo, ela nunca é aquilo que deveria ser. A mulher fornece, dessa forma, uma variedade de comportamentos e sentimentos que estimula os estereótipos construídos em relação a ela pela sociedade. Tal problema emerge devido ao fato de que a questão do gênero sempre remete a uma compreensão idealizada que o sujeito constrói acerca de si mesmo. Se considerarmos a posição de Beauvoir sobre o assunto, observar-se-á que a questão sobre o que é uma mulher nunca poderá limitar-se a uma única resposta. Assim, não há razão para acreditar que as palavras mulher ou homem apresentem sempre em seus respectivos significados algo de inerentemente metafísico ou essencialista. Daí a importância, segundo Toril Moi, de se renunciar à tentação de falar sempre sobre sexo e gênero, e, em contrapartida, a necessidade de optarmos por termos como corpo e subjetividade. Para Beauvoir (1997), a relação entre o corpo e a subjetividade não é nem necessária nem arbitrária, mas contingente. Por isso, a ambiguidade do corpo não está sujeita às leis naturais de causa e efeito, e tampouco constitui simplesmente um efeito da consciência, do poder, da ideologia ou dos discursos regulatórios. Para Moi, considerar que a subjetividade está numa relação contingente com o meu corpo é reconhecer que o meu corpo influenciará tanto o que a sociedade faz de mim quanto os tipos de escolhas que farei em resposta à imagem que o outro faz de mim. Vale ressaltar, também, que nenhuma forma de subjetividade é sempre consequência necessária de se ter um corpo específico (cf. MOI, 1999, p. 59-112). Quando Beauvoir afirma “Eu sou uma mulher”, não quer dizer que ela é uma criatura que se conforma às normas de gênero prescritas pela sociedade. Para ela, o verbo significa existência, e a existência é sempre um processo que implica um tornar-se. Assim, é importante pensar o corpo e a subjetividade como formas de nos libertar de um quadro ideológico determinante, buscando-se alternativas sempre mais e mais libertadoras na maneira de pensar. Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 67 Gragoatá Maria Conceição Monteiro Segundo Moi, na trilha aberta por Beauvoir, o corpo como situação constitui uma alternativa poderosa e sofisticada para as teorias de sexo e gênero. Ver o corpo como uma situação é reconhecer que o corpo da mulher está ligado à forma que usa a sua liberdade (cf. MOI, 1999, p. 65). Assim, a subjetividade não é nem uma coisa, nem o mundo emocional interior; mas é, ao contrário, a forma que somos no mundo. The End of the Affair: amor e morte en(cena) Ilustremos agora o background teórico apresentado mediante a leitura de um importante romance publicado em meados do século passado. The End of the Affair (1951), de Graham Greene (1904-1991), é a história de amor entre Maurice Bendrix e Sarah, que floresce na atribulada Londres do tempo da Segunda Guerra Mundial, chegando ao fim quando Sarah, de repente e sem explicação, termina o caso. Maurice, o narrador, tem duas grandes paixões. A primeira, ligada ao seu lado de escritor, concerne ao misterioso ato de criação; a segunda, a uma arte ainda mais misteriosa: a da relação amorosa. A narrativa se abre com o narrador desenvolvendo uma reflexão sobre o ódio: Se o ódio não é um termo amplo para se usar em relação a qualquer ser humano, eu odiava Henry — odiava a sua esposa Sarah também. E ele, acredito, logo depois dos eventos daquela noite, passou a me odiar: como também em alguns momentos deve ter odiado sua esposa [...]. Então este é um registro de ódio muito mais que de amor (GREENE, 2001, p. 1, grifo meu). Depois da primeira separação dos amantes, Henry marca um encontro com Maurice em que confessa desconfiar de Sarah. Quando conversam sobre o assunto, já na casa de Henry, chega Sarah. É importante observar nessa cena a diferença na atitude dos dois homens à chegada de Sarah. Henry vai até a porta para recebê-la, e “[...] automaticamente o seu rosto se cobre em linhas de generosidade e afeição” (GREENE, 2001, p. 11). Maurice, por sua vez, quer que o leitor perceba Sarah no momento em que ela para no corredor ao pé da escada e se vira para eles: “Tudo que posso passar [ao leitor] é uma figura indeterminada, virando-se [...], dizendo, ‘Sim, Henry?’, e depois ‘Tu’. Ela sempre me tratou por ‘tu’. [...] imaginava como um tolo, por alguns minutos a cada momento, que havia apenas um ‘tu’ no mundo, e que era eu” (2001, p. 11). A cena do primeiro encontro concentra-se na percepção física do objeto de desejo: “Tudo que percebi sobre ela na primeira vez foi a sua beleza e alegria, e a forma como tocava as pessoas 68 Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores com as mãos, como se as amasse” (GREENE, 2001, p. 18). Para completar a cena, ele descreve poeticamente o espaço: O sol pálido caía sobre a praça e a grama. Na distância as casas eram como casas numa gravura vitoriana, pequenas e desenhadas com precisão e calma: somente uma criança chorava à distância. A igreja setecentista erguia-se como um brinquedo numa ilha de relva — o brinquedo poderia ficar de fora na escuridão, no tempo seco e inquebrável. Era a hora em que se fazem confidências a um estranho (GREENE, 2001, p. 19). Era o momento em que conversava com Henry pela primeira vez, e este lhe falava de Sarah. Depois do último encontro entre Maurice e Henry, Sarah propõe a Maurice que eles se encontrem mais uma vez. Ela chega ao local combinado pedindo desculpas pelo atraso, pois viera de ônibus. “O metrô seria mais rápido”, diz Maurice; ao que ela responde: “Eu sei, mas não queria chegar rápido” (GREENE, 2001, p. 21). Enquanto essa rápida conversa tem lugar, Maurice reporta-se ao passado. Quando estavam apaixonados, ele tentava arrancar dela mais que a verdade — que o caso nunca acabaria e que um dia se casariam. Eu não teria acreditado nela, mas teria gostado de ouvir as palavras na sua língua, talvez apenas para ter a satisfação de rejeitá-las. Mas ela nunca jogou o jogo do faz-de-conta, e de repente, inesperadamente, despedaçaria as minhas cautelas, com uma frase de tamanha doçura e ressonâncias... Lembro-me que, certa vez, eu triste com sua tranquila pressuposição de que um dia a nossa relação acabaria, a ouvi dizer com incrível alegria: ‘Eu nunca, nunca amei um homem como te amo, e nunca amarei novamente’ (GREENE, 2001, p. 21). E como falta a Maurice o conhecimento profundo de Sarah, ele logo pensa: “[...] bem, ela não sabia, pensei, mas ela também jogava o jogo do faz-de-conta” (GREENE, 2001, p. 21). Nesse encontro, o desejo passado recrudesce, e no final Maurice não consegue soltar-lhe as mãos, mas é interrompido pela tosse de Sarah. Como as heroínas adúlteras do século XIX, Sarah tosse, o que soa como um mau presságio. Na trama do romance, uma circunstância que aparece clara, dada a recorrência de situações narrativas que a configuram, é a incapacidade de Maurice para amar livremente. Ele é refém de seu próprio medo: o medo de perder Sarah, que o leva a antecipar a dor, a perda, a querer que o amor acabe: O tempo todo sabia que forçava o passo. Estava empurrando, empurrando a única coisa que amava na vida. [...]. Mas o amor tinha que morrer, queria que morresse rápido. Era como se o nosso amor fosse uma criaturinha presa numa armadilha e sangrando até morrer: tinha que fechar os olhos e torcer o seu pescoço (GREENE, 2001, p. 25). Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 69 Gragoatá Maria Conceição Monteiro Observa-se que o título do romance sinaliza o maior medo de Maurice: o fim do caso. E é nesse momento que Sarah desaparece de sua vida. Dois anos se tinham passado, desde que se encontraram no corredor, ela se dirigindo a ele por “tu”. Maurice e Heathcliff são personagens que tomam a cena, pela complexidade das suas angústias, pela força dos impulsos conflituosos, pela obscura capacidade de amar e, por último, pela incapacidade de libertarem-se das relações amorosas. Talvez pelo fato de suas amantes, Sarah e Catherine respectivamente, serem partes deles próprios, os seus duplos, e, como tais, suas desconhecidas. Maurice fala, reiteradamente, sobre o amor e o ódio, o fim e o começo, sem possibilidade de alívio ou descanso. Sarah, por sua vez, é focalizada na visão de Maurice através do diário que chega às mãos dele. Ele então “lê” os sentimentos dela como nunca fora capaz de vê-la, de conhecê-la. Começa, por sinal, a ler o diário pelo fim. Dois anos depois que principiara a escrever o diário, Sarah afirma convicta: “Quero Maurice. Quero o amor humano simples e corrupto. Meu Deus, sabes que quero querer a Tua dor, mas não a quero agora. Tira-a de mim por um tempo e me dê em um outro momento” (GREENE, 2001, p. 71). A partir desse ponto, Maurice decide recomeçar a leitura desde o início, 1944, ano em que Sarah o deixara. Tem acesso, só então, à intimidade interior de Sarah: Sei que teme o deserto que o envolverá se o nosso amor acabar, mas ele não percebe que sinto exatamente o mesmo [...]. Ele sente ciúmes do passado, do presente e do futuro. O seu amor é como um cinto de castidade medieval: somente quando ele está comigo, em mim, sente-se seguro. [...] Sempre quis ser querida e admirada. [...] Deus te ama, é o que dizem nas igrejas. As pessoas que acreditam nisso não precisam de admiração. [...] Mas não posso inventar uma crença. [...] Se amasse Deus, não precisaria acreditar no seu amor por mim, então (GREENE, 2001, p. 72-73). Entretanto, a pergunta central para Sarah e para o leitor é: Por que persistir em manter a promessa feita num momento de medo para um Deus em quem não se acredita? Greene levanta a questão a todo momento, cercando-a por ângulos diversos: algumas vezes nas conversas entre Sarah e o ateu Smythee, outras através da reflexão atormentada de Sarah; e, ao final, ela confessa o seu momento de revelação: “Quando surgiste retirar na porta com o rosto coberto de sangue, eu tive certeza. De uma vez por todas” (GREENE, 2001 p. 75). É aí, então, que Maurice lê sobre o que acontecera na noite do bombardeio, quando os dois estavam juntos na casa dele: “Deixe-o viver e eu acreditarei. Dêlhe uma chance. Então eu disse, eu amo e farei qualquer coisa se o fizeres viver. [...] então ele surgiu na porta, e estava vivo, 70 Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores e pensei, agora a agonia de ficar sem ele começa, e desejei que estivesse morto novamente, sob a porta” (2001, p. 76). Sarah recorre a tudo para poder quebrar a promessa e voltar para Maurice. Precisa acreditar que pode quebrá-la. Assim, num dia quente e chuvoso, entra na igreja escura e, depois de sentar-se e olhar à volta, percebe que estava num templo católico. Odiava as estátuas, o crucifixo, toda aquela ênfase no corpo humano: Pensei que pudesse acreditar em um tipo de deus que tivesse uma relação com a gente, algo vago, amorfo, cósmico, para quem prometesse algo e que me desse alguma coisa em retorno. [...] lembrei que acreditavam na ressurreição do corpo, o corpo que queria destruído para sempre. [...] Se pudesse inventar uma doutrina seria uma em que o corpo nunca nascesse de novo, que apodrecesse com os vermes do ano passado (GREENE, 2001, p. 87). Em 1946, Sarah confessa aceitar Deus: “[...] devo ter aprendido a amar, pois não temia mais o deserto, já que Tu estavas lá” (GREENE, 2001, p. 90). Nessa mesma época, volta a encontrar Maurice. Almoçam juntos depois de dois anos de separação, episódio já apresentado anteriormente na narrativa, mas visto agora na perspectiva de Sarah: [...] pensei que fosse me beijar novamente, e desejei tanto que isso acontecesse, mas um espasmo de tosse me tomou por um momento. [...] Sabia, enquanto se afastava, que estava pensando todos os tipos de inverdades que o faziam sofrer, e eu estava magoada, por ele estar sofrendo (GREENE, 2001, p. 91). Os lances que se seguem são cenas de desejo. Sarah luta contra a sua nova crença religiosa e o desejo de estar com Maurice: “Esperaria até às 6:30, aí telefonaria para Maurice. Diria que estava indo vê-lo à noite e todas as outras noites, estou cansada de ficar sem ti” (GREENE, 2001, p. 92). Assim, planeja deixar uma carta de despedida para Henry e ir para Maurice: “Amo Maurice mais que em 1939” (Greene, 2001, p. 93). Quando termina a carta, Henry chega e, ao vê-lo, percebe: “Não posso atingi-lo [...] porque vi o que é a infelicidade” (GREENE, 2001, p. 95). Sarah volta a viver o grande conflito: “Não tenho mais paz. Desejo-o como antes. Quero comer sanduíches com ele. Quero beber com ele num bar. Estou cansada. Quero Maurice. Quero o amor humano simples e corrupto” (GREENE, 2001, p. 99). Maurice abandona o diário. Desesperado, telefona para Sarah, precisava vê-la, tê-la. O diário serve também como veículo de conhecimento: “Nunca soube dela antes e nunca a amei tanto. Quanto mais se sabe, mais se ama, pensei. Estava de volta ao território da confiança” (GREENE, 2001, p. 103). Entretanto, Sarah não pode vê-lo, está muito doente. Ainda assim sai de casa, para não encontrá-lo. Maurice a segue e a encontra na igreja, sentada na nave lateral, próxima a uma Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 71 Gragoatá Maria Conceição Monteiro coluna e à terrível imagem da virgem. Maurice sabia que Sarah estava com dor. Põe o braço a sua volta e toca o seu seio: “É aqui que começamos novamente. [...] Sei que fui um péssimo amante, Sarah. Foi insegurança. Não confiava em ti. Não sabia o suficiente sobre ti” (GREENE, 2001, p. 105). Mas o conhecimento chegara tarde demais. Oito dias depois desse encontro, o telefone toca, era Henry: “Uma coisa terrível aconteceu. Você precisa saber. Sarah está morta” (GREENE, 2001, p. 109). Um dia depois da morte de Sarah, Maurice recebe uma carta sua, na qual ela declara que, apesar de amá-lo, não pode vêlo. Conta-lhe que se tinha dirigido a um padre e que lhe dissera que queria tornar-se católica. Confessa-lhe sobre a promessa; confessa-lhe que não podia viver sem ele: “Sei que um dia te encontrarei na praça e não mais me incomodarei com Henry ou com Deus. Mas o que adianta. Acredito que existe um Deus. [...] Peço a Deus que não me mantenha viva assim” (GREENE, 2001, p. 121). A dor é quintessencial no romance. A primeira vez que Maurice mostra certo respeito por Henry é quando o vê sofrer: “Não mais podia desprezá-lo; era um dos graduados da dor” (GREENE, 2001, p. 128). No romance, a dor é assim concebida como indispensável para uma vida plena: “[…] a felicidade nos aniquila: perdemos a nossa identidade” (2001, p. 130). Depois da morte de Sarah, Maurice questiona sobre a matéria de que somos feitos: “Ela perdeu toda a nossa memória para sempre, é como se ao morrer tivesse roubado uma parte de mim” (GREENE, 2001, p. 123). Dessa forma, quando pensa na possibilidade de um Deus, o seu medo é só um: “Deixaria de ser Bendrix” (2001, p. 124). Reconhece-se, assim, o medo da perda do ser. Apesar de admitir que o seu registro é sobre o ódio, Maurice registra, de fato, a dúvida — o não conhecimento de si e do outro. Sarah abandona a convicção da liberdade, da paixão, e ganha a convicção do mundo de Deus, da religiosidade, que muda o percurso de sua vida. Por último, observa-se que é a tirania das convenções que leva à tragédia. Assim, Sarah, personagem trágica da paixão, participa do mundo de forma negativa, o que inclui a negação de si mesma; o amor para ela é misterioso e contraditório, uma mistura de prazer e tortura. Em Beyond the Pleasure Principle, Freud faz uma distinção entre o impulso libidinal, regulado pelo princípio do prazer, e os impulsos que, ao procurarem experiências desagradáveis, compulsivamente encontram suas origens em algum lugar além do princípio do prazer. Freud os denomina “impulsos de morte”, reservando o termo Eros para relacionar aos impulsos da libido. Assim, enquanto Eros busca harmonizar a união, o impulso de morte produz dissonância, desintegração e fragmentação. 72 Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores Para explicar a existência dos impulsos de vida, Freud se volta para a questão da origem da sexualidade. Se, conforme o psicanalista, a origem de um impulso é “a necessidade de reconstruir um estado inicial de coisas”, então nada melhor para explicar a sexualidade que o relato de Aristófanes, no Simpósio de Platão, sobre a origem do desejo sexual. Como é sabido, Aristófanes explica que originalmente havia três sexos, todos duplos (homem/homem, mulher/mulher, homem/mulher), porém um dia Zeus decidiu cortar os seres humanos em dois e, desde então, cada ser é impulsionado pela necessidade de encontrar o/a seu/a sua cara metade. “Devemos seguir a sugestão dada pelo poeta-filósofo”, continua Freud, “e aventurar sobre a hipótese de que a substância viva ao tomar forma é dividida em pequenas partículas que tenta, desde então, se reunir através do instinto sexual” (1989, p. 69-70). Percebe-se, assim, que a alusão de Freud ao mito fundador dos duplos e andrógenos na civilização europeia, no momento preciso em que discute o impulso da morte, como sugere Moi (1999, p. 436) não é nenhuma coincidência. Observa-se que, em The Uncanny, Freud relaciona a figura do duplo ao impulso de morte. O duplo “aparece em todas as formas e em todos os graus de desenvolvimento” (2000, p. 162). A partir de Otto Rank (The Double), Freud argumenta que, se cada duplo não é estranho (uncanny), é porque o duplo foi originalmente uma “segurança contra a destruição do ego [...]; e provavelmente a alma ‘Imortal’ foi o primeiro duplo do corpo” (2000, p. 162). Verifica-se, dessa forma, que Maurice é o duplo da protagonista, e como tal, embora não seja à primeira vista uma figura “estranha”, torna-se instrumento de morte no percurso do romance. Apesar de ser uma narrativa que fala de paixão, é a ausência da amante que a sustenta, capacitando-a a narrativizar os interesses epistemológicos. É exatamente pela ausência que o desejo por conhecimento se torna uma busca física. Dessa forma, em relação à narrativa, a paixão e a morte ocupam posições semelhantes. Pois, se a tentativa de representar a presença da paixão ameaça encerrar a narrativa, o mesmo acontece com relação à morte. Como lembra Peter Brooks, os textos, assim como os corpos, são impulsionados pelo desejo de encontrar os seus caminhos para a morte (1984, p. 107-108). Assinale-se que a cena crucial para a narrativa de desejo configurada em The End of the Affair é a morte. De muita importância também é distinguir entre o fim da protagonista e o epílogo do texto. A narrativa principal sugere que os encontros dos amantes dinamizam apenas a impossibilidade da união definitiva, o que conduz enfim os protagonista à ação, em vez de à resignação. Dessa forma, a morte se constitui como única opção lógica; entretanto, ao mesmo tempo, a trama conduz ao Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 73 Gragoatá Maria Conceição Monteiro apagamento da possibilidade do impulso por união, e em vez disso o que se vê é a morte solitária para Sarah. Mas, como no romance oitocentista de Emily Brontë, Wuthering Heights, é morte causada pela paixão; de qualquer maneira, a amante paga pela transgressão o preço da morte. Verifica-se assim que, se o texto apresenta como cena crucial a morte da amante, é porque essa metáfora permite que a narrativa seja vitoriosa sobre os amantes: Eros é derrotado pelo narrador. Mas é exatamente essa condição que possibilita a narratividade. Cai o pano Para finalizar, pode-se dizer que os romances de adultério — quer o ato sexual seja consumado, quer exista no plano do desejo apenas — são aproximáveis daquilo que um ramo da psicanálise denomina jouissance. Entretanto, aqui, o termo não poderia simplesmente significar uma experiência de gozo, alegria ou prazer. Pois esses romances falam do prazer de forma angustiada. Nesse estado de angústia, desejo e erotismo, o prazer, em suma, é tratado como o mal que é, sendo levado, nas suas formas mais sombrias, a uma experiência além do limite, transgredindo cada lei. O romance de adultério mostra como a transgressão demarca o limite do discurso, como a experiência não pode retornar ao discurso. A transgressão positivamente consome o significado. Observa-se, então, que determinados tipos de experiência, como o adultério, revelam o desconhecido no centro da própria experiência que denota o limite da língua, do discurso, da cultura. Como nos lembra Foucault, a transgressão carrega o limite para o limite do ser, forçando-o a encarar seu desaparecimento iminente, a encontrar-se naquilo que exclui, a experienciar a verdade positiva na própria queda. A transgressão dos amantes atravessa o limite como um flash de relâmpago na noite, dando uma intensidade densa e sombria ao que a noite nega; o flash se perde nesse espaço que marca com a sua soberania, e cala-se depois de ter nomeado o obscuro (cf. FOUCAULT, 2000, 74). Abstract Focused on the novel produced within the scope of literatures in English language, the present text comprehends a thematic outline which highlights the narrative representations of conjugal life. The objective of this paper is to explore marriage in a double sense: the (perfect) “marriage” between the form of the novel and the representation of fictional loves; and marriage as the novel’s theme. Privileging the subtheme of adultery, as practiced 74 Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 Desejo feminino e subjetividade em narrativas de língua inglesa: em(cena)ação ficional de amores by female characters, the analysis emphasizes the moments especially intense of passionate actions (“scenes”, in which desire explodes in textual form that is to a certain extent detached from the total narrative that it is part of). To illustrate the theory, we propose a reading of the novel The End of the Affair, by Graham Greene. Keywords: adultery; body; erotic desire; feminism; subjectivity Referências BATAILLE, Georges. Literature and Evil. London: Marion Boyars, 2001. BEAUVOIR, Simone de. The Second Sex. London: Vintage, 1997. BROOKS, Peter. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. Oxford: Clarendon Press, 1984. CAPELLANUS, Andreas. The Art of Courtly Love. Tradução de John Jay Parry. New York: Columbia University Press, 1969. FOUCAULT, Michel. Aesthetics, Method, and Epistemology. London: Penguin, 2000. FREUD, Sigmund. The Uncanny. In: RIVKIN, Julie & RYAN, Michael, ed. Literary Theory: an Anthology. Oxford: Blackwell, 2000. p. 154-167. ______. Beyond the Pleasure Principle. New York: W. W. Norton, 1989. GREENE, Graham. The End of the Affair. London: Vintage, 2001 [1951]. LEWIS, C. S. The Allegory of Love. Oxford: Oxford University Press, 1959. MOI, Toril. What is a Woman? and Other Essays. Oxford: Oxford University Press, 1999. OVERTON, Bill. Fictions of Female Adultery, 1684-1890. New York: Palgrave, 2002. ROUGEMONT, Denis de. O amor e o Ocidente. Tradução de Paulo Brandi e Ethel Brandi Cachapuz. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. RANK, Otto. The Double. New York: Meridian, 1979. TANNER, Tony. Adultery in the Novel. London: The John Hopkins University Press, 1979. Niterói, n. 31, p. 63-75, 2. sem. 2011 75 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada Sandra Regina Goulart Almeida Recebido em 01/06/2011 – Aprovado em 27/08/2011 Resumo O trabalho aborda o conceito de tradução cultural na contemporaneidade e, em especial, as propostas da teórica Gayatri Chakravorty Spivak, refletindo principalmente sobre a relação entre tradução e subalternidade, solidariedade e literatura comparada. Palavras-chave: tradução cultural; subalternidade; solidariedade; literatura comparada. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida Como uma tradutora, então, enceno a contradição, a contra-resistência, que está no âmago do amor (Spivak, 2000, p. 24).1 Exórdio: as teias da tradução A menos que esteja indicando nas referências bibliográficas, todas as traduções são de minha própria autoria. 2 Ver, por exemplo, o trabalho de Else Vieira, Por uma teoria pós-moderna da tradução (1992). 1 78 A tradução tem ocupado um lugar de destaque nos estudos literários e culturais como mecanismo proeminente de engajamento teórico-crítico tanto com os instrumentos de produção acadêmica quanto com os repertórios culturais da contemporaneidade. Sua relevância é atestada em inúmeros trabalhos, produzidos tanto no Brasil quanto no exterior, em especial na década de 70/80 e no início da década de 90, período considerado por muitos críticos com sendo o momento pós-moderno da tradução.2 Longe de terem esmaecido no século 21, os estudos críticos da tradução, principalmente com a chamada virada cultural iniciada no século anterior, tornaram-se objeto de reflexão contínua, nesse outro momento histórico marcado em especial pelos movimentos globais, translocais, transnacionais e transculturais. É, em primeiro lugar, a longa trajetória teórica da crítica indiana, radicada nos Estados Unidos, Gayatri Chakravorty Spivak pelos meandros da tradução como crítica pós-colonial e cultural que me proponho a mapear e problematizar neste trabalho. Porém, antes de abordar sua pertinente e exemplar reflexão sobre a temática, inicio este exórdio com três cenas que dramatizam a tradução como uma prática crítica de ressignificação cultural que, de certa forma, segue a esteira teórica proposta por esta reflexão. Cena 1 – (In) Traduzibilidades: “Ela sonhou que chovia e assim não podia sair para se encontrar com ele como planejado. Não podia andar através das águas hostis, arriscar-se a borrar a tinta das páginas que ele havia pedido a ela que traduzisse (...) Ela tinha medo da chuva, tinha medo da neblina e da neve que chegavam a este país, tinha medo até mesmo do vento. (...) No ano passado quando a cidade ficou escura com tanta neblina, ela se escondeu dentro de casa por quatro dias” (ABOULELA, 1999, p. 3). Com essas palavras a narradora do romance A tradutora [The Translator], da escritora sudanesa Leila Aboulela, inicia a narrativa de Sammar, relatando seu pavor, seu desespero e sua dor ao ser confrontada com a incomensurável experiência da tradução cultural. Como uma personagem do trânsito, nascida na Escócia de pais sudaneses, tendo crescido no Sudão e agora de volta à Escócia, Sammar – ela própria sujeito da tradução e seu objeto – tipifica a experiência da contemporaneidade como um ato tradutório e também como uma experiência ambivalente por definição. Sammar personifica tanto a informante nativa, nos termos definidos por Spivak (1999), quanto a imigrante que atua como agente das trocas culturais, uma vez que, ao assumir o papel de tradutora oficial na Universidade de Aberdeen, ela traduz ao Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada mesmo tempo em que vai aos poucos sendo também traduzida. O sentimento de dificuldade e mesmo de impossibilidade de “entregar” a tradução do árabe para o inglês do manifesto político do grupo islâmico Al-Nidaa, da qual havia sido incumbida de realizar a pedido de um professor, especialista em estudos do oriente médio, se mescla ao constante temor diante daquilo que lhe é diferente – metaforizado pela chuva, pela neblina e pela neve – que costumeiramente envolve a cidade nórdica na qual é estranha e estrangeira. Aqui é a recorrente metáfora da neblina, assim como ocorre em Coração das trevas, de Conrad, conforme relata Homi Bhabha (1994), que torna significativa a atividade tradutória transcultural– como algo que encobre e oculta, que impede a clareza, o discernimento e o entendimento – mais do que a costumeira evocação da ponte como ligação e elo do ato tradutório, sobre a qual no fala Sherry Simon (1996). O sonho (ou pesadelo) de Sammar, elemento central para a religião islâmica, revela o ardil da experiência tradutória na contemporaneidade: a impossibilidade material da tradução que se esfacela frente ao tenebroso terreno da incerteza tradutória e do risco iminente – aqui simbolicamente evocado pelas imagens da neblina e das águas hostis. É ainda a tarefa e a responsabilidade de ter que traduzir um texto de um grupo revolucionário e marginalizado, sem voz ou poder, escrito em uma linguagem própria desses grupos – “um manuscrito, pessimamente fotocopiado e cheio de erros de ortografia” (ABOULELA, 1999, p. 23) –, para uma língua hegemônica (o inglês) que a coloca nesse estado de incerteza e indeterminação, sendo essa a fonte do pesadelo revelador. No entanto, a tradução jaz realizada pela própria necessidade de inserção do sujeito como tradutor no espaço habitado por Sammar – espaço esse indelevelmente marcado pela inexorabilidade do ato tradutório. Temos, então, por um lado a inerente impossibilidade de concretude e o limite da tradução; por outro, a inevitabilidade de sua condição. Cena 2 - Violações: Harold Cardinal, indígena da etnia cree do Canadá, diante do impasse político criado pela desarticulação entre o governo e os indígenas sobre o conceito de identidade e cidadania canadenses, afirma: “Acredito que parte de nosso problema comunal se deva ao fato de nunca ter havido nenhuma tradução precisa entre as línguas dos indígenas e dos brancos” (1992, p. 191). Cardinal se refere especificamente à falta de compreensão do governo e dos “brancos”, que não conseguem “decifrar” o profundo significado que os indígenas cree atribuem ao termo Ka-kanata-Aski, que quer dizer “a terra que é limpa”, nem a “sou um Nee-you”, uma palavra descritiva e complexa que implica um intrínseco vínculo com o povo e a terra através da qual os cree se sentem unidos. É o termo usado no lugar de “sou um cree”, que descreve um grupo de indígenas, mas não como eles se nomeiam. Acrescenta Cardinal, “é difícil para um Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 79 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida homem branco, sem entender a cultura indígena, saber o que alguém quer dizer quando diz, ‘sou um membro de um povo que é parte da Mãe Terra’ (...). É uma definição religioso-cultural de ser um canadense” (1992, p. 190). Para Cardinal, essa diferença na definição dos termos e no processo de nomear, bem como o abismo criado pela falta de compreensão entre as partes, levou o governo a adotar como prática política para a definição de cidadania conceitos que não teriam “equivalência” linguística para os crees – como os de assimilação e de integração –, demonstrando um profundo desconhecimento linguístico e cultural e um violento desrespeito à diferença e às crenças indígenas. Cardinal clama, assim, para o seu povo “o direito de significar como um ato de tradução cultural” (BHABHA,1994, p. 132). Cena 3 - Silenciamentos: A terceira cena remete a uma história conhecida entre nós. Audálio Dantas, jornalista que “descobre” a escritora brasileira, afro-descendente e moradora de favela Carolina Maria de Jesus e serve de “mediador” ao publicar seu livro Quarto de despejo, em 1960, afirma: A repetição da rotina favelada, por mais fiel que fosse, seria exaustiva. Por isso foram feitos cortes, selecionados os trechos mais significativos. (...) Carolina viu a cor da fome – a Amarela. No tratamento que dei ao original, muitas vezes, por excessiva presença, a Amarela saiu de cena, mas não de modo a diminuir a sua importância na tragédia favelada. (2001, p. 3). Não obstante o relevante papel de Dantas na acolhida que dá ao diário de Carolina, esse surge, ainda hoje, filtrado pela perspectiva desse editor, que “traduz” o pensamento da escritora e sua própria noção de representação. No papel de mediador e tradutor, Dantas elimina do livro o que lhe incomoda e modifica as ideias e as imagens nele contidas com o objetivo de traduzir a experiência de uma mulher marginalizada; porém, silenciando e congelando o sujeito subalterno em um espaço exótico e de suposta autenticidade fetichizada. Essas três cenas ensejam leituras complementares do ato tradutório, principalmente no contexto das traduções culturais na contemporaneidade. Evocam, em especial, uma teorização que me interessa em particular e que pode ser vislumbrada em várias reflexões de Spivak sobre uma teoria da tradução embasada em especulações sobre a subalternidade, a alteridade, a pós-colonialidade e a literatura comparada. Proponho, portanto, trilhar o itinerário da tradução pós-colonial e cultural principalmente aquela elaborada por Spivak, mas também indo além de seu percurso, enfocando os momentos centrais de sua teorização: os prefácios como textos teóricos, o conceito de intimidade da tradução, a tradução cultural e a subalternidade e a literatura comparada como tradução. 80 Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada O posicionamento de Spivak ressoa o de Lefevere segundo o qual “o estudo da tradução pode nos ensinar algumas coisas não apenas sobre o mundo da literatura, mas também sobre o mundo em que vivemos” (apud Lages, 2002, p. 76). Como discutirei a seguir, a prática tradutória sobre a qual discorre Spivak se move além de um exercício apenas teórico ou confinado ao âmbito dos estudos literários para falar também da tradução cultural como prática de atuação política. 4 Insisto aqui e em várias passagens deste artigo na marcação de gênero feminino para ser fiel à inúmeras teorizações da autora sobre a invisibilidade do feminino, especialmente com relação à tradução. Ver, por exemplo, sua pertinente discussão, em Pode o subalterno falar (2011), sobre a violência epistêmica causada pela tradução equivocada de sati (que significa apenas “boa esposa”) e que se transforma no termo que designa o ritual de imolação das viúvas. 5 Spivak desenvolve sua teoria da tradução em vários textos que serão aqui discutidos, entre eles “Translator’s Preface” – Of Grammatology (1976), “The Politics of Translation” (1993), “Translator’s Preface” – Imaginary Maps (1995), “Translation as Culture” (2000), “Questioned on Translation: Adrift” (2001), “Translation into English” (2005), “More thoughts on Cultural translation” (2008), “Rethinking Comparativism” (2009), “Nationalism and the Imagination” (2010). 6 O pensamento pós-moderno sobre a tradução tende a concebê-la como um caso específico de leitura e o tradutor como produtor de significados próprios independentes das pressuposições do original (cf. Rodrigues, 2000, p. 221). Haroldo de Campos vê a tradução como “uma operação de leitura radical” (1981, p. 175). Ver também a teoria da leitura em Benjamin (Lages, 2007, p. 216), bem como em Santiago (1971, 2000). 3 Para além dos prefácios O conceito de tradução não apenas perpassa toda a obra de Spivak, mas também se insere persistentemente em sua prática acadêmica e em seu projeto pedagógico, que se instaura a partir das relações entre produção cultural e contexto sóciohistórico. A atividade de tradução surge de forma recorrente em seu trabalho teórico ao longo de mais de três décadas (de 1976 até 2010) como uma dimensão reflexiva que subjaz sua crítica da linguagem, da cultura, da pós-colonialidade, da literatura comparada e, principalmente, do trabalho intelectual contemporâneo. Como nos lembra Augusto de Campos, “tradução é crítica (…) uma das melhores formas de crítica” (1978, p. 7). Como se estivesse fazendo coro a essas palavras, Spivak traz no bojo de seu trabalho teórico uma reflexão sobre a tradução como ato simbólico e crítico.3 Renomada tradutora da Gramatologia [Of Grammatology] (1976), de Jacques Derrida, para o inglês, trabalho que a lança como uma das mais importantes críticas da atualidade, Spivak dedica nada menos do que 78 páginas ao que ela denominou de “prefácio da tradutora”4, no qual teoriza o papel da tradução por meio de uma elaborada e intricada argumentação desconstrutivista. Spivak é ainda a tradutora de Mapas imaginários [Imaginary Maps] (1995), coletânea de contos de Mahasweta Devi, escritora indiana, que escreve em bengali (uma das línguas oficiais da Índia). Verteu ainda várias outras obras de Devi para o inglês, além de Song for Kali: A Cycle de Ramproshad Sem (2000). O trabalho da prática tradutória é para Spivak uma tentativa de unir sua crítica desconstrutivista e o legado da crítica pós-colonial, assim como de ancorar sua crítica linguística e pós-estruturalista (marcadamente de vertente francesa) a sua filiação histórica e ideológica ao pós-colonialismo e ao feminismo, através da prática tradutória. Nessas vertentes críticas, aparentemente de difícil conciliação, a política e a poética da tradução que Spivak vai, aos poucos elaborando, ganha corpo e densidade teórica em vários de seus artigos, bem como em seus renomados “prefácios da tradutora”.5 No prefácio de Gramatologia, Spivak apresenta as primeiras reflexões e as bases de uma teoria da tradução entendida como um processo de leitura múltiplo, informado por uma rede intertextual de significados e aberto a uma infinidade de traduções possíveis, construídas com base na diferença.6 Remete, assim, ao pensamento pós-moderno sobre a tradução que tende a concebêla como um caso específico de leitura e o tradutor como produtor de significados próprios independentes das pressuposições do original, como atestam vários críticos, em especial Else Vieira (1992). Evocando Derrida em Torre de Babel, que por sua vez se reporta ao influente texto de Walter Benjamin, “A tarefa do Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 81 Gragoatá Ve r a t e o r i z a ç ã o de Derrida acerca da tradução em Positions (1982), bem como seu “Des tours de Babel” (1985). Ver também o livro organizado por Joseph Graham (1985) que teoriza a “diferença na tradução” a partir dos postulados de Derrida. Assim como a noção de tradução como transformação de Haroldo de Campos (1981, p. 191). 8 Ver o comentário de Stephen Morton sobre a observação de Denis Donoghue de que a tradução de Spivak do texto de Derrida é “deliberadamente literal em sua tentativa de transmitir as nuances filosóficas do pensamento de Derrida” (Morton, 2007, p. 44). Em outro momento, indagada se acredita na fidelidade ao original, Spivak afirma que “sim, não porque é uma tarefa possível, mas porque é preciso tentar” (2001, p. 14). No entanto, o conceito de fidelidade para Spivak, como veremos, pressupõe a responsabilidade ética do tradutor para com o texto a ser traduzido. 9 O termo double bind, adotado por Derrida em sua crítica desconstrutivista, se refere a uma situação (impasse ou dilema) no qual é preciso escolher entre duas alternativas não satisfatórias quando demandas contraditórias são efetuadas. 10 O a r g u m e n t o d e Lages se refere à uma suposta resposta a ser dada pelo questionamento da dimensão da perda na tradução. À pergunta: o que se perde no caso da tradução, obteríamos uma resposta que se traduz nessa negatividade que é também uma afirmação: “o inefável, o intangível, a imediaticidade” (Lages, 2007, p. 237). 11 Ver as possíveis traduções do prefixo mis do inglês para o português: mal-,des-, dis-, in-. Indica também “má” ou “erro” (Webster´s Dicionário Inglês-Português). 7 82 Sandra Regina Goulart Almeida tradutor,” a autora afirma que se “a tradução é necessária, mas impossível”, ela é também “não apenas necessária, mas inevitável” (2000, p. 13-22).7 Para Spivak, a tradução é definida por “sua diferença do original, esforçando-se em direção a uma identidade” (2001, p. 21). Assim, seguindo a teorização de Derrida que admite ao mesmo tempo em que nega a tradução (isto é, chama a atenção para a simultânea necessidade e impossibilidade da tradução), pois questiona o privilégio do suposto “original”, Spivak argumenta que, ao desejar ao mesmo tempo conservar o “original” (em uma tradução considerada “deliberadamente literal”)8 e seduzida pela inexistência de uma autoridade do texto, a tradução se torna uma impossibilidade, revelando ao mesmo tempo a autoridade e fragilidade desse suposto “original”. Em outros textos, a teórica afirma que a tradução é “não somente necessária, mas inevitável”; porém, “na medida em que o texto guarda seus segredos, ela se torna impossível” (2005a, p. 58). Não se trata aqui da histórica crença no “preconceito da inferioridade ou da impossibilidade da tradução”, conforme discute apropriadamente Rosemary Arrojo (1986, p. 25). A noção de impossibilidade de tradução evocada por Spivak, via Derrida, parte de outro sentido que se baseia no “caráter paradoxal do próprio gesto tradutório” (LAGES, 2007, p. 30). A tradução encontra-se, assim, em um dilema ou impasse, em um double bind, ou seja, denota também um suposto “duplo vínculo” que, pela própria definição, remete algo contraditório e pardoxal (SPIVAK, 1976, p. lxxxvi).9 Ao traduzir pressupomos uma transferência de conteúdo sabendo que tal transferência não pode ser efetuada a contento e é a esse dilema que a tradução escrupulosa deve aludir. Para Spivak, “a impossibilidade da tradução é o que coloca sua necessidade em um double bind. É um local ativo de conflito, e não uma garantia irredutível” (2005b, p. 105). A tradução se efetua, então, no espaço conflituoso, mas também produtivo, entre o traduzível e o intraduzível. Como o pharmakon de Derrida – um remédio e ao mesmo tempo um veneno – toda tradução seria uma inevitável “tradução incorreta” (nas palavras de Derrida: mistranslation). Note-se também a negatividade evocada pelo termo que aponta para “um movimento que só se constitui como duplo (ao negar algo, esse algo é afirmado)” (LAGES, 2007, p. 237).10 Assim, o termo mistranslation ou tradução incorreta ao mesmo tempo em que evoca o conceito de uma tradução errônea traz em seu bojo sua própria afirmação e também sua negação, pois, afinal, se refere a uma “má tradução” ou mesmo uma in (evocado pelo prefixo inglês mis11) tradução nos termos evocados por Augusto de Campos, que alude ao termo se referindo à confluência entre introdução e tradução, mas também a sua simultânea negação e inserção (evocado pelo prefixo in-), pois o termo “nega-conserva a própria ideia de tradução” e “se propõe conduzir, texto adentro, a um fim por Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada O conceito de “intradução” elaborado brevemente por Augusto de Campos e resgatado por Archer e nesta minha reflexão difere do conceito adotado por Pascale Casanova, segundo o qual a “intradução”, em oposição à “extradução”, seria “uma maneira de agrupar recursos literários, de importar de certa forma g ra ndes textos universais para uma língua dominada (portanto para uma literatura desprovida), de desviar um legado literário” (2002, p. 170) 13 Ver também a relação intertextual da tradução sobre a qual Haroldo de Campos se refere (1992). 12 definição inalcançável”, buscando assim sua própria identidade na diferença (ASCHER, 1989, p. 150).12 Nesse sentido, cada “leitura” produz um simulacro de um suposto original perfazendo uma pluralidade e uma multiplicidade textuais. Toda leitura é uma tradução e, assim, “o erro ou a errância é parte do jogo da leitura” (2001, p. 14). Spivak conclui então que “a tradução é uma versão da intertextualidade que atua também dentro da mesma linguagem” (1976, p. lxxxvii). Ao se referir à tradução como intertextualidade, Spivak se reporta indiretamente ao conceito de dialogismo de Bakhtin, via o conceito de intertextualidade teorizada por Kristeva (1974),13 que tem uma relevância especial na reflexão da autora sobre a tradução e a subalternidade, como discutirei a seguir. Ao concluir outro “Prefácio da tradutora” (1995), em Mapas imaginários de Devi, Spivak evoca uma imagem significativa que ressurge mais adiante em outros textos: a da tradução como um ato infindável de tecer, um ato invisível de urdir, reparar, consertar, cortar e colar com paciência e respeito – como o trabalho de citação, recorte e colagem a que alude Compagnon (1996) – que é cuidadosamente orquestrado por um/a tradutor/a (como leitor/a) em um incessante processo de vaivém na tentativa de ler as narrativas que compõem a substância de uma cultura. Assim, nesse trabalho cuidadoso e meticuloso de tessitura, mais do que uma “metáfora” que descreve a experiência ambígua daqueles que vivem entre culturas (SIMON, 1996, p. 134), a tradução seria uma “catacrese” – algo já absorvido, corrente e inerente ao processo tradutório. Nesse caminho teórico, Spivak segue a trilha da psicanalista Melanie Klein, segundo a qual o trabalho de tradução é “um movimento de vaivém, um translado incessante” que dá origem a um sujeito responsável e ético, ou seja “a constituição do sujeito na responsabilidade é um certo tipo de tradução” (2005a p. 43). Assim, a tradução perde seu sentido literal, assumindo outros significados em substituição àqueles já existentes, que se movem além da origem da palavra. A tradução se torna então algo mais do que, como a etimologia indicaria, o simples ato de “conduzir através de” (tra+dução), de “transferir” significados. A partir de Klein, Spivak desenvolve um de seus mais contundentes ao afirmar que “tornar-se humano é um economia incessante de tradução” (2001, p. 14), assim como “ser humano é estar comprometido com o outro” (1999b, p. 44). No sentido geral, a tradução instaura algo mais do que ato de “conduzir através de”, de “transferir” significados, pois estaria no cerne da constituição do sujeito (2005a, p. 44). Já no sentido estrito, o do/a tradutor/a que traduz a partir de uma língua e narrativas constituídas, a tradução é um também um ato de reparação, de obrigação, de dívida e de responsabilidade. Essa articulação, a partir de Klein (a fantasia como um tecido que se vai tecendo, a consideração/culpa pelo outro, os lugares cambiantes do sujeito), Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 83 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida tem um impacto marcante em sua concepção de tradução cultural (assim como as teorizações de Bakhtin, Benjamin e Derrida). Pela intimidade da tradução Em seu mais reconhecido texto teórico sobre o assunto, “A política da tradução”, de 1992, Spivak inicia seu argumento seguindo ainda a lógica derridiana para então se aprofundar em outros aspectos que redirecionam seu trabalho teórico sobre a tradução para um enfoque mais persistente na critica pós-colonial e cultural. Partindo da consideração de que a linguagem é um processo de construção de significado, um meio através do qual fazemos sentido das coisas e de nós mesmos e, assim, produzimos nossas identidades, Spivak ressalta que a tradução nos permite esse contato com uma linguagem que pertence a vários “outros”. Na base de seu argumento está a noção de sedução do texto (e não do/a tradutor/a, numa inversão do sentido etimológico negativo de “engano e negação”, aludindo ao sentido de “levar para o lado, desviar do caminho”) e a concepção da tradução como o mais íntimo ato de leitura que faz com que o/a tradutor/a seduzido pelo texto a ser traduzido (desviado de seu caminho inicial) a ele se entregue e se renda. Assim, o/a tradutor/a deve tentar “compreender as pressuposições do escritor”, isto é, “entrar nos protocolos do texto” (Derrida), não nas leis gerais da linguagem, mas nas leis específicas desse texto (que tem uma história e uma geografia próprias) e isso requer um contato próximo com esse texto através de uma leitura aprofundada, crítica e, principalmente, íntima (2005b, p. 93-94). Percebo na teorização de Spivak certa inspiração na proposta benjaminiana de que “a tradução tende a expressar o mais íntimo relacionamento das línguas entre si” (2001, p.191, minha ênfase). Benjamin acrescenta ainda que “a tradução deve, ao invés de procurar assemelhar-se ao sentido do original, ir configurando, em sua própria língua, amorosamente, chegando até aos mínimos detalhes, o modo de designar do original” (2001, p. 201, minha ênfase). A tradução é, assim, como coloca Spivak, um ato de amor, de entrega, de solidariedade, uma relação próxima e de afeto para com o outro e que aproxima o eu do outro, como aponta a epígrafe que abre este. Alguns críticos viram nessa argumentação uma proposta do “erótico na tradução” (Sherry, 1996, p. 143-149), de um erotismo da submissão ou de uma poética da sedução da tradução (Papastergiadis, 2000, p. 141). Prefiro pensar nessa “intimidade da tradução” (2000b, p. 21) em termos de uma poética e política da “hospitalidade” na tradução – hospitalidade essa teorizada tanto por Lévinas quanto por Derrida – que aparece implicitamente na proposta de uma política da tradução para Spivak, principalmente se pensarmos na “sedução” como um “desvio” 84 Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada 14 O argumento de Spivak parece retomar a teorização de Antoine Berman em L´épreuve de l´etranger (1984) que defende a necessidade de uma ética da tradução que permeie um novo conceito de crítica da tradução. Ver também Simon (1996). Ainda segundo Derrida, a ética, ou a responsabilidade do eu para com o outro, não pode existir sem a violência da escrita (Of Gramatology, p. 61) de um caminho previamente estabelecido. A hospitalidade aqui implica o ato de estar com o outro, de assumir a responsabilidade pelo outro (no sentido tanto de Klein quanto de Bakhtin), uma possibilidade, por vezes negada e por isso mesmo questionada, de uma acolhida incondicional do outro enquanto outro, resguardando o respeito pelo outro e a aceitação de sua diferença por meio de um aprendizado ético, de uma “ética da hospitalidade”.14 Como a ambivalência inerente à impossibilidade e à necessidade da tradução, a hospitalidade aparece também como um conceito paradoxal (já presente na etimologia dos termos hospitalidade e hostilidade – hostis), que deriva da dificuldade e mesmo impossibilidade de aceitação incondicional do outro. A questão da língua está também atrelada à experiência da hospitalidade, pois o “convite, a acolhida, o asilo, o albergamento passam pela língua ou pelo endereçamento ao outro”, pois como lembra Derrida, “a língua é hospitalidade” (2003, p. 117). É nesse sentido que a tradução ensejaria, a meu ver, um ato de hospitalidade para com o outro que está no cerne da responsabilidade ética para com esse outro, uma responsabilidade da ordem do direito mais do que do dever. Spivak destaca, assim, dois aspectos a serem considerados em sua teoria sobre a tradução: a) a tarefa do/a tradutor/a; b) a prática do trabalho de tradução, pressupondo, através dessa reflexão, um aspecto político e outro estético que estão fortemente imbricados entre si. No primeiro caso, é importante pensar no papel desse/a tradutor/a cultural (de uma língua do terceiro mundo), que deve estar atento a aspectos ideológicos quando traduz para o inglês – uma língua que tem uma função política específica e complexa no contexto global atual. No segundo caso, destaca-se o que Spivak denomina de “retoricidade” (em alguns textos a autora fala de idiomaticidade) linguística do texto “original” – ou seja, a natureza retórica da linguagem em oposição ao que Simon denomina de “sua sistematização lógica” (1996, p. 142) ou sua diferença com relação a uma lógica transparente ao se acessar o original. Dessa forma, Spivak propõe uma poética da tradução que, ao ser solidária e hospitaleira com o texto original, esteja também ciente da possibilidade de violência epistêmica, rendendo-se ao texto, sendo “literal” através de um aproximação intensa com o texto e sua língua. Aqui Spivak critica o ato de tornar um texto mais acessível, pois ao tentar simplesmente transferir conteúdo de uma língua aprendida rapidamente, o/a tradutor/a estaria “traindo o texto” ao mesmo tempo em que estaria demonstrando seu dúbio senso político. Ao ser solidário/a e hospitaleiro/a para com o texto “original”, o/a tradutor/a deve render-se a ele pela aproximação intensa com o texto e sua linguagem e deve também estar ciente do risco imanente da violação e da violência epistêmica. Assim, ao falar em intimidade, solidariedade e, mesmo, hospitalidade, segundo minha leitura, Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 85 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida como uma posição teórica, Spivak declara que a primeira obrigação do/a tradutor/a cultural é “aprender” profundamente (no sentido ético) a língua materna do texto a ser traduzido: “esta é a preparação para a intimidade da tradução cultural”, esta é a “tarefa”, a obrigação, o dever do/a tradutor/a. Nesse sentido, como não se pode “apenas ler livros que, supostamente, traduzem ‘outras culturas’” e nem “aprender todas as línguas do mundo”, a tradução se faz imprescindível como um fenômeno complexo de responsabilidade ética singular (2005a, p. 51). Tradução cultural e subalternidade 15 O ter mo suba lterno, Spivak argumenta, descreve, portanto, “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (Spivak, 2000a, p. xx), “aqueles excluídos da mobilidade cultural” (2005a, p. 52). 86 Encontra-se na teorização de Spivak sobre a tradução alguns dos pressupostos centrais apresentados em seu renomado texto de 1988, “Pode o subalterno falar?” Há uma intrínseca relação, que tem escapado a muitos críticos, entre a teoria, a política e a poética da tradução para Spivak e seu persistente argumento de que o subalterno não pode falar.15 Como o processo de fala se caracteriza por uma posição discursiva, uma transação entre falante e ouvinte e, nesse sentido, esse espaço dialógico de interação (na acepção de Bakhtin) não se concretiza para o sujeito subalterno que, desinvestido de qualquer forma de agenciamento, é silenciado, pois nenhuma fala é fala se não é ouvida. Sendo assim, devem-se criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar, trabalhando contra a subalternidade – essa é a questão dialógica propositiva para a autora. Essa é também a responsabilidade e a obrigação como reparação que Spivak reserva tanto ao/a intelectual contemporâneo/a quanto ao/a tradutor/a transcultural – a responsabilidade de abrir espaço discursivo para que o outro fale como um direito através do aprendizado da escuta qualificada, e de estar atento/a para reconhecer a sua inerente cumplicidade e sua suposta benevolência. Esse ato requer, então, um trabalho contínuo de questionamento e intervenção discursiva teórica e prática que passa necessariamente pelo papel relevante do/a tradutor/a cultural. É nesse contexto que Spivak reitera insistentemente que o/a tradutor /a deve em primeira instância “aprender” a língua materna do texto a ser traduzido, não apenas no sentido linguístico, mas principalmente no sentido de aprender a aprender com o outro, de estar aberto/a ao outro, de fazer da escuta da fala do outro seu objeto de tradução, desfazendo-se, assim, de seus próprios privilégios de fala e de intervenção (um conceito construído a partir de sua noção de “fidelidade”, conforme discutida acima). Essa prática endossaria uma tradução que se efetua por meio de uma responsabilidade ética, de um trabalho de um/a leitor/a-como-tradutor/a que se afasta de si mesmo – um movimento de “perda” similar àquele evocado por Benjamin – e faz um movimento através da linguagem em direção ao outro Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada O termo “traço” utilizado recorrentemente por Spivak (que também tem o sentido de rastro, pista, trilha, resíduo, vestígio, marca) provém da teorização de Derrida (la trace) que segue o lastro das teorias linguísticas e psicanalíticas. Spivak opta por manter o termo traço, mas evocando também o sentido de rastro e trilha. O traço é aquilo que “sobra ou fica fora e deixa uma marca” que “desenha trilhamentos” (Rego, 2006, p. 15), enquanto que para Derrida, o traço “é a diferença impalpável e invisível entre os trilhamentos” (1976, p. 180). Em português, os tradutores de Gramatologia observam que o termo francês, la trace, não deve ser confundido nem com traço, pois se refere “a marcas deixadas por uma ação ou pela passagem de um ser ou objeto” e, por isso, usam o termo “rastro” (1973, p. 22). Opto pelo usa do termo “traço” para seguir o sentido da teorização de Spivak. 17 Spivak se apega por vezes, assim como Paul de Man também o faz, aos erros ou traduções errôneas pelo efeito e, em especial, pela violência epistêmica que elas ensejam em sua crítica pós-colonial e desconstrucionista. 16 – um outro que na prática tradutória de Spivak é identificado com o subalterno. Essa perda, no entanto, ao invés de remeter à condição inerente do trabalho tradutório – que é uma perda irrecuperável, mas necessária, segundo Benjamin – se concretiza para Spivak através da ética do/a tradutor/a, da perda como solidariedade, hospitalidade, respeito e escuta e, principalmente, da perda daqueles privilégios que detêm com relação ao subalterno. É nesse sentido que o paradoxo da tradução requer que o/a tradutor/a enfrente “a responsabilidade ao traço do outro”. Spivak afirma: “devo sugerir que se pense no traço ao invés de se pensar na tradução levada a cabo, concluída: o traço do outro, o traço da história, e mesmo os traços culturais” (2005b, p. 105). A responsabilidade a esse “traço”16 do outro, isto é, à marca, aos vestígios, resíduos e rastros desse outro no contexto social, cultural e histórico (àquilo que ele traz consigo sem às vezes perceber) aqui se refere à singularidade ética, ao acolhimento, a um movimento dialógico entre o eu e o outro. Por isso, Spivak prefere pensar no traço como essa percepção de uma tradução que não pode ser efetuada a contento do que pensar no hibridismo que asseguraria a possibilidade de tradução cultural irredutível, como parece sugerir Homi Bhaba (1994) e outros críticos pós-coloniais. Assim, a autora contrasta uma noção confortável de um hibridismo permissivo a uma ideia de traço, pois o hibridismo pressuporia, em sua visão, uma garantia de uma tradução cultural no contexto de uma política global assimiladora que seria a “face global do hibridismo como tradução” (2005b, p. 105). Spivak fala aqui do risco de se conceber o hibridismo acrítico por pressupor que ele levaria a uma possibilidade de uma tradução cultural confortável e sem conflitos – o que não acontece com grande parte dos migrantes que tem que enfrentar um estado repressivo e um racismo dominante. Negar o direito à tradução ou efetuar uma tradução equivocada, como as cenas que abrem este trabalho evocam, instaura, assim, uma violência epistêmica,17 que revela uma falta de responsabilidade ética, e um silenciamento do subalterno: “roubar a língua materna do subalterno por meio de uma definição autoritária ignorante que já está se tornando parte da aceita lexicografia benevolente é um silenciamento profundo” (1994b, p. 64). Essa é a “violência da política da tradução como transcodificação” que permeia a indústria contemporânea da tradução (2005a, p. 47). De um lado está o mercado editorial internacional ávido por traduções das margens, de outro o dever e a obrigação da “constituição do sujeito da reparação”. E, assim, “traduzimos em algum lugar entre essas extremidades” (2005a, p. 51). Ao clamar pela intimidade com o texto que requer que o/a tradutor/a dessa língua tenha conhecimento e familiaridade com o contexto e um forte senso do terreno específico do “original”, a preocupação de Spivak é com a responsabilidade do/a tradutor/a que traduz Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 87 Gragoatá Ver u m a propost a similar de inserção dos estudos da tradução na literatura comparada em Basnett (1993, 2006), embora haja entre ambas uma posição bem distinta com relação a tais propostas. 19 Sobre o conceito e a discussão sobre a equivalência, ver Rodrigues, 2000. Spivak não se propõe, porém, a pensar a equivalência como “possibilidade de reconstrução das características sintáticas ou semânticas fundamentais do texto original” (2000, p. 217). Spivak pensa a equivalência segundo outros parâmetros que não os linguísticos comumente associados à noção tradicional do termo. Apesar de i nvoca r a “existência de uma substância universal anterior a qualquer língua” (2000, p. 218), Spivak não crê na transferência estável de significados. 18 88 Sandra Regina Goulart Almeida de uma língua minoritária ou em vias de extinção para uma majoritária, como o inglês (uma tradução do idioma para a língua padrão), como aquelas situações evocadas nas cenas iniciais deste trabalho, e com o risco da “violência geral da culturação como tradução incessante e pendular” (2005a, p. 46). Dessa forma, a tradução cultural se coloca no terreno ambíguo das transações e das relações culturais em zonas de contato assimétricas (PRATT, 1995). Spivak problematiza as transmissões culturais entre o centro e as culturais marginais, demonstrando a desmedida e a violência de uma tradução que está alheia tanto à responsabilidade quanto à cumplicidade do/a tradutor/a, atentando para a necessidade de estarmos sempre “vigilantes”. É preciso ainda proceder a uma crítica persistente à “permeabilidade restrita de traduções culturais e linguísticas”, isto é, ao fato de que “ninguém jamais traduzirá da língua fulani ou maya-quiché”, por exemplo, sem uma agenda ou interesse específicos, por vezes, escusos (2001, p. 17). Um possível fracasso epistemológico da tradução discursiva revelaria a dificuldade (mas também a necessidade) de fazer o movimento de compreensão entre línguas e culturas diferentes, o qual deveria estar no cerne do conceito de tradução cultural. É a preocupação com esse “fracasso da tradução responsável” que permeia seus textos mais recentes sobre a tradução (2005b, p.104). É nesse sentido que podemos pensar sua teoria da tradução como uma proposta teórica de intervenção e interrupção. É também uma forma de se posicionar diante do fenômeno da demanda desmesurada por traduções, em especial literárias, consideradas uma forma rápida de conhecer uma cultura. Implícita nesse argumento está a preocupação de que a tradução se torne, no contexto transnacional, uma forma de predominância linguística e cultural exercida por uma língua hegemônica (em contextos sempre relacionais). Dessa forma, torna-se cada vez mais importante traduzir de uma língua minoritária ou “menor”, assim como traduzir do “idioma” ou de uma língua em extinção para o padrão, resguardados o respeito e a responsabilidade ética ao traço do outro. Literatura comparada como tradução Uma possível maneira de articular a tradução cultural nesse contexto estaria na proposta de Spivak de se pensar em uma literatura comparada em bases similares a sua teorização sobre a tradução no trânsito entre o centro e a periferia,18 pois “quando pensamos no comparativismo, pensamos na tradução” (2009, p. 613). Sua teorização acerca do conceito de equivalência tradutória resgata e redimenciona a noção de Jakobson – um conceito questionado por sua suposta inviabilidade linguística – e a desloca para o centro do impulso comparatista.19 No contexto de uma prática tradutória na literatura comparada, Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada Spivak define esse impulso como sendo o aprendizado de que há uma equivalência entre as línguas, isto é, um respeito a ser conferido a todas as línguas de forma equivalente. Ao sugerir que pensemos nesses termos, seu objetivo é teorizar uma literatura comparada diferente daquela hierarquizada e predominante cujo foco central são os nacionalismos e os regionalismos europeus ocidentais e que tratam não de uma questão de comparar e contrastar, mas frequentemente de julgar, escolher e mesmo excluir. O comparativismo como equivalência efetuaria, assim, a reversão de uma leitura meramente nacionalista, desfazendo injustiças históricas associadas a línguas e grupos subalternos, marginalizados, negligenciados. A equivalência entre as línguas pode levar a um aprendizado profundo do ato tradutório nesses espaços não hegemônicos, pois “a tradução é de fato uma questão de poder” (2008 p. 10). O desafio da literatura comparada se situa, portanto, na abertura para o outro, e para as outras línguas e literaturas, produtivamente fazendo com que desaprendemos as monoculturas reproduzidas pelos impérios. Esse é um trabalho a ser feito por uma imaginação treinada nos jogos da linguagem ou das linguagens e no trabalho tradutório através de uma literatura comparada multilíngue, que abra espaço para as literaturas ditas nativas, e que ofereça a promessa da equivalência em espaços e tempos subalternos. Assim, um exercício de leitura no lastro de uma prática comparatista – indissociável de uma prática tradutória – deve se pautar também pela ética da responsabilidade no processo instável e insólito de tradução cultural. Outras traduções: leituras, equivalências, comparativismos Sherry Simon vê nessa possível dualidade do texto de Spivak, uma longa tradição de um debate e um paradoxo que remonta a Goethe e seu conceito de Weltliteratur, ou seja, uma literatura mundial que incluiria as muitas diversidades de expressão literárias nacionais. O paradoxo, segundo Berman (1984) estaria na oscilação entre dois polos: por um lado um movimento no qual as culturas se traduziriam umas a outras, por outro na constituição em culturas nacionais hegemônicas mais fortes (Simon, 1996, p. 145). 20 Dessa forma, podemos indagar, como pensar a tradução principalmente na contemporaneidade? Ela seria uma forma de hospitalidade, nos termos que procurei elaborar, ou uma expressão da lei do mais forte? 20 Se, por um lado, Spivak traz a voz do subalterno para o centro da teorização sobre tradução e a literatura comparada; por outro, seu discurso oscila perigosamente entre dois polos dicotômicos, entre a esperança de uma utopia irrealizável de uma responsabilidade ética para com o outro (o ideal libertário da tradução) e a crença na impossibilidade de agenciamento e, por conseguinte, no fracasso da tradução cultural (da tradução sempre como uma violação). No entanto, podemos pensar nesse posicionamento não como um paradoxo, uma dualidade, mas como uma relação intrínseca entre o ato tradutório, seu (ab)uso ideológico e político e a posição de intelectuais que trabalham com a tradução e a literatura comparada em tempos e espaços transnacionais e também periféricos. Se a tradução está inevitavelmente atrelada a uma lei do mais forte, cabe então a proposta de transgredi-la, como já mencionam nossos mais renomados teóricos da tradução da década de 70 e 80 Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 89 Gragoatá Ver a crítica de Heloisa Buarque de Holanda ao tropo da carnavalização e da antropofagia no modernismo brasileiro (“The Politics of Cultural Studies”, disponível em: http://www. pacc.ufr j.br/heloisa/ studies1.html) 22 Ver também a intrínseca relação da teorização de Santiago com o argumento de Bhabha sobre a tradução cultural contemporânea e sua relação com a noção de entre-lugar, embora ambos as enfoquem de maneiras distintas: “A cult u ra m ig ra nte do ‘entre-lugar’, a posição minoritária, dramatiza a atividade da intraduzibilidade da cultura; ao fazê-lo, desloca a questão da apropriação da cultura para além do sonho assimilacionista, ou do pesadelo racista, de uma ‘transmissão total do conteúdo’, em direção a um encontro com o processo ambivalente da cisão e hibridação que marca a identificação com a diferença da cultura” (BHABHA, 2001, p. 308). 21 90 Sandra Regina Goulart Almeida – Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Silviano Santiago –, que apresentam uma postura “revolucionária” a respeito do tema. Diferentemente desses, como procurei demonstrar, Spivak elabora uma teoria comparada da tradução através da lei da responsabilidade ética e da hospitalidade que faz com que o/a tradutor/a resguarde o espaço ocupado pelo subalterno, sua língua e sua cultura, no trabalho de tradução do idioma para o padrão. A teoria da transcriação, transtextualização ou transluciferação de Haroldo de Campos (a partir também de Augusto de Campos), como sabemos, efetua uma transgressão por meio da apropriação da energia vital do outro e da assimilação de conhecimento a partir de sua “deglutição”, em uma alusão à antropofagia e ao canibalismo do modernismo de Oswald de Andrade. Refere-se, assim, à forma como digerimos o que vem de fora e procedemos a uma tradução criativa ou usurpadora em um ato de transgressão com relação ao elemento estrangeiro e hegemônico,21 encenando uma tradução da literatura ocidental para uma marginalizada, ou, nos termos de Spivak, do padrão para o idioma. De forma similar, Silviano Santiago discorre, em seu consagrado texto “O entre-lugar do discurso latino-americano” (1971), sobre uma tradução “transformadora” (no sentido tanto de Derrida quanto de Benjamin) que efetua “a agressão contra o modelo, a transgressão ao modelo proposto” pela “necessidade de produzir um novo texto que afronte o primeiro e muitas vezes o negue” (2000, p. 23-24). Assim, o conhecimento concebido como produção dá contorno à transgressão como forma de se expressar, como um conhecimento que vem de fora e que é assimilado e traduzido pelo escritor latino-americano que realiza seu “ritual antropofágico” no entre-lugar “entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão” (2000, p. 26).22 A teorização dos irmãos Campos, assim como a de Santiago, revela um caminho reverso àquele trilhado por Spivak. No entanto, Santiago inicia seu texto com uma reflexão que se aproxima daquela elaborada por Spivak. Ao refletir sobre o processo de colonização na América Latina, Santiago afirma: “o código linguístico e o código religioso se encontram intimamente ligados, graças à intransigência, à astúcia e à força dos brancos. Pela mesma moeda, os índios perdem sua língua e seu sistema do sagrado e recebem em troca o substituto europeu”. Santiago continua: “evitar o bilinguismo significa evitar o pluralismo religioso e significa impor o poder colonialista” (2000, p. 14). Essa é a violência epistêmica sobre a qual nos fala Spivak. É em resposta a essa violência na contemporaneidade que a autora delineia sua teoria da tradução responsável e ética. Se Santiago nos revela um aspecto de nosso passado Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada colonial, do silenciamento do subalterno e do apagamento de sua língua, a teoria da tradução de Spivak atenta para o risco de esse passado se perpetuar no nosso atual momento transnacional (daí a necessidade de estarmos sempre “vigilantes”). A proposta de Spivak, em minha análise, não é incompatível com aquela elaborada pelos irmãos Campos e por Santiago em sua visão do papel da tradução como instrumento através do qual uma crítica à cultura e à colonização do pensamento e do conhecimento se efetua. Tanto os irmãos Campos e Santiago quanto Spivak oferecem uma crítica por meio de uma mirada periférica através do descentramento dos estudos da tradução cultural, apresentando dois lados de um mesmo fenômeno e teorizando a partir de um outro lugar não hegemônico. Spivak problematiza as transmissões culturais entre o centro e as culturas marginais – assim como o fazem Augusto e Haroldo Campos e também Santiago, mas por outro viés. Em comum, pode-se discernir o conceito de hospitalidade dado ao outro, seja esse o grande Outro lacaniano, cujo discurso é subvertido, ou o outro subalterno, cujo discurso é respeitado. Ao invés de “canibalizar o acervo acidental” como querem os irmãos Campos, nas palavras de Costa Lima (1991, p.16), Spivak desestabiliza esse mesmo acervo ao propor a inserção do discurso do outro subalterno por meio da tradução responsável e ética. Se para Campos e Santiago a transgressão é essencial para vencer a dependência e o neocolonialismo e a tradução/transcriação um ato de rebeldia e apropriação (do centro pela periferia), Spivak endossa um questionamento que também deve surgir da periferia para desestabilizar o centro, mas através de um ato de responsabilidade e aprendizado éticos para com a tradução da língua do subalterno, que se tornou uma mercadoria rentável e fetichizada – no sentido que hoje se procura cada vez mais conhecer a língua do outro para explorá-lo ou falar por ele, como nos relata Cardinal na cena apresentada no início deste texto. Assim, Spivak procura com sua crítica responder à indagação: “o que significa ser uma leitora pós-colonial do inglês no século 20?” (1993, p. 198). E eu perguntaria, o que significa ser uma leitora (como tradutora) de Spivak no século 21, em um país na periferia da produção cultural, em um contexto marcadamente transnacional, longe, no entanto, de ser pós-nacional? Significa, a meu ver, estar também sempre vigilante, como clama Spivak, questionando o próprio lugar de onde se fala, nos termos propostos por Edward Said. Ao atuar como mediadora – imagem recorrente do processo tradutório – e tradutora do pensamento de Spivak, meu ato também se configura como ambivalente e se desloca ambiguamente no terreno movediço da tradução linguística e cultural para então poder teorizar sobre ela, ciente do incômodo lugar que teoriza o próprio espaço mediador no qual habita, no entre-lugar, na ambivalência não menos típica do Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 91 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida discurso latino-americano de Santiago. A minha é também uma mirada periférica que procura desestabilizar os processos tradutórios neste espaço enunciativo, marcadamente comparados. Interessa-me, em especial, a insistência de Spivak em desafiar os discursos hegemônicos e também nossas próprias crenças como leitores e produtores de saber e conhecimento, pensando a teoria crítica e, em especial, a tradução cultural – ou mesmo a tradução como cultura – e a literatura comparada como uma prática intervencionista, engajada e desestabilizadora que efetua uma fratura epistemológica e insere uma mirada revigorada tanto no campo discursivo quanto na esfera de uma atividade política contestadora. É esse traço de Spivak que faz com seus trabalhos teóricos, mesmo com a complexidade (e mesmo hermetismo) que lhes é peculiar, ultrapassem, como demonstra Terry Eagleton (2005), as barreiras do academicismo, refletindo sobre questões de ideologia, poder e agenciamento e nosso papel como críticos, intelectuais e tradutores na e da contemporaneidade, aludindo tanto à produção cultural quanto à realidade sócio-histórica e falando de uma tradição crítica a partir de um discurso que privilegia a periferia e a margem do sistema globalizado como um espaço fecundo de produção teórica e discursiva. Retorno agora brevemente às três cenas com as quais iniciei esta fala. Elas evocam, de formas distintas, o impasse, o double bind do ato tradutório transcultural, quer seja pela responsabilidade e dificuldade da tradução eticamente referenciada, como no caso do romance A tradutora; pelo fracasso e violação da tradução e do direito de falar relatados por Cardinal, ou pela exotização e silenciamento do sujeito subalterno, como no caso de Carolina Maria de Jesus. Esses episódios prefiguram traduções culturais que instalam o desconforto e evidenciam uma suposta pretensão de transparência tradutória que desloca o conceito de tradução, instaurando a fratura e mesmo o fracasso em seu cerne. É esse ato de tradução cultural que mesmo irresoluto marca um espaço de reinscrição que delineia a emergência de um outro possível signo de agenciamento (nos termos de Bhabha, 1994) que requer que os tradutores culturais –neste caso, a tradutora Sammar, o governo canadense, o mediador – se coloquem diante de seus sujeitos/objetos de maneira ética e responsável mesmo como um impulso utópico. Somente assim poder-se-á reescrever a costumeira percepção da tradução que não se efetua jamais e que se torna por vezes “uma perda de uma conexão de vida”, como nos lembra a escritora Eva Hoffman no romance Lost in Translation [Pedidos na tradução] (1989, p. 78), e resgata a proposta de uma tradução cultural que oferta a dádiva da escuta qualificada ao outro e, em especial, ao subalterno. 92 Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada Abstract The essay addresses the contemporary concept of cultural translation and focuses, especially, on Gayatri Chakravorty Spivak’s theorizations, discussing the relation between translation and subalterneity, solidarity and comparative literature. Key-words: transcultural translation; subalterneity; solidarity; comparative literature. Referências ABOULELA, Leila. The Translator. New York: Black Cat, 1999. ARROJO, Rosemary. Oficina da tradução: a teoria na prática. São Paulo: Ática, 1986. ASCHER, Nelson. O texto e sua sombra: teses sobre a teoria da intradução. Revista 34 Letras n. 3, Rio de Janeiro, p. 150, 1989. BAKHTIN, M.M. The Dialogic Imagination. Trad. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1982. BASSNET, Susan. Reflections on Comparative Literature in the Twenty-First Century. Comparative Critical Studies v. 3, n. 1-3, p. 3-11, 2006. BASSNET, Susan; TRIVEDI, H. (Eds.). Post-colonial Translation. London and New York: Routledge, 1999. BENJAMIN, Walter. A tarefa-renúncia do tradutor. Trad. Susana Kampf Lages. In: HEIDERMANN, Werner (Org.). Clássicos da teoria da tradução. Florianópolis: UFSC, 2001. p. 189-215. BERMAN, Antoine. L’épreuve de l’étranger: culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Paris: Gallimard, 1984. BHABHA, Homi. The Location of Culture. New York: Routledge, 1994. CAMPOS, Augusto de. Verso, reverso, controverso. São Paulo: Perspectiva, 1978. CAMPOS, Haroldo de. Da tradução como criação e como crítica. In: ___. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992. p. 31-48. ______. Deus e o Diabo no Fausto de Goethe. São Paulo: Perspectiva, 1981. ______. Da transcriação: poética e semiótica da operação tradutora. In: OLIVEIRA, Ana Cláudia de; SANTAELLA, Lúcia (Orgs.). Semiótica da literatura. São Paulo: EDUC, 1987. p. 53-74. CARDINAL, Harold. A Canadian What the Hell It’s All About. In: MOSES, Daniel David; GOLDIE, Terry. An Anthology of Canadian Native Literature in English. Toronto: Oxford University Press, 1992. p. 188-194. Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 93 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida COMPAGNON, Antoine. O trabalho de citação. Trad. Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. DANTAS, Audálio. A atualidade do mundo de Carolina. In: JESUS, Carolina Maria. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Editora Ática, 2001. p. 3- 5 DERRIDA, Jacques. Des tours de Babel. In: GRAHAM, Joseph (Ed.). Difference in Translation. Ithaca: Cornell University Press, 1985. p. 165-207. ______. Dissemination. Trans. Barbara Johnson. Chicago: University of Chicago Press, 1981. ______. Given Time: Counterfeit Memory. Trans. Peggy Kamuf. Chicago: University of Chicago Press, 1992. ______. Gramatologia. Trad. Miriam Schnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1973. ______. Positions. Trad. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1982. ______. Of Grammatology. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1976. ______. Positions. Trad. Alan Bass. London: The Athlone Press, 1987. ______. Torre de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. DERRIDA, Jacques; DUFOURMANTELLE, Anne. Da hospitalidade. Anne Dufourmantelle convida Derrida a falar da hospitalidade. Trad. Antonio Romane. São Paulo: Escuta, 2003. EAGLETON, Terry. Gayatri Spivak. In: ___. Figures of Dissent: Critical Essays on Fish, Spivak, Žižek, and Others. London and New York: Verso, 2005. p. 158-167. FRIEDMAN, Susan Stanford. The “New Migration”: Clashes, Connections and Diasporic Women’s Writing. Contemporary Women’s Writing, Oxford, v. 3, n. 1, p. 6-27, June 2009. GRAHAM, Joseph (Ed.). Difference in Translation. Ithaca: Cornell University Press, 2000. HOFFMAN, Eva. Lost in Translation. London and New York: Routledge, 1989. JAKOBSON, Roman. Aspectos linguísticos da tradução. In : ___. Linguística e comunicação. Trad. Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1971. p. 63-72. JESUS, Carolina Maria. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Editora Ática, 2001. KRISTEVA, Julia. La révolution du langage poétique. Paris: Éditions du Seuil, 1974. 94 Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 Mediações contemporâneas: tradução cultural e literatura comparada LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin: tradução e melancolia. São Paulo: EDUSP, 2007. PAPASTERGIADIS, Nikos. The Limits of Cultural Translation. In: ___. The Turbulence of Migration. Cambridge: Polity Press, 2000. p. 122-138. PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London and New York: Routledge, 1995. REGO, Cláudia de Morais. Traço, letras, escrita – Freud, Derrida, Lacan. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. RODRIGUES, Cristina Carneiro. Tradução e diferença. São Paulo: UNESP, 2000. SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: ___. Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p. 9-26. SIMON, Sherry. Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London and New York: Routledge, 1996. ______. Introduction. In: SIMON, Sherry; ST-PIERRE, Paul (Eds.). Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era. Ottawa: University of Ottawa Press, 2000. p. 9-29. ______. La culture transnationale en question: visées de la traduction chez Homi Bhabha et Gayatri Spivak. Études françaises v. 31, n. 3 , p. 43-57, 1995. SPIVAK, Gayatri Chakravorty. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Harvard University Press, 1999a. ______. Can the Subaltern Speak? In: NELSON, Cary; GROSSBERG, Larry (Eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press, 1988. p. 271-313. ______. Claiming Transformation: Travel Notes with Pictures. In: AHMED, Sara; KILBY, Jane; LURY, Celia; MACNEIL, Maureen; SKEGGS, Beverly. Transformations: Thinking Through Feminism. London and New York: Routledge, 2000a. p. 119-130. ______. Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003. ______. Diaspora Old and New: Women in Transnational World. Textual Practice, v. 10, n.2, p. 245-269, 1996a. ______. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York : Methen, 1987. ______. Imperatives to Re-imagine the Planet. Wien: PassagenVerlag, 1999b. ______. More Thoughts on Cultural Translation. April 2008. Disponível em: http://translate.eipcp.net/transversal/0608/spivak/en/ print. Acesso em: 29 setembro 2010. Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 95 Gragoatá Sandra Regina Goulart Almeida ______. Nationalism and the Imagination. London, New York, Calcutta: Seagull, 2010a. ______. Other Asias. New York: Blackwell, 2008. ______. Outside in the Teaching Machine. New York and London: Routledge, 1993. ______. Pode o subalterno falar? Trads. Sandra Regina Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa, André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010b. ______. The Politics of Translation. In: ___. Outside in the Teaching Machine. London and New York: Routledge, 1993. p. 179-200. ______. Quem reivindica alteridade? Trad. Patricia Silveira de Farias. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Feminismo em tempos pós-modernos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994a. p. 187-205. ______. Questioned on Translation: Adrift. Public Culture v. 13, n. 1, 2001, p. 13-22. ______. Responsibility. Boundary 2: An International Journal of Literature and Culture, Durham, NC, v. 21, n.3, 1994b, p. 19-64. ______. Rethinking Comparativism. New Literary History n.40, v. 3, p. 609-626, 2009. ______. Teaching for the Times. In: MCCLINTOCK, Anne; MUFTI, Aamir; SHOHAT, Ella (Eds.). Dangerous Liaisons: Gender, Nation & Poscolonial Perspectives. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. p. 468-490. ______. Translation as Culture. Parallax v. 6, n.1, p. 13-24, 2000b. ______. Tradução como cultura. Trad. Eliana Ávila e Liane Schneider. Ilha do Desterro, Florianópolis, v. 48, p. 41-64, 2005a. ______. Translation into English. In: BERMANN, Sandra; WOOD, Michael. Nation, Language and the Ethics of Translation. Princeton: Princeton University Press, 2005b. p. 93-110. ______. Translator’s Preface and Afterword to Mahasweta Devi, Imaginary Maps.In: ______. The Spivak Reader. New York and London: Routledge, 1996b. p. 267-286. ______. Translator’s Preface. In: DERRIDA, Jacques. Of Grammatology. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1976. p. ix-lxxxvii. SPIVAK, Gayatri Chakravorty; BUTLER, Judith. Who Sings the Nation-State? London, New York, Calcutta: Seagull, 2007. VIEIRA, Else R. P. Liberating Calibans: Readings of Antropofagia and Haroldo de Campos’ Poetics of Transcreation. In: BASSNET, Susan; TRIVEDI, H. (Eds.). Post-colonial Translation. London and New York: Routledge, 1999. p. 95-113. ______. Por uma teoria pós-moderna da tradução. Belo Horizonte, 1992. 248p. Tese (Doutorado em Letras/Literatura Comparada) – FALE, UFMG. 96 Niterói, n. 31, p. 77-96, 2. sem. 2011 A construção das éticas de tradução de textos literários a partir da experiência: a interação entre academia e a sociedade Maria Clara Castellões de Oliveira Recebido em 05/06/2011 – Aprovado em 01/09/2011 Resumo Este trabalho aborda a necessária interação entre a academia e a mídia, o mercado editorial em geral, tradutores sem formação específica na área e leitores não-profissionais. O seu objetivo é contribuir para a ampliação da consciência não apenas da existência de duas éticas da tradução de textos literários – a da diferença e a da igualdade, nos termos de Antoine Berman e de Lawrence Venuti – como também das consequências do privilégio de qualquer uma delas sobre a outra. Será estabelecido um diálogo com trabalho apresentado por Christina Schäffner, no 6º. Congresso da Sociedade Europeia dos Estudos da Tradução, ocorrido em setembro de 2010, em Leuven, na Bélgica, no qual foi discutida a percepção que se tem da tradução por parte da mídia anglo-saxônica, e com textos de intelectuais para quem, tal como preconizou Aristóteles, a construção de posturas éticas se pauta na experiência. A fim de corroborar e de ilustrar as posturas defendidas, serão apresentadas estratégias de ensino adotadas pela autora do trabalho em disciplinas que leciona no Bacharelado em Letras: Ênfase em Tradução – Inglês da UFJF e conclusões de monografias produzidas por alunos do referido curso. Palavras-chave: tradução; ética; experiência; academia; sociedade. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 Gragoatá Maria Clara Castellões de Oliveira Em resumo e a propósito Texto em inglês: “[…] the public awareness of the role of translation in and for society still leaves a lot to be desired.” 2 Texto em inglês: “[…] to a large extent motivated by media coverage of translation.” 1 98 Em “Questões éticas e políticas em torno da tradução literária”, artigo que publiquei em 2009, no número 7 de Tradução em Revista, afirmei que, apesar do papel desempenhado por pessoas e organismos que atuam a partir da academia e fora dela e dos avanços ocorridos no âmbito dos Estudos da Tradução, preponderantemente a partir da década de 1990, “os leitores não-profissionais e os demais consumidores de textos traduzidos continuam sem ter ideia de um dos principais escândalos da tradução [...], qual seja, o de que essa atividade e, por analogia, o seu realizador – o tradutor – atuam como importantes formadores de identidades culturais” (OLIVEIRA, 2009, p. 1), como já enfatizara Lawrence Venuti em The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (1998), publicado no Brasil com o título de Escândalos da tradução: por uma ética da diferença (2002).1 Preocupação semelhante à minha demonstrou Christina Schäffner, professora e pesquisadora da Universidade de Aston, em Birmingham (Reino Unido), em comunicação apresentada no 6º. Congresso da Sociedade Europeia dos Estudos da Tradução (European Society for Translation Studies), ocorrido em setembro de 2010 na Universidade Católica de Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), na Bélgica. Nessa comunicação, intitulada “Tradução em seu ambiente social – visibilidade e percepção” (“Translation in its social environment – visibility and awareness”), Schäffner disse que, a despeito do crescimento não apenas da disciplina Estudos da Tradução em todo o mundo; do aumento dos números de tradutores, pesquisadores de tradução, cursos de formação de tradutores, publicações e eventos na área, e do volume de material traduzido e a traduzir, “a percepção do público a respeito do papel do tradutor na e em prol da sociedade ainda deixa muito a desejar” (2010, p. 120, minha tradução). Na opinião de Schäffner, essa percepção, que varia de local para local e de um grupo profissional para outro e é dependente do nível de competência linguística das pessoas, é “motivada em larga escala pela cobertura da tradução fornecida pela mídia” (2010, p. 120, minha tradução).2 Um levantamento realizado em parte da mídia impressa e online britânica acerca do número de vezes em que a palavra tradução foi citada conduziu a pesquisadora a conclusões de que o público em geral e a mídia, entre outras coisas, não fazem distinção entre tradução e interpretação e esperam que as traduções sejam transparentes e corretas. A seu ver, para que o impacto dos avanços ocorridos no âmbito dos Estudos da Tradução possa se refletir sobre a conscientização do público leigo a respeito de questões vinculadas a essa disciplina e à forma como a atividade tradutória vem sendo realizada, é Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 A construção das éticas de tradução de textos literários a partir da experiência: a interação entre academia e a sociedade Sugeri essa denominação em “A aquisição da competência tradutória ou diplomados x descolados – o que Donald Trump pode nos ensinar sobre tradução”, artigo publicado em 2009, no número 18 de Tradução e Comunicação – Revista Brasileira de Tradutores, que pode ser acessado através do seguinte endereço: <http://sare. unianhanguera.edu.br/ index.php/rtcom/article/view/1013/646>. 4 Os romances produzidos compõem a Coleção Anjos de Branco, organizada por Antonio Olinto. 5 Texto original: “[...] translators and interpreters must be trained for society and not just for the market.” 6 Texto original: “[...] to render informed advice to others in defining the place and role of translators, translating, and translations in society at large.” 3 necessário que os estudiosos localizados na academia estabeleçam um diálogo maior com a audiência extra-acadêmica. Em meu artigo, defendi postura próxima à de Schäffner, conclamando os profissionais que atuam na academia e os que exercem suas atividades fora dela, os quais chamei respectivamente de diplomados e descolados,3 a se unirem no sentido não só de criarem estratégias que imprimam maior visibilidade à tradução e à classe dos tradutores, como também, sobretudo, de sensibilizarem a sociedade em geral para as questões éticas que envolvem a tradução. Nesse aspecto, lembrei a patronagem colocada em prática pelo Conselho Federal de Enfermagem, que, ao perceber a quase que total ausência de personagens enfermeiros na literatura brasileira, encomendou a renomados escritores a produção de romances cujos protagonistas exerciam a referida profissão.4 Sugeri, também, que fossem feitas gestões junto a livrarias e bibliotecas virtuais para a inclusão dos nomes dos tradutores das obras possuídas para fins de comercialização e consulta, o que, entre outras coisas, chamaria a atenção para o processo de mediação realizado por esse profissional, facilitaria o acesso de leitores a obras traduzidas por alguém de sua escolha e tornaria mais ágil e menos exaustiva a pesquisa acadêmica realizada em torno da extensão da atuação de um determinado profissional em áreas, editoras e momentos específicos. No que concerne mais proximamente à atuação dos que se dedicam ao treinamento de tradutores, enfatizei a necessidade de discussões sistemáticas, “no contexto da sala de aula, das relações de poder que envolvem a atividade tradutória e das possíveis atitudes dos tradutores em formação quando defrontados com questões relacionadas às assimetrias culturais existentes entre as línguas com as quais trabalham” (OLIVEIRA, 2009, p. 6). Nesse sentido, lembrei Maria Tymoczko em Enlarging Translation, Empowering Translators (Alargando a tradução, conferindo poder aos tradutores, ainda não traduzido para o português), de 2007, para quem o processo de formação de tradutores não deve perder de vista o objetivo de treinar profissionais éticos, cientes e ciosos de seu poder e de sua responsabilidade social. Lembrei, outrossim, Mona Baker, a partir de Tymoczko, quando ela afirmou que “tradutores e intérpretes devem ser treinados para a sociedade e não apenas para o mercado” (BAKER citada por TYMOCZKO, 2007, p. 320-321, minha tradução),5 e, ainda, James S. Holmes, que em artigo seminal datado de 1972, “The name and the role of translation studies” (“O nome e o papel dos estudos tradução”), disse ser tarefa do especialista em tradução “fornecer conselhos competentes em torno da definição do lugar e do papel dos tradutores, do ato de traduzir e das traduções na sociedade como um todo” (2001, p. 182, minha tradução).6 Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 99 Gragoatá Maria Clara Castellões de Oliveira Ética e experiência Na crença de que os resultados das pesquisas em torno da tradução precisam extrapolar as fronteiras do círculo encantado (LEFEVERE, 1992) que separa a academia do resto da sociedade, pretendo, neste momento, defender a ideia de que as ações nesse sentido só serão proveitosas quanto mais cedo os leitores em formação forem expostos a esses resultados. Diferentemente de Schäffner, acredito que a reversão das percepções que a sociedade possui da tradução e do tradutor não pode ocorrer quando os seus cidadãos já estão atuando como formadores de opinião, exercendo seu poder através da mídia, mas em um momento bem anterior a esse, quando eles ainda não têm noção do que um dia virão a fazer com as informações que estão recebendo na escola. Em outras palavras, quero defender a ideia de que é pela educação, iniciada nos primeiros momentos do processo de formação de leitores, que se pode alcançar o objetivo de constituir cidadãos mais conscientes do papel da tradução e do tradutor na sociedade e, consequentemente, mais competentes literária e culturalmente. Apesar de o advento da Internet e das redes de comunicação social ter colocado os jovens em contato com diferentes realidades linguísticas e culturais, é necessário que não se perca de vista o paradoxo dessa realidade, que pode fazer com que esses jovens sintam-se membros de uma aldeia global pasteurizada, homogeneizante e, consequentemente, tornem-se desprovidos de posturas críticas. Para tanto, acredito ser importante a adoção de atitudes práticas que contribuam para a conservação da diversidade cultural (MIRANDA, 2004, p. 12) e para a formação de cidadãos a quem caberá, no futuro, a tarefa da tradução. Para que possamos, portanto, ter tradutores que se comportem eticamente no exercício de sua profissão e que, na medida do possível, não percam de vista um dos sentidos que a palavra latina translatio possui, qual seja, o de conduzir além, é fundamental que esses jovens recebam uma educação para a tradução. Tal reivindicação parte das crenças de que a ética, a ciência dos costumes, tal como é concebida desde Aristóteles (2003, p. 15), “provém do hábito (ethos: donde também o seu nome)” (p. 49), não “se gera em nós por natureza” (p. 49), é, pois, uma construção fundada na experiência. Roberto Romano, em “As faces da ética” (2004), reverbera as percepções de Aristóteles, dizendo que “uma ética não surge de repente, brotando do nada. A ética [...] vai-se sedimentando na memória e na inteligência das pessoas, irradiando-se em atos, sem muitos esforços de reflexão. A ética é o que se tornou quase uma segunda natureza das pessoas, de modo que seus valores são assumidos automaticamente ou sem crítica” (p. 41). Segundo o referido filósofo e professor, “existem atitudes éticas 100 Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 A construção das éticas de tradução de textos literários a partir da experiência: a interação entre academia e a sociedade que classes sociais ou povos assumem de modo irrefletido, porque foram aprendidas desde a mais tenra infância” (p. 41-42). É, portanto, desde a infância que se faz necessário estar exposto a questões de tradução, pois, como diz Romano, “para quebrar o monobloco das péssimas certezas éticas, é preciso educação do pensamento e da sensibilidade” (p. 43), em outras palavras, “apenas a educação pública para o convívio, para o respeito aos outros; uma educação coletiva para o exercício do pensamento seria uma solução” (p. 42). Estratégias de ação Mu it as das mono g rafias de conclusão desse curso têm girado em torno da defesa da tradução da letra no contexto da literatura Para acesso a algumas dessas monografias, sugiro visita ao endereço <http:// www.ufjf.br/bacharelado tradingles>. 7 Nas aulas de tradução literária que ministro no Bacharelado em Letras: Ênfase em Tradução – Inglês, da Universidade Federal de Juiz de Fora, venho discutindo a importância da tradução da letra, ou seja, da adoção de uma ética da diferença, nos termos de Antoine Berman (2002 [1984] e 1995), e incentivando os alunos a compararem os resultados de traduções que se valeram da ética da igualdade e, portanto, se fizeram idiomáticas, com os de outras, do mesmo texto, que se construíram a partir da literalidade, e, finalmente, a colocarem em prática esse último procedimento de tradução.7 A princípio arredios em relação ao emprego desse procedimento, justamente por acreditarem – como a maior parte dos leitores não-profissionais – que a tradução, como difundida pelas mais diversas formas de atuação da mídia, deve facilitar o acesso ao original, ser fluente, ou, ainda, parecer ter sido escrita originalmente em português, esses alunos passam a entender a importância de criarem estratégias que lhes permitam expandir a língua da tradução em função das especificidades da língua e da cultura dos originais, ou, em termos filosóficos, de acolherem o Outro em sua estrangeiridade. Começo as aulas de tradução literária justamente pelo gênero que impõe mais dificuldade aos tradutores – a poesia. Primeiramente, incito os alunos a compararem diversas traduções de um mesmo texto poético e a discutirem os efeitos dos procedimentos adotados por seus realizadores, que variam do sacrifício da forma em prol do conteúdo até a conjugação eficiente dos recursos formais e de conteúdo, passando por versões intermediárias. O objetivo é justamente fazê-los perceber que, em se tratando de poesia, ou, nos termos de Haroldo de Campos, de “prosa que a ela equivalha em problematicidade” (CAMPOS, 1992, p. 43), o apelo à tradução da letra é tarefa inescapável. Em seguida, peço aos alunos para, eles próprios, realizarem traduções de poesia. Faço isso de forma lúdica, escolhendo textos que, apesar de possuírem certa rigidez formal, têm conteúdo pueril, ou, em algumas instâncias, apelam para o nonsense. Os resultados obtidos variam, pois, ao mesmo tempo em que Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 101 Gragoatá Maria Clara Castellões de Oliveira alguns alunos se mostram paralisados frente aos obstáculos que encontram, outros se descobrem experts na tarefa de articulação da forma e do conteúdo desses textos em língua portuguesa. Ao fim e ao cabo, mesmo os que apresentam alguma dificuldade vão aguçando a sua sensibilidade para as rimas, a métrica e o ritmo do original e criando suas próprias estratégias para transpô-los para o português. Com o avançar da disciplina, os alunos comparam e comentam traduções de textos em prosa, chegando à conclusão de que, via de regra, os leitores brasileiros de literatura traduzida de língua inglesa deixam de ter acesso a importantes dados linguísticos e culturais dos originais e a especificidades estilísticas de seus autores em função de traduções domesticantes, pautadas na ética da igualdade, que poderiam muito bem ter dado lugar a traduções estrangeirizantes, que primam pela ética da diferença. Na monografia de conclusão de curso por mim orientada, intitulada Em defesa da literalidade: traduções de “Cat in the Rain”, de Ernest Hemingway, para o português do Brasil (2009), a sua autora, Raquel Santos Lombardi, comparou quatro traduções do conto em questão, uma realizada por Ênio da Silveira e José J. Veiga e publicada pela Civilização Brasileira (1997), e as outras três de circulação restrita. O trabalho verificou que “os procedimentos de tradução literal [...], adotados em vários momentos de todas as traduções, não inviabilizaram a leitura dessas; ao contrário [...], tais procedimentos foram capazes de construir uma imagem [...] bastante fiel àquela que encontramos no texto-fonte. A literalidade possibilitou, então, que o caminho percorrido pelo autor do texto [...] original pudesse ser, de alguma forma, refeito” (LOMBARDI, 2009, p. 64). Mais para o final do curso, quando são chamados a fazerem suas próprias traduções, esses alunos encontram-se bem instrumentalizados para colocarem em prática o conhecimento e a experiência adquiridos, optando competentemente por procedimentos de tradução que visam a dar conta das especificidades formais do original, não negando, assim, aos seus leitores o acesso a realidades linguísticas e culturais que lhe são diferentes, ampliando as estruturas de sua língua em função da língua do Outro. Solicitei à última turma para a qual lecionei tradução literária que realizasse traduções de alguns livros da série infantil Mr. Men e Little Miss, do escritor britânico Roger Hargreaves. A instrução passada aos alunos foi a de que dessem privilégio aos aspectos formais dos textos e neles deixassem marcas que revelassem a seus leitores ou ouvintes mirins brasileiros a sua origem estrangeira, e, dessa forma, contribuíssem para a iniciação de um processo de educação para a tradução. A seguir, apresento alguns dos resultados desses trabalhos, que foram avaliados por Clara Peron da Silva em sua monografia de final de curso, intitulada A literatura infantil em tradução: especi102 Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 A construção das éticas de tradução de textos literários a partir da experiência: a interação entre academia e a sociedade ficidades da tradução de livros da série Mr. Men e Little Miss, de Roger Hargreaves, para o português do Brasil (2009). Encontra-se abaixo um exemplo em que a aluna-tradutora procurou dar conta dos aspectos formais da fala de Mr. Topsy Turvy, que dá título a um dos livros da série Mr. Men, ampliando as potencialidades da língua da tradução a partir da língua do original: ORIGINAL TRADUÇÃO Now, something you didn`t know about Mr. Topsy Turvy is the way he speaks. You see, he sometimes gets things the wrong way round. “Afternoon good”, said Mr. Topsy Turvy to the hotel manager. “I`d room a like!” The manager scratched his head. “You mean you`d like a room?” he asked. “Please yes”, replied Mr. Topsy Turvy (meus grifos). Mas uma coisa que você não sabia sobre o Sr. Às Avessas é o jeito como ele fala. Veja só, às vezes ele fala as coisas invertidas. “Tarde boa”, disse o Sr. Às Avessas para o gerente do hotel. “Eu quartaria de um gosto!” O gerente coçou a cabeça. “Você quer dizer que gostaria de um quarto?”, perguntou. “Favor sim, por”, respondeu o Sr. Às Avessas (meus grifos). Por sua vez, o exemplo a seguir ilustra a preocupação de se deixar claro no livro Little Miss Late, da série Little Miss, a diferença entre o ambiente cultural de onde provém a história original e aquele da língua da tradução: ORIGINAL TRADUÇÃO Do you know when she went on Você sabe quando ela foi passar her Summer holiday last year? as férias de verão no ano passado? In December! Six months late! Em dezembro, quando já era inverno na Inglaterra! Ambos os exemplos incitam os que estão lendo o texto ou apenas o escutando a perceberem as possibilidades criativas de sua própria língua e a existência de culturas diferentes, onde, entre outras coisas, as estações do ano acontecem em períodos não coincidentes com os nossos. Últimas considerações O tipo de postura que adotei no artigo publicado na Tradução em Revista e neste que agora aproxima-se de seu final inspira-se naquelas do filósofo Emmanuel Lévinas acerca do tipo Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 103 Gragoatá Maria Clara Castellões de Oliveira de relação que deve existir entre Mim (moi) e o Outro, ou seja, uma relação de responsabilidade, não alérgica, em que alteridade de Outrem não se apaga diante dos valores do Mesmo, ao contrário, essa alteridade – sua exposição e aceitação – tornam-se ensinamento e orientação do discurso (LÉVINAS, 2008 [1961]). Nesse sentido, via Lévinas, aproximo-me também de Márcio Seligmann-Silva, para quem “a recusa de receber o outro [...] é uma recusa de ler [...] seus códigos outros. Trata-se da situação violenta de interdição da tradução” (2005, p. 244). Ao mesmo tempo, esse tipo de postura ultrapassa a sua dimensão ética e ganha proporções políticas, na medida em que também se associa à ética da responsabilidade tal como entendida por Renato Janine Ribeiro (2004) a partir de Maquiavel e Max Weber. Segundo Ribeiro, a ética da responsabilidade “é a ética da ação política mais do que da instituição política” (p. 67). Para ele, agir politicamente significa levar em conta as relações de poder, pensando na construção do futuro, o que pode ser feito também fora da esfera usual da política, uma vez que se pode agir politicamente na vida pessoal, por exemplo (RIBEIRO, 2004, p. 66). Eu diria ainda que esse tipo de postura pertence a um momento que já está na hora de os intelectuais da academia a ele se vincularem, um momento ao qual Hermano Viana, na coluna que assina às sextas-feiras no “Segundo Caderno” de O Globo, deu o nome de pós-indignação. A propósito da expressão “politicamente correto” e das polêmicas que se estabelecem no âmbito de eventos acadêmicos, que frequentemente morrem no nascedouro, Viana sugeriu o termo, consciente de que, em suas palavras, “indignação não basta por si só, nem pode ser pensada como finalidade da ação política/moral. Ela só faz sentido se for o início da ação, que crie soluções e novas maneiras de transformar o mundo” (2011, p. 2). Abstract This work deals with the necessary interaction among the academy and the media, the editorial market in general, translators with no specific education in the area and non-professional readers. Its aim is to contribute to the enhancement of the awareness not only of the existence of two ethical stands as far as the translation of literary text is concerned – that of the difference and that of the equality, in the terms of Antoine Berman and Lawrence Venuti – but also of the consequences of the privilege of any of them over the other. It will establish a dialogue with the paper presented by Christina Schäffner at the 6th European Society for 104 Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 A construção das éticas de tradução de textos literários a partir da experiência: a interação entre academia e a sociedade Translation Studies Congress, which took place in September, 2010, in Leuven, Belgium, in which the perception of translation from the part of the Anglo-Saxon media was discussed, and with texts written by intellectuals for whom, as defended by Aristotle, the construction of ethical stands is based on experience. In order to corroborate and illustrate the points of views herein advocated, it will present teaching strategies put into practice by the author of this work in the disciplines she teaches at the Bachelor’s Degree Course in Translation from English to Portuguese of the University of Juiz de Fora and the conclusions of monographs produced by its students. Keywords: translation; ethics; experience; academy; society Referências ARISTÓTELES. A ética – textos selecionados. Trad. Cássio M. Fonseca. 2. ed. anotada. Bauru: EDIPRO, 2003. BERMAN, Antoine. A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica — Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. Trad. Maria Emília Pereira Chanut. Bauru: EDUSC, 2002. ______. Pour une critique des traductions: John Donne. Paris: Gallimard, 1995. CAMPOS, Haroldo de. Da tradução como criação e como crítica. In: ___. Metalinguagem & outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992. p. 31-48. HARGREAVES, Roger. Little Miss Late. Great Britain: Ergmont Books, 1981. ______. Mr. Topsy-Turvy. Great Britain: Ergmont Books, 1972. ______. Sr. Às Avessas. Trad. Luy Braida Ribeiro Braga, 2009. Mimeo. ______. Srta. Atrasadinha. Trad. Aline Domingues de Paiva, 2009. Mimeo. HOLMES, James S. The Name and the Role of Translation Studies. In: VENUTI, Lawrence (Org.). The Translation Studies Reader. London, New York: Routledge, 2000. p. 172-185. LEFEVERE, André. Prewrite. In: ___. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge. 1992. p. 1-10. LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Rev. Artur Morão. Lisboa: Edições 79, 2008. Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 105 Gragoatá Maria Clara Castellões de Oliveira LOMBARDI, Raquel Santos. Em defesa da literalidade: traduções de “Cat in the Rain”, de Ernest Hemingway, para o português do Brasil. 2009. 89 f. Monografia (Bacharelado em Letras: Ênfase em Tradução – Inglês) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2009. MIRANDA, Danilo Santos de. Ética e cultura: um convite à reflexão e à prática. In: ___. (Org.). Ética e cultura. São Paulo: Perspectiva, SESC São Paulo, 2004. p. 11-15. OLIVEIRA, Maria Clara Castellões de. Questões éticas e políticas em torno da tradução literária. In: FROTA, Maria Paula; OLIVEIRA, Maria Clara Castellões de; CARDOZO, Mauricio Mendonça. TRADUÇÃO EM REVISTA: Tradução, ética, psicanálise. Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, jul-dez. 2009. Disponível em: < http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/trad_ em_ revista. php? strSecao=input0pt>. Acesso em: 30 jun. 2011. RIBEIRO, Renato Janine. Ética, ação política e conflitos na modernidade. In: MIRANDA, Danilo Santos de (Org.). Ética e cultura. São Paulo: Perspectiva, SESC São Paulo, 2004. p. 65-88. ROMANO, Roberto. As faces da ética. In: MIRANDA, Danilo Santos de (Org.). Ética e cultura. São Paulo: Perspectiva, SESC São Paulo, 2004. p. 39-50. SCHÄFFNER, Christina. Translation in its social environment – visibility and awareness. IN: Tracks and Treks in TS – Book of abstracts. 6th EST Congress – Leuven 2010. p. 120. SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: Editora 34, 2005. SILVA, Clara Peron da. A literatura infantil em tradução: especificidades da tradução de livros da série Mr. Men e Little Miss, de Roger Hargreaves, para o português do Brasil. 2009. 65 f. Monografia (Bacharelado em Letras: Ênfase em Tradução – Inglês) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2009. TYMOCZKO, Maria. Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester, UK; Kinderhook, USA: St. Jerome Publishing, 2007. VENUTI, Lawrence. Escândalos da tradução: por uma ética da diferença. Trad. Laureano Pelegrin et al.. Bauru: EDUSC, 2002. VIANA, Hermano. Pós-indignação. O Globo, Rio de Janeiro, 27 mai. 2011. Segundo Caderno, p. 2. 106 Niterói, n. 31, p. 97-106, 2. sem. 2011 Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural Meta Elisabeth Zipser Michelle de Abreu Aio Recebido em 10/06/2011 – Aprovado em 03/09/2011 Resumo O presente artigo visa apresentar a atividade tradutória dentro do campo jornalístico, estabelecendo a interface proposta por Zipser (2002) em que o jornalista passa a ser, acima de tudo, um tradutor de fatos. Pautando-se, por um lado, na proposta funcionalista de Nord (1991) para contemplar o conceito de tradução e, por outro, no modelo de Esser (1998), que organiza os fatores constitutivos do fazer jornalístico, pretendemos mostrar como uma reportagem é construída prospectivamente, ou seja, voltada para seu leitor a partir de um fato-fonte. Palavras-chave: tradução; jornalismo; representação cultural; funcionalismo nordiano. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 Gragoatá Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio Introdução A interdisciplinaridade entre a tradução e o jornalismo já vem sendo tratada no campo dos Estudos da Tradução como objeto de análise e discussão sobre os possíveis diálogos entre as duas áreas (cf. ALMEIDA, 2005; POLCHLOPEK, 2005; SACHET, 2005; ZIPSER, 2002). Transportado para os domínios da prática jornalística, o conceito de tradução passa a pertencer não somente à esfera da transcriação de signos linguísticos, mas da intermediação cultural, acima de tudo. Se estendermos um pouco mais o alcance deste conceito, podemos considerar que o jornalista desempenha o papel de tradutor tendo o fato como texto-fonte que, depois de apurado, é traduzido para o público visado pela reportagem. Com vistas a este entrelaçamento entre as duas atividades é que pretendemos tecer, neste artigo, as bases do raciocínio que culminaram neste novo conceito, apresentado por Zipser (2002): do ato tradutório como representação cultural em textos jornalísticos. As contribuições do funcionalismo para os Estudos da Tradução As primeiras considerações funcionalistas no âmbito dos Estudos da Tradução surgem na Alemanha, nas décadas de 70 e 80, precisamente com a teórica e tradutora Katharina Reiss. Saindo de uma tradição em que as problemáticas da tradução giravam, sobretudo, em torno da equivalência, Reiss (1996) propõe que as funções que predominam no texto de partida devem ser consideradas como essenciais na avaliação da adequação do texto traduzido. A teórica desenvolve o que denomina de ‘tipologia textual’, também tida como situações comunicativas, e estabelece alguns fatores intra e extratextuais afim de nortear a tradução – fatores estes que serão expandidos posteriormente por Christiane Nord. Ainda que criticada por priorizar o textofonte, é mérito de Reiss a primeira consideração da importância do texto traduzido como algo mais do que repositório de signos linguísticos equivalentes. É Hans Vermeer (1986) quem fornece considerações adicionais à fundação da teoria funcionalista. Para ele, a tradução é uma ação humana que ocorre em busca de uma comunicação efetiva, funcional, implicando, portanto, em um propósito, uma intenção para o ato de comunicar. Vermeer faz uso da palavra grega skopos (objetivo, propósito) para definir sua teoria da ação proposital, em que o propósito da tradução é determinante dos fatores a serem considerados no ato tradutório. A tradução, portanto, deixa de ser um repositório estanque de transmissão do texto-fonte e passa a ser considerada como um processo em que elementos como o tipo de texto e o objetivo da tarefa tradutória são fundamentais para que o resultado final seja um texto adequado, funcional. 108 Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural Christiane Nord, tradutora e pesquisadora de tradução, aprimora o conceito de funcionalismo ampliando as propostas de Reiss e Vermeer, enfatizando a importância do receptor do texto no processo tradutório. Nord (1991) combina a tipologia textual de Reiss e o conceito de skopos de Vermeer para propor uma abordagem em que os elementos constitutivos do processo tradutório são constantemente revistos e a tradução adapta-se à função a que é atribuída. A proposta funcionalista de Christiane Nord Pautada em uma teoria com base na análise textual, Nord (1991) traz uma abordagem prospectiva da tradução, em que se voltam os olhos para o receptor da mensagem fazendo com que o texto-fonte seja adequado para a cultura de chegada a fim de cumprir a função a ele atribuída. Tal função é determinada, segundo Nord, para além do simples exame do texto-fonte. A autora afirma que “A função do texto-alvo não chega automaticamente de uma análise do texto-fonte, mas é definida pragmaticamente pelo propósito da comunicação intercultural.” (NORD, 1991, p. 9, trad. nossa). Assim considerada, a tradução de um texto será emoldurada culturalmente tanto pela função a ela atribuída quanto pela língua para a qual é feita. Sabendo que a língua é um dos maiores expoentes culturais, e sendo ela matéria-prima da atividade tradutória, o fator cultural torna-se indissociável da tradução. Por isso tanto o conhecimento da língua quanto da cultura estrangeira são essenciais dentre as competências tradutórias (cf. GONÇALVES; MACHADO, 2006) para que o tradutor possa depreender os elementos culturais do texto-fonte e enquadrá-los na cultura-alvo. Sobre esta questão, Nord (1991, p. 11, trad. nossa) afirma que O domínio da cultura-fonte [pelo tradutor] deve permitir-lhe reconstruir as possíveis reações em um receptor do texto-fonte […], enquanto o domínio da cultura de chegada lhe permite antecipar as possíveis reações de um receptor do texto traduzido, e então verificar a adequação funcional da tradução que produz. Ao conhecer a cultura-fonte e a cultura-alvo o tradutor habilita-se a transitar entre texto-fonte e alvo com mais segurança, permitindo-lhe alcançar resultados mais satisfatórios no que toca à adequação cultural, visto que poderá reconhecer os traços mais sutis característicos de uma cultura ou de outra. No texto, a língua, por si só, traz os elementos que ajudam na identificação das marcas culturais. Na linguagem, segundo Bornstein (2001, p. 20, trad. nossa), seja ela de qualquer tipo, [...] há todo um repertório de elementos, associações, conotações, insinuações, intenções e desejos que os acompanham [as Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 109 Gragoatá Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio palavras, ou signos, ou gestos], há um horizonte de referência que dá ‘sentido’ e impregna a mensagem. Como em toda atividade comunicativa (e aqui incluímos o jornalismo), a tradução consuma-se no ato de sua leitura. Uma tradução que não é lida, ou consumida pelo leitor, não fechou o ciclo da situação comunicativa, que, no caso da tradução, começa pelo iniciador, que é aquele que encomenda a tradução de um texto já escrito, passa pelo tradutor, e tem como objetivo final alcançar o leitor (NORD, 1991). Portanto, Como produto da intenção do autor, o texto permanece provisório até que seja recebido pelo receptor. É a recepção que completa a situação comunicativa e define a função do texto: o texto enquanto ato comunicativo é ‘concluído’ pelo receptor. (Idem, p. 16, trad. nossa). O estabelecimento da função da tradução, no início do ciclo comunicativo, passa a ser o ponto chave para a re-textualização do texto-fonte. Tendo em conta que um mesmo texto-fonte pode resultar em diferentes traduções dependendo de diversos fatores – tais como propósito da tradução, cultura de chegada, época da recepção do texto, tipo de receptor, etc. – podemos dizer que um texto-fonte pode resultar em diferentes textos-alvo dependendo das funções que a ele podemos atribuir. Da mesma maneira, na atividade jornalística, podemos considerar que um único fato noticioso pode resultar em reportagens distintas de acordo com o contexto em que será publicado. Mesmo dentro da cultura brasileira, um único fato gera diferentes reportagens nas diversas revistas que circulam no país. No caso do jornalismo, o principal elemento que influencia qual enfoque a ser priorizado na reportagem – visto que a função inerente do texto jornalístico é informar – é o tipo de receptor do texto. O mesmo argumento pode ser usado para justificar as diferentes traduções obtidas de um único texto-fonte. Embora sob a perspectiva funcionalista haja uma maior valorização do contexto de recepção da tradução, ela não é vista como uma atividade realizada de forma inadvertida, perdendose qualquer relação com o texto de origem. Pelo contrário: Nord considera a tradução como a produção de um texto funcional que mantém uma relação com o texto-fonte de acordo com a função que se pretende dar ao texto-alvo: “A tradução é a produção de um texto-alvo funcional que mantém uma relação com um dado texto-fonte, especificado de acordo com a função pretendida ou solicitada do texto-alvo.” (NORD, 1991, p. 28, trad. nossa). Ou seja, embora a função estabelecida para o texto-alvo seja diferente da primeira função do texto-fonte, os textos continuam tendo uma relação entre si. Não se trata de uma tradução livre de amarras, mas de uma adequação do texto original aos interesses de quem 110 Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural encomenda a tradução – ou seja, a função atribuída a determinado texto-fonte no transporte para uma cultura-alvo. Para Nord, existem alguns fatores que, uma vez identificados, permitem uma melhor visualização e atribuição da função do texto-fonte – especialmente quando ela não é explícita pelo iniciador da tradução. Estes fatores são chamados por Nord de intra e extra-textuais. Para uma melhor visualização destes elementos, apresentamos a seguir o modelo de Nord em português extraído do trabalho de Zipser (2002, p. 54), em que se apresentam os fatores intra e extra-textuais (traduzidos para o português) em forma de tabela (Tab. 1). Sendo um modelo bastante didático, ele pretende servir de norteador para o acesso à função do textofonte e do texto alvo, além de auxiliar nas escolhas tradutórias e na solução de dúvidas que por vezes surgem no decorrer do processo. Tabela 1 – Modelo funcionalista nordiano MODELO DE CRISTIANE NORD TEXTO FONTE TEXTO META TEXTO- QUESTÕES DE TEXTO-ALVO -FONTE TRADUÇÃO FATORES EXTERNOS AO TEXTO Emissor Intenção Receptor Meio Lugar Tempo Propósito (motivo) Função textual FATORES INTERNOS AO TEXTO Tema Conteúdo Pressuposições Estruturação Elementos não-verbais Léxico Sintaxe Elementos suprasegmentais Efeito do texto Como o receptor é considerado o elemento mais importante na abordagem prospectiva de análise de texto voltada para a tradução, as informações sobre ele são de extrema importância Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 111 Gragoatá Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio – e elas podem ser extraídas do próprio texto, que, na tradução, carrega informações a serem inferidas sobre o receptor pretendido no texto-fonte e, numa reportagem, o tipo de público que se pretende alcançar. Com isso é possível presumir algumas características deste receptor: “[...] idade, gênero, formação, experiência social, origem geográfica, status social, papel em relação ao emissor, etc.” (NORD, 1991, p. 5, trad. nossa). Por outro lado, as características do emissor podem ser inferidas pelo ambiente do texto, incluindo seu título, e outros como meio, lugar, tempo e motivo de sua publicação. A identificação de todos, ou de alguns destes elementos no texto-fonte fornecem ao tradutor subsídios sobre os quais pode basear, e até justificar, suas escolhas tradutórias. Por analogia, do mesmo modo que é possível estabelecer os elementos a serem considerados na confecção do texto-alvo em uma tradução prospectiva, ou seja, voltada para o leitor do texto, podemos identificar os mesmos elementos no texto jornalístico, e com isso distinguir as características culturais presentes na reportagem. A identificação, em uma reportagem, dos fatores sugeridos por Nord pode fornecer subsídios para que se conheça o público a que se destina tal texto, e do efeito que se pretende causar com cada reportagem. Tendo aqui discutido a importância do fator cultural presente em atividades cuja matéria-prima é a língua – em forma de texto – presume-se que seus profissionais possuam, além do conhecimento do(s) idioma(s) com o(s) qual(is) constroem textos, também do panorama cultural de sua produção. Sobre este aspecto, Gonçalves e Machado (2006, p. 59) afirmam: Visto que o conhecimento cultural exerce grande influência no ato tradutório, seria ideal que tradutores em treinamento tivessem um profundo conhecimento sobre aspectos culturais tanto do seu país quanto do(s) país(es) da(s) língua(s) estrangeira(s) de trabalho, pois a percepção consciente dos aspectos culturais, inevitavelmente envolvidos na construção de um texto, serão decisivos no seu processo de retextualização na língua-alvo. Os mesmos conhecimentos devem ser exigidos dos profissionais do jornalismo, responsáveis pela confecção de reportagens sempre voltadas a um mercado determinado, com suas características culturais específicas. A própria conscientização de que a reportagem configura-se como a tradução de um fato noticioso – admitindo-se, com isso, a possibilidade de haver várias outras reportagens sobre um mesmo fato redigidas de modos diversos de acordo com seus contextos culturais de recepção – já se mostraria um grande passo rumo à discussão de questões como imparcialidade, veracidade, ética, etc. 112 Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural Frank Esser e o fazer jornalístico constituído por instâncias Proveniente da área do jornalismo, a proposta do teórico alemão Frank Esser muito tem a colaborar com a interface inédita proposta por Zipser (2002), em que faz uma rica analogia com o funcionalismo de Christiane Nord. A partir dela criou-se uma nova ramificação para os Estudos da Tradução em que o ato tradutório é visto como representação cultural. Além de apresentarem-se como atividades cujos resultados são culturalmente engendrados, ambas possuem o leitor como ponto final e têm origem em processos que são considerados uma situação comunicativa. Sendo o jornalismo uma atividade que tem como ponto de chegada o público específico ao qual se destina, e estando o jornalista inserido nesse mesmo espaço cultural, devemos levar em conta que o contexto histórico, cultural, econômico, jurídico, ideológico, etc. em que se encontra este público acabará por determinar o teor da reportagem.O teórico Frank Esser (1998) nos traz um novo olhar sobre os fatores que influenciam o fazer jornalístico. Segundo o próprio autor, “[...] a questão dos fatores de influência no jornalismo ainda é pouco pesquisada.” (ESSER apud ZIPSER, 2002, p. 21, trad. nossa). Assim, a proposta de Esser vem estabelecer novos parâmetros para a análise cultural do fazer jornalístico. Tendo em vista que o jornalismo é uma instituição que influencia a sociedade e é, ao mesmo tempo, formada por ela, temos que levar em conta que os valores culturais desta sociedade estarão imbricados no resultado desta atividade: o texto jornalístico, televisivo, impresso, radiofônico, online. É nesse aspecto que se pauta a pesquisa de Esser, segundo o próprio autor: O ponto de partida dessa direção de pesquisa (e também deste trabalho) é o reconhecimento de que o jornalismo de cada país é marcado pelas condições emoldurais sociais gerais, por fundamentos históricos e jurídicos, limitações econômicas, bem como por padrões éticos e profissionais de seus agentes. (ESSER apud ZIPSER, 2002, p. 21, trad. nossa. Grifo nosso). Como reitera Esser, são os elementos externos, definidos como condições sociais, fundamentos históricos e jurídicos e limitações econômicas, e os elementos internos, que abrangem os padrões éticos e profissionais dos agentes do fazer jornalístico, que definem o jornalismo exercido em cada país. Assim, o fazer jornalístico acontece de modo particular de acordo com a cultura em que se insere, e para o qual é feito. O jornalismo exercido no Brasil não poderá constituir-se do mesmo modo que a atividade jornalística em Portugal, por exemplo, visto que o contexto cultural para o qual as notícias são emolduradas e publicadas é diferente em cada país. Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 113 Gragoatá Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio Os fatores de influência mencionados por Esser vão desde a esfera social até a esfera subjetiva, passando pela esfera institucional e pela estrutura da mídia. A forma como organiza estes fatores é explicada pelo próprio autor no seguinte trecho: Houve várias tentativas de identificar e classificar esses fatores de influência. Uma maneira simples de classificação desses fatores de influência é a ‘metáfora da cebola’. Comparamos o jornalismo - retomando a ideia de Maxwell McCombs - com uma cebola, sendo que cada camada da cebola representa um fator de influência do fazer jornalístico. (ESSER apud ZIPSER, 2000, p. 21, trad. nossa). Deste modo, Esser apresenta os elementos que julga influenciar o jornalismo em um gráfico (Fig. 1) constituído por quatro camadas no formato de uma cebola, que ele chama de modelo pluriestratificado integrado, no qual a camada externa abriga as camadas internas em um processo de inclusão e influência. Figura 1 - Fatores de influência no jornalismo: modelo pluriestratificado integrado (ESSER - 1998) 114 Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural Na camada externa Esser apresenta a esfera social, definida por ele como moldura histórico-cultural. É nessa camada que se encontram os valores culturais da sociedade referentes à imprensa e ao próprio jornalismo, os valores e as condições determinantes da esfera político-social. Interior a esta camada encontra-se aquela destinada à esfera da estrutura da mídia, onde entram as condições econômicas e jurídicas da mídia, os valores éticos, os sindicatos, as associações e o sistema de formação do jornalista. Na esfera institucional, de nível organizacional, estão as estruturas do veículo, da redação e da editoração, os procedimentos de trabalho e as tecnologias de redação. A camada interna é atribuída aos níveis individuais, na esfera subjetiva. São os fatores de formação individual, como os valores subjetivos e a postura política. Envolve também a profissionalização do jornalista e sua posição demográfica. Como podemos observar, as camadas apresentam-se em uma relação de interação e influência mútua entre si. Os fatores ganham força na medida em que atuam em conjunto, e não como elementos isolados. Isto é reiterado pelas palavras de Esser (apud ZIPSER, 2002, p. 26, trad nossa): Os vários níveis encontram-se numa estreita relação de interação, influenciam-se reciprocamente, nenhum fator atua isoladamente, mas desenvolve sua influência somente em conjunto com as demais forças. As quatro esferas moldam o fazer jornalístico. Ao mesmo tempo em que os elementos subjetivos não se manifestam sem que sejam filtrados pelas camadas posteriores, os elementos externos determinam a atuação do indivíduo, em nível subjetivo. Isto significa que o texto jornalístico é confeccionado com todos esses elementos alinhavados. De modo semelhante, e em analogia à proposta teórica de Nord mencionada no item anterior, a atividade tradutória também traz em si elementos externos e internos que se influenciam mutuamente e que formam o texto traduzido. As duas atividades são processos que acontecem em movimentos circulares, trazendo em si influência de seus elementos constitutivos e chegando ao leitor final, mas não terminando nele: por vezes faz-se necessário voltar às etapas iniciais do processo para rever os caminhos percorridos e os resultados alcançados. Resultados de diversas filtragens, tanto o texto jornalístico quanto a tradução podem ser considerados prospectivos, já que visam atingir seus respectivos leitores. Como afirma Zipser (2002, p. 45-46): “Assim como na tradução, somente o destinatário – o leitor – fecha o círculo de produção e recepção do texto jornalístico.”. Podemos considerar que o leitor, ao lado de todos os fatores que influenciam o fazer jornalístico, é peça importante na determinação das escolhas sobre o que vai ou não ser tratado Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 115 Gragoatá Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio em uma reportagem. Essas seleções é que determinam o enfoque dado pela reportagem sobre um fato. Nas palavras de Gomes (2000, p. 83): “A seleção feita deixa de lado não só acontecimentos, aos quais não se deu atenção [...], mas também os enfoques possíveis.” Embora muitas vezes o enfoque priorizado por veículos da mídia não fiquem explícitos, o cotejo entre reportagens de diferentes meios pode nos indicar mais claramente o viés tomado por este ou aquele texto, ou seja, como se construíram as diferentes traduções de um fato. A interface tradução/jornalismo: possibilidade de diálogos Podemos observar diversas semelhanças nas cadeias formadoras das atividades jornalística e tradutória. Tendo como base, no campo da tradução, a proposta funcionalista de Christiane Nord, e a teoria de Frank Esser sobre os fatores de influência do fazer jornalístico, podemos constatar que existem elementos análogos que, como intencionamos mostrar, aproximam as duas atividades, tidas usualmente como distintas. Por excelência, a tradução traz como eixo principal o texto-fonte, sem o qual não teria razão de ser. Enquanto isso, o jornalismo acontece por haver, necessariamente, um fato sobre o qual noticiar. De um lado, temos fatores externos que interagem e se integram na formação tanto da atividade jornalística quanto tradutória; de outro, fatores internos que, filtrados pelos elementos externos, marcam os resultados das duas atividades. Por fim, temos o leitor, que completa o ciclo comunicativo, e que por esta razão influencia o direcionamento do texto final, fechando o ciclo formado na intercomunicação entre texto/fato e leitor. Assim, podemos concluir que existem paralelos entre o fazer jornalístico e a tradução. Se, para existir, a tradução precisa partir de um texto-fonte, e o jornalismo necessita de um fato, podemos dizer que é semelhante a relação entre tradutores e jornalistas em relação às suas respectivas matérias-primas. Acrescentando o leitor nessa linha, o texto-fonte depende da tradução para que chegue a determinado público, do mesmo modo que o fato precisa ser noticiado para que alcance o leitor. Sendo assim, concordamos com a afirmação de Zipser (2002, p.45), segundo a qual “[...] podemos definir o trabalho da escritura do texto jornalístico como sendo uma ‘tradução’ prospectiva do fato noticioso, por excelência.” Deste modo, o fazer jornalístico passa a ser tradução de fatos culturalmente representados na cultura de chegada, e não apenas transmissor direto e imparcial entre fato e leitor. Considerações finais Respeitando a proposta inicial deste artigo, chegamos ao final desta discussão mostrando a abrangência da tradução 116 Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 Tradutor jornalista ou jornalista tradutor? A atividade tradutória enquanto representação cultural dos fatos no jornalismo, da mesma forma que a tradução de textos – as ideias – transita entre as línguas e culturas. Ambas as especialidades buscam trabalhar voltadas para seu leitor, usando de estratégias que passam a ser pertinentes para toda esta movimentação, seja no jornalismo ou na tradução. A adequação dos caminhos a serem escolhidos pelo jornalista, ou pelo tradutor, entram em confluência muito antes do que se imagina ou se pressupõe, quando em análises menos abrangentes. Partir da interface entre tradução e jornalismo acrescenta-nos novas possibilidades de entendimento das atividades tradutórias e jornalísticas. Aproxima profissionais, facilita caminhos de trabalho. Enriquece a prática e sensibiliza a discussão. Abstract This article aims to present the translational activity within the journalistic field, establishing the interface proposed by Zipser (2002) in which the journalist becomes a translator of facts, above all. Based, on the one hand, on Nord’s functionalist proposal (1991) to contemplate the translation concept, and, on the other, on Esser’s model (1998), which organizes the constitutive factors of journalism, we intend to show how a piece of news is prospectively constructed, i.e., from a source fact forward its reader. Keywords: translation; journalism; cultural representation; nordian functionalism. Referências BORNSTEIN, Juan Carlos Lago. El descubrimiento del otro. Una reflexión filosófica sobra la tradución y la interpretación. Madrid, 2001. Disponível em: http://www.filosofiaparaninos.org/Documentos/otros.htm. Acesso em: 25 mar 2011. ESSER, Frank. Die Kraft hinter den Schlagzeilen: Englisher und deutscher Journalismus im Vergleich. München: Verlag Karl Albert GmgH Freiburg, 1998. GOMES, Mayra Rodrigues. Jornalismo e ciências da linguagem. São Paulo: Edusp, 2000. GONÇALVES, José Luiz Vila Real; MACHADO, Ingrid Trioni Nunes. Um panorama do ensino de tradução e a busca da competência do tradutor. In: Cadernos de Tradução, Florianópolis, Brasil. V. 1 n. 17, 2006. Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 117 Gragoatá Meta Elisabeth Zipser e Michelle de Abreu Aio NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Trad. Christiane Nord e Penelope Sparrow. Atlanta: Rodopi, 1991. REISS, K.; VERMEER, H. J. Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Madri: Akal, 1996. VERMEER, H.J. Esboço de uma teoria da tradução. Porto: Edições ASA, 1986. ZIPSER, Meta Elisabeth. Do fato à reportagem: as diferenças de enfoque e a tradução como representação cultural. 2002. 274 f. Tese de Doutorado (Doutorado em Língua e Literatura Alemãs)‑Universidade de São Paulo, 2002. Disponível em: <http://pget.ufsc.br/publicacoes/professores. php?autor=10>. Acesso em: 8 out 2010. 118 Niterói, n. 31, p. 107-118, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática1 Érika Nogueira de Andrade Stupiello Recebido em 01/07/2011 – Aprovado em 01/09/2011 Resumo As transformações experimentadas no mundo globalizado têm gerado o crescimento na produção de informações e a urgência de disseminação das mesmas além fronteiras. Tal fato tem promovido o expressivo aumento da demanda por traduções elaboradas de maneira rápida e segundo padrões de produção específicos. Para atender a essas exigências é cada vez mais comum a aplicação de ferramentas tecnológicas, como programas de tradução automática e sistemas de memórias de tradução. Este trabalho apresenta uma análise das concepções teóricas subjacentes aos projetos dessas ferramentas e discute como a automatização da atividade tradutória interfere diretamente na determinação da responsabilidade final pela tradução. Palavras-chave: tradução; ferramentas de auxílio à tradução; programas de tradução automática; sistemas de memórias de tradução. Este trabalho é parte de minha tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da Unesp de São José do Rio Preto e defendida em março de 2010 (FAPESP, processo no 06/ 60974-5). 1 Gragoatá Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello Introdução Os avanços experimentados nas últimas décadas na área de tecnologias da informação fizeram surgir uma nova lógica industrial, pela qual diferentes sociedades, nas mais remotas partes do mundo e estruturadas em rede graças à internet, têm a oportunidade de intercambiar produtos e serviços, e de se comunicarem de modo virtual e quase instantâneo. Essa inovadora configuração mundial caracteriza-se, segundo Castells (2007, p. 108), pela distribuição do processo produtivo em diferentes locais (pelo fato de a distância não ser mais um empecilho para a comunicação), possibilitada pela estruturação da economia informacional, em que a informação, considerada “matéria-prima” das novas tecnologias, dissemina-se em redes com crescente conectividade nos mais remotos lugares. A expansão da disseminação da informação pela internet impôs novas exigências à prática de tradução, tanto com relação ao crescimento de sua necessidade quanto à diminuição de seu tempo de produção. Segundo a ordem mercadológica atual, o comércio internacional é preferencialmente concretizado se as informações na língua de origem forem oferecidas nas línguas traduzidas concomitantemente ao lançamento do produto. Páginas eletrônicas da internet constituem um exemplo dos tipos de materiais com que lidam os tradutores na contemporaneidade e que, de muitas maneiras, têm influenciado a maneira como a tradução é praticada. Algumas das mudanças vivenciadas na prática devem-se às características dos materiais textuais eletrônicos a serem traduzidos, assim como à maneira como serviços de tradução para esse setor são contratados e, até, realizados. No ensaio “Technology and Translation”, Biau Gil e Pym (2006) discutem algumas das mudanças vividas pelo tradutor em seu trabalho como resultado dos avanços tecnológicos e do processo de globalização. A mais importante delas, segundo os autores, seria o próprio formato dos textos a serem traduzidos, em sua maioria em meio eletrônico, sem delimitação de início ou fim e em constante processo de atualização. Para esses teóricos, a tradução na contemporaneidade, “torna-se mais um trabalho com banco de dados, glossários, e uma série de ferramentas eletrônicas, no lugar de textos de origem completos e definitivos” (p. 6). Entre as ferramentas mencionadas pelos autores estariam os dicionários e glossários eletrônicos, a própria internet (como instrumento de pesquisa), os programas de tradução automática e os sistemas de memórias de tradução. Essas ferramentas seriam representativas dos avanços tecnológicos no campo da tradução e de mudanças na maneira como clientes e tradutores se comunicam (internet), no modo como produções anteriores do tradutor são recuperadas e rea120 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática proveitadas (os bancos de dados terminológicos, os programas de tradução automática, os sistemas de memórias de tradução) e nos textos, considerados por Biau Gil e Pym como “arranjos temporários de conteúdos” (p. 6). A fim de alcançar a padronização e a execução de traduções ao ritmo comercial, ferramentas tecnológicas de tradução, como programas de tradução automática e sistemas de memórias de tradução, são cada vez mais adotados por agências prestadoras de serviços de tradução e tradutores que atuam em mercados como o da localização que, segundo Cronin (2003, p. 13), promoveu um “crescimento substancial na indústria de tradução nas últimas duas décadas”. Ao contrário da tradução automática, o desenvolvimento dos primeiros sistemas de memórias de tradução foi, desde o início, visto com entusiasmo por tradutores que, até então, opunham-se à subserviência à máquina. Diversos trabalhos na área, produzidos tanto por estudiosos quanto pelos próprios tradutores-usuários desses programas – entre eles, Pym (2003), Pym et al (2006), Pérez (2001), Craciunescu et al (2004) e, no Brasil, Nogueira e Nogueira (2004) – são bastante enfáticos ao afirmarem e ilustrarem o ganho de eficiência que os sistemas de memórias promovem no trabalho de tradução. A inovação que os sistemas de memórias de tradução trouxeram consiste, em linhas gerais, na capacidade de recuperação e reaproveitamento de traduções já realizadas. O tradutor contaria com um recurso de grande auxílio na manutenção da padronização terminológica, podendo resultar em economia de tempo em trabalhos muito extensos e desenvolvidos em equipe. Aludindo às potenciais vantagens que o emprego dos sistemas de memórias podem gerar, alguns teóricos e tradutores chegam, até mesmo, a atestar a imprescindibilidade da adoção e do domínio do uso desses sistemas para o tradutor profissional manter-se no mercado de trabalho (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004). Este trabalho apresenta uma análise dos pressupostos teóricos que sustentam projetos atuais de programas de tradução automática e as aplicações dos sistemas de memórias de tradução, ambas ferramentas que têm promovido mudanças definitivas no modo como o tradutor lida com o texto que traduz e, por extensão, na maneira como sua atuação é concebida por quem contrata seu trabalho no mercado contemporâneo global. Considerando-se as diversas condições que impostas ao trabalho do tradutor que faz uso dessa ferramenta, convida-se a uma reflexão sobre os limites da responsabilidade tradutória na contemporaneidade. Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 121 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello De uma nova concepção de tradução automática como uma ferramenta de produtividade à sua integração às estações de trabalho do tradutor Uma das formas de reduzir o tempo de elaboração de uma tradução e, ilusoriamente, eliminar os efeitos da intervenção humana na comunicação que se supõe transparente, seria pela instrumentalização do trabalho do tradutor, com o intuito de aumentar seu desempenho pela restrição do tempo de contato com o material a ser traduzido. Essa situação é particularmente reveladora do cenário em que a tradução é praticada na era da globalização. A instantaneidade da transmissão eletrônica de informações ganha primazia sobre o tempo de elaboração e revisão do material textual que circula em meio eletrônico. A retomada das pesquisas e a recuperação dos investimentos em programas de tradução automática representa, no contexto contemporâneo, uma tentativa de atender à demanda criada pelo mercado eletrônico de produção de documentação instaurado na internet que, como tudo que trafega na rede, tem por característica principal a transitoriedade do que nela se disponibiliza. A ideia de que a automação poderia conduzir a traduções estilisticamente imperfeitas, mas capazes de conferir acesso a um conteúdo em uma língua estrangeira depositado no texto de origem e nele mecanicamente decifrável mostra-se prevalente na literatura e nas propostas de projetos de tradução automática nas últimas décadas. Por essa visão, textos traduzidos de maneira automática atenderiam a duas necessidades “diferentes” que, como relata Hutchins (2007), determinariam o emprego ou não do tradutor especificamente para o trabalho de revisão ou “pósedição” da produção da máquina: existem basicamente dois tipos de demanda. Há a necessidade tradicional de traduções de qualidade “publicável”, particularmente a produção de documentação multilíngue para grandes empresas. Aqui a produção dos sistemas de tradução automática pode economizar tempo ao oferecer esboços de traduções que são depois editadas para publicação - esse modo de uso denominado tradução automática auxiliada por humanos (HAMT). Entretanto, o que é frequentemente necessário não é uma versão “perfeitamente” exata, mas algo que possa ser produzido rapidamente (às vezes, imediatamente), que transmita a essência do original, embora gramaticalmente imperfeito, lexicalmente desajeitado e estilisticamente grosseiro. Este é, em geral, denominado “tradução automática para assimilação”, em contraste com a produção de traduções de qualidade publicável, conhecidas como “tradução automática para disseminação”. (HUTCHINS, 2007, p. 1, minha tradução) Observa-se, pelo relato de Hutchins, que em ambas as demandas por tradução que enumera, os sistemas automáticos atuam como realizadores efetivos do trabalho de tradução, seja 122 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática acelerando a conversão de significados de textos estrangeiros para as línguas traduzidas com fins de publicação, seja oferecendo uma “versão” que, embora com reconhecidas restrições na forma, apresentaria “a essência do original”. Somente em situações que uma tradução fosse encaminhada para publicação, o tradutor atuaria como coadjuvante ao trabalho da máquina, restritamente na adequação da forma de apresentação de um significado já recuperado de sua origem. No entanto, por um outro ângulo, é possível afirmar que o olhar humano está sempre presente, em ambas as situações de aplicação de automação. Na tradução para “assimilação”, o sentido da produção automática só é conferido pela interpretação humana que constrói o significado não obstante “gramaticalmente imperfeito, lexicalmente desajeitado e estilisticamente grosseiro”. Na produção para disseminação, o trabalho humano (nesse caso específico, do tradutor) seria muito mais abrangente do que a pós-edição da tradução automática. Sua atuação estende-se à elaboração do sentido conferido à produção automática para a devida conciliação entre o mecânico e a elaboração textual. A concepção contemporânea da função da tradução automática ganha, pelo discurso de Hutchins, uma nova “roupagem”, propositalmente mais aprazível aos críticos de outrora, porém ainda comprometida com os ideais primeiramente concebidos e perseguidos para a máquina. O anseio, por muito tempo gerado pelos projetos em tradução automática, da possibilidade de substituição do tradutor concede lugar à imagem de que esses sistemas são capazes de atuar com maior eficácia como “ferramentas de produtividade” para o tradutor (HUTCHINS, 2007). Levada às últimas consequências, essa aparente mudança de postura em relação aos sistemas tradução automática revela transformações na produção e na recepção de textos assim traduzidos. Na produção de textos com fins de “disseminação”, o reconhecido fracasso de se adaptar a máquina à expressividade das línguas tem, na era contemporânea, promovido esforços no sentido de adequar e controlar a língua de origem para possibilitar a aplicação de processamento automático. Em textos destinados à “assimilação” de informações, a recepção de materiais traduzidos automaticamente também é influenciada na medida em que a expectativa com relação à produção da máquina restringe-se ao fornecimento das informações “contidas” no texto. Usuários de sistemas automáticos para ter acesso ao conteúdo de origem contentam-se em “extrair o que precisam saber de uma produção [traduzida] não editada. Preferem ter uma tradução, por mais precária que seja, do que nenhuma tradução” (HUTCHINS, 1999, p. 2). A crença na capacidade de a máquina extrair palavras e construções frasais do texto de origem e transpô-las para outra língua, por mais incoerente que seja o texto assim elaborado Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 123 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello ao usuário, tem estimulado o desenvolvimento de sistemas comerciais de tradução para uso em computadores pessoais. O acelerado ritmo atual da comunicação eletrônica favorece a automação na medida em que exige, em contrapartida, resposta quase instantânea a tudo que é produzido, independentemente das línguas envolvidas. Desde sua criação, a internet tem sido um grande estímulo ao desenvolvimento e à aplicação de sistemas automáticos específicos para tradução de páginas e documentação eletrônicas. Especialmente em uma era em que a maior parte da comunicação realiza-se em rede e em tempo real, a aplicação da automação é favorecida por oferecer a promessa de resultados rápidos que, conforme consta na literatura da área, requereriam unicamente edição posterior. Para Cronin (2003), o próprio meio eletrônico em que a comunicação se estabelece acaba impondo prazos cada vez menores para o constante processo de revisão e atualização de textos e informações em formato eletrônico, promovendo, em consequência, mudanças no modo como esses materiais são recebidos, lidos e, até, respondidos. Conforme argumenta, se a pressão em uma economia informacional e global é para obter informações o mais rápido possível, então a função de informar os pontos principais torna-se suprema na tradução, uma tendência que pode ser incentivada pela “ausência de peso” das palavras na tela com sua existência evanescente. (CRONIN, 2003, p. 22, minha tradução) Cronin relaciona as características atuais da composição de materiais escritos em formato digital à adoção da tradução automática por um número progressivo de usuários da internet que, como afirma, estão mais dispostos a aceitar traduções automáticas, mesmo que consideradas de “baixa qualidade”, não somente pela gratuidade dos programas oferecidos na rede, mas, principalmente, devido ao “status efêmero do mundo eletrônico” e da produção textual que nele circula (p. 22). Apesar da grande oferta de programas de tradução on-line, a aplicação da automação no contexto comunicativo e digital contemporâneo não constituiria, segundo Hutchins (2007), uma influência negativa para a demanda e a contratação de tradutores humanos. Ao contrário, o desenvolvimento e a aplicação desses sistemas estariam criando novas oportunidades de atuação para esses profissionais, pois, como argumenta, na medida em que a máquina os mune de recursos para traduzir e atualizar documentações extensas e repetitivas, como manuais técnicos e informações em bancos de dados, o tempo de trabalho humano também seria reduzido, possibilitando a dedicação a novos trabalhos. 124 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática Por outro lado, o crescente emprego da automação para atender à demanda de “disseminação” designada por Hutchins tem delineado um novo perfil para o tradutor contemporâneo, que passa a ser contratado basicamente como um encarregado de revisar a produção automática para publicação. A revisão, basicamente entendida como uma etapa de trabalho que se segue ao de tradução, passa a ter uma característica peculiar em textos traduzidos de forma automática. O tradutor encarrega-se de avaliar e adequar um trabalho que tem por vantagem a rapidez de conclusão e, supostamente, a precisão e padronização terminológica. A supervalorização desses atributos desconsidera o fato de um texto tido por “técnico”, como manuais, não ser constituído apenas por termos especializados (os quais são armazenados na memória do programa e dela recuperados de forma imbatível), mas, em uma frequência muito maior, por palavras de uso corrente, consideradas não-técnicas. Na construção do sentido, o trabalho de revisão elaborado pelo tradutor envolve necessariamente a tradução dessas ocorrências e sua adequação aos termos traduzidos de forma automática. Denominado “pós-edição”, o trabalho do tradutor é, em mais esse segmento, desvalorizado. Uma situação que evidencia o emprego de tradutores especificamente para a tarefa de revisão da tradução automática de textos técnicos é constatada em empresas transnacionais, como fabricante de máquinas e equipamentos para construção Caterpillar. De acordo com um estudo de caso elaborado por Lockwood (2000), essa empresa foi a pioneira na implantação de regras de controle de redação de seus textos de origem (manuais) para aplicação de automação na tradução desse material para as diversas línguas dos países para os quais seus produtos são exportados. Conforme relata, mais da metade da produção de equipamentos para construção da Caterpillar é voltada a países emergentes, onde a empresa opera por meio de representantes e distribuidores, por isso, “fornecer informações sobre um produto nas línguas locais é uma questão estratégica para a Caterpillar” (LOCKWOOD, 2000, p. 188). Os esforços de produção no estágio de pré-edição (ou redação) dos textos de origem concentram-se em reduzir o tempo e os custos de tradução durante a fase de pós-edição, após aplicação da tradução automática. Pode-se inferir, com base no relato de Lockwood (2000), que a aplicação da automação acelera a produção da tradução por sua capacidade de comparar e recuperar termos técnicos e, nos casos de autoria controlada do texto de origem, frases e expressões recorrentes. Por outro lado, não fica nítido o limite que separa o trabalho de tradução automática e de pós-edição humana, este considerado somente um estágio de adequação e revisão daquele. Entretanto, não são estanques os trabalhos de tradução e revisão textual, ainda que a tradução tenha sido automatizada. Ao revisar a produção da máquina, o tradutor Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 125 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello traduz e confere sentido a determinado texto de acordo com sua interpretação da tradução automática e com a imagem formada do público-alvo de seu trabalho. No entanto, como mostra a prática e relata a literatura, a mudança no papel atribuído ao tradutor, de controlador do estilo e do conteúdo da tradução para a de ator coadjuvante e submisso às restrições da produção automática, requer o desenvolvimento de novas habilidades em seu trabalho. Entre elas, estaria a incorporação de recursos eletrônicos que o auxiliem na elaboração da tradução final. Alguns desses recursos foram propostos muito antes das ferramentas atualmente conhecidas envolvendo controle da produção de origem para a tradução automática. No início da década de noventa, tendo em vista a insatisfação de alguns pesquisadores com relação às restrições experimentadas no emprego da automação, algumas ferramentas de auxílio ao tradutor começaram a ser reunidas em “estações de trabalho” (translator’s workstation ou translator’s workbench). Como relata Somers (2003), o pesquisador e professor da Brigham Young University nos Estados Unidos, Alan Melby, propôs a integração de várias ferramentas em diferentes níveis para o que denominava de “estação de trabalho do tradutor”: um primeiro nível com processadores de texto e ferramentas de telecomunicação e gerenciamento terminológico, um segundo incluindo pesquisa automática em dicionários eletrônicos e acesso a um banco de dados com traduções anteriores e um terceiro, com ferramentas mais sofisticadas de tradução, inclusive um sistema de tradução automática. Pelo projeto de Melby, nessas estações, implementadas e disponibilizadas ao mercado à medida que fossem sendo desenvolvidas técnicas mais sofisticadas de linguística computacional, o tradutor assumiria “função central” no processo tradutório e na operação dos recursos a ele disponíveis (p. 14). Um dos recursos mais utilizados nas estações de trabalho do tradutor é aquele de compilação e gerenciamento de dados terminológicos. Os “bancos de dados terminológicos”, como são denominados na literatura da área, reúnem entradas com informações sobre termos e os conceitos que representam, podendo informar a definição de um termo, seus contextos de uso, termos considerados “equivalentes” em outras línguas, ou instruções gramaticais (BOWKER, 2003, p. 50). Desde o início, os bancos de dados terminológicos foram recebidos de maneira bastante positiva, principalmente por tradutores atuando em áreas específicas do conhecimento, seja de maneira autônoma para diversos clientes ou contratados exclusivos de uma indústria ou organização governamental que empregam estratégias de controle da composição original. No final da década de oitenta, bancos de dados começaram a 126 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática ser empregados para a pesquisa terminológica para a tradução, especialmente com o aprimoramento dos recursos dos processadores de textos e com base nas primeiras propostas de reunião e organização de conjuntos bilíngues de trabalhos anteriores que pudessem oferecer meios de dinamizar a produção de novas traduções ao evitar o retrabalho com trechos de textos já traduzidos. A aplicação dos recursos de pesquisa em conjuntos de textos de origem e traduções, materializada nos atualmente conhecidos “sistemas de memórias de tradução”, é tratada no próximo item. Sistemas de memórias de tradução como instrumental na recuperação da produção tradutória A ideia de elaboração de um “arquivo de traduções” foi inicialmente proposta por Peter Arthern em um trabalho apresentado durante uma rodada de discussões, no final da década de setenta, sobre o uso de sistemas terminológicos computadorizados pelos serviços de tradução da então denominada Comissão Europeia. Naquela ocasião, sua principal argumentação foi a de que a maior parte dos textos produzidos pela Comissão seriam “altamente repetitivos”, frequentemente citando passagens inteiras de documentos anteriormente traduzidos, o que gerava grande desperdício de tempo e recursos alocados para o departamento de serviços de tradução. A proposta de Arthern consistia no armazenamento de todos os textos de origem e suas traduções de forma que esses textos pudessem ser recobrados e inseridos em novas traduções. Conforme detalha, o pré-requisito para implementar minha proposta é que o sistema de processamento de texto tenha um depósito suficientemente grande para a memória central. Se isso estiver disponível, a proposta é simplesmente que a organização em questão deve armazenar na memória do sistema todos os textos produzidos, juntamente com suas traduções no número de línguas que for solicitado. Essa informação teria que estar armazenada de modo que qualquer trecho de texto em qualquer uma das línguas envolvidas pudesse ser localizado imediatamente... juntamente com sua tradução... (ARTHERN, 1979, apud HUTCHINS, 1998, p. 293, minha tradução) As ideias de Arthern ganhariam repercussão um ano mais tarde, em uma publicação de Martin Kay considerada seminal à discussão sobre o papel da automação na tradução, denominada The proper place of men and machines in language translation [O lugar adequado dos homens e das máquinas em tradução] (1980/1997). Em seu trabalho, Kay, pesquisador de tecnologias da empresa Xerox em Palo Alto (Califórnia), vê com descrença os rumos na época tomados pelas pesquisas em automação, que se focavam no desenvolvimento de sistemas que buscassem Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 127 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello eliminar a intervenção humana ou que relegassem ao tradutor por definitivo a função de pós-edição da produção automática. Sua argumentação seria a de que “a eficiência de um sistema de tradução, como qualquer outro, deve ser avaliado em todos os seus componentes: humanos e mecânicos” (KAY, 1997, p.11). A principal diferença do sistema proposto por Kay em relação aos programas automáticos seria a de que, nele, o tradutor teria participação ativa durante o processo de tradução. Sua ideia partia das ferramentas encontradas em processadores de texto, como os recursos de busca e consulta a dicionários, que realizariam as funções selecionadas pelo tradutor no texto de origem e em sua tradução, dispostos e visualizados lado a lado na interface do sistema. O resultado seria uma produção assistida, porém, “sempre sob o controle rígido do tradutor, [...] para ajudar a aumentar sua produtividade e não para suplantá-lo” (1997, p. 20). Desde as primeiras propostas de implementação de memórias de tradução, os diversos tipos de sistemas comercializados constituem bancos de dados terminológicos e fraseológicos que, formados a partir de segmentos de texto original e pareados com suas respectivas traduções, são passíveis de reutilização em trabalhos posteriores. Os bancos de dados formados por segmentos do texto de origem e de sua respectiva tradução obedecem a uma organização baseada em percentuais de correspondência entre eles. O reaproveitamento de segmentos anteriormente traduzidos, ainda que possam ser inseridos em uma pré-tradução de um novo texto de maneira automática, depende, para sua eficaz aplicação, da constante intervenção do tradutor, embora, em muitos casos, essa interferência seja restringida pelo contratante dos serviços de tradução. Consideradas ferramentas eletrônicas de auxílio ao tradutor, as memórias têm sido abordadas na literatura da área como eficientes recursos em trabalhos com textos extensos e com grande número de repetições terminológicas e fraseológicas, como na tradução de textos em meio eletrônico, manuais técnicos, atualizações de traduções de um mesmo material e, em especial, no trabalho de localização. Segundo Esselink (2000), desde a década de noventa a indústria da localização é o segmento que mais utiliza ferramentas de auxílio à tradução, em especial, sistemas de memórias de tradução. Uma vez que a maior parte de projetos de localização exige atualizações constantes de materiais traduzidos, quase sempre em prazos escassos, as memórias constituem uma forma de reaproveitar trabalhos anteriores e possibilitar a normalização do trabalho, especialmente quando executado em grandes equipes de tradutores, uma situação bastante comum nessa indústria. 128 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática O formato dos textos produzidos e circulados em meio eletrônico não só possibilitou a introdução e a aplicação de sistemas de memórias de tradução, como também tem contribuído para o aumento do volume de textos a serem traduzidos. Como explicam Biau Gil e Pym (2006), “em alguns setores, o uso de ferramentas de memórias de tradução acelerou o processo tradutório e diminuiu os custos, e isso levou a um aumento na demanda por serviços de tradução” (p. 8). O argumento de que a adoção das memórias tem promovido a expansão da procura por traduções repercute também, conforme abordado no item anterior, no modo como o emprego a tradução automática é concebida na contemporaneidade, já não mais como uma ameaça à substituição do tradutor, mas um adjunto importante na realização de tarefas repetitivas, como traduções de trechos recorrentes de textos. Em outro aspecto, se os sistemas de memória não ameaçam tomar o espaço do tradutor certamente têm demonstrado o poder de transformar a maneira como este traduz. Como explicam Biau Gil e Pym, as memórias de tradução mudam a maneira como os tradutores trabalham. Se um banco de dados de uma memória é fornecido, espera-se que sejam seguidas a terminologia e a fraseologia dos pares segmentados incluídos nesse banco, em vez de se compor um texto com decisões terminológicas e estilo próprios. (BIAU GIL; PYM, 2006, p. 9, minha tradução) A utilização dos recursos desses sistemas, seja por escolha do tradutor, por critérios impostos pelo cliente ou por ambas as situações, só é eficaz se forem respeitadas as opções terminológicas ou fraseológicas armazenadas na memória, delimitando consideravelmente o espaço para as escolhas pessoais do tradutor. A prescrição de normas de utilização das memórias de tradução firma-se na expectativa de que a subserviência do tradutor ao banco de dados, em geral fornecido quando a tradução é contratada, tornaria a tradução sempre melhor elaborada e mais coesa. Essa ideia seria sustentada especialmente em casos de vários tradutores trabalhando em um mesmo projeto, ou quando existe um grande número de documentos a serem traduzidos em prazos limitados e com construções linguísticas repetitivas. O reaproveitamento de traduções passadas como ferramenta para o início de um novo trabalho é o principal atributo dos sistemas de memórias, divulgado na literatura como uma forma de “alavancagem” de um novo trabalho de tradução. A pressuposição de um grau considerável de repetições no texto de origem, bem como a recorrência de expressões e frases em trabalhos posteriores de uma mesma área, constituiria o principal atrativo dos sistemas de memória. Segundo esse pensamento, os Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 129 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello sistemas de memórias de tradução representariam um avanço na maneira como os tradutores aproveitam trabalhos anteriores que, no passado, eram muitas vezes armazenados em diversos arquivos e sem critérios definidos, o que dificultava sua recuperação e reutilização. Mesmo com os recursos de arquivos eletrônicos, a busca por traduções anteriores, conjugadas com seus respectivos originais, poderia ser desestimulante ao tradutor por tomar demasiado tempo, fazendo com que este optasse, na maioria das vezes, por elaborar uma tradução sem uma consulta aproveitável a trabalhos anteriores. A certeza de uma reocorrência organizada de expressões “iguais” ou “repetidas” faz-se como grande promessa ao consequente aumento de desempenho que os sistemas de memórias de tradução alegam proporcionar. À primeira vista, a possibilidade de reaproveitamento de traduções anteriores pode ser bastante animadora, tanto para clientes como para os próprios tradutores. Por parte das empresas que necessitam de grandes volumes de tradução, a urgência de redução de custos exerce grande pressão para o emprego dos sistemas de memória, uma vez que se espera que a produção de uma tradução almeje também munir o banco de dados com mais segmentos pareados para aproveitamento posterior. Em trabalhos de tradução executados com auxílio de memórias, duas práticas podem ser consideradas comuns para a compilação de bancos de dados de palavras e segmentos pareados a partir do texto original e da tradução, ambas com seus desdobramentos. A primeira ocorre quando o cliente fornece um banco de dados com termos, frases e expressões de traduções anteriores armazenados no decorrer de outros trabalhos, muitas vezes, realizados por diversos tradutores. A segunda sucede quando tradutores compartilham entre si suas memórias, em um esforço integrado e convencionado entre eles para incrementar seus bancos de dados e ganhar competitividade em relação à maciça quantidade de dados terminológicos acumulados pelas agências de tradução e localização. O emprego do banco de dados, provindo de quem contrata uma tradução pode gerar conflitos porque, na maioria das vezes, os segmentos reaproveitados da memória do cliente não são remunerados, pois se acredita que a tarefa do tradutor restringese a localizar e transferir essas opções armazenadas e inseri-las na tradução. Conforme revela Weininger (2004), o tradutor não recebe nada para a revisão e adaptação do material encontrado apesar de ser muitas vezes bastante necessária, principalmente por dois fatores: a) o segmento idêntico no nível de frase provém de outro contexto, e b) há erros de todos os níveis (ortográficos, sintáticos, semânticos, terminológicos). (WEININGER, 2004, p. 255) 130 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática O não pagamento do tradutor por ocorrências recuperadas da memória de tradução é consequência do não reconhecimento da releitura que o trecho transferido pelo sistema exige do tradutor, seu trabalho de adequação do segmento recuperado ao novo contexto e a reconstrução que efetua do sentido geral da tradução. Já nos casos em que a recuperação é resultante do compartilhamento do banco de dados entre tradutores na expectativa de potenciais ganhos de produtividade, eles próprios podem estar falhando ao deixar de examinar a origem dos termos e segmentos e a adequação dos segmentos traduzidos, sendo difícil, em muitos casos, assegurar a qualidade e a fidedignidade do banco de dados (memória) assim provido. Por essa prática de uso e compartilhamento de memórias, a questão da responsabilidade tradutória parece assumir diferentes dimensões, tornando difícil atribuir ao tradutor a responsabilidade pela produção final de um trabalho. Considerações finais Das diversas ferramentas eletrônicas de pesquisa (glossários, corpora e dicionários on-line) e edição de textos (corretores ortográficos e gramaticais) empregadas para o trabalho de tradução na contemporaneidade, especificamente, os sistemas de memórias de tradução têm sido apresentados como instrumentos essenciais para melhorar o desempenho do tradutor, em particular quando atua em áreas especializadas que requerem, sobretudo, padronização terminológica e fraseológica e rapidez de execução dos trabalhos. Entretanto, ainda que as aplicações de memórias de tradução sejam definidas como diferentes daquelas da tradução automática, por serem controladas pelo tradutor, constata-se que esse controle é ilusório por restringir-se às limitações dos recursos dos próprios sistemas analisados e, em especial, pela preceituação de que o tradutor reaproveite ao máximo os segmentos oferecidos pela memória. Essa instrução, difundida como uma espécie de “fórmula pronta” para aumentar a produtividade, constitui uma forma de controlar o trabalho do tradutor, além de retomar a noção do papel do tradutor como recuperador de significados, encarregado de reciclar e editar segmentos pré-traduzidos em novas traduções. A maneira como a prática de tradução é contratada e conduzida na contemporaneidade com o auxílio de ferramentas como sistemas de memórias relativiza o controle do tradutor sobre sua produção, principalmente por ser praxe exigir que esse profissional ajuste suas escolhas aos segmentos textuais pré-traduzidos com o uso das memórias. A responsabilidade que assume pela produção também se limita à medida que lhe é permitido realizar escolhas e intervir na tradução. Diante dessa constatação, conclui-se que as diferentes circunstâncias Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 131 Gragoatá Érika Nogueira de Andrade Stupiello de produção de uma tradução, que implicam diferentes graus de envolvimento do tradutor com o trabalho, devem ser consideradas no estabelecimento dos limites dessa responsabilidade. Abstract Transformations in the globalized world have promoted the growth in the production of information and the urgency of its dissemination beyond borders. Such fact has led to the significant increase in the demand for translations delivered at short turnarounds and according to specific production standards. In order to meet such demand, the application of technological tools is increasingly more common, such as machine translation programs and translation memory systems. This paper analysis the theoretical conceptions implicit in the projects of these tools and discusses how the automation of the translation activity directly interferes with the determination of the final responsibility for the translation. Keywords: translation; translation-aid tools; machine translation programs; translation memory systems. Referências BIAU GIL, J. R.; PYM, A. Technology and translation (a pedagogical overview). In: PYM, A., A., PEREKRESTENKO, A., STARINK, B. Translation technology and its teaching. Tarragona, Espanha, 2006. Disponível em <http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/ technology_2006/index.htm>. Acesso em: 22 jun. 2006. BOWKER, L. Terminology tools for translators. In: ______ (Ed). Computers and translation: a translator’s guide. Amsterdam: John Benjamins, 2003. CASTELLS, M. A sociedade em rede. Trad. Roneide Venâncio Majer. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. CRACIUNESCU, O; GERDING-SALAS, C; STRINGERO’KEEFFE, S. Machine translation and computer-assisted translation: a new way of translating? Translation Journal. v. 8, n. 3, jul. 2004. Disponível em: <http://www.accurapid.com/journal>. Acesso em: 15 mai. 2006. CRONIN, M. Translation and globalization. London: Routledge, 2003. ESSELINK, B. A practical guide to localization. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 132 Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 A concepção de ferramentas de tradução como dinamizadoras da produção tradutória e seus reflexos para a prática HUTCHINS, W. J. The origins of the translator’s workstation. Machine Translation. v. 13, n. 4, p. 287-307, 1998. ______. The development and use of machine translation systems and computer-based translation tools. Proceedings of the International Conference on Machine Translation & Computer Language Information Processing, Beijing, June 26-28, 1999. p. 1-16. ______. Machine translation: a concise history. 2007. Disponível em: <http://www.hutchinsweb.me.uk/CUHK-2006.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2007. KAY, M. The proper place of men and machines in language translation. Machine Translation. n.12 (1-2), p. 3-23, 1997. LOCKWOOD, R. Machine translation and controlled authoring at Caterpillar. In: Sprung, R. C. (Ed.). Translating into Success: cutting-edge strategies for going multilingual in a global age. v. 6, ATA Scholarly Monograph Series, 2000. p. 187-202. NOGUEIRA, D.; NOGUEIRA, V. M. C. Por que usar programas de apoio à tradução? In: ROCHA, M. et al. (Org.). Cadernos de Tradução, Florianópolis, v. 2, n. 14, p. 17-35, 2004. PÉREZ, C. R. From novelty to ubiquity: computers and translation at the close of the industrial age. Translation Journal. v. 5, n. 1, jan. 2001. Disponível em: <http://www.accurapid.com/journal >. Acesso em: 14 mar. 2006. PYM, A. What localization models can learn from translation theory. The LISA Newsletter: Globalization Insider. n. 12/2.4. 2003. Disponível em: <http://www.lisa.org/archive_domain/ newsletters/2003/2.4/pym.html>. Acesso em: 20 jan. 2007. SOMERS, H. The translator’s workstation. In: ______ (Ed). Computers and translation: a translator’s guide. Amsterdam: John Benjamins, 2003. p. 13-63. WEININGER, M. J. TM & MT tradução técnica globalizada – tendências e consequências. Cadernos de Tradução, Florianópolis, v. 2, n. 14, p. 243-263, 2004. Niterói, n. 31, p. 119-133, 2. sem. 2011 133 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos José Cândido de Oliveira Martins Recebido em 15/07/2011 – Aprovado em 15/09/2011 Resumo No domínio da ficção, a escrita de autores portugueses contemporâneos revela uma tendência marcante para a reescrita intertextual, num dialogismo concretizado através de vários procedimentos. Nessa gramática intertextual, sobressai uma relação fecunda e descomplexada com a memória e a tradição literárias, por um lado; e por outro, uma atitude manifestamente inovadora: sem experimentalismos tardo-vanguardistas, assiste-se a renovadoras formas de intertextualidade irónica e paródica, reescrevendo e redefinindo as fronteiras da ficção e dos géneros narrativos. Palavras-chave: autores portugueses contemporâneos; ficção; intertextualidade; reescrita; géneros narrativos. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Gragoatá José Cândido de Oliveira Martins 1. Os novos têm memória? Aparentemente, poderíamos pensar que os autores portugueses contemporâneos, sobretudo das gerações mais jovens (que têm publicado as suas obras em finais de Novecentos e início do séc. XXI), no seu propósito – manifesto ou implícito – de marcar a diferença e de assinalar a novidade estética das suas criações, seriam levados a disfarçar ou mesmo apagar a (certa) tradição literária. Sempre existiu, sobretudo em momentos de rutura, esse desejo de estabelecer fraturas, de invento sem imitação, de rompimento com o passado. Com efeito, nada mais natural, se concedermos pertinência a teorias críticas como a de Harold Bloom (1991), quando sustenta a importância central da ansiedade da influência. De acordo com esta visão psicologista, sobretudo os mais jovens autores teriam necessidade de progressivamente se afastar de modelos, de encobrir influências de autores anteriores, de matar o seu pai literário ou de iludir outras modalidades de filiação poético-literária. Porém, mesmo nesta leitura crítica, o encobrimento de filiações e de empréstimos pode deixar rastos e ecos eloquentes. Certa filosofia dita pós-moderna parece também concorrer para este espírito ou mundividência contemporânea: relativização da tradição literária; questionação da existência de um cânone; diminuição ou apagamento da memória cultural. Face a estes tópicos, apenas enunciados, cabe analisar seguidamente, ainda que de modo muito breve e panoramicamente ilustrativo, o modo como alguns autores contemporâneos dialogam com uma tradição literária multissecular, por um lado; e por outro, atentar em algumas das consequências desse dialogismo ao nível da redefinição dos géneros literários no domínio do modo narrativo. Dito de outro modo, é oportuno avaliar de que maneiras (mais ou menos explícitas) se estabelece essa relação intertextual com a biblioteca literária anterior. Nesta matéria, as ausências e os silêncios são quase tão importantes como as presenças e os diálogos expressos. E, ao mesmo tempo, retirar algumas ilações dessa manifesta interação de textos. O nosso ponto é: entre outras funções, no seu afã dialógico e transformador, a intertextualidade é colocada ao serviço da própria renovação dos códigos reguladores dos géneros narrativos e das suas fronteiras. Para esta breve reflexão crítica, escolhemos uma pequena amostra de autores, podendo questionar-se os critérios de seleção deste corpus exíguo, maioritariamente narrativo e algo aleatório. Também é fortuita a escolha de uma ou mais obras de cada um dos autores referidos. Em todo o caso, este breve conjunto de títulos – colhidos dos últimos 15 anos – não deixa de ser representativo, parece-nos, de uma certa perceção crítica: a da existência de uma certa propensão da escrita de jovens autores contemporâneos em Portugal. 136 Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos Como exemplos de cartografias da mais recente literatura contemporânea no campo da ficção, embora não destacando ainda os autores mais jovens, mas traçando um certo mapeamento de tendências, destacam-se vários estudos críticos de referência.1 A par de outras tendências marcantes – da questão da “identidade nacional” aos modos variados de recriação ficcional da História (cf. Marinho, 1999), passando pelo “realismo urbano total” (Real, 2001, p. 120) –, destaca-se aquilo a que podemos chamar de obsessão intertextual, entendida não como mero jogo de alusões e de referências para leitores dotados de alargada enciclopédia literária; mas antes como procedimento essencial da própria reinvenção da literatura. 2. Herança patrimonial Entre outros, cf. as excelentes panorâmicas histórico-críticas de Paula Morão, 1999, p. 176-189; Luís Mourão, 2002, p. 509-536; e de Carlos Reis, 2005, p. 287- 1 Parafraseando Judith Schlanger (2008, p. 15), poderíamos afirmar que nos tem atraído – e procuraremos analisar seguidamente – é o modo como alguns autores portugueses de hoje lidam, conscientemente ou não, com o tema relevante da memória dos livros – pode existir na atual literatura uma tendência(s) ou uma poética(s) sem memória? Ao mesmo tempo, de que funcionalidades se reveste esse diálogo, aparentemente lúdico, com outros textos e géneros? Encetemos essa pequena viagem indagadora sobre o tema enunciado. Vejamos, então, de que modo o passado literário emerge na escrita de alguns atuais jovens autores portugueses breves, através exemplos da presença ou relação com certa herança patrimonial; sem a preocupação de exemplificar sequer uma tipologia das mais frequentes práticas intertextuais. Mas antes norteados para assinalar como esse entrelaçamento intertextual se constitui em espaço de investimento semântico e de inovação ao nível dos géneros narrativos. Em 1997, José Eduardo Agualusa publica Nação Crioula, narrativa epistolar com o mimético subtítulo A correspondência secreta de Fradique Mendes, pondo em confronto epistolar Madame Jouarre, Ana Olímpia e o próprio Eça de Queirós. Partindo da escrita queirosiana e assumindo-se especularmente como ficção de outra ficção, em torno desta figura finissecular do incansável cosmopolita, Agualusa prolonga as virtualidades presentes na ficção do escritor oitocentista, desenvolvendo novos fios narrativos já indiciados na pena de Eça de Queirós. Afinal, como narrado, Carlos Fradique Mendes teve uma misteriosa relação de amor com Ana Olímpia Vaz de Caminha, o que conduz a história em finais do séc. XIX pelas cidades de Lisboa, Luanda, Olinda (Recife) ou Paris. Num jogo mistificador com a obra queirosiana, o viajado dândi português acaba assim por redigir o livro que nem Eça o conseguira convencer a escrever, compondo-se assim uma sedutora efabulação fradi- Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 137 Gragoatá José Cândido de Oliveira Martins quiana, a que se podem juntar outras na literatura portuguesa contemporânea. Essa tendência da escrita de José Eduardo Agualusa para se alimentar, criativamente, da tradição literária pode ainda passar, entre outros exemplos, por uma outra forma singular de reescrita cronístico-ficcional, como acontece nos textos recolhidos em O Lugar do Morto, previamente publicados na revista Ler. Num registo híbrido de crónica narrativa, vários escritores falam, post-mortem, de algum momento da sua existência: Padre António Vieira, Camilo Castelo Branco, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Jorge Luís Borges, Jorge Amado, Vinicius de Moraes, entre outros. Tudo concorre para confrontar, inesperada e fantasticamente, estes escritores com a contemporaneidade, numa relação que, rompendo um certo paradigma de mimese e de verosimilhança, privilegia a provocação e a ironia. Em 2001, publica Paulo José Miranda uma narrativa intitulada Vício, aparecendo esta narrativa breve (novela) integrada num tríptico em torno no processo de criação, consagrando-se cada um dos volumes a uma figura central do mundo das artes: Um Prego no Coração (1998), sobre Cesário Verde; Natureza Morta (1999), centrada em João Domingos Bomtempo; e Vício, em torno de Antero de Quental. A escrita ficcional de Paulo José Miranda incorpora assim um diálogo integrador com outras artes, numa tendência frequente na escrita de ficção atual – do poeta-pintor, ao compósito musical e ao poeta-filósofo –, numa harmonização interartística facultada pela dimensão proteica da narrativa, que absorve e integra outros géneros e modos artísticos. Congregando géneros narrativos distintos, o fecho deste tríptico de Paulo José Miranda, Vício, apresenta-se sob a forma de narrativa epistolar e autobiográfica, em que o eu da escrita é confiado ao atormentado Antero de Quental, no derradeiro ano da sua existência – 1891, no seu húmus de Ponta Delgada –, ao poeta e pensador que escrever por “vício”, mas” já não [por] uma necessidade espiritual”. A cidade natal e a ilha a que regressa é a grande e trágica metáfora do isolamento de um “homem cansado”, entediado e desistente. Num registo patético e aforismático, desnuda-se a interioridade de um mentor geracional, que mantêm com outros escritores (o seu “querido” Eça de Queirós, por ex., sobretudo da fase realista) uma relação de assumida afinidade, norteada por uma intenção crítico-interpretativa. Esta dimensão vagamente ensaística da escrita transparece nas outras narrativas do tríptico mencionado. Jogo de espelhos intertextual e singular – recria-se ficcionalmente o adoentado Antero, na iminência do suicídio, para reler o primeiro Eça; para reavaliar outros autores – de Oliveira Martins a João de Deus; para reviver episódios marcantes como a “desilusão” das Conferências do Casino ou da Liga Patriótica do Norte; enfim, para questionar a ilusão do 138 Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos poder interventivo da palavra literária na transformação da realidade circundante. 3. Evocação dialógica Também em outros autores contemporâneos, assistimos ao frequente diálogo (no sentido bakhtiniano) com outras obras e autores, quer do cânone da literatura portuguesa, quer de outras literaturas, por exemplo do espaço peninsular. No pensamento do teorizador russo, o dialogismo pressupõe o outro em relação com um locutor, tornando-se o diálogo uma relação entre sujeitos (cf. Bakhtine, 1984, p. 278, 282). Apesar da amplitude conceptual, a noção de dialogismo não deixa de poder aplicar-se à poética intertextual. Na narrativa Breviário das Más Inclinações (1994), José Riço Direitinho valoriza as relações entre Portugal e Espanha, de finais de Oitocentos até à Guerra Civil espanhola. No microcosmos de Vilar de Loivos, compõe determinadas figuras mais ou menos tipificadas, que recriam uma certa atmosfera de perseguição política aos espanhóis em fuga, gerando tensões na pacatez rural lusitana. Na ligação tão próxima ao território e ao imaginário espanhol, especialmente à Galiza, ganha pertinência a convocação intertextual do escritor Camilo José Cela. E sobretudo não falta sequer nesta narrativa – através das aventuras e astúcias de José de Risso – a recuperação de uma certa atmosfera do universo picaresco, de matriz tão enraizadamente castelhana. Estamos perante uma reactualização intertextual de um género emblemático da ficção clássica de língua castelhana. No ano do bicentenário do nascimento de Almeida Garrett (1999), Silvina Pereira publica Garrett – uma cadeira em São Bento, um texto dramatúrgico onde se recria o perfil do retratado através das “suas palavras”, isto é, dos seus próprios textos, e através deles a reconstituição histórica de uma época. Por outras palavras a singular gramática citacional constitui uma forma de evocação e de homenagem ao autor central do cânone romântico português. Deste modo, num continuado exercício de combinatória de citações e colagem de fragmentos de diversa proveniência garretteana – da prosa ficcional à poesia, do teatro ao jornalismo, dos discurso parlamentares aos projetos legislativos –, a autora vai compondo ou cerzindo um texto que assenta no constante diálogo intertextual com a escrita do evocado introdutor do romantismo português, sem esquecer sequer o devotado biógrafo oitocentista Francisco Gomes Amorim, em Garrett: Memórias Biográficas (3 vols., 1881-1884). Mais uma vez, também aqui a hibridez estilística e genológica da escrita de Silvina Pereira – sob Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 139 Gragoatá Entre os vários estudos críticos que se têm debruçado recentemente sobre a receção literária de Camilo, cf. Martins, 2009; e 2011. 2 140 José Cândido de Oliveira Martins a forma de teatro de índole narrativa e memorialística – decorre diretamente da tessitura intertextual. Por sua vez, em O Segredo de Ana Plácido (2000), Teresa Bernardino recria um Camilo inesperado, ao centrar-se no fascinante perfil feminino da esposa e “amante fiel”, na figura da “Mulher excecional pela coragem”, efabulando o “mundo labiríntico” e conturbado da sua existência quotidiana. Partindo de fontes literárias e documentais subentendidas, e servindose confessadamente de “frases ficcionais”, a narrativa detém-se na efabulação de três dias intensos, mas evocativos de alguns episódios centrais da vida, mais privada do que pública, de Ana Plácido com o seu companheiro. Porém, a organização da narrativa é determinada por uma singularidade decisiva – a instância narrativa é confiada a um ponto de vista bem particular, o filho do casal, Jorge, louco e visionário. Na transtornada e inquieta solidão dos seus dias em Seide, e para se conhecer a si próprio, mas também como “ato catártico”, Jorge vai analisando as atitudes e ditos, os enigmas e subentendidos de um pai/marido atormentado e sobretudo de uma mulher fatal e perdida, expiando duramente o seu crime passional. Em todo o caso, o hipotexto geral desta criação ficcional subjacente é naturalmente a(s) narrativa(s) da biografia camiliana, ora mais realista e picaresca, ora mais idealizada e mitificada. Esta narrativa publicada foi originalmente na revista Gazeta de Poesia (1995). Acrescente-se, apenas en passant, que esta obra ficcional se insere numa rica tradição literária portuguesa que, ao longo de mais de um século, se tem inspirado na vida e na obra de Camilo Castelo Branco – Teixeira de Pascoaes, O Penitente; Aquilino Ribeiro, O Romance de Camilo; Agustina Bessa-Luís, Fanny Owen; ou Mário Cláudio, Camilo Broca, entre muitos outros autores que têm sido objeto de atenção crítica, nomeadamente debruçando-se sobre as manifestações de uma certa presença tutelar de Camilo na ficção portuguesa contemporânea.2 A estes autores poderíamos ainda acrescentar – no mesmo filão dos ecos camilianos, em registos mais ou menos criativos – nomes tão diversos como: Alexandre Pinheiro Torres, em Espingardas e Música Clássica, reescrevendo a popular narrativa camiliana Amor de Perdição; Luiz Francisco Rebelo e o teledrama Todo o Amor É Amor de Perdição, recontando a partir de fontes históricas e ficcionais o processo judicial que envolveu Camilo e Ana Plácido; e ainda no mesmo espírito evocativo e dialógico, a peça teatral Inferno, de Maria Velho da Costa e António Cabrita, cuja fábula tripartida se estrutura a partir da sugestão simbólica de três títulos ficcionais do próprio Camilo. O que se revela significativo é o facto de em comum, estes e outros autores partirem de um autor paradigmático da ficção portuguesa oitocentista e de uma certa conceção de romance, Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos para proporem formas narrativas (e dramáticas) muito diversificadas e superadoras de um ultrapassado modelo balzaquiano de ficção. 4. Mosaico memorial Esta rápida viagem sobre uma omnipresente biblioteca intertextual na atual literatura portuguesa é borgesianamente interminável. Entre outros rumos, merecem menção mais algumas obras emblemáticas deste constante movimento de revisitação e de reescrita, como forma de reinvenção da própria criação narrativa atual. Afinal de contas, todo o texto é reescrita do que o precede: “Écrire, car c’est toujours récrire, ne diffère pas de citer” (Compagnon, 1979, p. 34). Um outro exemplo é O Anjo Mudo de Al Berto, editada em 2000. Narrativa híbrida e fragmentária, é organizada por textos de natureza memorialística e autobiográfica, em que o sujeito da escrita rememora eclecticamente espaços, viagens e livros. Com efeito, ao longo dos textos breves, fragmentos aparentemente desligados, a escrita Al Berto espelha de que modo certas obras, autores e leituras estão ligados afetivamente a determinadas vivências e ao espírito de vários lugares. Deste modo, O Anjo Mundo singulariza-se por ser uma biblioteca eletiva, de textos que deixaram rasto na memória e na vida de alguém. Sem preocupações de erudição ou de rigor bibliográfico, evocam-se e reescrevem-se textos, numa interpretação subjetiva e impressionista, também sem pretensões ensaísticas ou veleidades hermenêuticas. Todo o texto se constrói como um mosaico intertextual de múltiplas reminiscências – de experiências, de viagens e de leituras, num diário de impressões que manifesta e assumidamente foge aos cânones do género. Também O Ponto de Vista dos Demónios (2002), de Ana Teresa Pereira, se apresenta como denso tecido intertextual, cerzido de múltiplas referências à literatura, ao cinema ou à filosofia. A hibridez dos textos breves que integram esta obra constrói-se pluralmente, aliando a narratividade a um pendor vagamente cronístico e uma dispersa mas desafiadora reflexão crítica. Fruto de releituras interligadas e obsessivas, o conjunto dessas múltiplas evocações metaliterárias perfaz um ato de deleitosa “geografia sentimental”. Assim, esta escrita recria, ficcional e interpretativamente, outros textos, com um olhar reinterpretativo e evocador de outros discursos, num prazer subjetivo de redescoberta, assumido com clareza – “uma das formas de felicidade em que acreditarei sempre é o regresso aos livros que num ou noutro momento foram a minha casa”. Ainda dentro deste espírito dialógico, pode-se acrescentar por fim uma outra obra, de Gonçalo M. Tavares, sintomaticamente intitulada Biblioteca (2004). Como inscrito no paratexto Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 141 Gragoatá José Cândido de Oliveira Martins inicial, “O ponto de vista deste livro é a obra dos autores – nunca aspetos biográficos. Uma ideia ou apenas uma palavra mais usada pelo escritor (...) estão na origem do texto. Mas cada fragmento segue o seu ritmo próprio”. Mais do que diálogo intertextual expresso – não há citações ou referências expressas, apenas um nome de e escritor a encimar cada micro-texto –, o leitor é confrontado com uma reflexão ou uma paráfrase inspirada pela obra do autor referido em exergo. Com efeito, o livro é constituído por uma longa sequências de curtos fragmentos, ordenados alfabeticamente, pondo assim uma ordem nesta singular biblioteca de Babel, de vaga tonalidade borgesiana.3 Esta combinatória tendencialmente universal, sob o signo da reescrita e da evocação, é constituída por fragmentos inspirados em largas dezenas de escritores (e pensadores) de diversas línguas, literaturas e continentes, dos clássicos greco-latinos aos modernos e contemporâneos. Porém, diferentemente dos autores referidos até ao momento, nesta biblioteca de afinidades eletivas, não constam autores portugueses; apenas alguns escritores de língua portuguesa, da literatura brasileira. Isso não significa automaticamente que a escrita de Gonçalo M. Tavares não reflita a presença de autores da literatura portuguesa ou seja imune a qualquer influência neste campo. No final da leitura de Biblioteca – que pode ser aleatória, dentro da organização mencionada –, fica a indelével impressão geral: todo o leitor é detentor de uma biblioteca maior ou menor, que transporta consigo, afetivamente; mesmo que se sinta “Um homem perdido numa biblioteca”, à maneira de Umberto Eco (s.d., p. 15), um dos muitos autores convocados para esta tentativa de ordenar o labirinto babélico das leituras. Porque, no fim de contas, sobretudo na atmosfera configuradora da cultura e literatura pós-modernas, toda a escrita “arrasta consigo a memória da cultura de que está imbuída (o eco da intertextualidade)”. Neste espírito metaliterário e quase bibliofágico – literatura que se alimenta da literatura para se reinventar – não deixa de ser significativa a proliferação de obras narrativas que (aliando ficção e informação referencial em registos muito variáveis, da ordenação lógica à estrutura aparentemente labiríntica, ostentam os títulos de Biblioteca, Dicionário, Enciplopédia, etc. Relembre-se a célebre alegoria de Jorge Luís Borges (s.d., pp. 83-94), “A Biblioteca de Babel”, inserida em Ficções. Aliás, como não poderia deixar de ser, Borges figura também neste singular mosaico literário de Gonçalo M. 3 142 5. Imposição da memória Com efeito, em géneros e géneros muito variados, alguns jovens autores contemporâneos portugueses surpreendem e desafiam a enciclopédia dos leitores ao estabelecer um frequente diálogo com a memória do sistema literário, isto é, com uma certa tradição mais ou menos afastada, muito centrada na literatura Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos portuguesa, mas também cada vez mais aberta a outros sistemas culturais e literários. Esse diálogo de natureza intertextual pode assumir diversas funções, que vão desde a veneração mais ou menos encomiástica, à reescrita e reinvenção criativa. Em todos os casos, parece persistir uma certa ideia de património, diante do qual se pode reagir de diversas formas, mas que simplesmente não se pode obliterar. Numa palavra, estes e outros autores contemporâneos não podem e não querem fugir ao peso de uma memória literária. Isso parece-nos evidente pela ilustrada panorâmica comentada anteriormente. Outra questão será a de saber se este diálogo intertextual com a tradição literária se processa do mesmo modo que no passado. A questão é vasta e complexa; e uma forma de lhe responder, pelo menos em parte, é reconhecer que em todas as épocas se assiste a uma revisão desse legado ou memória do sistema literário. Desse modo, é sempre significativo verificar que autores e obras são objeto de rememoração e de reescrita, em face de outros silenciados ou esquecidos. Parafraseando T. S. Eliot (1997, p. 23), cada nova obra literária modifica a nossa perceção da “ordem ideal” do passado. Em matéria de memória intertextual, as dívidas são sempre reconhecíveis e pagam-se de um modo ou de outro; mesmo que, esporadicamente, alguns autores não apreciem patentear e assumir esse reconhecimento ou débito. Agora, de acordo com uma conceção semiótico-comuicacional do sistema literário, o que não se pode é escrever (nem ler, naturalmente) fora de uma memória literária que se impõe até como condição de legibilidade do presente. Neste exercício de constante revisitação ou reescrita, tal como preconizado por Borges, os escritores criam os seus precursores; inter-relacionam códigos e géneros diversos. Tudo isso ocorre desde há muito na história literária, como sabemos, mas agora com uma diferença significativa na atitude: os autores atuais fazem-no de um modo livre, descomplexado e até lúdico; e sempre jogando com essa riquíssima memória literária, em modalidades diversas e inovadoras da uma variada “escrita imitativa” (Bouillaget, 1996, passim) – como, por exemplo, recriando histórias através de outros pontos de vistas; recorrendo às técnicas da colagem ou da citação disfarçada; integrando momentos de pastiche ou de paródia. Tomemos mais alguns casos ilustrativos muito rapidamente: em dois livros assaz distintos – A Eternidade e o Desejo (2007a) e No Coração do Brasil: seis cartas de viagem ao Padre António Vieira (2007b), Inês Pedrosa dialoga intertextualmente com o legado literário do famoso orador e missionário barroco. Lançando mão de textos de António Vieira – dos sermões às cartas, sobretudo –, o romance A Eternidade e o Desejo atualiza o poder da prosa de Vieira numa fábula contemporânea, onde o autor Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 143 Gragoatá José Cândido de Oliveira Martins evocado comparece amiúde, desde as epígrafes paratextuais às citações destacadas dos seus textos, num continuado efeito especular. Neste romance de título vieiriano, tecido com textos exemplares ou antológicos de Vieira – gravados destacadamente em negrito –, numa constante alternância discursiva entre vozes enunciadoras da narrativa, o afamado orador, “homem multiculturalista” avant la lettre, é perspetivado como paradigma da arte da palavra, do amor ousado pelo próximo, enfim do “poder de transformar o mundo através da palavra” (2007a, p. 25). Já em No Coração do Brasil: seis cartas de viagem ao Padre António Vieira deparamos com um dispositivo textual bem diverso. Dentro do mesmo afã homenageador e afetivo, sobressai a diferença: aparentando-se com o “making off” do romance mencioando, a obra é constituída com um conjunto de cartas endereçadas a Vieira, partindo de uma experiência concreta de viagem pelos trilhos brasileiros do escritor barroco e intemporal. Daí também uma série de coincidências entre esta revisitação epistolar de Vieira e o romance da mesma autora. Sob o signo da invocação, homenageia-se o deslumbramento e a atualidade da prosa de Vieira, “paladino da interculturalidade” (2007b, p. 24), também ele autor de uma magistral epistolografia. Enfim, as seis cartas constituem outras tantas formas de amor a Vieira e ao Brasil, figura emblemática de cruzamentos culturais que marcaram o destino de duas nações e respetivas línguas. Finalmente, em Uma Viagem à Índia – Melancolia contemporânea (um itinerário). (2010), o já referido Gonçalo M. Tavares desafia o leitor para hermenêutica intertextual mais exigente. Composta por dez cantos, cada um deles com um número variado de estâncias – embora sem rígidos esquemas estróficos e rimáticos –, a fragmentada narrativa não ilude a presença d’Os Lusíadas como hipotexto reconhecível em alguns episódios e em certa tópica recorrente. Contudo, este diálogo intertextual, de livre glosa paródica da epopeia camoniana, distancia-se do filão parodístico tradicional da epopeia camoniana, sobretudo quando concebido como imitação burlesca do texto camoniano com intenções frequentemente satíricas. Tomando a obra de Camões como ghost text e dentro de uma certa tradição literária, em inesperados cruzamentos culturais – ficção de ficções, em registo especular, construída à sombra vaga de Jorge Luís Borges ou de James Joyce –, esta “epopeia” contemporânea narra-nos as desventuras e os perigos das viagens de um “herói” atual, um individualista desorientado e sem qualidades – Bloom, como o moderno Ulisses de Joyce. Um lisboeta em busca iniciática da sabedoria e de si próprio, numa demanda materializada sobretudo no caminho aéreo para a Índia, aureoladamente lendária. Porém, logo a filosofia 144 Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos salvadora do mágico Oriente é desmitificada; e numa cartografia errática, Bloom acaba por encontrar a deceção e o desconcerto do mundo, regressando à sua Lisboa natal e a uma envolvente e funda melancolia. Depois de outras obras que reinterpretam certa memória literária ou determinado imaginário nacional, e se podem ler como contraepopeias da gesta coletiva – da quinhentista Peregrinação de Fernão Mendes Pinto à atual Peregrinação de Barnabé das Índias (1998), de Mário Cláudio, entre outras –, é legítimo ler Uma Viagem à Índia como antiepopeia verbal e prosaica do século XXI, variação muito livre de Camões em clave ensaística e aforismática. Ao relatar a singular odisseia do irónico ceticismo de um homem de hoje, desenvolve-se numa deambulação mais mental que geográfica, centrada nos excessos do progresso material, contaminada pelo ideia de esgotamento e pela fatalidade do tédio; enfim, revisitação afetiva, composta à margem d’Os Lusíadas, sob a forma de “navegação parada da nossa alma pós-moderna” pela “ausência de sentido”, segundo expresso por Eduardo Lourenço, no prefácio. 6. Infinita biblioteca Estes e outros autores (e respetivos livros) dizem a impossibilidade de escrever – ou de ler – fora de um imenso intertexto, como já asseverava Roland Barthes, isto é, fora de uma “infinita biblioteca”, na expressão de Ana Teresa Pereira, em texto tributário de Jorge Luís Borges, o autor da memorável história de Pierre Menard, criador obcecado com a reescrita do Quixote. “No princípio era a história”, como declara uma personagem de Karen Blixen, “um velho cardeal que acredita que contar histórias é a arte dos deuses”, nas palavras da mesma Ana Teresa Pereira. Mesmo quando a tonalidade é a da homenagem (ethos não omnipresente), a reescrita intertextual apresenta-se num registo algo prosaico e desmitificador, sem excessivas venerações panegíricas. Ao mesmo tempo, essas variadas formas de diálogo intertextual são frequentemente motivadas pelo propósito de repensar a questão da identidade de Portugal através da obra dos autores convocados, isto é, de um país pós-imperial que se interroga ontologicamente e tematiza, de modo revisionista, o seu passado através dos reflexos ou dos espelhos das obras literárias. Afinal de contas, como nos recordava o citado Umberto Eco (s.d., p. 20-21), “os livros falam sempre de outros livros e qualquer história conta uma história já contada”. Consciente dessa inevitabilidade (dizer o já dito), o desafio que se impõe a cada escritor, jovem ou não, é de o fazer de uma forma nova e diferente, como expresso na conhecida máxima latina – non nova, sed nove (não coisas novas, mas ditas de uma maneira nova). Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 145 Gragoatá José Cândido de Oliveira Martins Mesmo gerando no leitor o prazer do reconhecimento, sem que com isso estes autores caiam em piruetas de erudição ou mero ludismo pós-moderno. Este topos é quase tão antigo quanto a literatura, pois já o latino Terêncio escrevera: “Nullum jam dictum est quod non sit dictum prius” (Nada se diz que já não tenha sido dito antes). “Falar é incorrer em tautologias”, assevera, de modo radical, o mencionado Jorge Luís Borges (s.d., p. 92). Outro contemporâneo consagrado, Vergílio Ferreira (1987, p. 29), reflete sobre este tópico, sustentando que, primeiro, os escritores têm de partir desse reconhecimento do já dito ou já escrito; segundo, que a originalidade consiste em reviver “como se fosse a primeira” [vez]; porque “ser original não é só inventar, mas sentir nas origens de nós o que afinal já lá estava”. Também Ruy Belo (1984, p. 245-247), em “As influências em poesia”, insiste no facto de não haver incompatibilidade entre a “influência” e a “voz própria”; além de necessária e natural, a influência é não só reveladora de louvável “convívio” com a tradição, mas também um “ato de homenagem”. Esse é o repto colocado a cada escritor, hoje como no passado – escrever dentro de uma memória, sem a angústia do solipsismo ou da repetição. Enfim, escrita dominada por uma relação lúdica e pelo primado de uma certa leveza, tal como profeticamente sugerido por Ítalo Calvino (1998, p. 15 ss.). Mais uma vez se confirma, sem sentimento de melancolia (tout est dit, escrevia La Bruyère), nem falta de inspiração colhida na memória intertextual, que escrever é, em grande medida, reescrever de modo pessoal, sem complexos, nem nostalgias paralisantes; antes com o prazer da redescoberta e da modelização de uma incontornável memória das obras (Samoyault, 2001, p. 50 ss..). Para nós, como enunciado anteriormente, o mais interessante ainda é que o dialogismo intertextual se configura como fecundo espaço de cruzamento de textos e de géneros narrativos, de que resulta uma imparável inventividade de procedimentos narrativos. Por outras palavras, a constante interação de textos proporciona particulares condições de reescrita e de hibridização de géneros narrativos e das suas margens, levando ao limite o próprio questionamento das “fronteiras da ficção” (cf. Gefen & Audet, 2001): desde, implicitamente, os conceitos de representação e de verosimilhança (pacto mimético), de narratividade e de ficcionalidade, até à redefinição das relações entre várias formas narrativas e relações intergenológicas de práticas discursivas afins (romance, narrativa epistolar, biografia, autoficção, autobiografia, ensaio, crónica, historiografia, etc.), através de um exercício poiético e lúdico, cada vez mais explícito, de permeabilidades, extensões e transgressões consentidas. Em suma, neste tipo de escrita de autores portugueses atuais antes ilustrado, conjugam-se ativa e produtivamente a 146 Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos intertextualidade – assente no conhecido processo de “rélations de texte à texte, que ce soit par citation, allusion, parodie ou pastiche”; e a transficcionalidade, no sentido proposto por Richard Saint-Galais, no ensaio “La fiction à travers l’intertexte (pour une théorie de la transfictionalité)”: “elle, suppose la mise en relation de deux ou de plusieurs textes sur la base d’une communauté fictionelle” (in Gefen & Audet, 2001, p. 45). Comunidade ficcional na aceção de conjunto de textos narrativos atravessados pela migração de personagens, espaços e temas que se interpenetram num plano superior ao da intertextualidade. Enquanto formas de modelização e de conhecimento do mundo, ultrapassando a simplista dicotomia “verdade positiva” / “mentira romanesca”, e após a consabida crise da representação da literatura pós-realista, os géneros narrativos literários atuais repensam o seu estatuto e reinventam o próprio campo ficcional à luz de novos horizontes epistemológicos e antropológicos, bem como de novos paradigmas ideológicos, culturais e literários. Abstract In the area of fiction, the writing of contemporary Portuguese authors clearly evidences an important tendency towards intertextual rewriting, with several procedures applying to dialogism. On the one hand, a fruitful noncomplex relationship is underlined within the same intertextual grammar; on the other hand, there is a definitely innovative attitude. Overcoming late vanguard experimentalisms, it is possible to witness several renewed forms of ironic intertextuality that rewrites and redefines the frontiers of fiction and of the narrative genres. Keywords: contemporary portuguese authors; fiction; intertextuality; rewriting; narrative genres. Referências 1. Agualusa, Eduardo. Nação Crioula (A correspondência secreta de Fradique Mendes). 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote [1ª ed., Lisboa, TV Guia]. ______. O Lugar do Morto, Lisboa, Tinta da China, 2011. Al Berto. O Anjo Mudo. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. Bernardino, Teresa. O Segredo de Ana Plácido. 2ª ed., Lisboa: Vega, 2000. Borges, Jorge Luís. A Biblioteca de Babel. Ficções. Lisboa: Livros do Brasil, s.d. Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 147 Gragoatá José Cândido de Oliveira Martins Ferreira, Vergílio. Conta-Corrente 5. Lisboa: Bertrand, 1987. Direitinho, José Riço. Breviário das Más Inclinações. Lisboa: Asa, 1994. Miranda, Paulo José. Um Prego no Coração. Lisboa: Cotovia, 1998. ______. Natureza Morta. Lisboa: Cotovia, 1999. ______. Vício. Lisboa: Cotovia, 2001. PEDROSA, Inês. A Eternidade e o Desejo. Lisboa: Dom Quixote, 3ª ed. (2007a). ______. No Coração do Brasil: seis cartas de viagem ao Padre António Vieira, Lisboa: Dom Quixote (2007b). Pereira, Ana Teresa. O Ponto de Vista dos Demónios. Lisboa: Relógio d’Água, 2002. Pereira, Silvina. Garrett – uma cadeira em São Bento. Lisboa: Dom Quixote, 1999. Tavares, Gonçalo M. Biblioteca. Porto: Campo das Letras, 2004. ______. Uma Viagem à Índia. Lisboa: Caminho, 2010. 2. Bakhtine, Mikhaïl. Esthétique et Théorie de la Création Verbale. Paris: Gallimard, 1984. BELO, Ruy. As influências em poesia. Obra Poética, vol. 3. Lisboa: Presença, 1984. Bloom Harold. A Angústia da Influência (Uma teoria da poesia). Lisboa: Cotovia, 1991. Bouillaget, Annick. L’Écriture Imitative. Paris: Nathan, 1996. Calvino, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milénio, 3ª ed. Lisboa: Cotovia, 1998. Compagon, Antoine. La Seconde Main ou le Travail de la Citation. Paris: Éd. du Seuil, 1979; trad. port. (parcial): O Trabalho da Citação. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. Eco, Umberto. Porquê “O Nome da Rosa”? Lisboa: Difel, s.d. Eliot, T. S. Ensaios de Doutrina Crítica. Lisboa: Guimarães Editores, 1997. Gefen, Alexandre & AUDET, René. Frontières de la Fiction. Bordeaux: Éditions Nota Bene / Presses Universitaires de Bordeaux, 2001. Marinho, Maria de Fátima. O Romance Histórico em Portugal. Porto: Campo das Letras, 1999. MARTINS, J. Cândido. Efabulações camilianas – receção de Camilo Castelo Branco em autores portugueses contemporâneos. Estudos Portugueses, 9 (2009), Universidad de Salamanca, p. 77-90. 148 Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 Reescrita da memória intertextual e dos géneros narrativos em autores portugueses contemporâneos ______. Agustina Bessa Luís, Fanny Owen et l’ironique revisitation de l’imaginaire romantique. In Catherine Dumas (org.), Agustina Bessa-Luís: audaces et défigurations, Paris: Université Paris III-Sorbonne Nouvelle [em publicação]. Morão, Paula. Contemporary Portuguese Fiction – Cases and Problems. In Miguel Tamen & Helena C. Buescu (ed.). A Revisionary History of Portuguese Literature. New York and London: Hispanic Issues, 18, 1999, p. 176-189. MOURÃO, Luís. Ficção. In Óscar Lopes & Maria de Fátima Marinho (dir.), História da Literatura Portuguesa, vol. 7 (As Correntes Contemporâneas). Lisboa: Alfa, 2002, p. 509-536. REAL, Miguel. Geração de 90: romance e sociedade no Portugal contemporâneo. Porto: Campo das Letras, 2001. Reis, Carlos, O post-modernismo e a ficção portuguesa do fim do século. In História Crítica da Literatura Portuguesa, vol. IX. Lisboa: Verbo, 2005, p. 287-318. Samoyault, Tiphaine. L’Intertextualité (Mémoire de la Littérature). Paris: Nathan, 2001. Schlanger, Judith. La Mémoire des Œuvres. Paris: Verdier/ Poche, 2008 [1992]. Niterói, n. 31, p. 135-149, 2. sem. 2011 149 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. André Rangel Rios Recebido em 15/07/2011 – Aprovado em 01/09/2011 Resumo O artigo considera o “ato” de publicação de um modo amplo, ou seja, como um “processo” de publicação, que envolve vários estágios, desde a formação e habilidade linguística do escritor, passando pela publicação material do livro e estratégias para evitar censura e processos judiciais, até a recepção pela crítica e público; a ênfase deste artigo, no entanto, recai na análise do ato de publicação e de escrita enquanto mencionados ou aludidos na própria narrativa, ou seja, enquanto entretecidos na própria realidade ficcional. Assim, partindo-se do comentário do Prefácio de Lolita, assinado por John Ray, Jr., ph. D., são apresentadas estratégias argumentativas dos autores ficcionais em favor da não proibição do livro, bem como alguns importantes aspectos da intrincada relação entre, por um lado, John Ray Jr. e Humbert Humbert, dois escritores imanentes à própria trama narrativa, e, por outro, o autor signatário, Vladimir Nabokov, expondo, entre outras coisas, a consciência da ousadia de sua aposta literária frente ao público da “era da classe média enxerida”, bem como sua confiança nos promissores resultados da publicação de Lolita. Palavras-chave: teoria literária; literatura e medicina; autoria; paranoia; ato de leitura; ato de publicação. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Gragoatá André Rangel Rios ...I’m sorry I cheated so much, but that is the way things are. Nabokov, Lolita Alguns exemplos importantes de pesquisas sociológicas sobre a temática autor/ escritor/ publicação são BOURDIEU, 1992; MICELI, 2001; LAHIRE, 2006. Na verdade, é somente Lahire que realmente comenta, de modo mais extenso, a questão da publicação. 2 Em especial em relação ao livro Betrachtung, de Kafka, Stach (2003, passim) é um bom exemplo da discussão do processo autor/ editor/ publicação; no entanto, ele não tematiza a publi1 152 A Teoria Literária tem, em diferentes aspectos, discutido principalmente o ato de escrita e o ato de leitura. O ato de publicação também tem sido um tema, mas é, em geral, abordado em uma perspectiva sociológica, levando-se em conta a origem social dos escritores, a vendagem dos livros e o prestígio das editoras.1 Em outros textos, estive considerando o “ato” de publicação de um modo mais amplo, ou seja, como um “processo” de publicação, que envolve vários estágios, desde a formação do escritor, passando pela publicação material do livro e estratégias para evitar censura e processos judiciais, até a recepção pela crítica e público (RIOS, 2007). Minha ênfase, no entanto, tem sido na análise do ato de publicação mencionado ou aludido na própria narrativa ficcional, ou seja, enquanto entretecido na própria realidade ficcional,2 explicitando sua coerência ou contradições com a narrativa. Até onde sei, essa minha abordagem do tema, ou ao menos a ênfase que dou a esse aspecto, é original, tendo se mostrado produtiva quanto a propor novas questões. Assim, na leitura de Dom Casmurro, um livro sobre o qual muito da crítica tem girado em torno da obsessão – patriarcal – de quem traiu quem, ao se considerar o ato de publicação, ou mais especificamente, ao se considerar que o livro Dom Casmurro foi publicado intradiegeticamente, novas questões se impõem. Logo de início, no Capítulo 2, Bento Santiago, referindo-se ao próprio livro, alega se sentir envergonhado em publicá-lo: “vexa imprimi-lo” (MACHADO DE ASSIS, 1986, p. 809). O leitor ou leitora deveria estar, portanto, desde o início, consciente de que está lendo um livro que a própria narrativa assume como já tendo sido publicado. No entanto, Bento Santiago também se apresenta no livro como uma pessoa reservada, que esconde dos amigos e de seu círculo social segredos inconfessáveis de sua vida privada. Em geral, leitores e intérpretes aceitam esse perfil reservado do narrador como autêntico. Ora, o livro está publicado; ou seja, haveria uma contradição performática entre a autodescrição de Bento como sendo um ermitão e sua vida privada tornada pública pelo próprio livro em que ele, ao publicá-lo, se proclama um recluso. Essa contradição, a meu ver, demanda uma releitura de Dom Casmurro (RIOS, 2007, p. 48-84). Em Lolita, tal como Machado de Assis em seus últimos livros, Nabokov se afasta – ou apenas finge se afastar – da cena da escrita em favor de uma sequência de personagens fictícios, o que, entre outros efeitos que ainda temos de analisar, tornaria mais plausíveis algumas fases da publicação intradiegética do livro (e, talvez, favorecessem sua publicação e aceitação extradiegética). Assim, o livro teria sido escrito por Humbert Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. Como já indiquei, nenhuma dessas fases do processo de publicação é considerada em Dom Casmurro. 4 É importante notar que, intradiegeticamente, o livro é considerado como publicado após cumprida essa exigência. No entanto, o que é previsto na narrativa é que Lolita morresse com 80 ou 90 anos: “Em sua forma publicada, este livro está sendo lido, imagino, nos primeiros anos da década de 2000 d.C. (1935 mais oitenta ou noventa, uma vida longa, meu amor); e os leitores mais idosos certamente se recorda3 Humbert (que, declaradamente, seria um pseudônimo escolhido pelo próprio autor), um suíço, radicado nos Estados Unidos, que teria morrido na prisão. Os originais de Lolita, seguindo provisões testamentárias, teriam sido passados pelo advogado de Humbert, Clarence Clark, para John Ray, Jr, ph. D., que o teria editado e publicado (no caso, publicado num livro cujo nome do autor na capa é Vladimir Nabokov, o que o prefácio, aparentemente referindo-se apenas a H. H. como sendo o autor, não menciona). Assim, o prefácio que analisarei a seguir não teria sido escrito nem por Humbert nem por Nabokov, mas por John Ray, Jr. (NABOKOV, 2011, p. 10). O prefácio seria uma interface entre o autor ficcional, Humbert Humbert, e o autor signatário, Vladimir Nabokov; no entanto, John Ray é editor e prefaciador enquanto se apresenta como associado à narrativa no corpo do romance, estando, portanto, contido em seu espaço ficcional. Em termos gerais, o prefácio, ao menos numa primeira leitura, tentaria contornar preventivamente dificuldades como censura, processos judiciais e acusação de ser pornografia (e não obra de arte);3 alegações que poderiam ser feitas tanto a respeito da publicação intradiegética quanto da publicação real nas sociedades americana e européia. O prefácio tem, portanto, ao menos duas faces: ele negocia aspectos pertinentes tanto à coerência da narrativa quanto à aceitação do livro escrito por Nabokov para que, no processo de publicação, ele seja reconhecido tanto como publicável quanto como artístico. Além dessas considerações, indicarei mais adiante que o prefácio reverbera questões, ainda mais intrincadas, próprias à estrutura do romance e a suas consequências a respeito da questão da autoria. No presente artigo, comentarei esse prefácio buscando analisá-lo sobretudo como uma parte da narrativa de Lolita. Assim, analisarei o prefácio a partir de uma questão que, embora óbvia, nunca foi feita: Por que John Ray, Jr. Ph. D., publicou seu prefácio de Lolita? Segundo ele explica, tendo Humbert Humbert morrido na prisão de trombose coronariana, antes de ser julgado por seus crimes, seu advogado, Clarence Clark, seguindo uma “cláusula do testamento” do falecido cliente, deveria encaminhar Lolita para a publicação. A cláusula não é explicitada por Ray, mas ela certamente não se resume apenas ao encargo de que o advogado passasse o manuscrito adiante para que alguém o publicasse; por exemplo, fica bem claro no último capítulo de Lolita, que o livro só deve ser publicado após a morte de Lolita (NABOKOV, 2011, p. 359).4 Ray entende que Clark lhe confiou a tarefa de editar o livro por ele haver recebido um prêmio devido a um livro em que discutia perversões. Ray é, portanto, apenas o editor do manuscrito; como já indiquei ser uma omissão usual, nada é diretamente mencionado sobre a aceitação por parte de editoras e do financiamento da impressão e da comercialização. Também não é claro por que a edição do livro seria confiada a Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 153 Gragoatá A t ít u lo de exemplo vale a passagem: “Descobri que existia uma fonte inesgotável de intenso entretenimento em zombar dos psiquiatras: fornecer-lhes ardilosas pistas falsas; jamais deixarmos perceberem o quanto conhecemos os truques do seu ofício; criar em seu benefício sonhos elaborados, clássicos no estilo (que faziam com que eles, os extorsionários de son hos, acordassem aos gritos com seus pesadelos); espicaçá-los com “cenas primais” forjadas; e nunca permitir que tivessem o mais ligeiro 5 154 André Rangel Rios um premiado estudioso das perversões. Ray parece acreditar que foi uma decisão de Clarence Clark, que ele considera um amigo, mas, sendo Clark o advogado de H. H., deixar a edição (e o prefácio) ao encargo de um especialista “amigo”, talvez influenciável pelo advogado, pode ter sido uma determinação do testador. Pode Ray ter a certeza de que não está sendo manipulado pelo “perverso” H. H.? Essa hipótese não parece lhe ocorrer, embora, ao longo da narrativa, H. H. repetidamente escarneça os psiquiatras e psicanalistas.5 Seja como for, Ray assume como sua tarefa principal corrigir os “solecismos mais óbvios”, que seriam poucos, e suprimir “alguns pormenores” que ainda possibilitassem o reconhecimento dos lugares e das pessoas envolvidas na história, enfim, uma tarefa de ocultação de rastros, já extensamente empreendida pelo próprio H. H. em seu manuscrito; tarefa essa de ocultação que, segundo Ray, deveria ser feita por “discernimento” e “compaixão”. Assim, o pseudônimo do autor seria uma “máscara” (NABOKOV, 2011, p. 7). Haze, do nome Dolores Haze, seria apenas mais um pseudônimo, que, no caso, rimaria com o nome verdadeiro. Apenas o prenome Dolores, que estaria “entretecido na trama profunda do livro”, é que teria sido mantido, ou seja, por causa das numerosas variantes possíveis de Dolores: Lo, Lolita, Dolly, L., e talvez em especial devido ao prazer oral de falar “Lolita”: “Lo-li-ta: a ponta da língua toca em três pontos consecutivos do palato para encostar, ao três, nos dentes. Lo. Li Ta.” (Idem, p. 13). Consequentemente, apenas “Dolores” teria se mantido como um vínculo entre narrativa e realidade. Mais uma vez, Ray parece não desconfiar de uma tal afirmação, pois existem muitos nomes em inglês que se prestam ao mesmo jogo línguo-buco-fonológico. Em todo caso, como que para aumentar sua credibilidade, Ray cita eventos que teriam ocorrido após a morte de Humbert para deixar “os leitores mais antiquados” satisfeitos; no entanto, uma vez que nem nós nem os tais leitores antiquados, porque supostamente ainda estamos começando a ler o livro, não conseguimos compreender essas informações que só podem fazer sentido após a leitura completa do livro, podemos apenas ter a impressão de que esses diversos fatos estariam dando continuidade a uma história real, corroborando-a (assim como é feito em filmes baseados em histórias reais, que contam o que aconteceu a cada um dos personagens após o final da trama principal). Seja como for, no prefácio, os nomes muitas vezes aparecem entre aspas, o que indicaria que são nomes fictícios, o que, aliás, não deixaria de sugerir – mas apenas a um leitor já avisado – que o que supostamente veio a se passar com eles seja igualmente fictício: “Rita” casou-se recentemente com o proprietário de um hotel na Flórida. A sra. “Richard F. Schiller” morreu no parto... “Vivian Darkbloom” é autora de uma biografia... (NABOKOV, 2011, p. 8). Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. “Qua ndo come cei, cinquenta e seis dias atrás, a escrever Lolita... (NABOKOV, 2011, p. 6 Enfim, no resto, se nos permitirmos a mesma credulidade de Ray, a narrativa seria real e teria sido escrita por um preso nos 56 dias em que aguardava o início do julgamento.6 A seguir, Ray passa a considerar Lolita como “um simples romance” (Ibidem). Seu objetivo é defender que o livro não é obsceno, não contendo nem sequer palavrões; nisso, Ray lembra a “monumental decisão emitida em 6 de dezembro de 1933 pelo meritíssimo John M. Woolsey, com referência a outro livro, bem mais explícito” (Idem, p. 9). Ora, esse livro “bem mais explícito”, que, portanto, talvez descaísse “bem mais” para o lado do pornográfico, é o Ulysses, de James Joyce. A argumentação é bicorne: Lolita é comparada a Ulysses, tanto porque seria uma obra de arte, isto é, porque seria – isso, assim me parece, está implícito – uma obra de arte de estatura equivalente, quanto porque não seria pornografia (supostamente devendo ser aplicada também a Lolita a referida sentença); além do mais, seria, de certo modo, uma obra menos pornográfica e – implicitamente (segundo aqueles que aceitem a contraposição arte vs. pornografia) – mais artística. Ora, sendo o prefácio ficcional, ele é um plaidoyer para que o autor do livro, H. H., exerça, porque também é um escritor grandioso, sua liberdade de expressão artística. No entanto, Ray não nega que H. H. tenha problemas psicológicos e que seja um exemplo de “lepra moral” (Ibidem), embora suponha que, se ele tivesse procurado a tempo um “psicopatologista competente”, “a calamidade [“disaster”] não teria ocorrido” (Ibidem); no caso, a “calamidade” é Humbert ter iniciado um relacionamento sexual com Lolita. O problema é que, se tal “calamidade” não tivesse ocorrido, a “grande obra de arte” Lolita, também não teria sido dada ao mundo: “nessa hipótese [sem a calamidade], tampouco existira o presente livro” (NABOKOV, 2011, p. 10). A “calamidade” é entendida por Ray como um pressuposto necessário para a escrita de Lolita. Assim, Lolita valeria tanto como uma obra de arte quanto como um relato de caso clínico, o que, evidentemente, seria mais um motivo para não proibi-lo, pois – segundo Ray – esse livro “há de tornar-se, sem dúvida, um clássico nos círculos psiquiátricos” (Idem, p. 8). Além disso, como um argumento de menos destaque, Ray alega que o livro teria também “impacto moral” no sentido de que advertiria “contra tendências perigosas” próprias a algumas pessoas como a “mãe egoísta” e o “maníaco ofegante” (Idem, p. 10). O prefácio busca, portanto, assegurar a publicação de Lolita. Suas duas principais linhas de argumentação são, por um lado, uma de caráter estético, porque o livro é uma (grande) obra de arte e tem seu direito de publicação assegurado pela mesma decisão judiciária que permitiu a edição americana de Ulysses e, por outro, uma de caráter jurídico, porque mascarou todos os nomes de lugares e de pessoas que eventualmente poderiam se sentir ofendidas e impedir sua publicação (ou seja, Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 155 Gragoatá Um exemplo: “Estando muito ocupado com meus afazeres literários...” (NABOKOV, 2011, p. 233). O que, como comentarei novamente, abre a possibilidade de considerarmos que talvez, já nesse momento, o livro Lolita estivesse sendo escrito, em vez de ter sido escri- 7 156 André Rangel Rios que poderiam impossibilitar sua futura consagração como uma obra do porte de Ulysses). Em vista disso, embora o texto não seja claro, a escolha de Ray como editor e prefaciador parece bastante adequada e bem poderia ter partido de Humbert, pois, com o apoio do advogado, que teria assegurado o lado jurídico da exclusão de ocasionais queixosos (reforçando-o com o prefácio de um especialista com argumentos psiquiátricos e literários), H. H. poderia morrer tranquilo quanto a sua fama artística, ainda que, talvez, não sob seu nome verdadeiro. Podemos, em todo caso, afirmar que Ray defendeu com habilidade a obra de Humbert; e, se o fez, é porque aparentemente acreditou nele, tanto como literato (que, de fato, categoricamente, confirma esse status de escritor de prestígio ao descrever sua estada como escritor convidado no Cantrip College) (NABOKOV, 2011, p. 304) quanto como psicopata (que, segundo é narrado em Lolita, teria passado por várias internações psiquiátricas). Numa narrativa que declara ter apagado todos os rastros que possibilitassem sua comprovação, o que podemos ainda voltar a discutir é se Ray não se tornou mais um dos psiquiatras iludidos por “ardilosas pistas falsas” (Idem, p. 42). De fato, Humbert, além de descrever seu zelo pela literatura,7 é extremamente preocupado com questões legais; por isso, tentou descobrir qual seria a situação legal entre ele e Lolita, o que, confessa ele autoironicamente, nunca conseguiu saber, porque, devido a suas viagens através de diversos estados americanos, cada um com leis diferentes a respeito do tutor e da tutelagem, nada de unívoco pôde ser estabelecido. No entanto, ele diz ter lido vários livros “sobre o casamento, o estupro, a adoção e assim por diante”. Sua conclusão é que, em importantes livros de Direito, casos como o seu não eram sequer considerados e que, em alguns estados da federação, segundo H. H. cita: “Não existe princípio que obrigue todo o menor a ter um tutor; o tribunal é passivo, e só deve interceder quando a crianças estiver exposta a riscos visíveis” (Idem, p. 200-1). Ora, se ninguém o via fazendo sexo com Lolita, então não haveria motivo para o tribunal deixar de ser passivo. No entanto, Humbert afirma com clareza que o inventário referente à mãe de Lolita estava “na mais perfeita ordem” (“in perfect order”) e que “as parcas propriedades da mãe morta esperavam intactas a maioridade de Dolores Haze” (Idem, p. 201); enfim, Humbert é escrupulosamente honesto com Lolita. Por isso, é de se esperar que Humbert, que se apresenta como um escritor dedicado ao ofício e tem em mente escrever uma grande obra: “...no final das contas eu tinha uma grande obra a escrever...” (“I had after all a learned opus to write”) (NABOKOV, 2011, p. 106), também tenha deixado disposições de ordem jurídica e prática, válidas e minuciosas, assegurando o máximo possível a publicação de seu “opus” “na mais perfeita ordem”. Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. Agora é o momento de abordar o prefácio por outro flanco: Por que Nabokov publicou o prefácio de John Ray, Jr., ph. D.? Primeiramente, pode-se supor, também por razões jurídicas. Em segundo lugar, Ray pôde argumentar desembaraçadamente que se trata de uma obra de ficção e, sem precisar pecar diretamente por imodéstia – porque quem assina não é Nabokov –, pôr Humbert (Nabokov?) ao lado de James Joyce ao incensar a perícia literária de Lolita. Além disso, por meio de Ray, Nabokov pôde ser autoirônico ao dizer que retirou os “solecismos mais óbvios”; imperícia em que ele, que estudou em Cambridge, morava e dava aulas nos EUA desde 1941 e já publicara livros em inglês, supostamente não incorreria. No entanto, particularmente importante é o prefácio aumentar a distância entre Nabokov e Humbert Humbert, o autor ficcional do subsequente relato autobiográfico moralmente questionável. Se o texto de H. H. não fosse antecedido por um prefácio, teríamos uma passagem abrupta do nome Nabokov, na capa e na folha de rosto, para o texto autobiográfico de um pedófilo e assassino confesso, sugerindo que, talvez em alguma medida, Lolita tivesse algo da vida do autor signatário e detentor dos direitos autorais (afinal, há várias similaridades entre esses dois europeus cultos, universitários, herdeiros, viajantes pelo interior dos Estados Unidos, acolhedores do inglês como língua literária, expatriados e estabelecidos em Nova Iorque mais ou menos na mesma época). Ao mesmo tempo, ao se afastar da escrita de H. H., que, supostamente, até recairia em solecismos óbvios, Nabokov, enquanto autor signatário, passa a impressão de ter prodigiosamente conseguido entrar na mente de um perverso, o que muitos leitores, corroborados pelo especialista John Ray, supõem que ele fez. Será que ele o fez? Ou será que ele apenas se divertiu convencendo seus leitores que o fez, tal como H. H. se divertia fazendo os psiquiatras acreditarem em suas “falsas pistas”? Apesar dessas possíveis questões, pode-se dizer que as manobras intradiegéticas em prol da publicação de Lolita são, no geral, bem convenientes para ajudar no previsivelmente difícil processo de publicação extradiegético do livro. No entanto, há questões mais radicais que já assombram o prefácio: em especial, o nome “Vivian Darkbloom”, que já apareceu numa citação logo acima neste artigo, e que, como mostrarei mais abaixo, subverte as relações autorais intra- e extradiegéticas. Antes de me aprofundar nessa questão, vou, porém, retornar a mais um aspecto do relato de Humbert Humbert. Segundo ele alega, Lolita teria sido escrito em 56 dias, enquanto esteve preso. H. H. escreve como se, por vezes, estivesse se dirigindo a um júri. No capítulo final, ele diz ter desistido de apresentar o livro no julgamento e que “sua publicação precisará ser adiada”, só devendo ocorrer após a morte de Lolita (NABOKOV, 2011, p. 359). Mas é altamente contestável essa afirmação de H. H. de Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 157 Gragoatá “It took Nabokov almost three years of hard work to write the book and he was surely aware that he was imposing an impossible task on Humbert when he made him write it about forty times as fast − and that some readers would 8 158 André Rangel Rios que ele estivesse escrevendo essas memórias para apresentar a um júri durante um julgamento por assassinato, bem como que ele o tenha escrito nesses 56 dias. No nível intradiegético, isto é, se analisarmos o que H. H. escreveu em Lolita, veremos como suas afirmações muitas vezes são dúbias, ao mesmo tempo em que ele se dá ares de exercer um controle seguro da narrativa. Por brevidade, me aterei, inicialmente, apenas ao problema dos 56 dias, que, analisando-se corretamente o texto, só poderiam ter sido 51. Em minha análise, posso começar por separar, ainda que a fronteira nem sempre seja clara, entre “problema textual” e “problema interpretativo”. Um problema textual é uma questão que busca a resposta no que está, ou não, escrito no texto; assim, a resposta poderá ser objetiva e satisfatória ou apenas parcial. Por exemplo, estabelecer a cronologia dos acontecimentos em Lolita é um problema textual: pode ser possível compor uma linha de tempo completa em que os acontecimentos se sucedem ou pode ser que não se consiga senão uma linha parcial, com lacunas; também é possível que haja contradições. No entanto, pôr a questão de por que a linha de tempo é incoerente e o é neste ou naquele momento é propor uma pergunta que abre um problema interpretativo. Enquanto um problema textual pode ou não ser respondido, enquanto é possível ou não encontrar elementos para compor uma resposta completa, sendo possível também que a resposta seja lacunar ou mesmo indecidível entre duas opções, já o problema interpretativo provoca linhas de interpretação que não precisam ser binárias, nem mutuamente excludentes. Zimmer (2008), buscando responder a questão da cronologia de Lolita, indica que, da prisão de Humbert em 26 de setembro até o dia de sua morte em 26 de novembro, ele só teria 51 dias, e não 56 dias, para escrever o livro. A inconsistência sobre o tempo – considerando-se isso como sendo apenas um problema textual – poderia ser justificada como um lapso devido a seu estado mental (além de ele já ter se mostrado por vezes, digamos, negligente em vários outros trechos de Lolita, bem como devido ao fato de que ele não disporia na prisão de fontes de consulta adequadas); em todo caso, todos os afazeres que sua estada, primeiramente, na clínica e sua posterior mudança para a prisão, com inúmeros interrogatórios e restrições quanto a que material ter em mãos, bem como horário para apagar as luzes, certamente impediriam que ele redigisse um livro tão volumoso e intrincado (ao qual Nabokov dedicou três anos de trabalho em condições muito mais tranquilas).8 Zimmer indica que essas incoerências levaram a que alguns críticos considerassem que Humbert nunca teria nem ido até Coalmont, onde ele reencontrou Lolita (e ela lhe revelou com quem ela havia passado a viver ao abandoná-lo), mas que teria começado a escrever suas memórias muito antes, em casa, em alguma clínica psiquiátrica, Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. “Several critics have understood this to imply that he never went to Coa l mont but i nstead began penning his memoir, at home or in a psychiatric clinic or in jail or anywhere − and that hence all the events after September 21 must be fictional in the second degree, an invention inside the invention.” (ZIMMER, 2008) 10 “I person a l ly f i nd it tempting to believe that he “really” is “in legal captivity” and that he “really” didn’t have more than 51 days to complete his book, but that most of it had been written before his arrest, during the three years after Lolita’s disappearance. In this case all he had to do in prison was to go over the whole of it once more, to insert the covert allusions to the identity of his foe and to append what happened after he had received Lolita’s letter. Incidentally this would explain why he is repeatedly quoting from material he will hardly have had access to during his imprisonment. It would also help explain his seemingly sudden shift of stance which some critics have found unconvincing.” (ZIMMER, 2008). 11 Explicar um romance tido como realista a partir desses pressupostos é um ponto de vista válido; de fato, é, pelo menos inicialmente o que tanto o leitor treinado quanto o amador busca. Por isso, sendo Lolita um livro, em geral, tido como basicamente realista, são exatamente esses pressupostos, essa busca em explicitar a coerência realista, que, para o benefício dos estudantes, são adotados 9 em um diferente período prisional ou em qualquer outro lugar, mas não no modo como ele descreve; em consequência, os capítulos finais deveriam ser entendidos como “uma invenção dentro de uma invenção”.9 Zimmer prefere, no entanto, considerar que Humbert teria sido preso e estaria esperando o julgamento quando escreveu suas memórias; no entanto, ele considera que grande parte do texto havia sido escrito anteriormente e que ele teria apenas completado a parte final e o revisado em seu todo.10 O problema da incoerência na cronologia no texto de Lolita provocou – e nisso o problema textual torna-se um problema interpretativo – duas linhas de interpretação: uma, a de Zimmer (2008), que mantém que a narrativa de Humbert foi completada na prisão, após ele haver assassinado Clare Quilty, e outra, que considera que o texto de Lolita foi escrito fora da prisão ou, ao menos, não nesse período prisional devido ao assassinato de Clare Quilty, tal como está em Lolita, pois esse final seria “uma invenção dentro da invenção”. De certo modo, essas duas interpretações são indecidíveis: fica a gosto de cada um escolher a mais plausível para si. Essas interpretações têm, porém, um pressuposto em comum: as duas afirmam a realidade ficcional do texto de Lolita, isto é, que existe uma coerência na narrativa que a equipararia em credibilidade (ainda que se trate de uma, por assim dizer, credibilidade ficcional) a histórias reais ou a relatos jornalísticos.11 Essas interpretações, entretanto, só discordam quanto ao final. Até, digamos, o capítulo 27 da Parte 2, quando Humbert teria recebido a carta de Lolita, apesar de uma ou outra inconsistência de datas, de menor importância, tudo teria realmente se passado como relatado, ou seja, tudo teria realmente se passado ficcionalmente. Poderíamos até assumir que, até aquele capítulo, Nabokov teria conseguido expor com maestria a mente, no caso, a escrita de um psicopata. Depois, ou ele teria, basicamente com a sua esmerada competência, conseguido completar – em 51 dias – os capítulos finais, tal como entende Zimmer, ou teria recorrido a uma questionável “invenção dentro da invenção”. Além disso, para essas duas interpretações, que buscam sustentar a realidade ficcional do texto de Lolita, é muito conveniente que o manuscrito tenha sido trabalhado fora da prisão, porque só assim é possível explicar como H. H. cita de fontes das quais ele não disporia na prisão, como seu diário em Ramsdale ou a carta de Charlotte propondo casamento, bem como lembrar o nome e o trajeto das viagens. De fato, os capítulos finais, de 28 a 35, segundo Zimmer, foram contestados porque, neles, segundo alguns críticos, Humbert apresentaria uma mudança de atitude pouco convincente, transformando-se de um “malicioso egomaníaco” em uma pessoa sensível para com os outros – para com a Lolita – e com desgosto por si próprio. Porque essa mudança foi tão repentina, Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 159 Gragoatá “But if one assumes that he had three years to effect this change, three years to review his case by writing it down, starting with the final epiphany when looking down on that town i n t he mou nt a i n s…, his turn to moral standards would come as less a surprise. And if he had written much of his memoir before, he would not have needed to effect his change of viewpoi nt duri ng the writing and write 12 160 André Rangel Rios Zimmer a reivindica como um argumento a favor de sua interpretação, que põe Humbert na cadeia como um assassino, e, assim, contrário à interpretação que põe Humbert escrevendo por até três anos (desde a fuga de Lolita), o que o faria ir mudando aos poucos ao longo da redação do texto. Zimmer também indica que, se per impossibile o texto de Lolita tivesse sido escrito todo na prisão, a “epifania final”, após a conversa em Coalmont até o assassinato de Quilty, teria afetado a escrita do texto desde o início (ZIMMER, 2008).12 No entanto, tanto a incoerência do tempo de escrita do texto quanto a mudança de atitude de Humbert me levam a propor mais uma linha de interpretação. Minha interpretação é a de que o texto de Lolita trabalha contra a aceitação de que o texto possa ter sido escrito por H. H. não só na prisão, não só fora da prisão, mas que possa ter sequer sido escrito intradiegeticamente por Humbert Humbert, quer dizer, pelo autor que assumiu esse pseudônimo, enquanto um texto autobiográfico ficcional. Ou seja, a minha interpretação postula por trás de H. H. – que reivindica que sua escrita é imanente à narrativa – um autor X, fundamentalmente independente da narrativa, que escreveria Lolita controlada e planejadamente, além de deixar rastros que apontam para seu lugar autoral extradiegético. Segundo minha interpretação, qualquer uma das duas interpretações acima, resultantes dos esforços de seus hábeis e imaginativos críticos para manterem a realidade ficcional da narrativa do relacionamento afetivo-sexual entre H. H. e Lolita intacta (ao menos até o referido capítulo 27), são, em aspectos importantes, insuficientes. Esse escritor, que escreve desde esse lugar autoral extradiegético, podemos por ora continuar a denominar escritor X (que não assumo como necessariamente sendo diretamente Nabokov), que teria conduzido, por detrás de seu personagem ficcional H. H., a narrativa de Lolita teria sido realmente magistral, embora tenha incorrido – o que, a meu ver, é muitas vezes o momento mais importante da escrita literária (se é que tal coisa, a escrita literária, é, de algum modo, possível) – em um risco que, para nós, num olhar retrospectivo, pode, falsamente, parecer apenas um risco calculado; no entanto, esse risco, o risco do livro não ser publicado ou permanecer obscuro devido a sua publicação por uma editora menor ou de fora dos Estados Unidos – para cujo público ele foi escrito ao longo de três anos de trabalho tenaz –, era um risco considerável, ainda que bem menor após a sentença de 1933, referida no prefácio de Lolita, em favor do Ulysses. Para que eu possa me explicar mais facilmente, retornarei a H. H. Ele, sem dúvida, conduz habilmente a narrativa. Seu livro começa com o canto das sereias: “Lo-Li-Ta”, o nome “Lolita”, que, no prefácio (que pode, no entanto, ter sido escrito e anteposto à narrativa pelo próprio H. H.), sob o nome de John Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. Ray, é proclamado como sendo verdadeiro; nesse gesto, H. H. seduz os leitores para dentro da realidade ficcional, enfim, com esse canto, os leitores estabelecem um pacto ficcional segundo o qual lerão a narrativa como sendo a exposição minuciosa e verdadeira de uma mente perversa. De fato, a realidade ficcional é construída com inúmeros pormenores que sugerem fortemente sua veracidade. Quanto ao uso da língua inglesa por parte de um suíço, não há nenhum problema, pois H. H. se descreve como dedicado escritor e professor, tendo escrito uma história comparada da literatura francesa e inglesa, em dois volumes, o que garante seu domínio da língua inglesa; sendo que, tal como que por precaução, Ray já relatou que corrigiu os solecismos mais óbvios. Na verdade, embora eu não seja um native speaker, minha impressão da escrita de Humbert é a de quem prazerosamente ostenta seu domínio gramatical e vocabular da língua inglesa; sinto um toque de pedantismo, que, aliás, ele – autoironicamente? – parece reconhecer numa frase como: “disse eu em meu inglês horrivelmente cuidadoso” (NABOKOV, 2011, p. 326); no entanto, seu vício de estilo mais evidente é o de esparramar excessivamente diversas referências culturais européias, a ponto de escolher como nome de casada de Lolita nada menos do que “Schiller” (que seria um nome apenas para mascarar a verdadeira identidade dela). No entanto, esses, por assim dizer, “solecismos” culturais poderiam passar como sendo adequados a um europeu erudito. Sim, poderiam, mas, sendo X um escritor tão hábil, tudo isso pode ser uma encenação: um americano escreveria em um sofisticado pastiche de inglês com solecismos culturais e com um “inglês horrivelmente cuidado” para se passar por um europeu pedante, disfarçando sua autoria com um pseudônimo absurdo. E nada impede que X seja um russo, que escreve como sendo um americano que imita um europeu culto (um suíço, que seja), que recorre a um pseudônimo para assinar o corpo de um livro, cujo prefácio (também escrito por H. H., ou por X?) deveria confirmar a realidade ficcional da escrita de H. H., atando os leitores em um pacto ficcional em que eles lerão tanto como se vislumbrassem uma mente perversa quanto se presenciassem um embate entre duas culturas: a européia erudita e decadente e a americana vivaz mas já corrompida (e, dependendo do juiz, também já corruptora). Nesse sentido, o prefácio, que esboça um sem número de acontecimentos e tece alusões, de início, incompreensíveis, seria um nevoeiro (“Haze”, que, aliás, rima com “maze”) pelo qual os leitores entram no livro até serem resgatados do prefácio ao passarem a serem conduzidos pelo canto “Lo-Li-Ta” do início do primeiro capítulo. Daí para frente, Humbert Humbert será, aparentemente, o timoneiro. No entanto, voltemos ao que o texto de Lolita nos diz literalmente. Quem é, segundo o próprio texto, o primeiro leitor de Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 161 Gragoatá André Rangel Rios Lolita? É Charlotte Haze, a mãe de Lolita. Ela teria lido trechos do mesmo diário que é “transcrito” no capítulo 12 da Parte I (NABOKOV, 2011, p. 49-66). Ela se desespera ao ler sobre a suposta paixão de Humbert por Dolores e, embora H. H. tenha explicado a Charlotte que aquelas anotações que ela encontrara eram apenas “fragmentos de um romance”, nos quais os nomes de Charlotte e da filha apareceriam “por mero acaso”, ela continuou perturbada e, ao sair na rua, foi atropelada e morreu (Idem, p. 114). Charlotte foi a primeira leitora de Lolita, mas não só isso: ela pode também ser entendida como uma metonímia do público americano que viria a ler um livro escrito a partir daqueles “fragmentos de romance”. Era esse público (que, apesar da mencionada sentença de Woolsey tolerando o artístico, não tendia, na prática, a aceitar tais escusas jurídicas) que H. H., ou X através de H. H., teria de enfrentar para fazer com que seu romance, seu “opus”, triunfasse na América. De fato, uma longa jornada se lhe antepunha. Como o texto de Lolita expõe esse público-Charlotte? Não seria um público submisso, ainda que talvez afeito a ter princípios. De fato, o autor reconhece que, “[c]omedida e americana, Charlotte me metia medo”, porque ao compará-la a Valerie, sua primeira esposa em Paris, a quem Humbert dava ordens e até batia, tinha de reconhecer que Charlotte não aceitaria intromissões no modo como ela decidia tratar sua filha (NABOKOV, 2011, p. 99). H. H. se mostra consciente de que, se ele tentasse impor alguma coisa a Charlotte sob a ameaça de separar-se dela, ela diria “...chegamos ao fim” (Idem, p. 100). Ele se declara francamente contrariado com “...essas mulheres de princípios” (Idem, p. 99). No entanto, ele considera também que Charlotte “não percebia a falsidade sistemática das convenções cotidianas, das regras de comportamento, da comida, dos livros e das pessoas que [ela] tanto admirava...” (Ibidem, p. 99). Charlotte, e portanto o público americano em geral, faria parte da “era da classe média enxerida” (“middle-class nosy era”) (Idem, p. 104). E é frente a essa classe média enxerida que o autor de Lolita defende seu caso. Ao longo do livro, ele se refere, por vezes, ao júri : “Senhoras e senhores do júri” (Ibidem); primeiramente, o leitor entende que seria Humbert preparando suas memórias para usar em seu julgamento. De fato, é uma leitura possível, mas, se pensarmos que um romance é, por assim dizer, julgado pelo público, então seria não exatamente a um grupo de pessoas com encargos judiciais legalmente estabelecidos que H. H. estaria se dirigindo, mas a essa “classe média enxerida”. Mas, afinal, o que é um júri? Que pessoas o compõem? Um júri é basicamente composto por pessoas respeitáveis, escolhidas entre a população em geral, ou seja, um júri é um grupo composto a partir da classe média enxerida. E, de fato, o júri é um bando de enxeridos que aceita julgar a vida dos outros com base em padrões 162 Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. legais e morais, padecendo, portanto, das mesmas limitações já atribuídas a Charlotte: não perceber “a falsidade sistemática das convenções cotidianas, das regras de comportamento, da comida, dos livros e das pessoas”. Lolita é um texto que, tal como H. H. se diverte zombando dos psiquiatras, escarnece dessa classe média enxerida. No entanto, para não me estender demais, considerarei apenas a incapacidade desses enxeridos em perceber a “falsidade sistemática” dos livros, no caso, do próprio texto de Lolita. Para isso, vou comentar apenas um nome “Vivian Darkbloom”, que aparece tanto no corpo do livro quanto no prefácio. Vivian Darkbloom é um nome que aparece em sua forma completa três vezes ao longo de Lolita – uma delas no prefácio, de John Ray –, e ainda mais duas vezes apenas como “Vivian”. Ela é, em Lolita, uma escritora, casada com Clare Quilty, e que, segundo Ray menciona, escreveu um livro sobre a vida de seu marido, que, na opinião dos críticos, seria o melhor livro dela. Humbert, após haver assistido com Lolita uma peça de teatro na cidade de Wace, durante a segunda viagem deles pelo interior dos Estados Unidos, vê de relance o casal coautor da peça; no entanto, Lolita o corrige dizendo que “Vivian é o homem dos dois escritores, e a mulher é Clare” (NABOKON, 2011, p. 258). Esse episódio seria uma explicação de por que Humbert nunca suspeitou que Clare Quilty poderia ser quem “raptou” Lolita do hospital. No entanto, ele nunca suspeitou também de Vivian Darkbloom, que supunha ser um homem. De certo modo, apesar da paranoia de perseguição de Humbert, que o fazia suspeitar de todos os homens, Vivian permanece acima de qualquer suspeita. Humbert só destroca os significados desses dois nomes que, em inglês, são andróginos, muito mais à frente na narrativa, quando, aliás, uma outra palavra, “waterproof”, é mencionada mais uma vez no romance. A palavra “à prova-d’água” (“waterproof”) só aparece duas vezes em Lolita: uma discretamente, sem suscitar maiores emoções nem nos personagens nem no leitor, mas, numa segunda vez, ela assume para o narrador, H. H., uma força epifânica. A primeira ocorrência da palavra “waterproof” se dá quando Humbert e Charlotte vão a um lago de nome Hourglass Lake (Lago da Ampulheta). Depois de os dois haverem nadado, aparece Jean, uma amiga do casal, e diz ter reparado que Humbert entrou na água usando relógio. Foi então explicado a ela: “À prova-d’água” [“waterproof”], disse baixinho Charlotte, fazendo boca de peixe” (NABOKOV, 2011, p. 105). Depois disso, a conversa continua, mas Jean é interrompida quando seu marido, John Farlow, chega; ela estava prestes a contar uma história sobre o sobrinho do dentista Ivor Quilty: “Da última vez ele [Ivor Quilty] me contou uma história absolutamente indecente sobre o sobrinho dele [Clare Quilty]. Parece...” (Idem, p. 106). Assim, sem nada de especial para um leitor de primeira viagem, apenas como uma discreta piada sobre Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 163 Gragoatá André Rangel Rios Humbert, um representante do Velho Mundo, estar nadando no Lago da Ampulheta com um moderno relógio à prova d’água, se encerra o capítulo. “Waterproof” só reaparecerá no final do livro, quando H. H. se encontra com Lolita, agora casada e grávida, e pergunta quem a levara do hospital, enfim, qual o nome desse amante que a roubou dele, nome que ele nunca conseguira descobrir. Humbert, sem a princípio mencionar o nome, descreve como Lolita respondeu: E em voz baixa, num tom confidencial, arqueando as finas sobrancelhas e franzindo os lábios ressecados, emitiu, com uma expressão um tanto zombeteira e um pouco entediada, não desprovida de alguma ternura, numa espécie de assobio mudo, o nome que o leitor astuto já deve ter adivinhado há muito tempo. (NABOKOV, 2011, p. 317 – o grifo é meu) E o parágrafo seguinte começa com a palavra: “À provad’água” [“waterproof”]. Esta palavra seria como que um eco na mente de Humbert, não um eco exato do que Lolita falou, mas, digamos, um eco interpretativo. O nome que ela falou, o que fica claro na sequência do diálogo, deve ter sido “Clare”, Quilty” ou “Clare Quilty”. Humbert narra sua reação ao ouvir o nome: “Por que um relance do Lago da Ampulheta atravessou minha consciência? Eu também sabia, sem saber, desde sempre.” Ele acabara de se lembrar de Jean mencionando uma “história absolutamente indecente” a respeito do sobrinho – portanto, de um homem – do dentista, dando-se conta, assim, de que sempre soube quem fora o, digamos, indecente que levara Lolita embora. Talvez Lolita o tenha enganado dizendo-lhe que Clare Quilty era uma mulher, mas ele sempre já o teria sabido: teria sido ele mesmo que se levou a se enganar. Teria sido por isso que Vivian Darkbloom permaneceu pairando acima de qualquer suspeita? Ou será que também se trata de um nome que nos engana? Se somos, como é mencionado na extensa passagem que citei acima, o “leitor astuto” [“astute reader”], que, segundo H. H., já teria se dado conta de quem teria “raptado” Lolita, de que maneira o nome da esposa, tal como o do marido, pode nos enganar? Humbert parece estar elogiando alguns leitores que seriam mais astutos do que ele. Lendo essa passagem, o “leitor astuto” tenderia a se lembrar da cena do lago (ou voltaria as páginas do livro até a cena do lago) e constataria que nela Humbert ouvira falar pela primeira vez do comportamento indecente do sobrinho de Ivor Quilty. De fato, o leitor precisa de alguma astúcia para ligar uma passagem com a outra. Segundo o Sparknotes (2011), que busca propor uma interpretação básica de Lolita, ou seja, uma interpretação que sustente sua realidade ficcional, o “leitor astuto” não se atém apenas ao conteúdo narrativo, mas deixa-se participar em jogos linguísticos e guiar-se pelos 164 Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. “...an astute reader who participates in the games in and patterns of the novel would have guessed this name long ago…” (SPARKNOTES, 13 padrões narrativos, de modo que, de fato, já teria há muito se dado conta do nome em questão.13 H. H. estaria, portanto, nos elogiando por desempenharmos bem a tarefa de explicitar a coerência da realidade ficcional da narrativa. A ludicidade das palavras, a repetição de “waterproof”, é, de fato, um prazer a mais, uma leitura intelectualmente sofisticada, mas deixar-se levar por esse deleite estético é cessar o questionamento de se há lacunas ou fissuras na realidade ficcional, ou seja, assim, o “leitor astuto” decide-se por não chegar a vê-las e de pensar esteticamente suas consequências. O prazer do leitor astuto, sua astúcia, está em manter-se iludido quanto à coerência realista da narrativa. Na verdade, o “leitor astuto” chega a uma conclusão com fumos de paradoxo: o romance é realisticamente coerente em sua narrativa ficcional e é elaboradamente coerente em sua construção narrativa, ou seja, o romance retrata a realidade com coerência e é formalmente bem composto. Curiosamente, é a palavra “waterproof” que, ao levar o leitor astuto ao insight da tensão entre realismo e formalismo em Lolita, faz “vazar” o olhar do leitor para detrás da trama, para a cuidadosa e controlada composição da narrativa, ao mesmo tempo em que a voz autoral põe em destaque esse lugar de escrita e leitura que transborda a narrativa, que “vaza” para o espaço extradiegético. Lolita é um romance meticulosamente montado. A própria mudança nas atitudes de Humbert, o que parece implausível a alguns críticos, está claramente articulada no romance. No capítulo 27 da Parte II, Humbert recebe duas cartas. A primeira que ele leu era de John Farlow, marido de Jean na história do lago, e falava de sua vida após a morte da esposa. O que se passa é que ele mudou em vários aspectos; e H. H. comenta: “Muitas vezes reparei que tendemos a atribuir aos nossos amigos a estabilidade de tipo que os personagens literários costumam adquirir no espírito do leitor” (NABOKOV, 2011, p. 309). Ora, o autor de Lolita, ao narrar a mudança impressionante de comportamento de John está não só exemplificando, mas também avisando que Humbert mudará de uma maneira que surpreendentemente contrariará essa tal tendência a atribuir estabilidade aos personagens literários. A frase citada logo acima é, portanto, um alerta duplo: (1) Humbert é um personagem literário (2) e ele, apesar de isso contrariar os leitores da classe média enxerida, vai mudar de um modo que irá contra a estabilidade que, a essa altura do romance, certamente já se encontra “no espírito do leitor”. Esse controle da narrativa que H. H., por diversas vezes, ostenta ao longo de sua narrativa, se, por um lado, parece reforçar a hipótese de que a escrita de Lolita é imanente – intradiegética – à sua narrativa, por outro, sugere também que o texto foi escrito calculadamente, fora dos percalços narrados. Ora, é claro que Lolita foi escrito por Nabokov, vivendo longe das peripécias de Humbert. O que está em questão para nós é se a Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 165 Gragoatá André Rangel Rios narrativa de Lolita indica intradiegeticamente que ela foi escrita extradiegeticamente. A questão seria, portanto, a de se o texto de Lolita indica, nele mesmo, que há um escritor X que o escreveu independentemente de ter participado de sua narrativa. Segundo Ray, esse escritor X teria de estar incluído na narrativa, porque Ray considera que é necessário que tenha ocorrido a “calamidade” do relacionamento sexual de um homem de 37 com uma menina de 12 para que o livro Lolita pudesse ser escrito. No entanto, podemos, com o privilegiado do nosso ponto de vista extradiegético, contra-argumentar que, ao que se sabe, Nabokov não cometeu tal “calamidade” e pôde escrever Lolita, assim também o escritor X (ainda que considerado um personagem-escritor que Nabokov teria deixado permanecer anônimo), também poderia ter escrito o livro, atribuindo-o a Humbert sem ter cometido a “calamidade”. Mas X pode também ser diretamente Nabokov. Se bem que, o que me parece uma hipótese mais plausível, é que Nabokov teria posto para escrever Lolita um personagem X, que seria um europeu expatriado, tal como se ele, Nabokov, a essa altura de sua estada nos Estados Unidos, já tivesse se tornado americano demais para ser ele mesmo um europeu erudito escrevendo. Nesse sentido, Lolita seria um livro extremamente americano, não só pelas múltiplas referências à cultura e à vida americanas, mas pelo esforço que Nabokov talvez tenha de ter feito para escrever (burlescamente?) como se fosse um europeu. Seja como for, “waterproof” – porque reforça no leitor astuto o entendimento da extrema elaboração narrativa de Lolita, bem como porque é o escritor do texto que chama atenção para isso, para sua perícia, para seu domínio do texto – debilita em muito a credibilidade da hipótese de que o livro teria terminado de ser escrito na prisão, que, até aqui, era a hipótese mais forte para salvar a realidade ficcional, isto é, a consistência realista da narrativa. Ao contrário, frente a “waterproof”, a hipótese de que Humbert, ao longo do período afastado de Lolita, e até mesmo sem ter cometido o assassinato, escreveu – e avisa que escreveu – esse texto formalmente elaborado ganha força como argumento para que ainda seja possível sustentar convincentemente a realidade ficcional. É curioso que a partir do problema interpretativo devido à inconsistência do tempo de escrita de Lolita, tínhamos a hipótese “c”, segundo a qual o livro teria sido escrito em casa ou em uma clínica psiquiátrica como sustentando mal a realidade ficcional, pois não explicava bem a mudança abrupta de atitude de Humbert, cuja transformação deveria ter se dado mais lentamente, durante o longo período de escrita do texto. Frente à hipótese “c”, “b”, que propunha que H. H. apenas terminou de escrever Lolita na prisão, parecia mais forte. Agora a hipótese “a”, segundo a qual um escritor X (ficcional ou não), fora da trama, é que teria escrito o livro e faz questão de indicar 166 Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. Não está em questão neste a rt igo o uso de anag ramas nas o b r a s d e N a b o k o v, mas somente o do anagrama de Vladimir Nabokov na temática em discussão, a saber, sobretudo na questão do processo de publicação intradiegético. 14 sua presença ao fazer o texto vazar com “waterproof”, se mostra uma hipótese forte, mas que pode ser questionada, porque, de certo modo, a hipótese “c” pode incluí-la ao alegar que Humbert estaria construindo um texto com paranoicas associações de palavras e autoincriminações delirantes. Desse modo, teríamos em termos de força explicativa b>c, e a>b, o que levaria a a>b>c, o que, porém, após “waterproof”, não impediria que, em certa medida (no caso, adotando-se a hipótese de que H. H., em algum hospital, está escrevendo um delírio sistemático autorreferente), se aceite também c>a, o que nos levaria, como um efeito da conjunção de problemas interpretativos, a termos de aceitar, quanto à plausibilidade, tanto a>b>c quanto c>a. É porque “waterproof” e “56 dias” são problemas interpretativos, ou seja, elementos narrativos indomáveis enquanto proliferadores de hipóteses interpretativas, que, por seus efeitos múltiplos, não devem ser encarados apenas como problemas textuais, que, quando muitas informações podem ser coletadas no texto, poderiam ser respondidos satisfatoriamente; problemas interpretativos podem, ao contrário, ser potencializados na medida em que mais informações emergem da leitura detalhada do texto. No entanto, ainda assim, ameaçando ferir profundamente a realidade ficcional, temos o já referido problema interpretativo: “Vivian Darkbloom”. A questão que se impõe com esse nome é que ele é um anagrama de “Vladimir Nabokov”.14 Baseandonos no texto de Lolita, cabe perguntar como Humbert – ou John Ray – teriam elaborado esse pseudônimo em anagrama senão se conhecessem Nabokov (o que, de fato, não é mencionado nem no prefácio nem na narrativa)? Ora, além de artistas da cultura popular americana e de escritores internacionalmente reconhecidos (Proust, Joyce, Flaubert e outros), Humbert cita os artistas que se apresentam em sua narrativa, artistas dos quais ele teria trocado os nomes para evitar reclamações. Vivian seria uma escritora que teve seu nome mudado, mas de onde teria vindo o nome de Vladimir Nabokov, não sendo ele nem um artista popular americano nem, na época, um nome internacionalmente famoso tal como Proust e Joyce? Tampouco, em Lolita, é generalizada a prática de nomes que são anagramas. Mais uma vez temos uma palavra que faz o texto “vazar” para fora dele, e agora vaza não somente de modo a se poder postular um autor X por trás de Humbert, mas, inevitavelmente, chega-se a Vladimir Nabokov. (Nem é possível alegar aqui que elaborar anagramas seja uma prática paranoica – como a hipótese c acima – porque X teria de conhecer e mencionar Vladimir Nabokov, o que não seria um delírio.) De certo modo, essa autopromoção do próprio nome, que, pela sua história literária até então, bem como com a comparação com Joyce feita por Ray, poria Nabokov na galeria dos grandes escritores que Humbert cita vale como uma aposta por parte do próprio Nabokov de que ele, quem sabe, com o livro Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 167 Gragoatá Em inglês: “Vivian Darkbloom” has written a biography, “My Cue,” to be published shortly, and critics who have perused the manuscript call it her best book. 15 168 André Rangel Rios Lolita mesmo, finalmente chegaria a ser visto como sendo da mesma estatura deles. De fato, essa aposta de Nabokov quanto ao notável reconhecimento que sua “biografia” de H. H. alcançará ao ser “publicada em breve” está claramente assinalada, por meio de uma “deixa” (em inglês, em linguagem teatral seria “cue”), no prefácio: “ ‘Vivian Darkbloom’ [Vladimir Nabokov!] é autora [“the autor”] de uma biografia, Minha deixa [“My Cue”], a ser publicada em breve, e os críticos que folhearam os originais classificaram-na como o melhor de seus livros” (NABOKOV, 2011, p. 8 – os grifos em negrito são meus).15 Visto assim, Lolita seria a história de uma aposta literária consciente e ousada, que foi amplamente ganha. O lolitismo seria apenas o canto das sereias para que o público, o tal público classe média enxerida, em meio à névoa de uma narrativa em diversas camadas, fosse conduzido através da cuidadosa composição da narrativa e suas estratégicas transgressões de convenções sistemáticas. Nabokov, com sua narrativa multifacética, teria jogado para duas platéias. Em Lolita, literariamente considerado, as convenções narrativas que sustentam a realidade ficcional do relato supostamente autobiográfico de um suposto europeu supostamente pervertido são, por um lado, diligentemente seguidas, envolvendo os leitores num prazer que, segundo as convenções vigentes, seria aceitavelmente transgressivo (ou, si vous voulez, aceitavelmente sensacionalistas); por outro, essas convenções são contrariadas, o que se dá quando, insidiosamente, vão surgindo fissuras na realidade ficcional até o ponto de desautorizar Humbert como narrador autobiográfico, estabelecendo uma autoria por detrás dele, que o remete – e assim o anula –, através sobretudo de “Vivian Darkbloom”, a Vladimir Nabokov, que, por sua vez, ao distanciar-se, por meio do prefácio de Ray e do pseudônimo de Humbert Humbert, conseguiu esse amainamento do suposto realismo da narrativa – sem que a narrativa perdesse, aos olhos de tantos milhares de leitores, seu caráter realista ficcional –, sendo que, no mesmo gesto, conseguiu ainda a valorização do caráter artístico do texto, o que, apesar de várias proibições de publicação fora dos Estados Unidos, acabou conduzindo Lolita a um estrondoso sucesso de público e crítica. Digamos que, com Lolita, Nabokov alcançou, o que sempre é extremamente difícil, o melhor dos dois mundos, do popular e do erudito, ao mesmo tempo em que contribuiu para desmontar essa dúbia polaridade (que, contudo, não deixa de ter fundamentado a sentença judicial que permitiu a publicação de Ulysses e, em seu rastro, de Lolita). Do mesmo modo, Lolita conquistou o Novo e o Velho Mundo, pondo em questão se eles são, afinal, tão dicotômicos em suas inovações e perversões. Mas ler Lolita como um texto que questiona e relativiza dicotomias culturais já não é mais nosso tema. Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Publicando Lolita. Comentário do Prefácio de John Ray, Jr., ph.D. Abstract This paper discusses the “act” of publishing in the broad sense as a “process” in stages that considers the education and the linguistic skills of the writer, runs the production, the printing and the distribution of the book, makes use of strategies to avoid censorship and judicial prosecution, and monitors the critics and the publics’ reaction to the book; the main point of this paper, however, is the analysis of the acts of publishing and of writing as they are mentioned or hinted at in the story itself or as they are interwoven in the fictional reality. Then, beginning with a comment on the Preface of Lolita, by John Ray, Jr. ph. D., the fictional authors present argumentative strategies for the non banning of the book and point out relevant aspects of the intricate relationship between, on one hand, John Ray and Humbert Humbert, two writers who are immanent in the narrative web, and, on the other hand, the signatory author, Vladimir Nabokov, bringing out, among other issues, the awareness of the boldness of his literary bet against the readership of the “middle-class nosy era” as well as of its confidence in the promising results of Lolita’s publication. Keywords: literary theory; literature and medicine; authorship; paranoia; act of reading; act of publishing. Referências BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. LAHIRE, Bernard. La condition littéraire. Paris: Éditions La Découverte, 2006. MACHADO DE ASSIS, J. M. Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1986, vol. 1. MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. NABOKOV, Vladimir. Lolita. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. ______. Lolita. New York: Random House, 1989. RIOS, André Rangel. O ato de publicação. Rio de Janeiro: Booklink, 2007. SPARKNOTES. Lolita Summary. (2011) http://www.sparknotes. com/lit/lolita/summary.html; acessado em: 13/6/2011. STACH, Reiner. Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt: Fischer, 2003. Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 169 Gragoatá André Rangel Rios ZIMMER, Dieter E.. Lolita, USA. A geographical scrutiny of Vladimir Nabokov’s novel Lolita (1955/1958). (2007) http://www.dezimmer. net/LolitaUSA/LoUSpre.htm; acessado em: 13/6/2011. ______. A Chronology of Lolita. (2008) http://www.dezimmer.net/ LolitaUSA/LoChrono.htm; acessado em: 13/6/2011. 170 Niterói, n. 31, p. 151-170, 2. sem. 2011 Das atmosferas, acasos e turbulências Maria Cristina Franco Ferraz Recebido em 15/07/2011 – Aprovado em 15/09/2011 Resumo O artigo explora alguns aspectos da cultura “somática” contemporânea, expressos de modo significativo na literatura anglo-saxônica recente. Para tal, analisa o romance Atmospheric Disturbances, de Rivka Galchen, editado em 2008. A crescente ênfase cultural e midiática no plano material do corpo - em especial nas redes neuronais do cérebro, em hormônios e genes –, acionada para se dar conta de todas as esferas da experiência humana, fornece roteiros de subjetivação de cunho biologizante. Novas síndromes descritas e catalogadas de modo proliferante tendem a medicalizar e a domesticar estranhamentos e ambiguidades elaborados há séculos, sob outras claves, pela cultura letrada ocidental (da literatura à psicanálise). A leitura crítica do romance de Galchen permite ressaltar questões éticas, políticas e filosóficas implicadas no processo de naturalização e de progressiva desespiritualização do fenômeno humano, presente na cultura contemporânea. Palavras-chave: cultura somática; literatura anglo-saxônica; subjetividade contemporânea. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 Gragoatá Cf. Mark Roth, “The Rise of Neuronovel”, n+1, 14/09/2009, disponível em http://nplusonemag.com/rise-neuronovel 1 172 Maria Cristina Franco Ferraz A literatura anglo-saxônica recente nos fornece alguns exemplos significativos de certa inflexão observada na cultura contemporânea, identificada com a expressão “cultura somática”. De modo geral, trata-se da tendência crescente à redução da experiência humana em sua totalidade (pensamento, religiosidade, sentimerntos, ética etc) à materialidade de um corpo cientificamente objetivado, com ênfase no cérebro, nos hormônios e nos genes. Essa tendência biologizante na configuração do que somos tem-se manifestado em ficções anglo-saxônicas contemporâneas, configurando o que Mark Roth, em breve ensaio, denominou de “Rise of the Neuronovel”.1 Sem querer entrar no mérito da pertinência ou não deste termo, pode-se observar de fato que novos roteiros de subjetivação, apoiados no privilégio do plano biológico, sobretudo neurológico, vêm se introduzindo em ficções e na esfera cultural (sites, blogs), sob o modo do que alguns autores chamam de bioidentidades, neuroselves ou individualidades somáticas (cf. Rose). Nesses produtos culturais, as narrativas de si e os personagens se configuram a partir de rubricas patológicas, tais como as síndromes de Huntington, de Asperger, Tourette, Capgras etc. Emergem também, por vezes, como perspectivas outras, como alternativas aos padrões de normalidade, pleiteando o estatuto de subculturas, como diferenças a serem despatologizadas e integradas como potencialmente enriquecedoras (e não a serem “curadas”). Essa afirmação de si como alteridade já implica, obviamente, uma adesão ao novo quadro classificatório, sua inscrição no regime de certos distúrbios ou disfunções codificados nas últimas décadas. O livro em questão se intitula Atmospheric Disturbances (Distúrbios atmosféricos), romance de estreia da jovem autora canadense, atualmente residente em Nova York, Rivka Galchen, que possui dupla formação universitária: em Letras e em Medicina, com especialidade em Psiquiatria. Os pais da autora, emigrados de Israel, se inscrevem na obra. De modo mais direto, seu pai, Tzvi Gal-Chen, professor universitário de meteorologia, torna-se efetivamente um personagem espectral do enredo. Como que em linha d’água, a mãe da autora paira também sobre a obra, por seu trabalho como programadora computacional do Laboratório Nacional de Graves Tormentas (National Severe Storms Laboratory), instituição cujo nome sugestivo convoca e aglutina as forças do imaginário, bem como o desejo de controle, de previsão das imparáveis oscilações e das variações constantes da atmosfera terrestre. Eis, de modo sucinto, o enredo. O psiquiatra e psicanalista nova-iorquino Leo Liebenstein, ao ver um belo dia sua mulher (Rema) entrar em casa trazendo um novo cãozinho, não a reconhece, tomando-a a partir de então por um simulacro, por uma impostora, uma réplica, uma Ersatz-Rema. Em paralelo, Dr. Leo Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 Das atmosferas, acasos e turbulências Liebenstein está tratando de um paciente paranóico chamado Harvey – nome que, por sinal, lembra o famoso cometa Halley. Harvey pensa ser um agente secreto da fictícia Royal Academy of Meteorology incumbido da tarefa de antever e de deter cataclismas meteorológicos iminentes. Está assim constantemente colocando sua vida em risco, pois viaja, desaparece sem dar notícia, seguindo supostas instruções e mensagens entrelidas em jornais e em previsões meteorológicas televisivas. Para obter sucesso no tratamento (um sucesso derrisório, meramente pragmático), Dr. Leo implementa uma tática totalmente herética sugerida por sua mulher: durante as sessões, Rema liga para o marido, fazendo-se passar por um superior da (falsa) academia meteorológica, para transmitir a Harvey supostas missões a serem realizadas bem perto de casa, no próprio bairro. Impediria, assim, seus sumiços. Embora o médico inicialmente resista ao uso dessa estratégia, acaba aplicando-a. Tem então início a proliferação em abismo de simulacros, um vertiginoso jogo de indecidibilidade entre os personagens e seus duplos. Agravando o caso, o estratagema ficcional sugerido por Rema introduz elementos do real que extrapolam o próprio romance: ela se faz passar por um superior da pseudo academia meteorológica chamado Tzvi Gal-Chen, nome verdadeiro do pai da autora, que se dedicara de fato profissionalmente a lidar com imprevisíveis fenômenos meteorológicos. Após um breve período de sucesso desse expediente nada ortodoxo, o paranóico Harvey acaba mesmo assim desaparecendo do mapa. Paralelamente, Dr. Leo sai em busca da “verdadeira” Rema, partindo, ele também, sem deixar qualquer aviso para Buenos Aires, cidade onde sua mulher tinha nascido e sido criada. O tema político dos “desaparecidos”, em sua forte presença na Argentina, intervém explicitamente na trama, com no mínimo dois efeitos. Por um lado, aponta para o esvaziamento da ética e da política que acompanha a incorporação dessas novas categorizações e crenças biopolíticas, uma vez que o desaparecimento deixa de se inscrever no campo das lutas e ações humanas, restringindo-se ao regime da “vida nua” (Agamben) próprio às individualidades somáticas ou neuroselves. Na trama, essa perda ético-política é ainda reforçada por um gesto cínico que tem por efeito colocar sob suspeita a própria facticidade desses crimes políticos, contaminando o tema do “desaparecimento” político com o terreno pantanoso da indecibilidade entre meras versões. Eis como isso se dá no romance de Galchen: indo ao encontro de sua sogra argentina, Leo descobre que o pai de Rema teria sido um dos “desaparecidos” da ditadura. No entanto, um pouco adiante, essa versão é contrariada pela própria Rema, que afirma que seu pai teria banalmente abandonado sua mãe. Rema comenta que, contrabandeando a Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 173 Gragoatá Inevitável mencionar aqui Borges e sua visão do Sul, referência implícita desta passagem. 3 “I d id n’t ac t u a l ly believe a word of what I said. Even if I did, briefly, that would have been purely on account of my distorting neurologic state.” (p. 230, grifo meu). 2 174 Maria Cristina Franco Ferraz dor de perda e abandono por algo mais honroso, sua mãe teria integrado essa ficção, não passando, portanto, de uma mentirosa. Diversos jogos do falso são explorados no romance, sempre balizados pela moldura somática. Não apenas no sentido central da trama – a busca quixotesca, necessariamente fadada ao fracasso, pela “verdadeira” Rema -, mas em diversos detalhes que assinalam o campo deslizante do simulacro e a perda de qualquer referência em que se possa ancorar barcos bêbados. Por exemplo, a chegada do nova-iorquino à Argentina parece de início restituir às coisas seu sabor genuíno: Leo toma uma bebida que, segundo ele, tinha realmente sabor de maçã, e não de essência de maçã sintetizada (GALCHEN, 2008, p. 91). Entretanto, essa promessa de restituição de um mundo real e verdadeiro no extremo sul das Américas logo se revela, como veremos, um logro total.2 Partindo para a inóspita Patagônia – onde, com pseudônimo, o Dr. Leo Liebenstein aceitara um trabalho como (falso) meteorologista –, em um movimento de descentramento ainda mais radical, o psiquiatra observa que há em seu quarto de hotel um arremedo de lareira, acesa a gás, com esculturas de madeira que nunca se queimam (Idem, p. 165). Em um vilarejo onde foi parar depara-se ainda com falsos gaúchos que oferecem, a preços módicos, tours turísticos a cavalo (Idem, p. 167). Esses detalhes contribuem para colocar em derrisão a crença no inconsciente (longínqua e borgeana Patagônia) como último recurso e sítio de nossa suposta natureza mais autêntica, primordial. Conforme se lê no romance, segundo Rema a Patagônia é “o selvagem e incultivado inconsciente da Argentina”. Para o psiquiatra em crise, no entanto, mais parece um inconsciente feito de Lego, inodoro, insípido (“it was a[n...] unscented Lego-land of an unconscious”, Ibidem). Encontram-se então barrados tanto o mito patagônico quanto a possibilidade do reencontro com o “verdadeiro”, com o suposto “original” perdido nesse mundo-Lego, radicalmente fake. Inevitável lembrar aqui a bastante citada observação de Zizek acerca do nosso café sem cafeína, do sexo sem sexo, da guerra sem guerra. Neste mundo fake, em que circulam rótulos aplanadores (como no caso da proliferação crescente de novas síndromes e disfunções), Leo insiste quixotescamente em encontrar sua verdadeira Rema. Inserido em um regime de sentido biopoliticamente configurado, Leo Liebenstein parece por vezes transbordar a moldura patológica que domestica sua experiência ao referi-la unicamente a um distúrbio neurológico objetivamente assinalável. Evidentemente, no romance sua doença enquadra e aprisiona a potência ontológica de sua experiência singular, na medida em que é de saída sugerida (já por sua profissão) e explicitamente reafirmada na trama, sobretudo no desfecho do livro.3 Em outras passagens, essa neuroperspectiva se inscreve de modo mais amplo, sob a ruNiterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 Das atmosferas, acasos e turbulências “D e lu s ion a l m i s identification syndrome is an umbrella term, introduced by Christodoulou (book “The Delusional Misidentification Syndromes”, Karger, Basel,1986) for a group of delusional disorders that occur in the context of mental or neurological illness. They all involve a belief that the identity of a person, object or place has somehow changed or has been altered. As these delusions typically only concern one particular topic they also fall under the category called monothematic delusions. This syndrome is usually considered to include four main variants: • The Capg ras delusion is the belief that (usually) a close relative or spouse has been replaced by an identical-looking impostor. • The Fregoli delusion is the belief that various people the believer meets are actually the same person in disguise. • Intermetamorphosis is the belief that people in the environment swap identities with each other whilst maintaining the same appearance. • Subjective doubles, described by Christodoulou in 1978 (American Journal of Psychiatry 135, 249, 1978) in which a person believes there is a doppelgänger or double of him or herself carrying out independent” Cf. http://en.wikipedia. org/wiki/Delusional_ misidentification_syndrome. 4 brica das “síndromes de misidentification, de falsa-identificação”4 (GALCHEN, 2008, p. 207). Entretanto, de modo ambíguo, as percepções distorcidas, as variações atmosféricas que Leo sofre e flagra também se desdobram no livro em um horizonte carregadamente ontológico ancorado em outras matrizes culturais, especialmente na densa tradição literária (introduzida também na psicanálise) do tema dos duplos, da figura desconcertante e inquietante do Doppelgänger. A ambiguidade instala-se no romance. Enquanto a nova moldura cultural - a cultura somática - a que ele adere orienta fortemente tanto a produção quanto a recepção da obra, o recurso a outra matriz cultural, em que a experiência não se patologiza biopoliticamente mas se desdobra em um plano ontologicamente pregnante, parece também apontar para uma crítica implícita aos atuais reducionismos de cunho somatizante. Mantém-se, no entanto, a ambiguidade do gesto, convocando no mínimo as seguintes indagações: trata-se de uma reciclagem de toda a tradição cultural sedimentada ao longo dos últimos séculos na literatura (e na psicanálise) em uma clave somatizante, ou seja, de um transplante da tradição da cultura letrada para esse novo horizonte de sentido? Ou estaria aí em jogo exatamente um abalo dessas novas crenças biopolíticas, por meio da forte reintrodução da tradição literária? O horizonte de sentido em que o livro se instala – e é ele que nos interessa aqui –, especialmente no mundo anglo-saxão, certamente colabora para a manutenção dessa ambiguidade. Basta nos indagarmos, por exemplo, se nesse novo horizonte ontologicamente esvaziante, um Gregor Samsa (e todo Kafka, todo Beckett etc) seria possível. A patologização biopolítica em franca expansão cultural parece colocar em risco a produção e invenção de novas ontologias possíveis, de novos territórios existenciais a serem ficcionados, tendendo a empobrecer o horizonte do dizível e do experienciável. Ainda assim, certa resistência ontológica contra a patologização da vida não deixa de estar presente, em sua já assinalada ambiguidade, nesses Distúrbios atmosféricos, de Rivka Galchen. O psiquiatra se pergunta, a certa altura, quem já não se teria deparado com comportamentos totalmente resistentes à interpretação, “moods [estados ou humores] irredutíveis à serotonina ou circunstância”? E acrescenta, em um verdadeiro achado: “ações Teflon, nas quais nenhuma teoria adere” (GALCHEN, 2008, p. 174). Uma breve pesquisa na internet informa que o politetrafluoretileno, um polímero mundialmente conhecido pelo nome comercial de teflon, acidentalmente descoberto nos anos 30, foi registrado pela empresa americana DuPont e patenteado para fins comerciais em 1946. Quem de nós ainda não se lembra como era fritar um ovo sem o teflon, tendo de colocar na obsoleta Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 175 Gragoatá Maria Cristina Franco Ferraz frigideira muito óleo ou manteiga para não grudar, assistindo ao embate épico entre o orgânico e o inorgânco? E quem já não observou ovos fritos, sem atrito nem necessidade de mediação, em uma frigideira teflon magicamente deslizante e nada dramática? Material com o mais baixo coeficiente de atrito e maior grau de impermeabilidade, o inorgânico teflon expressa perfeitamente essas superfícies deslizantes em que o desacreditado verdadeiro ou real já não se deixa aderir, grudar ou mesmo apreender. Para dar conta desse aspecto fugidio e imprevisível, o romance convoca dois modelos articuláveis entre si, um deles extraído da cultura letrada ocidental (literatura, filosofia, psicanálise), e outro, no interior da própria trama, referido a teorias e modelos de predição meteorológica. Embora não possamos aqui explorá-los na riqueza de seus detalhes, mencionemos alguns dos exemplos mobilizados no romance. Três autores e citações funcionam, de modo explícito, como possíveis alternativas à leitura redutora das distorções perceptivas sob a clave dominante do distúrbio mental: Adorno, Dante e T. S. Eliot. Essas referências sugerem, aliás, que a autora parece aderir a seus estudos humanísticos contra a pressão atmosférica da cultura somática e de sua própria especialização em psiquiatria. Sugere ainda que ela se serve de sua dupla formação para jogar a matriz letrada contra essa atmosfera cultural redutora (as neuroperspectivas), emprestando mais “profundidade” e restituindo textura ontológica aos modos de subjetivação teflon, chapados e sem espessura, que tendem a se expandir atualmente nas sociedades liberais avançadas. Vale a pena relembrar, de saída, a referência a Adorno, menos previsível no contexto da trama. Eis a passsagem citada, tal como no romance: “A irrealidade das brincadeiras das crianças dá a ver que a realidade ainda não se tornou real. Inconscientemente, elas ensaiam a vida certa (“the right life”).” (GALCHEN, 2008, p. 122). A referência a Eliot remonta, em duas passagens, ao último dos Quatro Quartetos. Eis a primeira delas: esbarrando no fantasma de Yeats, nas ruas bombardeadas de Londres, o poeta afirma que ambos eram “por demais estranhos um ao outro para qualquer desentendimento” (Idem, p. 150). Tal como enfatizado por Freud no tema do Umheimliche, só a familiaridade (não a total estranheza) e certa proximidade (não a distância) podem suscitar os próprios desentendimentos e estranhamentos. Mais adiante, outra vez Eliot: “Down the passage which we did not take/ Towards the door we never opened/ Into the rose-garden…/ But to what purpose…/ I do not know…/ Shall we follow?” (GALCHEN, 2008, p. 174). Reabre-se o tema da proliferação de mundos paralelos, inclusive entre vivos e mortos. Multiplicação leibniziana ao infinito de mundos possíveis, todos coexistentes, mas desprovida da firme mão divina garantidora de uma “harmonia pré-estabelecida” que só permitiria a realização 176 Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 Das atmosferas, acasos e turbulências “But something clouded over my handheld eletronic’s moonlight glow, and I turned to see what, and although my pupil’s contraction near blinded me, I made out the silhouette of the simulacrum.” (p. 151). 5 de um único mundo, e - como se isso não bastasse - do melhor dos mundos possíveis. O tema dos mundos coexistentes, paralelos, virtualmente intercomunicáveis (também entre vivos e mortos) ganha no romance uma versão high tech, cibernética. Afinal, como se ter certeza absoluta de quem de fato nos envia e-mails? Essa observação intervém porque Leo recebe, em seu blackberry, mensagens enviadas pelo meteorologista Gal-Chen, morto desde 1994. O próprio toque mágico que faz aparecer e extinguir-se a luz espectral desses novos dispositivos eletrônicos5 também reedita e atualiza o tema dos duplos e dos mundos possíveis. Como, por exemplo, quando Leo comenta que a tela, lugar de troca com o já falecido meteorologista, cai novamente em sono pesado, e o médico, com um breve e preciso toque, faz com que ela volte novamente à vida (Idem, p. 153). Trata-se de um gesto a que vamos nos acostumando, trazendo à luz ou deixando-se esvair espectros reais e luminescentes. A terceira referência a ser destacada remete a Dante. Nela se propicia uma articulação dos temas reciclados - dos duplos, da mise en abîme dos simulacros, do Unheimliche, da coexistência real de mundos paralelos - ao modelo meteorológico de investigação das perturbações atmosféricas da terra e dos comportamentos. A alusão a Dante se refere a seu tratamento peculiar do modo de ser dos mortos: estes conheceriam o passado e até o futuro, mas nada acerca do presente (GALCHEN, 2008, p. 149). O tempo “presente”, em sua variabilidade infinitesimal, fluir ininterrupto de um movimernto absoluto e indivisível (como nos ensinou Bergson) escaparia mesmo aos mortos, que se conhecem bem melhor do que os vivos. Viver é estar suspenso no presente, suspenso no tempo, com suas intempéries e variações atmosféricas (Idem, p. 149). No romance, os modelos meteorológicos propostos pelo Dr. Gal-Chen respondem a essa condição, introduzindo o randômico, distorções e erros a fim de propiciar previsões mais acertadas acerca do futuro. Para dar conta desse campo fluido, em variação contínua e indeterminada, inevitavelmente aberto às forças do caos e do acaso, é preciso mobilizar conceitos porosos, aproximativos. É o caso de atmosfera: no vigor de sua sutileza, em seu caráter intrinsecamente aleatório, pouco afeito à rigidez cadavérica dos sistemas fechados, pode servir a um pensamento que, sem pretender recobrir o real (reencontar a verdadeira Rema perdida), nem por isso recairia na falácia e na aporia do mero deslizar em superfícies teflon. A atmosfera é algo de bastante palpável: por exemplo, se diz que reinava, em tal ambiente, certo clima ou atmosfera pesada, leve, densa etc. Associa-se à concepção bergsoniana da realidade, que contém grandes parcelas de virtualidade. O clima ou atmosfera é tão avesso ao fechamento das definições quanto acessível à percepção imediata. Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 177 Gragoatá Maria Cristina Franco Ferraz A partir dessa noção porosa (na linhagem de outras noções, como as de “graça” ou “charme”), Hubert Damisch explora a “atmosfera” em sua Teoria das nuvens na pintura, e José Gil dela também se vale para dar conta da produção real de atmosferas entre os corpos na dança contemporânea, introduzindo o risco de surtos psicóticos (por contágios e contaminações entre inconscientes), deflagradora igualmente do inconsciente das próprias coisas. As atmosferas, suas forças, pressões e distúrbios estão fortemente presentes no pensamento de Nietzsche, de modo ainda mais explícito a partir do início da década de 1880, quando o filósofo, voltando-se contra o “idealismo”, dedica sua pouca acuidade visual a leituras de obras de meteorologia. Nietzsche estabelece então conexões diretas entre seu estado de corpo, sua saúde e o elemento elétrico, instável e incontrolável das variações atmosféricas. Decepcionado com o caráter rudimentar da “meteorologia médica”, eis o que ele escreve a Franz Overbeck em 28 de outubro de 1881: Talvez já se saiba mais agora – eu deveria ter estado na Exposição de Eletricidade em Paris, em parte para aprender o que há de mais novo, em parte como objeto da exposição: pois como pressentidor das alterações elétricas e como o que se chama de Profeta do Tempo, sou como os macacos e, ao que parece, uma ‘especialidade’. Hagenbach pode por acaso dizer com que roupa (ou correntes, aneis etc) se pode proteger melhor contra essas influências fortes demais? (cf. FERRAZ, 1994/2009, p. 114-115). Com seu corpo elétrico (tal como aquele cantado por Walt Whitman), como antena atmosférica e barômetro hipersensível, Nietzsche efetuou-se como profeta do tempo, em seu duplo sentido. Também no romance de Rivka Galchen o psiquiatra retoma, ainda que de modo derrisório, a velha questão da diferença entre loucos e profetas. Segundo Dr. Leo, a diferença residiria no fato de que, enquanto o louco projeta e escreve um mundo que lá não está, o profeta, em seus delírios, consegue ler seus movimentos efetivos, mesmo que invisíveis para um olhar trivial. Nesse sentido, suas alucinações podem estar dizendo algo acerca do que é, mesmo em estado virtual (na precisa definição bergsoniana, real, sem ser atual), em movimentos infinitesimais e pouco perceptíveis para uma “atenção à vida” pragmaticamente orientada. Como mostrou Bergson, essa “atenção à vida” empresta familiaridade ao sempre cambiante, imobilizando e compartimentando o fluxo a fim de poder agir no mundo. No caso do Dr. Leo, entretanto, essa possibilidade profética se encontra sobredeterminada, portanto esvaziada, pela interpretação de cunho somático, patológico. Sua profecia do tempo não passará de puro delírio, uma vez que ele incorpora no sentido mais literal a interpretação neurológica, concluindo o périplo e seu fracasso ontológico com a reafirmação de sua doença. 178 Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 Das atmosferas, acasos e turbulências Ainda assim, em sua viagem delirante pelo extremo sul da América Latina, Leo Liebenstein também percebe, por momentos, o rumor distante de glaciares em vertiginosa queda, expressando sua perda de balizas e coordenadas, seus distúrbios atmosféricos somaticamente determinados, mas sugerindo igualmente a verdadeira guerra entre versões sobre mudanças climáticas que se entrecruzam no presente na atmosfera da terra. Deve-se tão-somente diagnosticar sua síndrome, ou ouvir o que seu corpo também pressente, movimentos reais do planeta? A interpretação neurológica, inscrita no horizonte de sentido tendencialmente dominante na cultura anglo-saxônica atual, inviabiliza essa suspeita e possibilidade, tornando-a obsoleta. Essa perspectiva erige suas novas narrativas mitológicas – que, obviamente, não se apresentam como tais – por sobre o legado da velha cultura letrada. Atmosferas em constante alteração parecem convocar metodologias e conceitos aptos a acolherem as forças caóticas do fora. No romance, emerge sob o modo de um modelo diagramático reproduzido a partir de um artigo (real?) do meteorologista Tzvi Gal-Chen. Eis o desenho de suas linhas abstratas de força (GALCHEN, 2008, p. 58): Figura 1: Linhas abstratas de força Esse diagrama oscilante e sinuoso também é lido pelo personagem como “a imagem de um homem partindo relutantemente”: “Não é um retrato de mim, deixando primeiro meu apartamento, depois o conforto da casa de infância de Rema, a fim de realizar minha triste e incerta pesquisa? Que estranha essa semelhança.” (GALCHEN, 2008, p. 162). Entretanto, Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 179 Gragoatá Maria Cristina Franco Ferraz insinua-se também aqui uma derradeira ponta de ambiguidade: serviria esse diagrama à empreitada ontológica, ou se trata de mais uma cínica e perversa apropriação da potência ontológica do pensamento contemporâneo, em função do enquadramento neurológico a que adere o romance de Galchen? Qualquer que seja o desenlace dessa questão, o que nos interessa ressaltar é a corrosão do ontológico que parece estar em curso, alavancada por reduções neurológicas da experiência humana, contribuindo para a produção e perpetuação de narrativas e vidas teflon. A menos que, em seus distúrbios atmosféricos, o próprio psiquiatra destronado venha a se transformar – mesmo que de um modo oblíquo, ou lido em uma perspectiva enviesada – em um profeta do seu, do nosso tempo. Abstract This article exploits some aspects of the so-called contemporary “somatic” culture as expressed in recent anglo-saxon novels. It analyses the novel Atmospheric Disturbances, written by Rivka Galchen and published in 2008. The increasing cultural and midiatic emphasis on the materiality of the body – specially on the brain, on hormones and genes – tends to be applied to all human experiences, enhancing scripts of subjectivation biologically based. New syndromes described and labeled in a proliferating way medicalize and domesticate ambiguities and weardnesses which have been elaborated for centuries, in different ways, by the Western literate tradition (from literature to psychoanalysis). The critical reading of Galchen’s novel opens up certain crucial ethical, political and philosophical questions implicated in the ongoing process of naturalization, closely related to a progressive despiritualization of the human phenomenum. Keywords: somatic culture; anglo-saxon literature; contemporary subjectivity. Referências AGAMBEN, Giorgio. O poder soberano e a vida nua - Homo Sacer. Lisboa: Editorial Presença, 1998. BERGSON, Henri. Mémoire et vie (textes choisis). Paris: PUF, 1975. DAMISCH, Hubert. Théorie du nuage (pour une histoire de la peinture). Paris: Seuil, 1972. 180 Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 Das atmosferas, acasos e turbulências FERRAZ, Maria Cristina F. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994/ Ediouro-Sinergia, 2009. GIL, José. Movimento total – o corpo e a dança. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. GALCHEN, Rivka. Atmospheric Disturbances. Londres: Harper Perennial, 2008. ROSE, Nikolas. The Politics of Life Itself. Princeton e Oxford: Princeton University Press, 2007. ROTH, Marco. 2009. “The Rise of the Neuronovel.” N+1, issue 8, 19 October. www.nplusonemag.com/rise-neuronovel ZIZEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do real! São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. Niterói, n. 31, p. 171-181, 2. sem. 2011 181 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina Milla Benicio Ribeiro de Almeida Recebido em 15/06/2011 – Aprovado em 10/09/2011 Resumo O presente artigo dedica-se à reflexão proposta por Valère Novarina sobre os limites do homem, compreendendo seu teatro como uma encenação da linguagem, e, portanto do humano, com metáforas densas, criadas sob a “máscara do animal”, que se prestam à constituição do conflito entre homem e mundo. Encenar a animalidade, nesse contexto, não significa, pois, tornar o palco lugar da imitação ou da representação, mas antes um espaço para questioná-las. Novarina revê, destarte, toda uma tradição metafísica, presente no teatro, mas também no pensamento. Propomo-nos, assim, a percorrer esse mesmo caminho, se quisermos compreender a amplitude da escrita novariniana e suas implicações poéticas e filosóficas. O animal do tempo é a obra que elegemos para fazer convergir uma tal análise. Palavras-chave: Novarina; representação; teatro; animalidade; metafísica. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida A animalidade é uma das manifestações mais radicais da alteridade. O princípio de incerteza que rege esse imaginário vincula-se metaforicamente a quase todo comportamento humano tido como incompreensível, anormal, obsceno. Segundo Jean Baudrillard, a lógica da animalidade é aquela “da exclusão, da reclusão, da discriminação e [...] faz com que toda a sociedade acabe por alinhar [essa lógica] pelos axiomas da loucura, da infância, da sexualidade e das raças inferiores” (BAUDRILLARD, 1991, p. 167). Conforme uma segunda interpretação etimológica da palavra “obsceno”, essa alteridade apresenta-se também como algo que está fora de cena. De fato, o animal foi deposto da cena filosófica nos últimos três séculos em nossa sociedade ocidental, mas resgatado com frequência pelo pensamento poético e literário, fazendo vigorar neste movimento uma outra linguagem para além da função utilitarista e taxionômica à qual a fala corrente vinculou-se na modernidade. Sob os signos estabelecidos e apesar deles, [o poeta] ouve um outro discurso, mais profundo, que lembra o tempo em que as palavras cintilavam na semelhança universal das coisas: a Soberania do Mesmo, tão difícil de enunciar, apaga na sua linhagem a distinção dos signos. Daí sem dúvida, na cultura ocidental moderna, o face-a-face da poesia e da loucura. (FOUCAULT, 2010, p. 68) Interessa-nos aqui pesquisar em que medida o teatro de Valère Novarina põe esse embate em cena, como ele encena a seu próprio modo a tensão entre poesia e filosofia, instinto e racionalidade, loucura e linearidade, escuta e fala, tendo como palco a linguagem. O encontro entre teatro e reflexão filosófica não é, entretanto, inédito: questões ligadas ao mimetismo e à representação são fundadoras em ambos os campos, e a relação entre esses dois conceitos terá um papel relevante na definição do que é realidade em diferentes momentos na história do pensamento humano. É talvez por esse motivo que a própria noção de teatro traga em si um traço fortemente metafórico e tão logo se vincule à atividade de pensar: tal conceito “ilumina tanto o caráter teatral da filosofia quanto a interpretação metafísica da mímesis em geral” (NASCIMENTO, 1999, p. 76). Assim, desde o teatro aristotélico até a crueldade artaudiana – dois extremos de uma mesma tradição teatral e filosófica – são devedores da representação metafísica, seja pelo reforço na esfera artística de seu posicionamento teórico ou pelo mais radical rompimento com essa mesma tradição. Busquemos, portanto, aprofundarmo-nos na – jamais estável – dinâmica existente entre imitar e representar para compreendermos não apenas as mudanças operadas ao longo dos séculos no modo de apreendermos o mundo, mas por que 184 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina “a metafísica da presença em sua modalidade visual (aparência/ essência, cópia/modelo, imagem superficial/realidade profunda...) é fortemente tributária do logocentrismo” (NASCIMENTO, 1999, p. 66), uma herança filosófica refutada em seus dois pólos, primazia da visão e da linguagem verbal, por Antonin Artaud e suas crias, dentre eles, ironicamente, Valère Novarina e seu teatro das palavras. Segundo Michel Foucault, até o século XVI, o mundo se oferecia ao homem como linguagem cifrada, e ela própria ao mundo pertencia. A semelhança desempenhou, nesse contexto, um papel crucial no movimento de representação: “teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de toda linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de falar”. (FOUCAULT, 2010, p. 23) As analogias eram então fecundas e infinitas, tendo como única limitação seu ponto comum de partida e de chegada: o ser humano, termo central onde as relações convergiam para novamente voltarem a se refletir. Para o autor, as metáforas então definiam o espaço poético da linguagem – sua força criativa estava em um “conhecimento misturado e sem regra, onde todas as coisas do mundo se podiam aproximar ao acaso das experiências, das tradições ou das credulidades” (Ibidem, p. 70). Na era da linguagem encantada, como a chamaria Foucault, ela própria era signo das coisas e guardava vestígios daquilo que estava para além do homem. No seu ser bruto e histórico do século XVI, a linguagem não é um sistema arbitrário [...]. A grande metáfora do livro que se abre, que se soletra e que se lê para conhecer a natureza não é mais que o reverso visível de uma outra transferência, muito mais profunda, que constrange a linguagem a residir do lado do mundo, em meio às plantas, às ervas, às pedras e aos animais. (Ibidem, p. 47-48) O vigor dessa linguagem estaria em uma verdade primordial, que remontaria ao início dos tempos. A fórmula platônica, que se repetirá mais tarde na cosmologia judaico-cristã, diz que as palavras respondem a uma nomeação original vinda de Deus. “E aquelas palavras que Adão havia pronunciado, impondo-as aos animais, permaneceram, ao menos em parte, arrastando consigo na sua espessura, como um fragmento de saber silencioso, as propriedades imóveis dos seres”. (Ibidem, p. 49-50) Podemos dizer que, a partir de Descartes, funda-se um outro tipo de representação, agora como imagem mental. A ideia deixa de ser a forma da matéria, como em Platão e Aristóteles, e se torna conteúdo intrapsíquico: é verdadeiro tudo aquilo de que tenho consciência, máxima que ficou eternizada no cogito “penso logo existo”. A passagem do eu penso ao eu sou é possível ao se articular representação e ser, sendo que, nesse caso, o ser se esgota na representação. Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 185 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida Funda-se, então, o “teatro cartesiano”, que consiste na atuação do ser humano como aquele que, de uma só vez, representa o mundo e é sua representação: ele é tanto espetáculo quanto espectador. A linguagem passa de coisa do mundo para signo transparente, pois sua função agora é servir de instrumento à consciência. A palavra é, nesse contexto, uma rede incolor a partir da qual os seres se manifestam em uma relação binária entre significante e significado. Ela é também o lugar onde as representações se ordenam, fazendo com que o saber empírico se sobreponha ao transcendental. Já não é, portanto, o parentesco secreto entre as coisas que rege o funcionamento da linguagem. Esta ganha autonomia em relação ao mundo no momento em que se torna um sistema arbitrário de signos, criado pelo homem por um ato de conhecimento para auxiliá-lo em sua eterna busca pelo imutável, que, para os modernos, reduz-se a um elemento comum a todos os seres. Com Descartes, a semelhança é negada não em seu caráter comparativo, mas criador. As metáforas infinitas degeneram pouco a pouco em categorizações. A busca por uma constante universal dispensa a aproximação das coisas em favor da análise de suas diferenças: procurase “obter pela intuição uma representação distinta das coisas e apreender claramente a passagem necessária de um elemento da série àquele que se lhe sucede imediatamente”. (Ibidem, p. 76). Os signos como marcas de identidade e diferença perdem sua relação com o divino e convertem-se em instrumentos de análise – são princípios de ordenação, pontos de partida para uma taxionomia. Se voltarmos nosso olhar à modernidade, não nos parecerá estranha uma ambição cara ao século XVIII, a de nomear cada ser vivo, encarnada na figura de Lineu, “quando ele projeta encontrar, em todos os domínios concretos da natureza ou da sociedade, as mesmas distribuições e a mesma ordem” (FOUCAULT, 2010, p. 105). Para tanto, era preciso demarcar a diferença entre a natureza humana e a animal. Aquele, com a pura capacidade de representar todo o caos contido nesta. Pela percepção – memória, imaginação e linguagem – a história descontínua da natureza seria organizada pelo homem. A ciência, bem como a filosofia moderna, nas palavras de Jacques Derrida, retalhou os animais e lhes distribuiu porções de faculdades conforme o que lhe pedia sua “ingênua segurança”. Por esse motivo, o autor coloca a filosofia como esse “esquecimento calculado” (DERRIDA, 2001, p. 28), já que enxergar o animal naquilo que ele tem de inapreensível nos “dá a ver o limite abissal do humano: o inumano ou o a-humano, os fins do homem, ou seja, a passagem das fronteiras a partir da qual o homem ousa se anunciar a si mesmo” (Ibidem, p. 31). 186 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina Assim, de certa forma, a moral universal funda-se em uma alteridade negativa. É-se o negativo da negatividade que se inventou. Com efeito, o ato de nomear os outros animais, de reconhecê-los pela linguagem, permitiu ao ser humano definir-se a si próprio. Jacques Derrida nos lembra que o tema da nomeação remonta aos mitos fundadores da tradição ocidental, estando presente na mitologia grega, na gênese cristã e na filosofia iluminista. “Tal seria a lei de uma lógica imperturbável, ao mesmo tempo prometéica e adâmica, ao mesmo tempo grega e abraâmica (judeu-cristã-islâmica). Não cessaríamos de verificar sua invariância até nossa modernidade.” (Ibidem, p.44) Derrida fala, assim, de uma “limitrofia” da qual padece o homem moderno, já que ele é aquele “que se avizinha dos limites mas também o que alimenta, se alimenta, se mantém, se cria e se educa, se cultiva nas margens do limite” (Ibidem, p. 57), cuja “miopia” se exemplifica pelo próprio vocábulo “animal”, que reúne em um termo homogeneizante a imensa variedade de seres existentes. Por esse motivo, o filósofo esgarça a linguagem comum “para combater a homogeneização de diversas espécies de bichos numa designação demasiado geral, com o seu neologismo ‘animot’” (GLENADEL, 2008, p. 264). Para o pensador, todos os filósofos, apesar de discordarem do ponto em que se dava, acreditaram que o limite entre homem e animal era sempre único. De um lado dessa linha, “um imenso grupo, um só conjunto fundamentalmente homogêneo que se tinha o direito, o direito teórico ou filosófico, de distinguir ou de opor, ou seja, aquele do Animal em geral, do animal no singular genérico. Todo o reino animal com exceção do homem” (DERRIDA, 2001, p. 76). E do outro, o eu cartesiano – que pensa, representa, nomeia e classifica, logo existe “(o homem como ‘animal racional’, o homem como animal político, como animal falante, zoon logon ekhon, o homem que diz ‘eu’ e se toma pelo sujeito da frase que ele profere então a respeito do dito animal etc.)” (Ibidem, p. 61). Outro filósofo citado por Derrida que pensa a divisão entre homem e animal é Walter Benjamin, para quem ser nomeado é deixar-se invadir pela tristeza decorrente da passividade do ato e da impossibilidade de ir contra tal apropriação. “Luto pressentido, pois parece-me tratar-se, como em toda nominação, da notícia de uma morte por vir segundo a sobrevivência do espectro, a longevidade do nome que sobrevive ao portador do nome.” (Ibidem, p. 42) Falta duplamente grave se inserida em uma linguagem metaforicamente estéril, em que o nome sobrevive não só ao portador, como a qualquer manifestação poética a ele vinculado. Devido à nossa “limitrofia”, que liga a concepção que temos de nós mesmos aos animais, revitalizar as metáforas feitas a partir deles é uma nova oportunidade de repensar – e talvez Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 187 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida de expandir – as fronteiras humanas. Reviver uma metáfora pode significar desmontar um conceito, torná-lo livre para novas conexões. Segundo Armelle Le Bras-Chopard, é preciso desmontar o mecanismo de reflexão sobre o animal e o dispositivo de representações metafóricas, “a fim de desobstruir a função ideológica do referente animal: aquela que, ao justificar a sujeição dos bichos, que já é contestável, permitirá justificar a dominação sobre os seres humanos.” (Ibidem, p. 21) Mas como libertar uma metáfora de seu referente puramente humano e dar voz ao animal, mesmo aquele que existe dentro de nós? Para Derrida, toda nossa tradição investiu na noção de que “o pensamento do animal, se pensamento houver, cabe à poesia” (DERRIDA, 2001, p. 22), criando uma linha divisória não só entre homem e animal como entre pensamento filosófico e poético. A própria escrita de Derrida, no entanto, é um misto dessas duas esferas: O texto derridiano conjura a poesia, no desdobramento semântico dessa palavra: entre invocação e exorcismo. Pois, afinal, apesar de suas afinidades com a poesia, esse texto não deixa de se inscrever naquilo que a tradição ocidental denomina discurso filosófico. O texto de Derrida se desdobra no lugar de uma impossível identificação, de uma impossível separação entre filosofia e poesia. (GLENADEL, 2000, p. 188-189) O animal, “este vivente insubstituível” tem “uma existência rebelde a todo conceito” (DERRIDA, 2001, p. 26), escapando, pois, da área de atuação da filosofia no seu sentido convencional, que gira em torno das categorizações, de uma taxionomia erigida a partir de conceitos fixos e universais. O terreno literário por si só não garante, todavia, um discurso para além do humano, ele pode ser, bem como a fábula, “um amansamento antropomórfico, um assujeitamento moralizador, uma domesticação. Sempre um discurso do homem; sobre o homem; efetivamente sobre a animalidade do homem, mas para o homem, e no homem” (Ibidem, p. 68-69). Trata-se, na verdade, de romper com a “limitrofia”, que está presente em toda divisão, inclusive naquela que separa poema de filosofema – pensar o limite no que ele tem de abissal, e não no que ele tem de divisível. “Não se trataria de ‘restituir a palavra’ aos animais mas talvez de aceder a um pensamento, mesmo que seja quimérico ou fabuloso, que pense de outra maneira a ausência do nome ou da palavra, e de outra maneira que uma privação.” (Ibidem, p. 89) Para Jacques Derrida, a “poesia só consegue escapar da ‘doença’ ocidental tornando-se teatro” (DERRIDA, 1995, p. 159). E qual seria tal doença? Decerto a representação metafísica, tendo em vista que a citação derridiana pertence a um texto sobre Antonin Artaud e seu teatro da crueldade. Para este, o texto está para o teatro como o homem está para a vida: excessivo, usurpador. 188 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina Artaud propõe, então, deixar de lado o narcisismo a partir do qual fundamos toda cultura em prol de uma abertura para o outro. É uma proposta ética que toca os limites da representação. Em O animal que logo sou, Derrida nos diz haver uma história dos limites, macro e microscópica, história que talvez Foucault nos apresente em As palavras e as coisas. Já pudemos acompanhar mais detidamente dois dos seus momentos: aquele em que a linguagem pertencia ao mundo, depois quando ela se torna instrumento da consciência, e agora dedicar-nos-emos ao terceiro, quando ela aparece como a própria opacidade do ser. Para autores como Derrida e Artaud, nem o ser em geral está contido no pensamento, nem o ser singular foi por ele interrogado. É preciso sair da forma de pensar a qual fomos determinados, e expor o modo como ela funciona. Em uma reflexão sobre o nascimento da noção de perspectiva para a contemporaneidade, Paulo Vaz coloca que “o constante questionamento talvez seja o nosso caminho de não mais reconstituir uma tradição que impede que o contato com outras formas de vida e com outras formas de viver seja um modo de nos experimentarmos diferentemente.” (VAZ, 2011, p. 10) A tradição aparece aqui como uma “ameaça a um modo de vida que se deseja fixado” (idem). A liberdade, portanto, está em romper com o estático, questionar os limites – mas a representação não suporta a relação com o inapreensível. A crise ontológica instalada a partir de então funda uma nova ética: é preciso abrir-nos a outros desejos, ao invés de apossarmo-nos daquilo que nos determina. Interrogar o pensamento na dimensão em que ele escapa a si mesmo, tarefa que muitos de nossos poetas e escritores vêm cumprindo transgressivamente desde a sistematização da linguagem como signo arbitrário. Ora, ao longo de todo o século XIX e até nossos dias ainda – de Hölderlin a Mallarmé, a Antonin Artaud – a literatura só existiu em sua autonomia, só se desprendeu de qualquer outra linguagem, por um corte profundo, na medida em que constituiu uma espécie de “contradiscurso” e remontou assim da função representativa ou significante da linguagem àquele ser bruto esquecido desde o século XVI. (FOUCAULT, 2010, p. 60) A linguagem encantada não foi, entretanto, de todo reconstituída por essa nova experiência poética, pois temos agora no lugar da origem divina uma outra força motriz, o originário. Embora aparentadas etimologicamente, origem e originário são conceitos distantes. O primeiro se refere a um ponto inicial, o começo da história, ao passo que o segundo se dá quando percebemos a história como construção. “Representação como re-apresentação da origem estável, segura e fixa nalgum lugar, e representação como impossibilidade de recuperação da origem simples, como apresentação da dupla Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 189 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida fonte, como des-apresentação, em suma” (NASCIMENTO, 1999, p. 69), eis a distância existente entre os dois conceitos – enquanto a origem nos oferece uma representação do mundo pontual e regular, o originário nos dá aquilo que ele tem de absolutamente vertiginoso. “Fim da representação mas representação originária, fim da interpretação mas interpretação originária que nenhuma palavra dominadora, nenhum projeto de domínio terá investido e previamente pisado.” (DERRIDA, 1995, p. 158) Artaud conclama a apresentação do sensível em si, do físico sem uma meta, para que se possa enfim superar a limitrofia humana de que sofre o teatro metafísico, já que a vida é a origem não representável da representação. “O teatro da crueldade não é uma representação. É a própria vida no que ela tem de irrepresentável.” (Ibidem, p. 152) Esse teatro deve então superar o humano, e portanto o logocentrismo e sua primazia da escrita e da voz, para igualar-se à vida – “quando pronunciamos a palavra vida, deve-se entender que não se trata da vida reconhecida pelo exterior dos fatos, mas dessa espécie de centro frágil e turbulento que as formas não alcançam” (ARTAUD, p. 8) –, sem reportar-se a uma origem divina ou a uma presença primeira. Logo, romper com as narrativas causais protagonizadas pelo homem, que buscam incessantemente dar sentido ao inesperado. Para o devir ser livre, ele não pode ser determinado pelo passado, o que levaria a um predomínio da vontade sobre o corpo. Essa é a regra moral e teológica da qual Artaud quer livrar o teatro. Ele busca uma linguagem carnal, em detrimento daquela que se propõe a ser o veículo de uma interioridade: ultrapassar as ideias eternas, que se corrompem ao atingir o sensível, para explorar as que tenham a força da fome. “Acima de tudo precisamos viver e acreditar no que nos faz viver e em que alguma coisa nos faz viver – e aquilo que sai do interior misterioso de nós mesmos não deve perpetuamente voltar sobre nós mesmos numa preocupação grosseiramente digestiva.” (Ibidem, p. 1-2) É por vivermos em uma sociedade ruminante e sem apetites que o teatro pede a crueldade: o embrutecimento do pensar ao qual chegamos só pode ser quebrado pela vida em toda sua crueza. A crueldade seria esse movimento do originário, que vai contra o uso metafísico da linguagem, capaz, por sua vez, de esvaziar as consequências extremas e poéticas da palavra. “A Arte não é a imitação da vida, mas a vida é a imitação de um princípio transcendente com o qual a arte nos volta a pôr em comunicação” (ARTAUD apud DERRIDA, 1995, p. 152-153) Ao contrário da tradição teatral, o palco deve ser o lugar da destruição da mimesis, uma vez que essa estrutura representativa dá lugar ao discurso teológico, que não necessariamente é religioso, mas “dominado pela palavra, por uma vontade de palavra, pelo objetivo de um logos primeiro que, não pertencendo ao 190 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina É interessante notar que, embora Derrida e Novarina sustentem uma posição, em um p r i m e i r o m o m e n t o, oposta àquela de Artaud em relação à escrita, os três autores chegam, cada um a seu modo, em um ponto de convergência que seria a crítica a uma “metafísica da escrita fonética”, nas palavras de Derrida, em De la grammatologie (DERRIDA, 1967, p. 11). Nesse pa norama comum, a linguagem não corresponde a uma ordenação, cujo objetivo é a busca pela verdade geral, mas a uma ultrapassagem dos obstáculos técnicos, epistemológicos, teológicos e metafísicos, em um projeto inapreensível, pois jamais único – seja, como o quer Artaud, por uma voz que se desvincule da escrita, ou como o fazem os outros dois pensadores, por uma escrita desvinculada da voz. Desse modo, mesmo valorizando a escritura, esfera execrada por Artaud, tanto Derrida quanto Novarina conseguem reverenciar a crueldade artaudiana. Essa semelhança entre os três autores franceses permeará, de certa forma, a parte final de nosso artigo. 1 lugar teatral, governa-o à distância.” (DERRIDA, 1995, p. 154) A representação imitativa segue invariavelmente um sentido elementar, fundado pelo autor-criador, que rege os atores como marionetes, mantendo com o real uma relação reprodutiva e não criadora. Se o palco não é lugar para a criação, tampouco o é a audiência. O público desenvolve com o espetáculo uma relação passiva e pouco provocativa. Nesse cenário, para Artaud, a voz se dá como origem e a escrita como prótese.1 Assim, a voz aparece como expressão da verdade, uma interioridade inquestionável, uma essência. A escrita que a acompanha não é então problemática apenas pelo afastamento em relação à atuação, ao instante, em suma, pela palavra presa ao papel, mas o é enquanto uma escrita que se quer representante dessa voz, ditada pelo divino. “A restauração da divina crueldade passa portanto pelo assassínio de Deus, isto é, em primeiro lugar do homem-Deus.”(Ibidem, p. 166) Derrida nos mostra que a palavra e a escrita fonética enquanto instrumentos a serviço do pensamento, cujo único destino é a representação seguida de contemplação, devem ser expulsas do palco de um teatro cruel – entendido aqui como teatro da vida –, porque são, a um só tempo, citações e ordens: eles buscam transmitir um conteúdo, “dando a ler o sentido de um discurso a auditores, não se esgotando totalmente com o ato e o tempo presente da cena, não se confundindo com ela, podendo ser repetido sem ela” (DERRIDA, 1995, p. 170). A cena não pode, portanto, apenas repetir um texto cuja origem está fora de si. Ela não pode repetir um presente, já que assim perpetua a presença dessa voz centrada no logos, em Deus, no homem, e não na vida. A representação originária identifica-se enfim com a não representação, cujo tempo transgride aquele da linearidade fônica, seguindo antes a ordem do paradoxo (vida e morte, diferença e repetição originária). É uma dialética que ao invés de buscar uma síntese, vai radicalmente na direção da contradição. Na dialética hegeliana, temos um jogo de dados viciados, cuja vitória, a partir da síntese, pende sempre mesmo para um mesmo lado, pois o logos não se abre ao paradoxo. Na dialética artaudiana, temos um jogo cujo interesse não se dá no resultado, mas na disputa. Como no “lance de dados” mallarmeano, a disseminação torna-se o movimento gerador da escrita e orientador da leitura. Dispersão feita a partir de um foco ou núcleo primitivo, mas dispersão incontrolável, impossível de ser reunida, reunificada, indefinidamente prometida ao fluxo e à deriva. (GLENADEL, 2000, p. 191-192) Nesse jogo, a palavra e a escrita voltarão a ser gestos, guardiões da intensidade fulgurante em uma imitação primeira daquilo que fora então criado, escapando da monotonia repeti- Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 191 Gragoatá As citações dos livros que, na bibliografia, estão no original em francês foram traduzidas por mim. Os demais, cuja edição utilizada já está em português, conta, em sua referência bibliográfica, com o nome de seu respectivo tradutor. 2 192 Milla Benicio Ribeiro de Almeida tiva do signo. “Não se trata portanto de construir uma cena muda mas uma cena cujo clamor ainda não se apaziguou na palavra” (Ibidem, p. 161), nem mesmo em uma relação negativa com ela, o que leva à rejeição da limitrofia humana e ao crescimento em número e espessura das fronteiras da representação. Como será então a gramática de um tal teatro? Derrida nos responde: ela estará sempre por encontrar, pois é “o inacessível limite de uma representação que não seja representação, duma representação que seja presença plena, que não carregue em si o seu duplo como a sua morte, de um presente que não se repete” (Ibidem, p. 173). Ainda assim, o teatro da crueldade não é um plano futuro, mas uma impossibilidade que opera continuamente no vazio deixado pelo teatro metafísico. “O vazio, o lugar vazio e pronto para esse teatro que ainda não ‘começou a existir’, mede portanto apenas a distância estranha que nos separa da necessidade inelutável, da obra presente (ou melhor atual, ativa) da afirmação”. (Ibidem, p. 151) A obra de Valère Novarina localiza-se também em um tal vazio. Segundo Clément Rosset, ela é a expressão de uma doença (un malaise ou un malêtre), de uma crise metafísica permanente, o que não significa situá-la em uma linguagem negativa, retrátil. Ao contrário, o teatro novariniano tende a crescer infinitamente nesse vácuo. “Quanto menos ele tem a dizer, mais Novarina encontra (e inventa) palavras para dizer. [...] Apresenta uma surpreendente vitalidade, ainda que seja, para retomar sua própria expressão, uma ‘vida apesar de si’”.2 (ROSSET, p. 60) Assim como Artaud, Novarina vem se abrir à vida para além da limitrofia humana. O teatro das palavras ironicamente vai contra a tradição logocêntrica por dirigir-se antes às palavras do que aos homens, direcionamento que define desde a ontologia de suas peças até seu ritmo cênico: “a cena é uma sucessão de entradas (nascimentos) e de saídas (mortes) comandadas por uma enunciação em que o enunciador não tem absolutamente a paternidade” (TREMBLAY, 2008, p. 4). Rosset complementa que a temática fundamental do teatro de Novarina é “o aspecto culposo e até ‘criminal’ da procriação que volta a transmitir, com a vida, o vírus da doença humana” (ROSSET, 2001, p. 59). Essa temática recorrente, segundo o autor, ganha uma nova pulsão com a escrita novariniana, cujo aspecto nuclear é a ausência de um sujeito enunciador e a forte presença do verbo como alteridade. O corpo humano se fragiliza, exposto na sua efemeridade, ao passo que a língua ganha corpo. “Na língua novariniana, nada desempenha um papel pré-definido, determinado e fixo, tal como constatamos em uma lógica representativa.” (TREMBLAY, 2008, p. 14) Na sua fala polifônica, a linguagem se torna impessoal, pois não pertence a nenhum sujeito da enunciação, antes ela atravessa essas Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina representações individuais, que estão longe do sujeito cartesiano acabado e livre de falhas. Tremblay fala de uma metonímia da boca – a parte pelo todo –, um orifício que desempenha o papel desse homem furado pela linguagem e pelo pensamento, que ao mesmo tempo morde o mundo ao falar. “A fala apareceu um dia como um buraco no mundo feito pela boca humana – e o pensamento primeiro como uma cavidade, um golpe de vazio desferido contra a matéria. Nossa fala é um buraco no mundo.” (NOVARINA, 2009, a, p. 15) Voltamos aqui às imagens intestinas caras a Artaud, às ideias famintas. Tremblay nos mostra que, no teatro novariniano, os personagens oscilam entre a superfície da fala e o ventre afamado: Ao nascer o sujeito na língua, executa-se um salto definitivo para fora da animalidade, mesmo se a boca [...] pode ser responsável por uma regressão, cujas palavras retornam das profundezas do ventre, de onde emergem, na superfície, os gritos e a pulsão sonora de uma memória pré-linguística. (TREMBLAY, 2008, p. 12-13) Tremblay nos mostra que a inversão da ordem imposta pela representação metafísica – indivíduo primeiro, linguagem a seguir – coloca em primeiro plano a carne, em suas próprias palavras o “cu em cima da cabeça” (NOVARINA, 2009, b, p. 14). Obviamente, uma tal inversão tem suas consequências na diegese novariniana, que acaba se distanciando da progressão narrativa. Como dissemos anteriormente, a narrativa causal é aquela centrada em uma interioridade, pois tem como principal função dar sentido a determinada existência. Se o grande ator desse ato são as próprias palavras, não fazem parte dele a linearidade e coerência tão caras à representação convencional. É o fim do homem e o início da vida. “Joga-se, as coisas em um buraco, produz-se a morte para a morte, mas também ‘para nascer’”. (Ibidem, p. 19) O non-sense dos personagens, que beira a idiotia, é um sintoma dessa ausência de sentido causal, de coerência individual, que faz com que a trama, se é que existe alguma, comece com um “eu”, mas dissolva-se sempre no impessoal. O embuste de um personagem com uma composição psicológica se revela sob alguns vestígios, como a ausência de uma história pessoal, ou até pelos nomes, absurdamente excêntricos ou simples ao extremo. A despersonalização máxima se dá quando, no espaço da ficção, Novarina brinca com o limite da representação, mostrando que “a presença ‘desnudada’ dos atores sobre o tablado é apenas uma ilustração dentre as outras, mas bem eloquente” (TREMBLAY, 2008, p. 105). Assim, o ator André Marcon interpreta o Ator André Marcon, tornando quase imperceptível a linha que separa o teatro da vida. “O verdadeiro ator não nos devolve nossa imagem, não nos dá em troca nossa figura; ele não Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 193 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida é imitador do homem. O teatro é um lugar que se edifica perante nós para revirar o ídolo humano.” (NOVARINA, 2009, b, p. 24) Depreendemos, a partir de então, que os longos monólogos novarinianos não seguem o egocentrismo humano, mas antes a impessoalidade da fala e a impossibilidade da representação. Para tanto, necessita-se de “uma destruição completa dos antigos automatismos: o Eu narrativo, a intriga, a representação, o drama burguês são então eliminados”. (Ibidem, p. 91). Novarina, como Artaud, vê o teatro da perspectiva do seu fim: o fim da representação, da metafísica, da limitrofia humana. Não à toa, a cena inicial de O animal do tempo acontece em um cemitério. O seu ponto de partida são inscrições lapidares, resquícios do que os homens foram um dia, mas também devires, possibilidades do que podem vir a ser. “Eis a frase do homem de oito, João Penacho: ‘Eu jazi, eu jazia, eu jazezia, eu já, já não jazi também, ó doce ser, volta para mim!’ Mas ela não pode pois somos quem somos.” (NOVARINA, 2007, p. 8) Logo a seguir, o túmulo do solitário apresenta as inscrições: “ ‘Conheci a morte só quando vivo; repouso agora nos braços da quarta pessoa do singular’. Assinado João do Homem, filho de fim, pseudoHenrique, garoto esplêndido vestido de nu e buraco esquerdo”. (Ibidem, p. 8-9) Fim e fome se confundem no texto novariniano (fin e faim), quando “a forma fala melhor do que o conteúdo” (TREMBLAY, 2008, p. 36), e as relações sintáticas e lexicais se misturam aos nomes. É desse modo que as palavras de Novarina escapam à função imitativa de uma metafísica, uma vez que a escritura, nesse caso, opõe-se à voz logocêntrica ao invés de segui-la. “Em primeiro lugar, anula-se a oposição interior/exterior, então nenhum pensamento, como um monólogo, é interiorizado, a fala é assim exclusivamente sonora.” (Ibidem, p. 120-121) O teatro das palavras busca, portanto, a palavra antes das palavras, uma escrita primeira, anterior ao homem, a partir de sua própria impossibilidade. Nesse cenário, as figuras de animalidade desempenham um papel fundamental, demarcando, ou antes, desmarcando o lugar designado ao homem entre as palavras e as coisas. A proposta novariniana de ver “tudo por seus buracos animais” (NOVARINA, 2007, b, p. 14) leva-nos a repensar as fronteiras do homem hoje e a resgatar o papel da linguagem nesse processo. No teatro das palavras, estas deixam de ser trocadas como “fórmulas e slogans” (Ibidem, p. 13), para tornarem-se “oferendas e danças misteriosas” (Idem). Por mais que exista nesse movimento a completa desagregação da figura humana, ela continua sendo crucial na tarefa de pensar os limites da representação. Ao questionar a percepção mais corriqueira e superficial dos contornos do homem, Novarina instaura uma 194 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina busca por aquilo que lhe é próprio: sua capacidade criativa de entrar “no mundo saindo” (Ibidem, p. 22). A condição humana está para além do dado biológico, se por um lado ela é um fardo, por outro, deve ser conquistada, como convoca o seguinte trecho: “Oh, homem, filho de omnídios, complete aqui sua hominização, nós te suplicamos! e retome seu labor massivo para ser digno um dia de portar teu nome de homem tatuado por ti em escrita Ômnica e sobre tua fronte em caracteres antropofóricos.” (NOVARINA, 2007, a, p. 38) A linguagem mecânica e instrumental predominante no “nosso Ocidente desorientado” (NOVARINA, 2009, a, p. 14) faz perder essa dimensão essencial do homem fundada pela palavra: Eis que agora os homens trocam entre si palavras como se fossem ídolos invisíveis, forjando nelas apenas uma moeda: acabaremos um dia mudos de tanto comunicar; nos tornaremos enfim iguais aos animais, pois os animais nunca falaram mas sempre comunicaram muito-muito bem. Só o mistério de falar nos separava deles. No final, nos tornaremos animais: domados pelas imagens, emburrecidos pela troca de tudo, regredidos a comedores do mundo e a matéria para a morte. (Ibidem, p. 14) O teatro de Novarina insere-se, pois, naquele momento da história do saber marcado em sua relação com a linguagem pelo resgate de alguns aspectos anteriores à idade clássica, quando o signo jazia sobre as coisas, e pelo rompimento com aquele imediatamente após, em que prevalecia a razão instrumental. As obras novarinianas como um todo situam-se nesse “caminho do meio”, uma “reflexão reflexiva”, em que o próprio pensar é posto em xeque. Um dos principais aspectos questionados pelo escritor francês é a produção de sentido, esse “imundo folhetim” (NOVARINA, 2007, b, p. 20), continuamente demandada pelo teatro metafísico. Em sua escritura, o teatrólogo não apenas rompe com a coerência narrativa, como brinca com a necessidade que temos dela. Segundo Tremblay, “a linearidade sempre encoraja o sentido, ainda que ele seja indeterminado” (TREMBLAY, 2008, p. 35). O animal do tempo, como o próprio título anuncia, é uma peça em que se coloca principalmente em questão a representação que o homem faz de si, ressaltando de antemão o aspecto fundador da humanidade – o tempo, evidente em qualquer construção linguística, fundador da nossa noção de finitude e de linearidade. O tempo que desenvolve conosco uma relação causal, que nos amarra em sua estaca, e nos torna animais com passado, animais repetitivos, animais com memória, animais que prometem. Animais, enfim, que se separam dos demais, e vivem apenas nas vizinhanças do seu limite. Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 195 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida A peça é a estranha biografia de ninguém, de um João sem Objeto e também sem Sujeito: “o cérebro branco que desprezou tudo o que ele pensou” (Ibidem, p. 11). Seu julgamento e libertação, não necessariamente nesta ordem. É um testemunho vazio, mas pleno de vida, pois parte de alguém que já se retirou da linguagem, ou antes, de alguém que responde ao vago chamado desta: um “João sem ações” (Ibidem, p. 12), que não sabe contar sua entrada solene na vida, pois dela só conhece as saídas. Eis animais, a história verídica e sem cabeça nem pé, de um homem de mim que um dia de junho de cinquenta e sete e seis, nasçu em Annamassa ou em Bulgato e que se lembra de nada do mundo de antes-depois a não ser que se estava na véspera do dia no qual saí vivo ajambrado com um velho crânio. (Ibidem, p. 29) Seu narrador é ao mesmo tempo uno e múltiplo, todos e nenhum: “objeto de objeto, carregador estúltico, coberto de penas epaminais, doente do tempo, desaparecendo, sem sujeito nu” (ibidem, p. 17, grifos meus). Seu nome é João. João Trinta e Seis Mil, João Grande Caim, João Penacho, João Lânguido, João do Homem, João Post-Scriptum, João Maquinal, João Nada que Vem, João que entra saindo, João o Passador Sai quando ele Vem. Ele é um João sem nome, um homem anterior à nomeação: “João da carne de vida e sem espírito” (Ibidem, p. 18), cumprindo um papel libertador, quiçá sagrado: “‘Benditos sejam os que são sem nome.’” (Ibidem, p. 10) O divino aqui não é dar, atribuir, mas antes arrancar o homem de sua limitrofia – apagar todas as divisões, ou talvez multiplicá-las ao infinito, de modo que o conhecimento trazido pela linguagem se liberte das restrições impostas pelo racionalismo. Se o sacrifício humano destrói em um nível, em outro, ele devolve à linguagem a dimensão do sagrado, pois vai além do utilitarismo. “Tira o buraco de dentro de você e dá, pois Eu sou. Então, eu lhe escrevi: Deus, se tu és deus, não mostres: tira tudo!” (Ibidem, p. 10) O sacrifício humano consiste, portanto, não no retorno à origem da linguagem, mas ao seu originário. “A cada página ou meia página, o ritmo deve passar por seu colapso. A linguagem é tátil como se fosse a verdadeira matéria: um fluido fora dos homens, os afetando.” (NOVARINA, 2009, b, p. 11-12) Essa linguagem tátil que se faz matéria tem ela própria uma materialidade. Novarina esgarça os limites da linguagem para falar o indizível ou para calar o que já está dito. “Abre-se aqui um lugar filosófico híbrido, atravessado pela escrita poética.” (GLENADEL, 2000, p. 192) Uma de suas estratégias mais frequentes para tanto é a glossopoiese, termo derridiano, referente ao teatro de Artaud, que “não é nem uma linguagem imitativa nem uma criação de nomes, reconduz-nos à beira do momento em que a palavra ainda não nasceu, em que a articulação não 196 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina mais é grito mas ainda não é discurso, em que a repetição é quase impossível” (DERRIDA, 1995, p. 161). A glossopoeiese novariniana guarda ainda um artifício a mais, um efeito cômico, que dá ao autor um estilo próprio. Como observou Tremblay, tal produção baseia-se principalmente no deslocamento de unidades lexicais. “Por exemplo, em relação aos substantivos, a lista pode incorporar uma palavra estrangeira como ‘houe’ (um tipo de picareta) atravessando nomes de pássaros mais ou menos verídicos.” (TREMBLAY, p. 34) A combinação feita é, em geral, fácil de se notar, pois obedece a uma lógica interna, que logo se apresenta ao leitor. Amnimais, omnimais, umnimanos, omnimianos, anaimais, haniaimais. Animais e homens misturam-se, confundem-se, desordenam os limites ao mesmo tempo em que nos fazem rir pela ilogicidade da junção: “a coisa mesma respira em verdade e o espetáculo torna-se um animal com sua vida” (NOVARINA, 2009, b, p. 63). Para Novarina, o cômico não é algo superficial, como geralmente se crê, um tipo de diversão. “Ele vai ao mais profundo da língua, no seu abismo (seu sem fundo) de destruições e reconstruções: faz eclodir uma energia atordoante” (NOVARINA, 2009, b, p. 25). Debochando, o autor instaura ao redor das antigas palavras uma nova vivacidade, de modo que “a palavra, que por ela mesma não quer dizer nada, sugere uma nebulosidade de significações pela riqueza de suas ‘harmônicas’, como se diria de um acorde musical bizarro e polissêmico” (ROSSET, 2001, p. 61). Outra estratégia é a desorganização sintática da frase, que faz com que o objeto não se submeta ao sujeito, nem mesmo dentro da oração. Vemos assim desencontros de gênero, número ou grau: “Esse canção bêbado três vezes soltado, eu o derramou na minha cabeça ad libitum como um canção que deu errado.” (NOVARINA, 2007, b, p. 28); “discordâncias” verbais: “Eu venceu o medo [...].” (Ibidem, p. 29); intransividade do transitivo: “No dia seguinte ao incidente, fui ver um médico pra lhe perguntar se eu era. Sem que ele confirmasse essa impressão.” (Ibidem, p. 11). A busca por essa escrita originária, por “descer na linguagem como em uma matéria profunda do tempo e na arquitetura do ato” (NOVARINA, 2009, b, p. 10), mostra que Novarina inserese naquele terceiro momento epistemológico, cuja relação com a linguagem prevê sua anterioridade ao homem, não apenas a ele revelando o mundo, mas também o determinando. “As palavras preexistem ao teu nascimento. [...] Nem instrumentos nem utensílios, as palavras são a verdadeira carne humana e uma espécie de corpo do pensamento: a fala nos é mais interior do que todos os nossos órgãos de dentro.” (NOVARINA, 2007, b, p. 14) Essa fala impessoal parece ela própria denunciar a cisão entre o signo e o mundo vivenciada pela modernidade: “Animais de cérebro, olhem a inscrição: eles gravaram seus túmulos em soalhos. ‘Aqui repousa o homem sem as coisas: tudo é Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 197 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida sem mim.’ (Ibidem, p. 7). Para o autor, a “luz do mundo é sem razão” (ibidem, p. 7), do que deduzimos que com o pensamento instrumental “tudo está no mundo, menos eu” (Ibidem, p. 13). Novarina não se dedica, entretanto, à crítica pura ao racionalismo, tampouco ao resgate total da linguagem encantada. “Eu me tornei sem saber aquele que dorme agora entre a voz sem a razão e os sons da reprodução do mundo pelos sons” (NOVARINA, 2007, a, p. 17). Assim, ambas as esferas estão implicadas nessa nova noção de mundo. Se por um lado, ele considera que a linguagem, ainda que seja a teatral, exponha “o elo contínuo, o continuum entre linguagem e matéria” (NOVARINA, 2009, b, p. 51), por outro, afirma que as “palavras não vêm mostrar coisas, dar-lhes lugar, agradecer-lhes educadamente por estarem aqui, mas antes partilas e derrubá-las”. (NOVARINA, 2007, a, p. 14-15) É a opacidade de uma linguagem anterior ao homem. Sendo assim, ela mesma o leva a questionar a propriedade daquilo que ele pensa, fala e escreve. “‘Tudo o que escreve o homem pelo homem é um falso, inclusive até essa inscrição.’” (NOVARINA, 2007, b, p. 8) Resta-nos, portanto, viver no limite. Não cerceados por ele, mas equilibrados como se atravessássemos um abismo sobre uma corda-bamba. Retomar as fronteiras do homem, encenando, desta vez, o obsceno. “O ato do teatro dá a fala aos mudos: aos objetos – e não somente aos humanos que se calam.” (NOVARINA, 2009, b, p. 47) Novarina revive, pois, quimericamente os objetos outrora assujeitados pelo fonocentrismo, pelo logocentrismo, pelo antropocentrismo, e por tantos outros “ismos” centrados na razão, especialmente os animais, afinal, a linguagem originária buscada por ele é anterior à divisão entre o humano e o não humano. “A origem do teatro, tal como a devemos restaurar, é a mão levantada contra o detentor abusivo do logos, contra o pai, contra o Deus de um palco submetido ao poder da palavra e do texto.” (DERRIDA, 1995, p. 159) Novarina sabe que o movimento recorrente da linguagem nos últimos séculos tem sido de segregação. “E do meu pai sou filho único.” (NOVARINA, 2007, b, p. 22) Mas ainda assim questiona tal separação: “Por que estou sozinho na natureza sem sete milhares de bichos semelhantes?” (Ibidem, p. 15) O homem de um lado, sozinho, superior, e os animais do outro, todos os animais, subjugados, pelas palavras, em sua existência. “O que você estudou? Estudei a solidão. Animais, animais, cada vez que eu vi um outro eu me vi a mim mesmo em pior.” (Ibidem, p. 12) Novarina busca assim um eu que não mais se instaure contra o outro. “Pensamento, se você não fosse aquele que odeia você não seria aquele sou.” (Ibidem, p.11) O autor brinca aqui com a sonoridade dos verbos odiar e ser, em francês, hait e est, similares na conjugação do tempo presente. 198 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 O teatro das quimeras: um estudo das fronteiras entre o homem e o animal na obra de Valère Novarina Ser é odiar, talvez por isso o melhor seja não ser. Ou ser todos simultaneamente. “Hoje, João que é, eu não distingo nenhum dia de sua véspera, nem um objeto de objeto, nenhum outrem de um outro, nem separo o animal do omnimal nem o nada do meu.” (Ibidem, p. 16) A fauna novariniana não deixa de ser cantada pelo homem, mas agora o homem é cantado pela linguagem, ao invés de quedar-se preso à “imunda repetição”. (NOVARINA, 2007, a, p. 20) Novarina conclui O animal do tempo com a nomeação de mais de cem pássaros: “limnota, a fugia, a hipília, o escalário, o ventisco, o luro, o figilo, o lepândrio, a galupa, o encreto, o furista, o Tião, o narcilo, o áulico, a gimnestra, a lousa, o drânglio, o fugilo, o ginel, o tripa, o semelico, o lipodo, o hipiando” (ibidem, p. 31), e por aí vai. Os pássaros novarinianos cessam de “respirar re-cada vez numa sílaba re-já dita” (NOVARINA, 2007, b, p. 20-21) e nos fazer voar para além da linguagem e para fora do tempo. Abstract This article is dedicated to the discussion launched by Valère Novarina about man’s limits and possibilities, understanding his theater as the performing of the language and of the human. The dense metaphors, created under the “animal mask”, contribute to form the conflict between the man and the world. Performing the animal, in this context, does not mean, therefore, turn the stage into an imitation or representation space, but into a questioning one. Novarina review, thus, an entire metaphysical tradition, present in the theater, but also in our thoughts. We should do the same, if we are to understand the scope of his writing and its poetic and philosophical implications. Time’s animal is the work from which we will make such an analysis. Keywords: Novarina; representation; theater; animalism; metaphysics. Referências ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. Trad. Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 1999. BAUDRILLARD, Jean. Os Animais. Território e metamorfoses. In: ______. Simulacros e Simulação. Trad. Maria João da Costa Pereira. Lisboa: Relógio d’Água, 1991. DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995. ______. De la grammatologie. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967. Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 199 Gragoatá Milla Benicio Ribeiro de Almeida ______. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Editora UNESP, 2002. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2010. GLENADEL, Paula. Derrida e os poetas: de margens e marcas. In: Nascimento, Evando e Glenadel, Paula (Orgs.). Em torno de Jacques Derrida. Rio de Janeiro: 7letras, 2000. ______. O Corpo da Letra: Símios e Moscas em Jacques Dupin. In: Pedrosa, Célia e Alves, Ida (Orgs.). Subjetividades em Devir – Estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 2008. LE BRAS-CHOPARD, Armelle. Le Zoo des Philosophes. De la bestialisation à l’exclusion. Paris: Plon, 2000. NASCIMENTO, Evando. Derrida e a literatura. Niterói: EdUFF, 1999. NOVARINA, Valère. Diante da palavra. Trad. Ângela Leite Lopes. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009, a. ______. L’Acte inconnu. Paris: P.O.L éditeur, 2007, a. ______. L’Envers de l’esprit. Paris: P.O.L., 2009, b. ______. O animal do tempo. A inquietude. Trad. Ângela Leite Lopes. Rio de Janeiro: 7letras, 2007, b. ROSSET, Clément. Le régime des passions et autres textes. Paris: Les Éditions de Minuit, 2001. TREMBLAY, Nicolas. Le théâtre et l’origine dans l’oeuvre de Valère Novarina. Abril de 2008. 197 f. Tese (Doutorado em Estudos Literários) – Université du Québec à Montréal, Montréal. VAZ, Paulo. O sentido do ceticismo. Disponível em: http://www. oquenosfazpensar.com /adm/uploads/artigo/o_sentido_do_ceticismo/n8paulo.pdf. Acessado em: 30 mar. 2011. 200 Niterói, n. 31, p. 183-200, 2. sem. 2011 Procedimentos de escrita e manejo de pigmentos: uma leitura de Esperando Godot e Fim de Jogo de Samuel Beckett Sônia Maria Materno de Carvalho Recebido em 31/05/2011 – Aprovado em 25/08/2011 Resumo: Este trabalho analisa as peças Esperando Godot e Fim de Jogo de Samuel Beckett, investigando de que modo, nesses textos, os procedimentos de escrita dramatúrgica incluem a rigorosa construção de uma visualidade cênica, pautada pela redução do espaço cênico, pelo apagamento dos corpos, pela insistência da obscuridade e pela configuração de um palco monocromático. Palavras-chave: teatro; imagem; Beckett. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 Gragoatá Sônia Maria Materno de Carvalho Eu compreendi que meu caminho se fazia no sentido do empobrecimento, na falta de conhecimento e em diminuir, antes em subtrair que adicionar. Samuel Beckett É minha a tradução dos textos de Beckett: Esperando Godot e Fim de Jogo. 1 202 Há na obra teatral de Beckett (como indica a epígrafe) um recorrente processo de redução, de subtração do que é mostrado ou falado em cena. Assim, o espaço de representação é sempre exíguo, reduzido e com poucos elementos cênicos: um trecho de estrada quase deserto (Esperando Godot) ou um cubículo mal iluminado (Fim de Jogo). O gestual dos personagens é geralmente repetitivo (retirar o sapato, recolocá-lo, colocar e retirar o chapéu, permanecer em cena querendo ir embora ––“Vamos / não podemos / por quê? / estamos esperando Godot” (diz Estragon a Vladimir).1 As réplicas são curtas e oferecem ao leitor e/ou espectador referências espaço-temporais imprecisas (uma estrada – Esperando Godot) ou mesmo indeterminadas (interior sem móveis – Fim de Jogo). É como se, em relação às peças de Beckett, pudéssemos fazer as mesmas perguntas que o narrador do romance beckettiano intitulado O Inominável faz no início da narrativa: “Onde agora? Quando agora? Quem agora?” (BECKETT, 1989, p. 5). Há também na cena de Samuel Beckett muitas pausas, interrupções, instantes de silêncio, ruídos estranhos, palavras e vozes brincando com repetições silábicas (Didi, Gogo, Pozzo. Vladimir compreende Bozzo e diz que conheceu uma família Gozzo), ou ainda palavras produzindo sonoridades (Nagg, Nell, personagens de Fim de Jogo). Notamos também a presença de cores, cores neutras, discretas, com uma predominância de variações do cinza. Há também o apagamento progressivo do corpo dos personagens, ora enterrados em latões (Nagg e Nell), ora na areia, como Winnie em Dias Felizes, ora em urnas como na peça Comédia (os personagens estão dentro de urnas, visíveis apenas da cintura para cima). São corpos parcialmente vistos, pouco iluminados, quase sempre imobilizados. É, então, nesse caminhar rumo ao pouco, ao menos, ao quase nada, é nesse palco em que os personagens são quase apagados ou estão semi-encobertos, é nesse limiar do quase que a peça se configura e os personagens se constituem e insistem, visualmente expostos, atuando, até o fim do jogo, sem sair de cena, sem abandonar o palco, sempre lá, até o apagar da pouca luz que os ilumina. Vamos, então, a algumas datas. Esperando Godot foi encenada pela primeira vez em 5 de janeiro de 1953, no teatro da Babilônia. Dois andarilhos, Vladimir e Estragon, aguardam, perto de uma árvore esquelética, um terceiro personagem de nome Godot, que anuncia sua vinda mas nunca vem. Em cada ato, dois outros andarilhos – Pozzo e Lucky – apresentam-se e contracenam com Didi e Gogo. Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 Procedimentos de escrita e manejo de pigmentos: uma leitura de Esperando Godot e Fim de Jogo de Samuel Beckett Esperando Godot representou para Beckett um divisor de águas, o fim do anonimato e da penúria e o início do reconhecimento literário e do sucesso financeiro. Mas o sucesso de Godot não garantiu recursos para a encenação parisiense de Fim de Jogo. Essa peça foi encenada pela primeira vez em Londres no dia 1º de abril de 1957, no Royal Court Theatre, em francês. Depois do sucesso em Londres, o Studio des Champs-Elysées ofereceu acolhida e no final de abril do mesmo ano Fim de Jogo foi encenada em Paris. Foram 97 representações e a interrupção se deu por fadiga dos atores. Diferentemente de Esperando Godot, que se passa ao ar livre (um trecho de estrada), a cenografia de Fim de Jogo exibe um cômodo fechado, que pode ser um quarto, uma sala, um refúgio, enfim, um lugar ainda habitável, um interior sem móveis, como indica a rubrica. Quando as cortinas se abrem, Hamm, paralítico e cego, está no centro do palco, sentado em sua cadeira de rodas, coberto por um lençol. À esquerda, dois latões de lixo, recobertos por um outro lençol e dentro deles Nagg e Nell, pais de Hamm. A única figura ereta que se movimenta com um certo desembaraço em cena, mas manca, é Clov, um misto de filho adotivo e empregado de Hamm. Quando o espetáculo se inicia, Clov retira os lençóis e diz: “Acabou, está acabado, isto vai acabar, isto vai talvez acabar”, ou seja, passado (acabou) e futuro (isto vai acabar) entrelaçados e determinados pela palavra fim. Mas o que acaba? O que já acabou? O mundo? A vida? O teatro? Trata-se de um jogorepresentação já perdido antes mesmo de iniciado? Então por que encenar? Porque apesar de tudo é preciso continuar. Cito aqui as últimas frases do texto O Inominável: –– “Não posso continuar, vou continuar” (BECKETT, 1989, p. 137). Continuar, ou seja, esperar como se faz em Godot ou representar (encenando a própria precariedade da representação) como se faz em Fim de Jogo. Manejo de pigmentos: branco sombreado, preto claro e cinza chumbo. “Descrever, destecer o quê? As nuances” Roland Barthes (O neutro) “Uma névoa encardida enchia todo o espaço” Charles Baudelaire (“Os sete velhos” – Flores do Mal) O palco beckettiano é quase sempre um lugar saturado pela cor cinza. Mas nesse universo quase monocromático há nuances. Optando, então, de forma mais focada por esse eixo investigativo, inicio minha análise por Fim de Jogo. A rubrica informa: interior sem móveis à meia-luz. (luz acinzentada), ou seja, ambiente mal iluminado, sombrio e austero. Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 203 Gragoatá A tradução da rubrica inicial dessas três peças é minha. 2 204 Sônia Maria Materno de Carvalho Abro aqui um parentese para citar três outras rubricas de outra três peças beckettianas que evidenciam uma opção por proposta de monotonia cromática. Em Fragmentos de monólogo (publicada em 1979) lê-se: “fraca luz difusa (...). Locutor no centro do palco (...). Cabelos brancos em desordem, roupa longa de dormir branca e meias brancas grossas”. (BECKETT, 1986, 29)2 Em Aquela Vez (publicada em 1976) a rubrica informa: “Palco no escuro, luz sobre o rosto do ouvinte (...) velho rosto branco (...), longos cabelos brancos eriçados como se vistos do alto, espalhados sobre um travesseiro”. (BECKETT, 1986, 9) Em Passos (publicada em 1976), vemos em cena a figura da personagem May. “Cabelos cinza em desalinho, penhoar cinza esfarrapado, escondendo os pés”. (BECKETT, 1978, 7) Voltando a Fim de Jogo, a cena mostra um cubículo, pode ser um abrigo, e nesse lugar vivem quatro pessoas: Hamm (cego e paralítico), Clov (coxo), Nagg e Nell (mutilados). Há janelas altas que estabelecem a ligação entre o fora e o dentro. Por essas janelas, Clov, o único que anda, vê com sua luneta o entorno do abrigo, segundo Hamm “o outro inferno”. Mas o que Clov vê? “Zero... Zero... Zero...” e, mais adiante, acrescenta: “Ondas? De chumbo. O tempo está cinza, cinza! Ciiinza”. Tudo nesse cubículo está acabando: remédios, alimentos, caramelos, calmantes. Não se pode trazer de fora o que está acabando dentro, porque o acolá é vago, amedrontador e parece vazio. Perscrutando de tempos em tempos esse exterior, com sua luneta, Clov o define: Zero, Nada, Cinza. Então a grisalha domina o dentro e o fora. O abrigo é um ponto de luz (pálida) em meio a uma imensidão escura e quase deserta. O manejo de pigmentos estabelece as cores do cenário. Fora é o cinza chumbo ou o preto escuro e dentro, o branco sujo ou sombreado (dos lençóis velhos que recobrem os lugares da ação no início da peça). Mas é o cinza opaco do ambiente à meia-luz que dá o tom à cena. E nesse palco viciado em cinza, há um elemento de cor vibrante, há um objeto escarlate. Trata-se de um lenço vermelhosangue, manchado de sangue, que recobre o rosto de Hamm. Então, sentado em uma cadeira de rodas no centro do palco, Hamm inicia o jogo teatral – “minha vez de representar”, e segurando o lenço manchado de sangue, retirado do rosto, diz: “Velho trapo!”. Esse lenço vermelho-sangue sinaliza a cortina de boca de cena – geralmente, nos antigos teatros, de veludo vermelho, – ponto inaugural da representação. Inaugural mas também final, pois o espetáculo se encerra com o fechar das cortinas. Em Fim de Jogo, o lenço-cortina-vermelho-sangue volta às mãos de Hamm, no final da peça, que o Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 Procedimentos de escrita e manejo de pigmentos: uma leitura de Esperando Godot e Fim de Jogo de Samuel Beckett Les deux clochards étaient vêtus, l’un Vladimir d’une très vieille redingote noire, élimée, verdâtre, l’autre Estragon d’un aussi vieux pantalon de velours retenu par une ficelle (...) les chapeaux melons, hors d’âge. Tout cela noirâtre, tirant sur le verdâtre. (tradução minha). 3 mantém aberto diante dele – “Velho trapo! Você fica” – aproxima o lenço de seu rosto e a rubrica indica “Cortina”. Assim, o vermelho que margeia a peça (aparece no início e no fim do jogo teatral) é a única cor vibrante que ganha letra nos dois textos aqui estudados. Em Esperando Godot, no segundo ato, lemos: “lá longe tudo é vermelho” diz Vladimir a Estragon, afirmando que ambos trabalharam, antes de esperarem por Godot nessa estrada em algum canto do mundo, em uma região chamada de Roussillon, na época da colheita da vinha. O vermelho é a única cor exuberante numa paleta que privilegia o tom sobre tom ou as variações em torno de cores neutras (branco sujo, preto claro, cinza chumbo), cores menos prezadas. Mas o vermelho não se impõe no palco, é, talvez, uma flutuação eventual, uma presença ligeira, uma marcação de cena, quem sabe? A cor do início e do fim do espetáculo, ou a cor das bordas que limitam a representação. É interessante notar que as cores primárias, isto é, o vermelho dos vinhedos e o azul pálido do mar – Estragon diz no primeiro ato: “Eu me lembro dos mapas da Terra Santa. Em cores. Muito bonitas. O mar morto era azul pálido (...) eu me dizia, é lá que iremos passar nossa lua de mel. Nadaremos. Seremos felizes” – aparecem nessa peça sempre referidas a um tempo anterior ao tempo de cena. Inscrevem-se na memória dos personagens. A cor neutra é dada a ver, nos diz Barthes em seu texto O Neutro, quando se esconde o colorido. Mas quando não há o colorido, quando a pouca cor é uma proposta cênica, sobram as nuances do cinza. É nessa paleta pouco variada, em que o cinza rouba a cena e furta a cor, que os tons acinzentados convocam os espectadores a procurarem a ligeira diferença do tom sobre tom, essas variações do cinza obrigam os espectadores a lidarem com o indistinto, com o parecido. E esse esforço, para diferenciar cores quase idênticas, exige do espectador a observância do manejo de pigmentos do autor. Vemos, assim, o cinza recobrindo corpos, entrando na opção do colorido das roupas. São corpos que exibem roupas desbotadas: preto fouveiro, branco sujo, cinza-esverdeado. Na primeira encenação de Esperando Godot, objetos de cena vieram dos depósitos de lixo de Paris e, dessa forma, o resto entrava literalmente em cena. Em Esperando Godot Vladimir usava um velho redingote preto, de tecido desgastado, manchado, cinza-esverdeado e Estragon uma velha calça de veludo amarrada por um barbante. Ambos usavam chapéu “coco” fora de moda, tudo de cor preto fouveiro ou preto esverdeado.3 (BECKETT, 1999, 34). A carnação do cinza (o cinza em corpos) também pode ser observada na cena beckettiana no que diz respeito ao alimento. Os legumes que freqüentam os bolsos de Didi e Gogo, o único Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 205 Gragoatá Sônia Maria Materno de Carvalho alimento desses personagens em cena, perderam, há muito, suas cores, seu viço. O tempo e o local de armazenamento os desbotaram, acinzentando a casca dos legumes, que se apresentam escurecidos, assemelhados ou pouco diferenciados, indistintos talvez. Lemos no primeiro ato: Estragon – “Dê-me uma cenoura / Obrigado / Oh! É um nabo”. Ou no segundo ato: diálogo entre Vladimir e Estragon ––“Você quer um rabanete? / É tudo o que há? / Há rabanetes e nabos / Não há mais cenouras? / Não (,,,) / Então me dá um rabanete. Ele está preto / É um rabanete / Só gosto dos cor de rosa”. Em Esperando Godot, a indicação cênica aponta: “Noite”. Trata-se, assim, de um crepúsculo que vai se adensando. “É sempre ao cair da noite” (diz Vladimir a Estragon no segundo ato) que o encontro pode ocorrer. Ora, esse espaço noturno, aclarado apenas pela luz da lua, assemelha-se, no teatro, ao espaço destinado à platéia, imersa na obscuridade. Cria-se, então, pelo efeito da escassez da luz no palco, um espaço integrado ou extensivo que aproxima atores e público, repelindo a alternância tradicional entre luminosidade (palco) e obscuridade (público). Em Fim de Jogo, o caráter extensivo do cinza une o dentro e o fora de cena (entrevisto por Clov com sua luneta). Como Clov vê o fora, estando dentro? Zero, Nada, Cinza. Mas quando muda a direção da luneta, quando a dirige para a platéia, Clov exclama surpreso (e de forma irônica, claro): “ah, começa a ficar alegre, vejo uma multidão em delírio”. Neste momento, Clov é o espectador e o público, tomado à sua revelia, torna-se parte integrante do jogo teatral. E a provocação continua: “Então? Agora ninguém ri?”. A cor neutra para Barthes também pode ser chamada de furta-cor, isto é, ela não propõe a cor, ela muda sutilmente de matiz, talvez de sentido, segundo a observação do sujeito que olha. Então é preciso que o espectador de Beckett seja tocado e se mexa ou mexa os olhos e procure na obscuridade do palco a variação de tons cuidadosa e economicamente proposta pelo autor. Porque a grisalha não é falta de cor, a grisalha não é incolor e portanto invisível, a grisalha é a cor não marcada, é a cor que desliza e bordeja – sem se confundir com ela – a indistinção. Ela é nuance, matiz à margem da cor, no limiar da cor. Não é falta de opção, é antes um desejo de por um fim na opulência da cor e na intensidade do fluxo luminoso. É, segundo Barthes, em O Neutro, um despegamento do sentido ou um desejo de des-pigmentar, cinzar, acinzentar, dizemos nós, ou dar a ver cinzas, ou seja, destroços (o que sobrou de uma moradia), ruínas vivas, resto, sobra, franja do humano que sobrevive e espera, num trecho de uma certa estrada ou num quartinho no fim do mundo, o fim do jogo. 206 Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 Procedimentos de escrita e manejo de pigmentos: uma leitura de Esperando Godot e Fim de Jogo de Samuel Beckett Assim, o teatro de Beckett tem por proposta o despojamento, isto é, mostrar o mínimo e dizer pouco. Mas esse a menos deixa ver a intensidade de um trabalho que consegue, a cada texto, nos surpreender, porque a cada texto apresenta uma tentativa de “falhar melhor”. (BECKETT, 1988, 7) Para finalizar, o que está em jogo, enfim, no palco beckettiano é a representação e sua opacidade. Imobilizados em cena, seja pela espera, seja pela impotência física ou por não ter a chave da despensa, Didi, Gogo, Hamm, Nagg, Nell, Clov (fragmentos de nomes próprios) são, entretanto, figuras cênicas não fixadas em objetos representacionais. Não representam algo ou alguém: “Significar? Nós, significar! (riso breve). Ah, essa é boa!” (diz Clov no segundo ato). Não são figuras translúcidas que exibam uma transparência representativa. São figuras cobertas, opacas, sombrias. Também não há um fora de cena que ajude a significar a cena. Articulam-se, assim, no palco de Beckett uma obscuridade sensorial (cena pouco iluminada) e uma obscuridade significante, produzida pela indeterminação das referências contextuais e também pela própria problematização da noção de sentido que o seu teatro opera. Este, o sentido, não se pode deduzi-lo ou descobri-lo. Ele é constituído pelo leitor/espectador num jogo de perde e ganha que se faz nessa tensão entre o que é dado a ver e o que é subtraído do olhar. Abstract: This text is intended as a study of Samuel Beckett’s theatre done in the perspective of an analysis of the visual dimension of the plays Waiting for Godot and Endgame. The attention will be focused on body’s fragmentation, space’s reduction and on the economy of gesture and colors with an emphasis on the Beckett’s insistence on the obscure and monochromatic stage. Keywords: theatre; image; Beckett. Referências BARTHES, Roland. O Neutro. Anotações de aulas e seminários ministrados no Collège de France, 1977-1978. Texto estabelecido, anotado e apresentado por Thomas Clere. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2003. BAUDELAIRE, Charles. “Les septs vieillards”. In: Les Fleurs du Mal. Paris: Librairie Générale Française, 1972. ______. “Os sete velhos”. In: Poesia e Prosa. Edição organizada por Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 207 Gragoatá Sônia Maria Materno de Carvalho BLANCHOT, Maurice. “Agora onde? Agora quem?” In: O livro por vir. Trad. Maria Regina Louro. Lisboa: Relógio D’Água, 1984. BECKETT, Samuel. En attendant Godot. Paris: Les Éditions de Minuit, 1952. ______. Fin de Partie. Paris: Les Éditions de Minuit, 1957. ______. Comédie et Actes divers (Va-et-vient, Cascando, Paroles et musique, Dis Joe, Actes sans paroles I et II, Film et Souffle). Paris: Les Éditions de Minuit, 1966. ______. Oh! Les beaux jours suivi de Pas Moi. Paris: Les Éditions de Minuit, 1975. ______. Cahier de L’Herne. Dirigé par Tom Bishop et Raymond Federman. Paris: Éditions de L’Herne, 1976. ______. Pas suivi de Fragment de théâtre I et II, Pochade radiophonique- Esquisse radiophonique. Paris: Les Éditions de Minuit, 1978. ______. Catastrophe et autres dramaticules (Cette fois, Solo, Berceuse, Impromptu d’Ohio, Quoi ou). Paris: Les Éditions de Minuit, 1986. ______. Pioravante Marche. Trad. Miguel Esteves Cardoso. Edição bilíngüe. Lisboa: Gradiva, 1988. ______. O Inominável. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. ______. Tous ceux qui tombent. Paris: Les Éditions de Minuit, 1957. CAVALCANTI, Isabel. Eu que não estou aí onde estou: o teatro de Samuel Beckett (o sujeito e a cena entre o traço e o apagamento). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. KNOWLSON, James. Beckett. Biographie traduite de l’anglais par Oristelle Bonis. Paris: Actes Sud, 1999. KUDIELKA, Robert. “O paradigma da pintura moderna na poética de Beckett: uma arte que não se ressente de sua insuperável indigência.” Trad. José Marcos Macedo. In: Revista da Cebrap, Novos estudos, n. 56, São Paulo, março 2000. MARTIN, Jean. “En créant Godot”. In: Magazine littéraire nº 372, janvier 1999, pgs. 52/57. PETEL, Gilles. “Des mots et des larmes”. In: Critique. N. 46, 1990. SALADO, Régis. “On n’est pas liés? Formes du lien dans En attendant Godot et Fin de Partie.” In: Samuel Beckett: l’écriture et la scène. Onze études réunies et présentées par Evelyne Gossman et Régis Salado. Paris: SEDES, 1998. REVISTAS Magazine Littéraire nº 372, janvier/1999. Dossier Beckett. Magazine Littéraire nº 231, juin/1986. Dossier Beckett. 208 Niterói, n. 31, p. 201-208, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot Davi Andrade Pimentel Recebido em 05/06/2011 – Aprovado em 01/09/2011 Resumo Este trabalho analisa a presença de traços kafkianos na formação subjetiva de escrita do autor francês Maurice Blanchot, no que se refere à elaboração de uma de suas narrativas, Pena de morte. Nessa narrativa, o modo cáustico e problemático do movimento textual do narrador é muito semelhante ao movimento kafkiano que se manifesta no Diário Íntimo e nos romances do escritor tcheco, dando-nos material necessário para investigarmos a influência de Franz Kafka no escrito de Maurice Blanchot em análise. Palavras-chave: Maurice Blanchot; Franz Kafka; subjetividade; influência; linguagem. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 Gragoatá Davi Andrade Pimentel Depois, sem intervenção da sua vontade, a cabeça afundou completamente e das suas ventas fluiu fraco o último fôlego. (KAFKA, 2010, p. 78) Título Original: L’arrêt de mort. Tradução para o português de Ana Maria de Alencar. Editora Imago. 2 “Pourquoi un tel rapprochement? Le rapport entre ces deux écrivains trouve partiellement sa source dans les écrits de Blanchot qui dévoilent sa passion pour l’œuvre de Kafka et pour la personne derrière l’œuvre.” (LILTI, 2007, p. 154) 3 No decorrer de nossa leitura da obra Pena de morte, não faremos um trabalho simplesmente comparativo entre a narrativa blanchotiana e os textos de Kafka, e sim uma busca pela essência kafkiana presente na narrativa de Blanchot como experiência de escrita. 4 “c’est une force d’er-rance semblable à celle d’un fantôme.” (LILTI, 2007, p. 155, grifo da autora) 5 Em nosso artigo, utilizaremos, para efeitos estilísticos, “o personagem” para se referir ao narrador e “a personagem” para se referir à J. 1 210 Em um jogo de imagens em constante movimento, observamos que a primeira parte da narrativa Pena de morte,1 de Maurice Blanchot, reflete de modo diferenciado, pois o que lemos é ficção, trechos do Diário íntimo de Kafka; este, exaustivamente comentado por Blanchot em seus escritos sobre o ato literário. Nesses três modos de fazer literatura, os níveis de diferenciação entre eles se dissipam na medida em que o enredo blanchotiano ganha forma na estruturação de sua arquitetura, apresentando ao leitor uma forma textual híbrida em que não podem ser avaliados os limites que cerceiam esses espaços textuais. Não há divisão, mas fusão em Pena de morte. O que nos levou a aproximar esses dois escritores pode ser respondido por Ayelet Lilti, em seu texto “L’image du mort-vivant chez Blanchot et Kafka”, presente na Revue Europe – Maurice Blanchot nº 940-941: “Por que uma tal aproximação? A relação entre esses dois escritores encontra parcialmente sua fonte nos escritos de Blanchot que revelam sua paixão pela obra de Kafka e pela pessoa atrás da obra.”2 Nessa perspectiva, não acreditamos em um tipo de tributo a Kafka, mas sim em uma experiência de escrita pela qual Blanchot não pode se desviar ao travar a sua luta particular com o terreno instável do texto literário. Ao lermos os ensaios blanchotianos sobre literatura é perceptível a presença do autor tcheco tanto na leitura de suas narrativas quanto na leitura de sua vida atormentada pelo ato de escrever ininterruptamente; vale lembrar que, de acordo com Blanchot, Kafka é o que poderíamos denominar de correlato do que ele entende por literatura: “Temos às vezes a impressão de que Kafka nos oferece uma chance de entrever o que é a literatura.” (BLANCHOT, 1997, p. 19). O espectro de Franz Kafka3 espreita a narrativa blanchotiana em análise desde a primeira palavra dada por aquele que a narra. Os escritos do autor d’A metamorfose ecoam na narrativa de Blanchot, “é uma força de errância semelhante àquela de um fantasma.”.4 Em nenhum momento, o vaguear do espectro é interrompido; ao contrário, é seguidamente chamado a participar do enredo, como se do punho do narrador não pudesse sair nada sem o seu prévio consentimento. Eles falarão da morte, mas da morte que pode perdurar até mesmo quando se já está morto. A morte, que é desastre, permanecerá a morte de todos mesmo após a morte de um só indivíduo. No desespero do morrer, eles falarão daquela que teme a morte, que teme o ato sombrio que a noite temerosa pode trazer, bem como falarão da verdade/luz que se contrapõe ao ato obscuro do estar a morrer. O som do trotar da morte, que ouvimos ao longo da narrativa, se origina através dos acessos febris, das tosses e da fadiga Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot quase mortais da personagem5 J. O seu estado de quase-morta ou de quase-morte faz dela um ser em transição, permanecendo entre o terreno dos mortos, o qual ela renega com todas as forças — “convivia em pé de igualdade com uma febre extenuante” (BLANCHOT, 1991, p. 13) —, e o terreno dos vivos, o qual ela compartilha com o narrador; apenas ele consegue não aborrecêla, talvez ela soubesse que o seu amigo seria, mais tarde, o seu algoz; e nisso compartilhassem um segredo mórbido. Diferente do castelão, da narrativa L’instant de ma mort, personagem blanchotiano que se aventura pelo terreno áspero da morte através da presença do Outro e do movimento de passividade, permanecendo em seu espaço e experimentando a morte em sua essência, a moça J. temia o espaço da morte. Desse modo, ela não se entregava à morte, não lhe era interessante o movimento de estar no entre-morrer e, nem mesmo, de experienciar a morte, resultando dessa ação duas questões importantes na leitura da narrativa Pena de morte, que comentaremos no desenvolvimento de nosso artigo: a luta com a morte, fato que não ocorre nas demais narrativas blanchotianas; e uma nova categoria da impossibilidade da morte, a existência do ser até mesmo no espaço da morte, a impossibilidade de morrer mesmo quando se já está morto. Essa impossibilidade, apenas para adiantar algumas considerações, tem uma relação forte com os personagens de Kafka. O castelão se doou à morte, experimentando-a, já a moribunda se desviava constantemente da morte como a escrita de sua história se desviava do caráter de verdade que desejaria dar a ela o narrador. O relato do personagem-narrador se concentra nos momentos anteriores à morte de J., nos seus sofrimentos, nas suas abstinências e na sua luta devastadora com a morte. Nesse sentido, o texto, ao se concentrar no entre-morrer da jovem, passa a se comportar mimeticamente como a personagem central de seu enredo, em um permanente estado agônico, sufocante, por vezes. A estrutura narrativa, antes respirável, se torna cáustica, densa em determinados momentos, mórbida em outros, sempre caminhando juntamente com sua personagem. Nos acessos de tosse ou de desespero de J., a narrativa inicia um movimento de morbidez tamanha que o espaço narrativo ganha uma aparência asfixiante: “Na véspera desse dia, sentira uma pontada violenta no lado do coração e tivera uma crise de falta de ar tão forte, que mandou ligarem para sua mãe e ela mesma chamou o médico.” (BLANCHOT, 1991, p. 21). As palavras se recolhem para junto da moribunda esperando o momento final, o surgimento da noite que trará o cortejo fúnebre da morte. O seu trotar está sempre em iminência, sempre a ponto de dominar totalmente a narrativa e com ela o narrador, por isso, talvez, o medo inicial do personagem de se entregar à escrita, optando primeiramente pelo diário, pelo rigor e pelas datas. Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 211 Gragoatá Davi Andrade Pimentel No entanto, antes da morte se apresentar à narrativa e, com isso, abraçar a todos, J. se restabelece: “A pontada no coração não desapareceu, mas os sintomas atenuaram-se e mais uma vez ela triunfou.” (Ibidem). E com o seu triunfo momentâneo, o texto novamente ganha a claridade, o ritmo mais calmo, mais respirável. A morte tende a se afastar nesses momentos de lucidez da jovem J., bem como o texto tende a se tornar mais aprazível. Contudo, os momentos de lucidez da personagem se misturam aos momentos de terror de sua doença, não dando à narrativa um único modo de se desenvolver, mas dois: a escuridão e a claridade de seus espaços. O terror e a alegria caminham propositadamente juntos, pois são manifestações da moça moribunda, que, por conseguinte, se tornam manifestações da própria narrativa. A luta da personagem em não morrer é a mesma da narrativa em não se deixar corromper definitivamente pela morte, ambas buscam a vida para se libertarem do estado contínuo do morrer. Todavia, a sobrevivência da narrativa está na morte e dela não pode se desassociar. É a morte que originou a narrativa que lemos e o narrador é a sua configuração. Como já observamos, o texto de Pena de morte passa a ser um texto em estado de agonia, com a morte sempre em iminência, sempre em porvir. Aqui, o jogo de imagens cede lugar ao jogo de contraposições, ao jogo do claro-escuro. Nos momentos de lucidez da narrativa, o retorno às datas e aos meses surge para orientar o personagem do movimento do tempo no instante em que o seu discurso está sendo elaborado, bem como para orientar o leitor, para não confundi-lo com o acúmulo de informações que não estão divididas em escala temporal: “Desde o mês de setembro, eu passava uma temporada em Arcachon.” (BLANCHOT, 1991, p. 13) ou “Dessa vez, decidi voltar para Paris.” (Ibidem). Esse período de claridade textual, concede ao narrador uma maior segurança daquilo que narra, é como se a narrativa ainda pudesse estar em seu domínio, em sua tutela; porém, o que vemos logo em seguida é o retorno da escuridão, o momento de triunfo da narrativa quando a noite se aproxima, pois ela se apresenta totalmente como é, irrevogavelmente instável, ambígua, tomada pelo esquecimento. O narrador é acometido radicalmente pela perda da memória, ele é tomado pela indecisão dos fatos, pela dúvida. A palavra peut-être/ talvez, que surge na narrativa de L’instant de ma mort como fator de instabilidade, se apresenta na narrativa de Pena de morte em suas mais variadas formas: “Acho que no dia 5 ou 6 de outubro” (Ibidem, grifos nossos) e “Não me lembro bem como termina a cena”. (Idem, p. 15, grifos nossos). O momento de dúvida ajuda a advertir o leitor sobre o que está lendo. Não se deve confiar no narrador, não se deve confiar nas palavras. As palavras literárias não se sobrecarregam de verdades, mas de ambiguidade: 212 Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot A literatura é feita de palavras, essas palavras produzem uma transmutação contínua do real em irreal e do irreal em real: elas aspiram os acontecimentos, os detalhes verdadeiros, as coisas tangíveis, e os projetam num conjunto imaginário e, ao mesmo tempo, realizam esse imaginário, dando-o como real. (BLANCHOT, 1997, p. 188) A repercussão do movimento de indeterminação da personagem que vagueia entre a morte e a luz, atingindo a narrativa, lembra-nos, guardadas as devidas singularidades, a indeterminação de Gregor Samsa, d’A metamorfose, oferecendo-nos mais uma relação no jogo de imagens entrevista por nós no começo de nosso artigo. No decorrer da narrativa d’A metamorfose, de Kafka, uma indagação do narrador nos coloca em alerta sobre o caráter de indeterminação do personagem Gregor: “Era ele um animal, já que a música o comovia tanto?” (KAFKA, 2010, p. 71). Se antes o fato dele ter se transformado em um inseto asqueroso era motivo de riso por parte do leitor ou até mesmo de repugnância, a questão lançada pelo narrador nos adverte que há uma complexidade muito grande no fato dele ter se transformado em um inseto, haja vista que a sua existência racional humana ainda sobrevive na forma irracional do inseto, dandolhe um aspecto de total imprecisão, semelhante à J., que está praticamente morta, mas que ainda resiste em um corpo vivo: “Seu médico me dissera que a considerava morta desde 1936.” (BLANCHOT, 1991, p. 15). No aspecto indeterminado de seus personagens, as duas narrativas, também, se indeterminam, colocando o julgamento do leitor em um contínuo movimento de dúvida, pois a desorganização advinda da imprecisão problematiza os delicados conceitos, como, por exemplo: ser animal/ ser humano ou estar vivo/ estar morto. J. passeia entre os dois mundos, bem como Gregor passeia pela indeterminação de sua categoria: homem ou inseto? J. não é a vida ou a morte, ela é a vida-morte, o sujeito incompatível, aquele ser desagregador, aquele que não se enquadra em nenhuma categoria previamente conhecida, igualmente, ao personagem de Kafka, que, por não se enquadrar em nenhuma nomenclatura, definha solitariamente após o golpe derradeiro de seu algoz: “A maçã apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, inteiramente cobertas por uma poeira mole, quase não o incomodavam. [...] Ele ainda vivenciou o início do clarear geral do dia lá do lado de fora da janela.” (KAFKA, 2010, p. 78). Lembremos que J., também, definhará, não resistindo à indeterminação. Dentre as características semelhantes entre os dois textos, observamos que as ações mais importantes acontecem dentro do quarto, mais precisamente dentro de um ambiente em que a necessidade da luz vai diminuindo ao longo das narrativas, como se o escurecer do quarto fosse compatível com os Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 213 Gragoatá Davi Andrade Pimentel últimos momentos de vida dos personagens; é quando a morte se apresenta na narrativa, com o seu cortejo trazido pela noite. Na presença da morte, J. é considerada ainda mais bela pelo narrador, como se as suas feições pudessem ser resguardadas pelo sopro macabro do morrer: “Mas não maquiada, ela parecia ainda mais jovem; ela o era, então, exageradamente, de modo que o principal efeito da doença era lhe dar traços adolescentes.” (BLANCHOT, 1991, p. 13). Diferentemente do que pudéssemos supor, em Pena de morte, a morte resguarda, rejuvenesce, preserva, e não corrói ou apodrece, como acontece de fato. A beleza do estar a morrer tem papel fundamental na compreensão da narrativa, pois, fora de conclusões precipitadas ou de concepções já previstas, a trama concede à morte uma singularidade ambígua, visto que, no mesmo instante em que mata, a morte conserva. E é nesse ponto que encontramos uma outra faceta da morte nas narrativas de Blanchot, a morte tornada impossível: o ser permanece “vivo” após a sua morte; é a impossibilidade de morrer no nível mais complexo que se possa imaginar, haja vista que o ser perdura mesmo em sua morte. Associada à imagem da beleza na morte, há a imagem da rosa perfeita: “eu a olhava viver e dormir, quando subitamente disse com grande angústia: ‘Rápido, uma rosa perfeita’, enquanto continuava a dormir, mas agora com um leve ruído no pulmão.” (BLANCHOT, 1991, p. 42, grifos nossos). A ambiguidade da morte se reflete na ambiguidade da rosa perfeita, que simboliza tanto a beleza de J. quanto a coroa de flores de seu funeral. E como a personagem se desviava da morte, o sentimento de angústia é previsível quando percebe o esvair de sua vida ao, deitada, pressentir a vinda da rosa perfeita. Na história escrita pelo narrador, é comum trechos em que J. trava grandes batalhas com a morte, tendo como consequência o estado agônico da narrativa: “Ela lutava em demasia. Normalmente deveria ter morrido há muito tempo.” (Idem, p. 15). No fim das lutas, J. saia quase sempre vitoriosa; porém, o sentimento de perigo não deixava a sua mente, o temor que sentia ao anoitecer era muito claro, desejando a saída do narrador logo quando a noite chegava, pois a personagem temia que outros presenciassem a fragilidade de seu corpo no combate inútil com a morte, inútil, uma vez que o seu fim estava cada vez mais próximo: “Logo à noite, ocorreu-lhe a idéia de que eu devia partir.” (Idem, p. 40). Deitada na cama, J. sofria nos conflitos com a morte; todavia, se mantendo “valente diante da morte” (Idem, p. 15); no entanto, a sua valentia somente alcançava o limite ordenado pela morte, já que a personagem pertencia ao espaço do morrer, pertencendo ao espaço cadavérico da morte. Não havia saída para a moribunda, e ela soube disso ao se entregar ao narrador-morte complacentemente. A jovem, mesmo sabendo da proximidade do seu fim, 214 Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot desejava a vida: “Mas, não somente não estava morta, como continuava a viver, a amar, a rir” (Ibidem). Nos encontros com a morte, J. perde a sua feição comumente adquirida em favor de uma nova feição, a feição daquela que morre; disso decorre a sua beleza quase etérea, beleza eterna: “Após a morte, é sabido que as pessoas bonitas voltam a ser, por um instante, jovens e belas” (BLANCHOT, 1991, p. 28). Como figuração da morte, J. não permite ao enredo que se estruture em uma organicidade prévia e comum, pois o enredo de sua história acompanha o seu estado oscilante de saúde. Desse modo, a narrativa se comporta como o próprio corpo da personagem, corpo de linguagem, corpo metalinguístico, sensível ao que atormenta e agrada à personagem. Com o constante conflito com a morte, surge em J. o temor da noite. A noite se apresenta de duas maneiras no discurso de Pena de morte: ora como o cortejo da morte, como aquela que traz o infortúnio e o desespero do morrer, bem como é a noite que não deixa J. se esquecer de sua real condição de ser do entre-morrer, ser da morte. É no espaço da noite que a narrativa, mesmo agônica, se apresenta em seu esplendor fulgurante, desordenando, a seu bel-prazer, os pilares discursivos que constrói, e afirmando o seu domínio sobre o narrador e os demais personagens. Em Pena de morte, o estado aflitivo do texto afirma a potencialidade do espaço literário diante dos demais constituintes narrativos. É na agonia de seu enredo que a narrativa reafirma a malícia das palavras, como também o “dé-crit” da nova linguagem, pois o que está sendo escrito é, antes de tudo, um desvio da linguagem comumente conhecida para se aproximar do outro lado da linguagem, a linguagem literária, que somente pôde ser elaborada no ato de liberdade de escrita do narrador. Na configuração da nova linguagem na narrativa blanchotiana em análise, a ideia da noite, para J., traz juntamente consigo a ideia da morte: “Era muito corajosa, mas tinha medo. Tivera sempre muito medo durante a noite.” (Idem, p. 17). Em seu pânico noturno, a jovem afirmava a sua disposição para o embate com a morte: “Durante seus terrores noturnos, não o era sequer um pouco; ela enfrentava um perigo muito grande, mas sem nome e sem figura, absolutamente indeterminado, e, quando estava sozinha, enfrentava-o sozinha, sem recorrer a subterfúgio algum, sem recorrer a nenhum fetiche.” (BLANCHOT, 1991, p. 23). Contudo, após uma longa série de crises fortes causada pela doença, o seu médico particular lhe receitara doses de morfina. Com a dosagem do remédio, J., pela primeira vez, se encontra desarmada, sem as suas forças de combate, totalmente, entregue em seu leito. A jovem, desacordada, era embalada pela morte, com a sua face aconchegada ao seio murcho e estéril daquela que a mantinha em seus braços: “Não era mais um combate leal, de olhos abertos, contra um adversário que admitia a vontade de combater.” (Idem, Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 215 Gragoatá 6 No artigo “Os amores de Kakfa”, do jornalista Felipe de Oliveira, presente no sítio virtual ht t p://w w w.sub c u ltura.org/artigos/450-os-amores-de-kafka. html, nos diz que Kafka, desiludido por não conseguir o amor de Milena Jesenská, encontra na jovem Dora Diamant, de 18 anos e filha de operários judeus poloneses, uma nova possibilidade pa ra a ma r. Seg u ndo o artigo, apenas com Dora ele realizou algo que nunca conseguiu fazer durante toda a sua vida: desligar-se de sua família, deixando Praga para viver com a moça em Berlin. Ao lado de Dora, Kafka estudou hebreu e desenvolveu intensa atividade literária. Contudo, a doença novamente o persegue. Na p r ox i m id ade de completar 41 anos, a tuberculose o tinha tomado por inteiro. Mesmo doente, ele deseja ir à Palestina com Dora; porém, sua saúde não o deixava. A situação de Kafka se agrava; ele não mais consegue comer ou beber. No dia 3 de junho de 1924 entra em agonia, expulsando a enfermeira do quarto. Logo depois, pede morfina a um amigo médico, que recusa prontamente. Por sua recusa, Kafka esbraveja: “Mate-me, senão você é um assassino.”. Poucas horas depois, morria Franz Kafka. 216 Davi Andrade Pimentel p. 27). Do estado de indeterminação, a moribunda inicia levemente o caminhar para o terreno da morte, não no modo da passividade do castelão, mas forçada pelo paliativo que lhe retirou a vontade de luta, agilizando o seu fim: “de viva que estava [...] ela caiu num estado de prostração que fez dela uma agonizante.” (Ibidem). O médico, temendo que as dosagens de morfina apressassem a sua morte, suspendeu o paliativo. Nesse momento, J. se rebelara, ordenando ao médico o retorno de seu medicamento, pois precisava estancar as dores que tanto a fatigavam. À fala de J. ao seu médico — “Se você não me matar, você é um assassino.” (Idem, p. 29) —, o narrador faz um correspondência direta a Kafka: “Posteriormente vi uma expressão análoga atribuída a Kafka.” (Ibidem). A referência sutilmente irônica e direta ao escritor tcheco vem a reforçar a relação que essa narrativa blanchotiana mantém com os escritos do autor d’A metamorfose. Há, sem dúvida, uma experiência de escrita entre o narrador e Blanchot que passa pelos escritos de Kafka, se tornando evidente a partir do momento em que essa experiência influi na essência narrativa de Pena de morte. Como já comentamos, o espectro de Kafka passeia pelo texto blanchotiano livremente. O fantasma está lado a lado com o narrador; e com ele compartilha a escrita da narrativa. De acordo com nossa pesquisa, a frase lançada por J. a seu médico é bastante similar à frase lançada por Kafka ao seu médico do sanatório de Kierling antes de falecer.6 A quase similaridade das falas do narrador e de Kafka nos permite reafirmar a presença do autor na elaboração da narrativa de Blanchot. Por que a moça moribunda teme tanto a morte? Qual é o real motivo do seu medo?: “Não sei do que ela tinha medo: não de morrer, mas de algo mais grave.” (BLANCHOT, 1991, p. 18). O narrador lança uma indicação sobre uma possível razão do temor de J. Essa indicação se refere à duração do morrer, ou melhor, à duração do estar a morrer continuamente, mesmo após a morte. A personagem temia a duração de sua existência depois de sua morte, como se nem mesmo no estado do já morto ela pudesse estar livre de sua existência atormentada pela doença degenerativa. No que se relaciona à existência sem possibilidade de término, Blanchot, em “A leitura de Kafka”, do livro A parte do fogo, ao analisar uma narrativa de Kafka, “O caçador Gracchus”, comenta: “Essa desgraça é a impossibilidade da morte, é a ironia lançada sobre os grandes subterfúgios humanos, a noite, o nada, o silêncio. Não existe fim, não há possibilidade de acabar com o dia, com o sentido das coisas, com a esperança” (BLANCHOT, 1997, p. 15). Na leitura de Blanchot para a narrativa de Kafka, podemos fazer semelhante contraponto com a sua própria narrativa, uma vez que o drama da impossibilidade de morrer, que atinge o personagem morto-vivo kafkiano, é partilhado com a morta-viva de Pena de morte. Nesse sentido, ficção e teoria blanNiterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot chotianas se coadunam, se refletindo mutuamente, tendo como ponto de similaridade a obra de Kafka. Na relação que mantemos com a morte, podemos afirmar que, desde o nosso nascimento, estamos direcionados para um único fim que é o morrer, e não simplesmente para o viver como nossa tradição cultural repassa. Antes de estarmos vivos, nós estamos morrendo, nós estamos a morrer, por isso a diferença entre o morrer e a morte. O morrer implica necessariamente em nossa contínua existência, com seus percalços, seus entraves, suas alegrias e tristezas; já a morte seria o estágio em que cessaria o morrer, logo, a existência. E nisso estaria o nosso salvo-conduto, pois, diferente do que possa ter ocorrido em nossas vidas, saberíamos que, na morte, tudo zeraria, estaríamos no ponto zero de nossa existência. Contudo, ao termos negado o nosso refúgio, nós seríamos lançados a um outro nível de existência, uma existência associada à existência que se viveu no momento em que se estava vivo; assim, a morte passaria a ser, não o fim, mas a continuação do estar-a-morrer: “Não morremos, eis a verdade, mas acontece que também não vivemos, estamos mortos em vida [...] Portanto, a morte termina nossa vida, mas ela não termina com nossa possibilidade de morrer; ela é real como fim da vida e aparece como fim da morte.” (BLANCHOT, 1997, p. 16). Com a não-morte, temos como resultado o desespero de permanecer morrendo. Na impossibilidade da morte, tanto a narrativa de Blanchot quanto a de Kafka promovem a instabilidade de seus enredos e, também, o tormento de seus personagens que, não podendo morrer, iniciam um calvário errante ao longo dos textos. Na narrativa de Blanchot, J. ainda permanecia no entre-morrer, temendo, com a sua morte, a permanência de sua existência para além do espaço cadavérico. Nesse estágio de sobrevida, a jovem já iniciava o seu calvário, os longos e fatigantes encontros com a morte não o negam. A problemática da impossibilidade da morte é tão sufocante no texto blanchotiano que o narrador escreve em relação à J.: “Não sei se ela queria viver ou morrer.” (BLANCHOT, 1991, p. 14). Em relação à narrativa de Kafka, a burocracia que tanto se estuda em seus escritos como fator de impossibilidade dos personagens atingirem seus objetivos, como em O Castelo, ou de saberem o real motivo de sua condenação, como em O processo, pode esconder uma ambiguidade mais alarmante que recai sobre a possibilidade dos personagens estarem realmente vivos ou de estarem já mortos desde o início de suas narrativas, vagando pelo texto na impossibilidade de darem fim a própria vida. Desse medo compartilhado entre os personagens dos dois escritores, a perda do refúgio, que seria a possibilidade de, na morte, findar a existência, é o que atormenta a personagem de Pena de morte: “vem do medo de que esse mesmo refúgio nos Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 217 Gragoatá Davi Andrade Pimentel seja tirado, de que não haja o nada, de que esse nada seja ainda o ser.” (BLANCHOT, 1997, p. 16). O medo do morrer contínuo faz de J. uma personagem que busca recorrentemente a luz, qualquer luz, na ressalva de, iluminada, poder afastar as trevas da noite e, com elas, a entrada da morte: Quando da minha visita de setembro, presenteei-a com uma grande luminária, cujo abajur, pintado, mas pintado de branco, lhe agradava. Mandou colocar essa luminária ao pé da cama, ao alcance de seus olhos, o que devia incomodá-la, mas ela assim o queria. Mais tarde, durante a noite, vendo seus olhos fixos, voltados para essa luz, lhe propus afastá-la ou escondê-la; mas ela apertou meu punho com tanta força, para me reter, que de manhã, nesse lugar, a pele ainda estava branca. (BLANCHOT, 1991, p. 40) “Il y aurait dans la mort quelque chose de plus fort que la mort: c’est le mourir même — l’intensité du mourir, la poussée de l’impossible indésirable jusque dans le désiré. La mort est pouvoir et même puissance [...] Mais le mourir est non-pouvoir, il arranche au présent, il est toujours franchissement du seuil, il exclut tout terme, toute fin, il ne libère pas ni n’abrite. Dans la mort, on peut illusoirement se réfugier […] Mourir est le fuyant qui entraîne indéfiniment, impossiblement et intensivement dans la fuite.” (BLANCHOT, 1980, p. 81) 7 218 No olhar fixo em direção à luz, a jovem pretendia se proteger da vinda da noite, resguardando, assim, a sua frágil existência. O medo da morte encobre o medo da personagem de ter a sua existência prolongada, de ter que permanecer a sofrer, mesmo estando morta, por isso a luz, a segurança do dia, o calor do sol, pois é preferível, em vida, sofrer a sofrer após a morte. O prolongamento do estar-a-morrer é um segundo modo de compreender a impossibilidade da morte nos textos blanchotianos. Em seus ensaios críticos mais conhecidos, a concepção da impossibilidade da morte se relaciona à impossibilidade de fim, de conclusão, de mensagem ao final do texto literário, correspondendo, assim, ao caráter ambíguo da literatura. A impossibilidade da morte é um constituinte literário na perspectiva de Maurice Blanchot. A essa ideia da não-morte se coaduna, a partir da leitura de Pena de morte, uma segunda ideia: a impossibilidade de fim no sentido de não mais existir a morte concreta, mas a contínua duração do morrer, que, na realidade, é a permanência da existência, o vagar errante pela vida sem-fim. Desse modo, na concepção blanchotiana, o ato da morte se diferencia do ato de morrer; o morrer é ainda existir, perdurar. Em L’écriture du désastre, Blanchot comenta essa diferença: Existiria na morte alguma coisa de mais forte que a morte: é o morrer mesmo — a intensidade do morrer, a pressão do impossível indesejável até no desejado. A morte é poder e mesmo potência [...] Mas o morrer é não-poder, ele arranca o presente, ele é sempre passagem do limiar, ele exclui todo termo, todo fim, ele não liberta nem abriga. Na morte, pode-se ilusoriamente se refugiar [...] Morrer é o fugitivo que arrasta indefinidamente, impossivelmente e intensivamente na fuga. (BLANCHOT, 1980, p. 81)7 O indesejável em nossa existência não é a morte, pois é ela quem nos concede o poder de saber que estaremos livres de nossa existência ao cessar nossa vida. É a morte quem nos Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot abrigará, quem limpará as nossas feridas e quem nos dará uma nova oportunidade ao findar com a existência que nos mantinha vivos. A morte é poder, é domínio. Com isso, o indesejável não é a morte, mas o morrer, a existência sem-fim, a impossibilidade de morrer. É preciso rever os conceitos culturais que impõem na morte, e não no morrer, o símbolo do nefasto e do apocalíptico. A morte não é perda, mas ganho; diferentemente, do que seria a existência em duração contínua. Nessa reflexão, do mesmo modo que caminhamos para a morte no mundo que construímos, nós lutamos não para vivermos, mas para termos o direito à morte, à possibilidade de ter a morte como fim: “nossa luta para viver é uma luta cega que ignora que luta para morrer” (BLANCHOT, 1997, p. 16). O temor da jovem moribunda não é sem precedentes, uma vez que, após a sua morte, fatidicamente a sua existência perdurará ao longo da narrativa na figura do personagem-narrador: “Poderia acrescentar que, durante esses instantes [enquanto morria], J. continuava a me olhar com o mesmo olhar afetuoso e cúmplice, e que esse olhar ainda perdura, mas isso infelizmente não é certo.” (BLANCHOT, 1991, p. 50). O narrador será a sua existência em continuidade após a sua morte, já que ele continuará o movimento do morrer que antes pertencia a ela; e, ao matá-la, o narrador assume a prefiguração da morte que, anteriormente, pertencia a J., a moça de beleza etérea. A duração da existência de J., na persona do narrador, partilha de similar duração da existência que observamos em A metamorfose. Gregor, ao morrer, passa a existir na figura da irmã, na continuidade que é dada a ela de administrar e de cuidar da família, no papel que antes pertencia ao personagem: “Enquanto conversavam assim, ocorreu ao senhor e a senhora Samsa, quase que simultaneamente, à vista da filha cada vez mais animada, que ela — apesar da canseira dos últimos tempos, que empalidecera suas faces — havia florescido em uma jovem bonita e opulenta.” (KAFKA, 2010, p. 84-85). Em A metamorfose, na simples, porém, atordoante troca de papéis entre os personagens, constatamos que, na falta de quem gerenciasse a casa, os pais de Gregor, ao inverterem a função familiar de Grete, sua filha, confirmam a impossibilidade da morte do personagem que se transformou em inseto; personagem que persiste nos traços florescidos de sua irmã. Blanchot, sobre a continuidade da existência n’A metamorfose, diz que: “não é verdade, não houve fim, a existência continua, e o gesto da jovem irmã, seu movimento de despertar para a vida, de apelo à volúpia sobre o qual a narrativa termina, é o cúmulo do terrível, não há nada mais apavorante em toda a novela.” (BLANCHOT, 1997, p. 17). No que se refere à Pena de morte, no prolongamento da existência de J., o texto narrativo nos oferece o cadenciar da prefiguração do narrador em ser da morte. O primeiro indício revelado pela narrativa surge no começo da Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 219 Gragoatá “La rencontre de la mort et de la mort?” (BLANCHOT, 2003, p. 12). 8 220 Davi Andrade Pimentel escrita do personagem, quando a jovem lhe pede um conselho em relação ao ato de suicídio pensado por ela; ao contrário do esperado, o personagem a incentiva a sustentar o seu plano: “Tempos atrás, pensara seriamente em se suicidar. Eu mesmo, uma noite, lhe aconselhara tal expediente.” (BLANCHOT, 1991, p. 14). O conselho da morte, não devemos nos desviar da ambiguidade, é o passo inicial para que a morte se efetive no corpo do narrador. O segundo indício é mais revelador; em um mesmo hotel, os dois personagens, que não se conheciam nessa ocasião, inusitadamente são apresentados pela sombra noturna. A jovem, acomodada em seu quarto, tem um sonho-revelador, que se refere ao hóspede do quarto acima do seu, quarto que pertencia ao narrador: “Mas uma noite, acordou sobressaltada e pensou ser eu alguém que lhe parecia estar ao pé da cama; pouco depois, ouviu a porta fechar-se e passos distanciarem-se no corredor.” (BLANCHOT, 1991, p. 17). No sonho de J., a morte se apresenta à beira de seu leito comunicando à personagem o futuro que lhe reservava: a permanência de seu existir através da existência de uma outra pessoa, o homem que habitava o quarto superior. Na clarividência de seu futuro, a jovem é apresentada, também, a seu algoz; este que permanecia deitado no quarto acima do seu. A morte relaciona as duas mortes que a representarão ao longo da escrita do relato do narrador. Em seu sonho, se destaca a iniciativa de subir as escadas para falar com o desconhecido morador do andar de cima, o ato realizado pela personagem é praticamente inconsciente: “Então, ocorreu-lhe a certeza de que eu ia morrer, ou que acabara de morrer. Subiu até meu quarto, embora não me conhecesse, e me chamou através da porta.” (Ibidem). Notemos que, por estar entre o terreno da morte e da vida, J. conseguiu vislumbrar o seu fim, sem se indagar, sem reparar na simbologia de seu sonho: o morto que a jovem conseguiu distinguir, na realidade, era ela. A personagem, ao subir as escadas, se depararia, no mesmo instante, com a sua morte e com a sua existência sem-fim. Desse encontro, da morte que nela estava arraigada e da morte que o narrador viria a ser, poderemos fazer um diálogo com a narrativa L’instant de ma mort, quando o narrador, em relação ao movimento de experimentação do castelão no espaço da morte, questiona: “O encontro da morte e da morte?”.8 Caso essa pergunta fosse elaborada por nosso narrador, a resposta seria sim, uma vez que no encontro dos dois personagens o que constatamos é a comunhão da morte que a habitava com a morte que começava a surgir no personagem: “Jurei-lhe que não tinha estado no seu quarto, que não tinha saído do meu. Ela se deitou na minha cama e quase em seguida dormiu.” (Idem, p. 18). No encontro, as mortes se tornam companheiras de uma só existência, que trará a ambos a impossibilidade da morte. Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot Logo após o primeiro encontro, uma amizade se construíra entre os dois personagens, fornecendo ao narrador o material necessário para escrever a sua história secreta. Decorrido os meses de amizade e de luta de J. com a morte, uma reviravolta importante acontece no espaço textual de Pena de morte: a moça moribunda parece não ter mais forças para resistir, se entregando suavemente a sua oponente. Ao saber, por telefone, do falecimento de J., o narrador imediatamente se direciona à casa da morta. Na entrada do quarto, ele a observava, mais bela do que jamais crera, bela como uma estátua de cemitérios: “Ela estava um pouco mais deitada do que eu imaginara, a cabeça sobre uma pequena almofada, o que lhe dava a imobilidade de alguém que já não vive. [...] Ela não era mais senão uma estátua. Ela absolutamente viva.” (BLANCHOT, 1991, p. 34). Em uma atitude brusca, o narrador, apoiado sobre o leito fúnebre, grita poderosamente o nome da morta; desse grito, algo inesperado acontece, uma nova situação textual surge: Debrucei-me sobre ela, chamei-a em voz alta, com uma voz poderosa, pelo seu primeiro nome; e logo em seguida — posso dizer que não houve sequer um segundo de intervalo — uma espécie de sopro saiu de sua boca ainda contraída, um suspiro que pouco a pouco se tornou um leve, um frágil grito; quase ao mesmo tempo — também estou seguro disso — seus braços mexeram-se, tentaram erguer-se. (Idem, p. 35) O personagem-narrador, ao trazê-la de volta à vida, inala definitivamente o sopro da morte que estava presente na jovem, se configurando, nesse momento, como elemento mortal, como elemento da morte. Desse modo, é dado ao narrador, sem que ele o pressinta, o poder de conceder a morte, bem como de trazer à vida; é dele o sopro cadavérico, o odor do moribundo. J., ao passar novamente para o mundo dos vivos, recebe com felicidade sua segunda oportunidade de viver, pensando ela que a sua doença se extinguira concomitantemente com a sua primeira vida — “ela esteve não apenas inteiramente viva, como perfeitamente natural, alegre e quase curada.” (BLANCHOT, 1991, p. 35) —; no entanto, o que a moça não percebeu de início, por estar sem o peso da dor, é que sua existência primeira não tinha findado, mas que continuava a durar desde o momento em que pensara ter fechado os olhos para a vida. J. continuava a existir, logo, ela continuava a morrer. Somente com o chegar da noite que a personagem compreende o seu infortúnio, a sua existência continuava, ela não tinha findado, ela apenas continuava e continuava, como uma sentença irrevogável: “No final da tarde, continuou fisicamente bem, mas mudou um pouco de humor. [...] Por volta das onze ou meia-noite, entrou num leve pesadelo. [...] Nesse momento, adormeceu de verdade, num sono quase calmo; eu a olhava viver e dormir” (Idem, p. 39-42). Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 221 Gragoatá Davi Andrade Pimentel E mais uma vez, a jovem entra em luta pela sobrevivência, num movimento de sono e de fadiga. Desesperado, com medo que a personagem voltasse ao terreno da morte, o narrador tenta uma segunda aproximação. Quando estava a ponto de se avizinhar do leito de J., ela o repeliu: “ela levantou-se, de olhos abertos, e olhando-me com ar furibundo, me empurrou dizendo: ‘Não me toque nunca mais.’” (Idem, p. 43). Na fala da moribunda, há duas possibilidades de interpretação: primeiro, desejando findar com sua vida, se entregando à possibilidade de poder encerrar sua existência, J. decide morrer definitivamente; segundo, por temer a morte que não findaria com a sua existência, J. repele o ser que a matará, desejando permanecer viva: “ela parecia ficar acordada e fazer face a algo de grave, onde o papel que eu desempenhava era talvez assustador.” (Ibidem). No período que antecede a sua morte, a personagem, com muita calma, diz à enfermeira, apontando para o narrador, que ele é a morte, comprovando o que já havíamos comentado acerca da transformação do narrador em um ser da morte: “Voltou-se em seguida para a enfermeira, e com tranquilidade: ‘Agora’, disse-lhe, ‘veja então a morte’, e me apontou com o dedo. Isso com um ar muito tranquilo e quase amigável, mas sem sorrir.” (BLANCHOT, 1991, p. 46). O sorriso quase amigável será o último esboço de J. em vida. Na revelação do segredo do narrador, que nem ele mesmo conhecia, embora mais tarde o resguarde novamente, J. estava praticamente morta, “pois respirava com o fôlego e a expressão da agonia”, com a boca “aberta para o ruído da morte” (Idem, p. 47). A personagem, não mais podendo escapar ao seu destino já traçado, compactua e assente com a decisão do narrador de apressar a sua morte: “novamente tive a certeza de que, se ela não quisesse e se eu não quisesse, nada jamais acabaria com ela.” (Idem, p. 49). O consentimento da personagem passa pelo aperto de mão afetuoso e pelo sorriso natural ofertados ao personagem-narrador, que se prepara para matá-la: “Apanhei uma seringa grande, nela reuni duas doses de morfina e duas doses de tiopental, o que dava quatro doses de entorpecentes. O líquido penetrou lentamente [...] Não se mexeu mais em nenhum momento.” (Ibidem). Apesar da dose mortífera que continha na seringa, J. não morreu. O temor que angustiava a personagem se torna realidade no momento em que a sua existência se perpetua na figura do narrador. A morte, que antes a habitava, passa a habitá-lo, dando a ele a continuidade de sua existência. J., mesmo morta, continua a existir, continua a ter na face a impossibilidade de morrer: “É a morte que nos domina, mas ela nos domina com sua impossibilidade [...] estamos ausentes de nossa morte” (BLANCHOT, 1997, p. 17). No final de seu relato, que termina com a primeira parte da narrativa Pena de morte, o narrador salienta a bravura de J. 222 Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 O espectro de Kafka na narrativa Pena de morte, de Maurice Blanchot em tornar a morte estéril até o momento em que para ela era desejado; entretanto, sabemos, na verdade, que a morte se deixou vencer até onde lhe era interessante afirmar a sua potencialidade perante a narrativa que se originava no desenvolver da escrita do narrador. Em suas últimas palavras, o personagem abandona as ideias iniciais que fizeram com que ele desejasse escrever a história de J., renunciando, de maneira leve, o que escrevera até o momento: “Algo deve ficar claro: não contei nada de extraordinário, ou mesmo surpreendente. O extraordinário começa no momento em que eu paro. Mas não me compete mais falar sobre isso.” (BLANCHOT, 1991, p. 50). Ao dizer que não contou nada de extraordinário, o narrador deixa de lado o que antes o motivara a escrever, como a questão da verdade e a questão do segredo, bem como tenta tirar da narrativa o seu caráter realmente extraordinário, no que se refere à existência contínua do estar a morrer e a sua instância de ser da morte, de ser pertencente à morte. Talvez, ao negar os fatos que tanto desejava narrar, o personagem tente transformar o que fora revelado novamente em segredo, para que o seu segredo fique resguardado de qualquer manifestação ou ato discordante. Ou, em outra perspectiva, o narrador não viu nenhum sentido literário no que escrevera, como supõe Blanchot em relação ao desejo de Kafka ver destruída a sua obra: “Talvez [Kafka] quisesse destruí-la simplesmente porque a considerasse literariamente imperfeita.” (BLANCHOT, 1997, p. 21). Em uma terceira perspectiva, a recusa do narrador em aceitar o que escreveu revela mais um traço de semelhança da narrativa Pena de morte com a experiência literária de Kafka presente em seus Diários íntimos, uma vez que, como nos lembra Modesto Carone, no Posfácio de A metamorfose, o escritor tcheco “comunicou a Felice ter acabado sua ‘pequena história’, embora afirmando que o final dela de modo algum o satisfazia.” (KAFKA, 2010, p. 90). No jogo de imagens proposto por nós no início de nosso artigo, é inegável a experiência de escrita de Kafka presente no texto de Pena de morte. Na narrativa blanchotiana, o eco da voz/escrita do autor tcheco perdura até o último instante, como se através do próprio punho de Kafka a narrativa estivesse sendo contada. Novamente, não estamos falando de tributo, mas de algo mais elogiável, como a influência exercida pelos textos kafkianos na escrita ficcional de Blanchot, o que não diminui em nenhum momento o texto blanchotiano; ao contrário, faz dele uma amostra da potencialidade criativa de seu autor, que arquiteta a sua narrativa como um reflexo de uma cultura literária indispensável ao ato de escrita. Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 223 Gragoatá Davi Andrade Pimentel Abstract This paper analyzes the presence of kafkian features in Blanchot’s subjective formation of writing, in relation to the development of one of Blanchot’s narratives, Death Sentence. In this narrative, the caustic and problematic way of the narrator’s textual movement is very similar to the kafkian movement that is present in Diaries and in the novels written by the Czech writer, giving us necessary material to the investigation of Franz Kafka’s influence on Maurice Blanchot’s writing under analysis. Keywords: Maurice Blanchot; Franz Kafka; subjectivity; influence; language. Referências BLANCHOT, Maurice. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980. ______. Pena de morte. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1991. ______. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. ______. L’instant de ma mort/O instante de minha morte. Porto: Campo das Letras, 2003. KAFKA, Franz. O processo; tradução e posfácio Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. ______. O castelo; tradução e posfácio Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. ______. A metamorfose; tradução e posfácio Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. LILTI, Ayelet. L’image du mort-vivant chez Blanchot et Kafka. In: Revue Europe – Maurice Blanchot nº 940-941. Paris: Europe, 2007. 224 Niterói, n. 31, p. 209-224, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura Pedro Dolabela Chagas Recebido em 30/05/2011 – Aprovado em 30/08/2011 Resumo O artigo versa sobre as condições contemporâneas da relação entre política e produção de subjetividade na música e na literatura, sob dois ângulos precisos: 1) as diferenças entre os tipos de experiência estética que as duas artes favorecem; 2) a atualização destas experiências nas condições atuais de disseminação social da arte. A partir da contribuição de autores dos Estudos Literários (Zumthor, Iser, Gumbrecht) e da filosofia (Deleuze, Guattari, Lipovetski), entre outros campos, debate-se o contraste entre a sensorialidade da música e o estímulo da literatura à interpretação, depreendendo-se dele 1) as razões das diferenças entre a disseminação social de uma e de outra; 2) as diferenças entre a música e a literatura como instâncias de produção de subjetividade. Neste último item, descreve-se a música como uma força que subjetiva o indivíduo ao “arrastá-lo” (à revelia do seu controle consciente) a uma posição diferenciada, ao passo que a literatura estimula a vivência de realidades alternativas ao cotidiano vivido. Na afirmação da legitimidade destes dois processos de subjetivação, resgata-se a experiência estética sensorial da crítica moral a que ela foi historicamente submetida, ao delimitar-se, para ela assim como para a experiência de cunho interpretativo, lugares politicamente produtivos dentro das condições atuais (democráticas) de circulação de informação. Como objetivo geral, almeja-se, a partir da comparação de cunho tipológico entre as duas artes, o estabelecimento de um referencial analítico descritivo para a observação das suas presenças e posições relativas na sociedade contemporânea. Palavras-chave: literatura; música; política; subjetividade; experiência estética. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas Num livro de lançamento recente, o historiador Tim Blanning (2011) afirma que a música predomina socialmente, hoje, sobre as demais artes. Com isso, ele não está se referindo a algum tipo de música em particular, mas à música enquanto tal, cujo “triunfo” ele avalia a partir de um conjunto de dados empíricos. Tais dados correspondem ao aumento gradativo do prestígio social dos músicos (das suas posições subalternas nas cortes européias do século XVIII às fortunas adquiridas pelos astros do rock), à mudança de propósito e função social da música (da sua submissão à religião e à nobreza à sua autonomia autoral), à evolução dos seus lugares de apresentação (da execução em ambientes não produzidos para ela – como as igrejas e os salões dos palácios –, passando pela construção dos seus ambientes próprios – as óperas e salas de concerto – até a sua conquista de espaços alheios – como os estádios esportivos), à evolução tecnológica (que a tornaria onipresente na era da reprodução eletrônica) e à sua atuação em eventos políticos e sociais relevantes (como as guerras nacionalistas da Europa e o movimento racial americano dos anos 60). Ao passo que os dois primeiros itens não podem ser circunscritos à música, os três últimos são nela mais predominantes. Blanning não estabelece distinção entre as diferentes formas musicais: a assertiva do seu “triunfo” vem da ampla disseminação social da música, que – em sua força sensual, a-racional, “contagiosa” – se tornou onipresente com as novas tecnologias de armazenamento e reprodução. Enquanto isso (e em que pese o caráter quase “coletivo” da recepção de tantos best-sellers), a literatura é mais restrita a um domínio individual de experiência: o seu contraste com a disseminação incontrolável da música parece decidir o seu destino; mesmo um best-seller não se propaga tão extensamente quanto uma canção de sucesso. Neste artigo, associaremos a onipresença da música à sua capacidade de arrastar o ouvinte, de carregá-lo de forma não-consciente e nãocontrolada a estados imprevistos. Disso derivaremos uma apreciação conceitual das diferenças entre a música e a literatura, observando as suas propriedades imanentes e os seus impactos de larga escala. Trataremos o “arrastar” da música como uma instância de formação de subjetividade, demarcando a sua diferença em relação à demanda pela interpretação que caracteriza o texto literário – o que ajudará a fundamentar as diferenças entre a literatura e a música, apreciando as possibilidades de uma e outra como instâncias de produção de subjetividade (no componente político que isso pode assumir). Decerto tais distinções são de cunho tipológico: não há características que se possa considerar “essenciais” a cada uma das artes e comuns a todas as suas produções. O próprio contraste entre a sensorialidade da música e a interpretação da literatura não é absoluto; no momento adequado, veremos que certa semântica perpassa 226 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura a sensorialidade. Ainda assim, o reforço maior de uma e outra a um e outro tipo de experiência nos parece consistente o bastante para derivar, dele, uma explicação parcial dos graus de disseminação social que elas são, hoje, capazes de alcançar: a fisicalidade da música permite o seu maior compartilhamento através da socialização, enquanto a interpretação se abriga no domínio individual. Isso traz conseqüências para as suas respectivas potências de produção de subjetividade, conforme veremos. Nosso trajeto terá algumas escalas. Caracterizaremos inicialmente o “arrastar” da música, em sua interconexão entre a sensorialidade e a formação localizada de coletividades. O medievalista Paul Zumthor será o nosso primeiro interlocutor, seguido por Hans Ulrich Gumbrecht – cujo conceito de “presença” estabelece uma plena legitimação estética, política e epistemológica da experiência puramente sensorial. Temos razões, porém, para acreditar que mesmo a experiência sensorial é perpassada por componentes semânticos: com George Lakoff veremos que alguma semântica, ainda que mínima, participa da percepção sensorial – uma semântica ativada de maneira a-consciente, e que portanto não se confunde com a ação interpretativa. Se isso já basta para sugerir que as experiências da música e da literatura não estão radicalmente apartadas entre si, o diálogo seguinte com Wolfgang Iser nos levará a uma teoria que pensa a interpretação como uma ação espontânea, cognitivamente determinada e antropologicamente orientada. Em Lakoff (que localiza a semântica na percepção sensorial) e em Iser (que dissocia a interpretação da hermenêutica), teremos bons apoios para investigar as diferenças estéticas e as possibilidades políticas da música e da literatura, admitindo o “triunfo da música” e ao mesmo tempo preservando um lugar fecundo para a literatura – que, entendida como instância de construção de realidades alternativas a serem experienciadas pelo leitor, tem nisso a sua potência de produção de subjetividade. Isso encerra os objetivos gerais deste artigo, mas ele estaria incompleto se as próprias noções de política e de subjetivação não fossem debatidas. Para tanto, faremos um recuo no tempo e observaremos o modo pelo qual o pensamento moral e político tratou a sensorialidade da música. Historicamente, ele estabeleceu uma dicotomia entre a pura sensualidade (ou hedonismo) e o significado (o conteúdo) que confere a uma obra o seu status social preciso. Toda abertura à aleatoriedade da resposta individual contraria a crítica moral, e por isso é polêmico, ainda hoje, discutir democraticamente a emergência do político nos processos sociais difusos de formação de subjetividade. Mas é isso o que faremos, num diálogo com a descrição da democracia por Gilles Lipovestski – que a toma como o universo social composto por uma pletora de apelos (informações, pessoas, Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 227 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas mercadorias, opiniões, valores, na multiplicação das escolhas e na redução das fidelidades) provocadores de respostas que são, em si, a própria formação da subjetividade: nesse meio encontrase o lugar da arte como fonte de estímulo à diferenciação individual. A “democracia” situa numa ambiência sócio-histórica precisa, pois, as experiências atuais da música e da literatura como forças de subjetivação. Numa tal ambiência, o político emerge individualmente. É em meio às disposições de um self lançado em invólucros sociais flexíveis que a arte se torna politicamente transformadora: ela forma a subjetividade não como uma extensão da política institucional, mas como (no vocabulário de Deleuze e Guattari) uma potência de desterritoralização, escapando ao autocontrole e à consciência-de-si do indivíduo. O caráter a-consciente da experiência estética é o que arrasta o indivíduo a algo inesperado – com a teorização deste processo de subjetivação, fecharemos a comparação das experiências da música e da literatura, em suas conseqüências para os lugares sociais que hoje elas ocupam. Ao fim e ao cabo, o nosso maior objetivo é o de tecer referências estáveis para a observação do estado atual das duas artes, distinguindo os tipos de experiência e os modos de subjetivação que elas mais recorrentemente fomentam. Em meio à presença difusa da literatura e da música na sociedade contemporânea, estabilizar algum referencial analítico pode nos ajudar a observar as suas posições relativas e as suas transformações sucessivas. Sensorialidade e semântica O que nos diz Paul Zumthor (1990, 2001) sobre a poesia oral, e o que ela nos diz sobre as diferenças entre a música e a literatura? Zumthor nos diz que a poesia oral é produzida para ser enunciada (como no cordel e no repente brasileiros), e não para ser lida. Ela não se comporta como texto, integrando uma performance na qual ela é enunciada por uma voz que jamais atua como um meio neutro para a comunicação de conteúdos: para Zumthor, a voz seria uma coisa, às suas qualidades materiais (tom, timbre, volume) sendo assinalados valores simbólicos culturalmente inscritos. Em sua plenitude própria, a voz fala a si mesma no momento em que se enuncia e, por ela, na concretude do contato com o público, a performance revolve saberes compartilhados coletivamente: o reconhecimento produzido pela voz apela a um patrimônio comum de crenças, hábitos mentais, mitos, estórias... No século XVIII – com o divórcio entre os saberes, o gosto e a retórica da classe alta e as manifestações daquela cultura que, a partir de então, passou-se a chamar de “popular” – a importância social da performance seria obliterada. O avanço da 228 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura cultura letrada relegaria a performance a um nível inferior da cultura, mas Zumthor insiste que a oralidade continuou viva, tendo finalmente passado a predominar (em consórcio com a visualidade) na cultura contemporânea. Aí a teoria da poesia oral de Zumthor se torna elucidativa da música atual, em especial com o seu conceito de “sociocorporeidade”, i.e.: a “coleção de características formais” resultantes da existência de um grupo social, de um lado, e da “presença e natureza sensorial” do corpo do performer. (ZUMTHOR, 2005, p. 62) O corpo – como o do cantor que se movimenta no palco – seria, ele mesmo, uma manifestação da coletividade, produzindo “reações emocionais” coletivas. Na fisicalidade do contato entre o performer e o público, ambos interagem para produzir, durante a performance, uma coletividade que “se destaca do continuo da existência social” sem dela se dissociar: o local da performance é “destacado do ‘território’ do grupo” ao mesmo tempo em que é sentido e percebido à luz desta separação, adquirindo sentido apenas a partir dela. Nesta descrição da constituição, pela performance, de um espaço social paralelo, não se teria um bom retrato da circulação social da música popular contemporânea? Por “debaixo” ou “ao lado” da cultura letrada, a oralidade teria prosseguido uma trajetória autônoma à cultura “superior”, para readquirir, hoje, um lugar majoritário. Em eventos como a performance localizamos o “arrastar” próprio à experiência musical. A voz é um factum sensorial que revolve fundamentos sociais consistentes, intervindo nas disposições de indivíduos e grupos de forma a-consciente, i.e. à revelia da racionalização, do controle ou da apercepção das subjetividades envolvidas. A voz não aciona a interpretação; no seu “arrastar”, a sua pura sonoridade é mais importante do que o próprio significado das palavras enunciadas, que frequentemente não são sequer objeto da atenção do ouvinte. Ao mesmo tempo, o impacto social desta força sensorial ocorre mediante certa codificação que, mesmo não sendo objeto de reflexão, revolve um fundamento semântico que é, como tal, interpretável, o que talvez fique mais claro no fracasso do que no sucesso da comunicação entre performer e público: o fracasso parece sempre suscitar “explicações”, “críticas”, “comparações”... Sob este abrigo “cripto-semântico”, a força da fisicalidade é cara à nossa discussão. Anos mais tarde, Hans Ulrich Gumbrecht radicalizaria o afastamento de Zumthor dos paradigmas do “texto” e da interpretação ao teorizar a experiência estética puramente sensorial: pelo seu conceito de “presença”, o “arrastar”, que não se presta a nenhuma função ou objetivo maior, seria plenamente legitimado como forma de experiência. Sobrevoemos o seu trabalho sobre as “materialidades da comunicação”, ensaiada como um novo paradigma de apreciação do fenômeno estético. As “materialidades” seriam as condições que contribuem para a produção do significado sem serem, elas mesmas, significado; por elas, tratava-se de “tematizar Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 229 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas o significante sem necessariamente associá-lo ao significado”. No final da década de 1980, havia nisso uma rejeição à supremacia institucional da hermenêutica e suas quatro premissas fundamentais: 1) a noção de que o sentido se origina do sujeito e não das propriedades do objeto; 2) de que corpo e “espírito” são essencialmente diferentes; 3) de que o “espírito” conduz o processo de apreensão do sentido, processo para o qual 4) o corpo é um “instrumento secundário”. A interpretação seria uma forma “superior” de relação com o mundo, mas Gumbrecht sugeria que já Heidegger teria rompido com a sua primazia: para Heidegger, “os fenômenos se revelam em sua verdade a partir de um estado de ‘relaxamento’” que “nada tem que ver com o trabalho intelectual”, mas sim com o “permanecer passivo, sem forçar ou apressar a verdade, permitindo que os objetos se revelem em seu ser autêntico” (GUMBRECHT, 1998, p. 142). Na contramão da hermenêutica, certa desatenção seria, para Heidegger, imprescindível para a apreensão da coisa, que se revelaria em sua plenitude apenas para quem não estivesse a buscá-la. Bloquearia também a centralidade da interpretação o reconhecimento pela lingüística (com Hjelmslev) de uma dimensão da expressão irredutível à fixação semântica, o que permitia abordar o significante em sua força própria: “não mais identificar o sentido, para logo resgatá-lo; porém, indagar das condições de possibilidade de emergência das estruturas de sentido” (GUMBRECHT, 1998, p. 147). Tais “estruturas” confeririam possibilidade ao sentido sem determiná-lo a priori: elas limitariam os seus modos possíveis de acontecimento sem restringi-los a um plano preestabelecido, determinando-o e preservando a sua imprevisibilidade. Deixava-se em aberto, com isso, o “preenchimento” que a “estrutura de sentido” receberia: a atribuição de significado cabe à contingência da situação; diante da sua imprevisibilidade, centrava-se o interesse na “estrutura de sentido”, em sua pulsação própria. Em tal “estrutura”, a “materialidade” seria a substância semioticamente não formada (como o concreto na arquitetura) que vale como um fato pleno em si mesmo, subsistindo à interpretação que dela se faça: som, cor, tato, ela é discernida como forma. O impacto da música teria esta origem material, física, e portanto alheia à estabilização interpretativa. No momento rápido da audição, no freqüente estado de semi-desatenção em que ela ocorre, a eclosão da “presença” decorreria da percepção da emergência súbita de uma forma nova, cuja factualidade não demandaria o suplemento da interpretação – ela seria a factualidade da apreensão súbita da coisa ela-mesma. A “presença” seria, assim, um evento corpóreo: ela é a percepção da novidade da forma que, em seu aparecimento, altera o funcionamento das nossas funções corporais, colocando-nos física e mentalmente em conexão com o fenômeno. 230 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura Resta saber, porém, se uma experiência sensorial pode ser de fato desprovida de elementos semânticos. Certo vínculo entre a semântica e a sensorialidade foi antecipado pelo próprio Gumbrecht, ao falar da “oscilação” entre uma e outra na experiência da arte (GUMBRECHT 2004). Mas talvez haja mais do que oscilação: talvez haja simultaneidade. Por exemplo, ao falar sobre a surpresa formal do evento atlético – a ocupação inesperada do espaço por corpos em movimento imprevisível, porém ordenado –, Gumbrecht o descreve como “uma epifania da forma”, porque ele tem sua substância nos corpos dos atletas envolvidos, porque a forma que ele produz é improvável e porque é uma forma temporalizada, que começa a desaparecer no exato momento em que aparece. (GUMBRECHT, 2006) Com o termo “epifania”, Gumbrecht quer descrever o impacto provocado pelo rápido aparecimento e desaparecimento de um evento singular e irrepetível – mas não demandaria isso algum investimento semântico? O próprio termo “epifania” tem uma conotação positiva, que combina bem com a felicidade da arquibancada diante do drible: mas que o drible seja ao mesmo tempo “bom” e “belo”, isso não indica uma valoração que, como tal, tem que ser semantizada, ainda que de modo infraconsciente? E se há alguma semântica envolvida na “presença”, pode-se falar em pura sensorialidade? No final dos anos 80, enquanto Gumbrecht teorizava o campo não-hermenêutico, o lingüista George Lakoff (1987) propunha que mesmo o percepta captado visualmente, sem a mediação do significado, é organizado como forma através de categorias. A organização espacial dos fenômenos obedeceria a molduras cognitivas sintetizadas em categorias mentais como as de “centro-periferia”, “continente-conteúdo”, “frente-verso”, “parte-todo”, “conexão” ou “objetivo”. Nossa percepção visual nunca seria puramente sensorial, porquanto organizada por categorias relacionais que o observador aplica espontaneamente aos fenômenos, daí organizando a forma. Isso é afirmar que os sentidos são biológica e cognitivamente estruturados, e por isso conseguem organizar os fatos da experiência de forma relacional sem, para tanto, recorrer à razão. Sob esta teoria, a “epifania” de Gumbrecht seria ao mesmo tempo corpórea e semântica. Nesta indissociação entre a semântica e a percepção, categorias mentais como as de “conexão” ou de “objetivo” colocariam a base semântica mínima a permitir que o movimento de um atleta seja associado a atributos como “sucesso” ou “fracasso”. A “epifania” estaria vinculada ao juízo, mas um juízo que não demanda o trabalho da razão. A semântica imanente às categorias mentais não seria externa, mas sim interna à percepção: ao invés de representar o significado numa estrutura simbólica, segundo Lakoff a percepção incorpora o significado, organizando espontaneamente o sentido. Por isso o espectador sente uma jogada como Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 231 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas boa, sem precisar formular tal julgamento. Entre a semântica e a corporeidade não haveria incompatibilidade, pois a reação corporal ativaria a semântica sem demandar a sua racionalização. Isso volta a localizar um componente semântico no “arrastar” musical. Vimos que Zumthor associava o “arrastar” da voz e da performance à sua ação sobre fundamentos coletivos que, como tais, são necessariamente semantizados. Em Lakoff, a própria sensorialidade é organizada por padrões semânticos espontaneamente ativados. Daí, tomando a literatura como foco, é oportuno ver como Wolfgang Iser teorizou a leitura como um estímulo a uma interpretação espontânea, motivada pela demanda, de cunho antropológico, que temos pelas artes que, ao nos possibilitarem experienciar realidades paralelas à realidade vivida, nos revelam algo sobre nós mesmos. Ao tratar a interpretação como uma ação espontânea, Iser afirmava que o sentido emerge da leitura do texto, não coincidindo nem com a imanência do texto nem com as projeções do leitor. O sentido estaria na dobra entre o texto e a projeção, no imaginário do leitor, de algo que não coincide com o texto, mas que é por ele possibilitado: as inscrições do texto fazem surgir, na mente do leitor, algo que é projetado pelo texto mas que dele se diferencia enquanto projeção mental. Com isso, a experiência do texto dá origem ao imprevisto, a leitura sendo um fenômeno radicalmente individual: ela é o encontro entre a obra e o leitor em sua contingência histórica, social e individual precisa. Ao transcender as especificidades do texto que o motiva, o efeito estético encontraria na surpresa – na novidade – a sua força de perspectivização do “mundo”, nisso residindo o poder da literatura como instância de produção de subjetividade. Portanto, se a literatura não se dissemina como a música, ela produz efeitos de outro tipo: a experiência, pelo leitor, de “realidades ficcionais” – não submetidas às pressões da realidade vivida – faz da literatura uma instância de “construção de mundo” – um mundo que emerge, no leitor, imaginativamente. Esta vivência de realidades alternativas coloca as disposições pessoais do leitor (seus afetos, expectativas, pré-conceitos, valores, opiniões) sob uma orientação que, não-pragmática, permite uma resposta exploratória, alheia à rapidez do cotidiano. Ao revolver estas disposições subjetivas, a literatura se torna uma potência de subjetivação, mediada por uma interpretação que, instantânea, impacta o leitor à revelia da sua apercepção e autocontrole (algo próxima, portanto, do “arrastar” da música e da performance). À sua maneira, também a literatura nos “arrasta” a algo outro, exercendo assim o seu poder de diferenciação – a sua potencial força de pragmatização política. Comparativamente, pois, enquanto a música – mesmo em sua sensorialidade – parece comportar elementos semânticos que colaboram para o tipo de diferenciação subjetiva que 232 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura a experiência estética fomenta, a interpretação do texto não parece demandar a racionalização – a reflexão – que o termo “interpretação” ordinariamente sugere, podendo transcorrer numa rapidez semelhante à do “arrastar” musical. Nalguma medida, esta comparação sugere semelhanças entre a música e a literatura; ao mesmo tempo, porém, ela não basta para eliminar a maior sedução que música é capaz de exercer: ainda que quaseinstantânea, a interpretação do texto literário ainda demanda o retraimento silencioso da leitura, que em tudo contrasta com o poder da música em alcançar, e de fato provocar esteticamente, inúmeras pessoas em inúmeros momentos das suas rotinas – no trânsito, no comércio, nas ruas... Legitimação política da arte; “democracia” e política como “emergência” Pela somatória de Zumthor, Gumbrecht, Lakoff e Iser, o impacto da arte sobre o self se dá entre o corpo, a linguagem e a consciência; a partir desta perspectiva, podemos falar sobre as condições sociais em que a arte é lançada, hoje, como instância (eventualmente política) de formação de subjetividade: se a diferenciação da subjetividade pela arte pode ocorrer sem o recurso à racionalização, e se isso pode ser suscitado mesmo pela experiência sensorial, podemos pensar, a partir disso, os limites e poderes específicos que a música e a literatura encontram na sociedade atual. Para tanto, é preciso dissociar a teorização política da arte da legislação moral a que ela foi historicamente submetida – em especial porque a sensorialidade nos coloca diante de uma legitimação política da arte pela qual a sua participação na autoprodução social é dissociada da ideia de “melhoramento”. Não é que a coletividade não participe da sensorialidade: por ela apenas não se obedece à política como ação programática. O “arrastar” é uma diferenciação a-consciente que destaca o indivíduo do seu contínuo de vida, levando-o, pelo menos momentaneamente, a algum lugar outro. Para certa fração do pensamento moral, o apelo sensorial da música a tornaria perigosa: enquanto o significado do texto pode ser estabilizado pelos agentes (o crítico, o docente...) que orientam a sua difusão social, a música parece incontrolável; historicamente, o pensamento moral tomou a sua sensualidade como uma potência de desvio. Ela tiraria o indivíduo dos “estados ideais” de atenção, conduta social e mobilização ético-política postulados normativamente, adulando os sentidos e sabotando a razão, e sendo por isso rebelde à coerção política e ao saber conceitual. Já Platão condenava o impacto da música como veículo de conteúdos políticos, pois ela se “infiltraria” no indivíduo driblando o controle da razão e influenciando-o mimeticamente. A sua solução é Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 233 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas famosa: controlar a sua forma e o seu conteúdo, autorizando apenas a produção cujas características favorecessem a retidão propícia à “Paidéia”. Exemplar no conteúdo, a boa arte deveria ser ascética na forma, a música devendo conciliar o fortalecimento corporal da ginástica à brandura da filosofia: “Aquele que associa com mais beleza a ginástica à música e, com mais tato, as aplica à alma, é músico perfeito. [...] precisaremos também na nossa cidade de um líder capaz de regular esta associação, se quisermos salvar nossa constituição.” (PLATÃO, 2000, p. 107) Como mandamento para a produção e critério para a avaliação judicativa, Platão defendia a ascese compositiva como meio de fomento de uma ascese recepcional que, por sua vez, fomentaria a boa conduta política, prevendo uma isonomia perfeita entre as características imanentes da obra e a recepção que ela provoca (o público aparecendo como uma caixa de ressonância). Vale aí uma comparação com a ascese em Santo Agostinho. Em Confissões, a ética postulada para a realidade intra-mundana queria reger o convívio num cotidiano encharcado do comércio urbano e da sua corrupção, o que levava à necessidade de uma autovigilância asceticamente praticada. Na república ideal de Platão, a vigilância caberia aos líderes, os demais estando imersos em rotinas capazes, por si mesmas, de conferir concretude ao ideal. Em Agostinho, a vigilância era internalizada a cada fiel, que se tornaria responsável pela sua autoobservação. Os fiéis deveriam saber distinguir as práticas boas das ruins, praticando um controle internalizado (pois não há mecanismo coercitivo externo que esteja ativo em todo lugar e a todo instante). No que cabe à música, a ascese, o autocontrole e a autocoação na experiência sensorial fariam a distinção entre a elevação e a frivolidade, tanto na qualidade da composição quanto – e principalmente – na relação que o indivíduo estabelece com ela. O fiel não pode confiar em si mesmo, pois os espetáculos são por demais poderosos – não foi Alípio tragado pelo circo? Por isso o autocontrole previa a suspeita de si, requisito máximo da vigilância. Na experiência musical, apenas a precedência do conteúdo (no canto em louvor a Deus) sobre a sonoridade poderia garantir a justa medida da composição e da experiência – e Agostinho observa que, “Quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Neste caso, por castigo, preferiria não ouvir cantar.” (SANTO AGOSTINHO, 1988, p. 251) Desse modo, o controle das relações entre aísthesis e atribuição de significado, que em Platão remetia à grande arena política, aparece, em Agostinho, substancializado numa autocoação cotidiana – pois mesmo o bom fiel se pega pecando, e todo pecado revela um conteúdo íntimo de verdade. A partir de manifestações como estas, em sua longa duração e em suas várias formulações o pensamento moral jamais daria plena autonomia ao juízo privado. A desconfiança de 234 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura si – consagrada em Agostinho – se combinaria de múltiplas maneiras com a autoridade judicativa do crítico – consagrada em Platão –, estabelecendo a “condenação do prazer” que Roland Barthes (2004), ainda em 1973, sentia a necessidade de denunciar. O maior problema para o pensamento moral está na atribuição de autonomia ao indivíduo: à individualização, à subjetivação, à atomização ele opõe a jurisdição, a prescrição, a norma. Como devemos, então, pensar o lugar da arte no mundo atual, que a todo tempo individualiza e privatiza o juízo e a experiência? A este mundo chamaremos de “democracia”. Com este termo, não nos referimos à democracia partidária, que tanto tem desenergizado a ação política. Interessa-nos, isso sim, a acoplagem democrática entre a política, a economia e a comunicação pessoal. Na sua velocidade e imprevisibilidade, forma-se por elas um contínuo social que subtrai dos valores as suas pretensões à verdade, enfraquecendo as fidelidades e os vínculos. Na produção política das subjetividades, este cenário aumenta a responsabilidade individual pelo juízo, que não se ampara em verdades compartilhadas (pois mesmo os valores se individualizam). Legitima-se uma pluralidade de vozes, numa polifonia constante em que se é continuamente chamado a se posicionar sobre uma infinidade de fatos e temas, multiplicando-se os (pequenos) momentos de formação de subjetividade. Esta massa de pequenos eventos decerto produz redundâncias, tagarelices, sensos comuns – em seu dinamismo, porém, toda reiteração é permeável à diferenciação. É claro que pesa sobre a democracia o perigo da indiferenciação. As pequenas vozes podem apoiar o enrijecimento; grandes padrões (comportamentais, econômicos, políticos) sempre podem se erguer. Mas há um aumento relativo do poder de autodeterminação do agente histórico comum, uma vez que o “déficit de absoluto” da democracia viabiliza graus variados de autonomia: ao invés de uma autonomia “plena”, tem-se um poder localizado de autodeterminação. Estabelece-se um equilíbrio tênue entre o “determinismo absoluto” e a “liberdade metafísica”: nem as grandes estruturas determinam in toto as subjetividades, nem nos é possível escapar das suas constrições; trata-se de uma liberdade exercida dentro de códigos e expectativas aos quais os indivíduos estão flexivelmente atrelados. Nada disso é belo: a democracia não traz conciliação, harmonia ou síntese; pelo contrário, ela amplia o ruído. Mas ao legitimar a pequena satisfação, o gozo privado e a fruição do presente, ela aumenta o direito à escolha: talvez o seu resultado mais palpável seja o aumento da complexidade e da imprevisibilidade das movimentações sociais. Esta apropriação de Lipovetski (2009) admite um otimismo polêmico contra as acusações de “pasteurização” da vida contemporânea. Por ela, podemos passar da dissolução Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 235 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas da autoridade e das relações de fidelidade para uma descrição dinâmica das movimentações sociais, onde mesmo as solidificações se constituem no processamento caótico das redes sociais, sob a lógica da contingência. Existe certa não-consciência na dinâmica democrática, em sua imprevisibilidade e flexibilidade: os seus movimentos não são objeto de “controle”. Há uma movimentação permanente, vagarosa ou acelerada, dos elementos pertencentes ao campo, intervindo nas estruturas que lhe dão a sua consistência própria e destarte modificando-o, transformando-o ou mesmo desfazendo-o operacionalmente. O acaso determina os acontecimentos em conjunto com as estruturas preexistentes, que são, porém, permeáveis à mudança. Além disso, cada campo subsiste em contato com um ambiente externo que intervém, por atrito, nos seus desdobramentos internos. O acaso, em sua participação na relação entre a estrutura interna e o ambiente externo, é internalizado à gênese dos acontecimentos: assim descrita, a democracia multiplica as circunstâncias e as possibilidades de formação da subjetividade, também sob a lógica da contingência. Com isso colocamos sob um prisma social dinâmico as relações entre a arte, a política e a subjetivação. Na experiência da arte, importa observar como o encontro entre um indivíduo (flexivelmente atrelado à coletividade) e uma obra (lançada em meio a um universo de estímulos), ocorrendo num momento (pessoal, histórico, social) preciso e dentro de uma forma precisa de experiência (na leitura solitária, na platéia do teatro, na audiência do concerto, nos corredores do museu...) – importa observar como a somatória destas condições faz emergir, no indivíduo, um efeito político de alguma ordem. Neste prisma, a política perde a sua substância ideológica, sendo entendida como a “desterritorialização” que altera, ainda que minimamente, a relação do self com o mundo imediato: são políticas as “desterritorializações” (das expectativas, dos comportamentos, dos vestuários, das relações sociais) a ocorrer consciente ou inconscientemente. Ao mesmo tempo, a palavra “obra” perde a sua substância normativa, estendendo-se a qualquer objeto artístico, da sinfonia à revista em quadrinhos: quaisquer tipos de objeto podem provocar experiências desterritorializantes. Por fim, o termo “indivíduo” perde a sua substância psicológica: ao invés de preservarmos o fundamento da identidade (como plenitude ou vazio), interessa-nos a emergência da subjetividade a partir da experiência com a arte, o que ocorre à revelia do indivíduo. Por tudo o que foi dito, o modelo descritivo-explicativo do “rizoma”, de Deleuze e Guattari, nos indica um bom caminho para o tratamento do tema. Em sua atribuição de dinâmica à solidez, na indissociação entre a solidificação e a mudança permanente, o “rizoma” – quando aplicado à teoria da subjetividade – prevê que o self, em sua história imanente e em seu lançamento às 236 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura trocas sociais, pode se transformar de forma subterrânea ao seu controle consciente e para além das suas próprias cristalizações reiterativas, sendo levado por processos que o conduzem, rápida ou vagarosamente, a novas condições. Nesta rede de interações alocamos a potência transformadora da arte, identificando-a como uma potência política. Em sua defesa da imprevisibilidade, em tal modelo não sabemos, jamais, que arte terá impacto sobre o self ou que impacto será este – a pragmatização política da arte, seja ela boa ou ruim, pode se originar do contato com qualquer arte. Diante de um caso específico – a importância de uma obra para um self – é decisivo inclusive o momento preciso em que obra e self se encontram: o self que somos no momento em que experienciamos (ou reexperienciamos) um objeto é decisivo para a importância que ele terá para nós. No rizoma, a política adquire uma temporalidade ao mesmo tempo geológica e química. Há o tempo lento da arborescência, que provoca a univocidade do sentido (dos estados macroscopicamente sólidos), mas há também o tempo rápido das “linhas de fuga”, pelas quais os estratos se diferenciam. O rizoma se autodiferencia permanentemente, pois qualquer ponto [seu] pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. [...] cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos de codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc., colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas também estatutos de estados de coisas. [...] não se pode estabelecer um corte radical entre os regimes de signos e seus objetos. (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 15) Objetos e signos se determinam reciprocamente em agenciamentos complexos, fazendo com que o sistema jamais seja idêntico a si mesmo – pois ele é perpassado pela autodiferenciação constante. Este processo não pressupõe a atuação de um “sujeito”: a diferença é imanente à repetição, que é, por sua vez, diferenciadora; rizomas podem levar à produção de nódulos que se fixarão no tempo, mas a fixidez é perpassada por linhas de fuga que a desestabilizam. Permeando a solidez da “árvore”, o rizoma é a pulsação das interconexões: por ele as coisas e os atributos das coisas atravessam. Por isso tal modelo descreve bem a complexidade do pertencimento da arte a uma vida: ao atravessar hábitos, costumes, práticas, obrigações, a arte integra ou diferencia o contínuo da vida, de maneira mais ou menos notável. Em qualquer caso, “a arte nunca é um fim, é apenas um instrumento para traçar as linhas de vida, isto é, [todas] essas desterritorializações positivas, que não irão se reterritorializar na arte, mas que irão [...] arrastá-la consigo para as regiões do a-significante, do a-subjetivo e do sem-rosto.” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 57) Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 237 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas Este arrastar (“a-significante, a-subjetivo e sem-rosto”) é o que nos interessa: ao nos estimular a-conscientemente, a arte pode alterar as recorrências que estabilizam as relações de uma subjetividade com o mundo. Tais recorrências envolvem inúmeras coisas; socialmente, a subjetividade é um “conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva.” (GUATTARI, 1992, p. 19) Um complexo de estímulos (midiáticos, econômicos, lingüísticos etc.) constitui a rede dentro da qual a subjetividade se forma e vai se transformando, em conjunto com a transformação da própria rede. Estes processos não são planejáveis ou previsíveis, pois não podem ser conhecidos “através de representações[,] mas por contaminação afetiva. Eles se põem a existir em você, apesar de você.” (GUATTARI, 1992, p. 117) É por isso que nada está totalmente dado, previsto ou controlado, ainda que o juízo tente congelar as coisas, as pessoas, os enunciados, os lugares e as condições de enunciação, instituindo um sistema estável de atribuições – como aquele que tentou aprisionar a música dentro de certos modelos de conduta, em Platão e em Agostinho. Coda Conforme antecipamos na apresentação deste ensaio, parte fundamental do nosso objetivo estava em buscar parâmetros para a apreciação das diferenças entre a música e a literatura, distinguindo os modos de experiência e de subjetivação que elas favorecem. Sem que tivéssemos pretensão à exaustividade, a aposta era a de que tais parâmetros ajudassem a situar as posições das duas artes na sociedade contemporânea, em suas flutuações incessantes. Sintetizemos o percurso cumprido. Ao situarmos a arte na realidade dinâmica e imprevisível que chamamos de “democracia”, nela compreendendo a arte como uma potência (ocasionalmente política) de subjetivação, definimos a experiência estética como um encontro (circunstancial, ainda que posteriormente repetível) entre os indivíduos (isolados ou em conjunto) e os fatos artísticos (sejam eles “obras” ou não). Sob as várias formas socialmente disponíveis de experiência da arte (e de tantas que vão sendo criadas, como a instalação ou, mais recentemente, a poesia virtual), tal encontro pode produzir algum tipo de diferenciação, a priori imprevisível. É por isso que, neste modelo, a política perde a sua substância ideológica: se aquela diferenciação altera, em especial, a nossa relação com o mundo imediato, isso não está relacionado, a priori, com qualquer conteúdo político-institucional preciso. Eventuais desvios de expectativas, de comportamentos, de relações sociais, de vestuários são tão 238 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura políticos quanto a ideologia sistematizada – além de mais freqüentes e mais claramente atribuíveis à experiência da arte. Tais desvios podem ocorrer consciente ou inconscientemente: a autoconsciência não é necessária à diferenciação produzida pela arte, ainda que ela possa participar do processo. Em todo caso, o termo “indivíduo” perde, para as nossas finalidades, a sua substância psicológica, pois a consciência-de-si (e a identidade) cede passagem à emergência da subjetividade na experiência com a arte. Da mesma maneira, a palavra “obra” perde a sua substância normativa, passando a abranger qualquer tipo de objeto: não há como prever quais objetos provocarão experiências desterritorializantes em indivíduos ou grupos específicos. Tomada de empréstimo de Deleuze e Guattari, esta é uma teoria da subjetividade como uma teoria da emergência da subjetivação a partir da experiência – teoria à qual recorremos após termos debatido a oscilação entre a semântica e a sensorialidade na experiência da arte. Falar sobre a polarização semântica-sensorialidade obedeceu a um problema epistemológico: com o pêndulo vincado em Gumbrecht e a sua teorização da experiência estética sensorial, procuramos mostrar, em direção algo divergente do próprio Gumbrecht, que semântica não é sinônimo de interpretação, podendo se localizar na ação instantânea e não-refletida da performance sobre fundamentos sociais coletivos (como em Zumthor), na ainda menos refletida semantização da percepção sensorial (em Lakoff), ou ainda (em Iser) na leitura como um ato no qual interpretação transcorre numa rapidez próxima àquela da experiência sensorial. Encontrar um balanço harmonioso entre a rapidez e a irreflexão da sensorialidade e a (comparativa) lentidão e a autoconsciência da interpretação foi o caminho escolhido para pensarmos tanto o modo pelo qual a sensorialidade pode (apesar do seu pouco estímulo à reflexão) provocar diferenciações subjetivas mais consistentes do que a mera “sedução” que Platão e Agostinho criticavam, quanto o modo pelo qual a interpretação preserva um componente dinâmico que permanece, afinal, afim à rapidez das trocas que compõem o mundo atual. Em meio a esta problemática, procuramos nos dissociar da crítica moral que ainda subtrai à experiência sensorial a sua plena legitimidade social. No pêndulo entre a semântica e a sensorialidade, entre a aísthesis e a interpretação, entre a irreflexão e a consciência, a música e a literatura oscilam entre um pólo e outro: não há distinção clara e cortante entre as experiências das duas artes, em si mesmas variadas; toda generalização pressupõe alguma dose de tipificação. Em linhas gerais, porém, se a literatura é de incidência majoritariamente individualizada – em contraste com a recepção potencialmente mais coletiva da música – fica claro que os seus lugares sociais são determinados pelos tipos Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 239 Gragoatá Pedro Dolabela Chagas de experiência que elas favorecem: com a dimensão pública que a música assumiu no século XX, vê-se que não apenas as suas presenças sociais, mas também as suas atuações como instâncias de diferenciação política e de produção de subjetividade se diferenciaram. Neste artigo, pretendemos ter colocado termos que, generalizantes, ajudem a operacionalizar a observação destas questões. A partir deles, cada evento específico revelará a sua singularidade. Abstract The article debates the contemporary conditions of the relationship between politics and the production of subjectivity in music and literature, from two precise angles: 1) the differences between the types of aesthetic experience that the two arts stimulate; 2) the actualization of these experiences in the current condition of art’s social dissemination. From the contribution of authors from the Literary Studies (Zumthor, Iser, Gumbrecht) and philosophy (Deleuze, Guattari, Lipovetski), among other fields, the article discusses the contrast between the sensoriality of music and literature’s call for interpretation, from which it derives 1) the reasons for the differences the social disseminations of one and the other, 2) the differences between music and literature as stances of production of subjectivity. In this last item music is described as a force that subjectifies the individual by “dragging” him to a different position regardless of his conscious control, whereas literature provides the experience of alternative realities to those of everyday life. By affirming the legitimacy of these two processes of subjectification, the sensorial aesthetic experience is rescued from the moral critique to which it was historically submitted, as it acquires (together with the interpretive kinds of aesthetic experience) a politically productive domain within the current (democratic) conditions of information exchange. As a general goal – based on typological comparisons between the two arts – the article tries to establish a descriptive analytical framework for the observation of their presences and relative positions in contemporary society. Keywords: literature; music; politics; subjetivity; aesthetic experience. 240 Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 Política e produção de subjetividade: música e literatura Referências BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2004. BLANNING, Tim. O triunfo da música. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs, vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. ______. Mil platôs, vol. 3. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996. GUATTARI, Félix. Caosmose. Um novo paradigma estético. São Paulo: Ed. 34, 1992. GUMBRECHT, Hans Ulrich. “O campo não-hermenêutico ou a materialidade da comunicação”. In: Corpo e forma. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998, pp. 137-151. ______. Production of presence – what meaning cannot convey. Stanford: Stanford University Press, 2004. ______. In praise of athletic beauty. Cambridge: Harvard University Press, 2006. ISER, Wolfgang. O ato da leitura, vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996a. ______. O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996b. LAKOFF, George. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago: University of Chicago Press, 1987. LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009. PLATÃO. A república. São Paulo: Nova Cultural, 2000. SANTO AGOSTINHO. Confissões. Petrópolis: Vozes, 1988. ZUMTHOR, Paul. Oral poetry: an introduction. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1990. ______. A letra e a voz – a “literatura” medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. ______. Escritura e nomadismo. Cotia: Ateliê Editorial, 2005. Niterói, n. 31, p. 225-241, 2. sem. 2011 241 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa1 Vanderlei José Zacchi Recebido em 14/06/2011 – Aprovado em 27/08/2011 Resumo Frank Zappa, músico norte-americano do século 20, tornou-se conhecido pela sátira contundente às instituições oficiais e aos setores conservadores da sociedade, principalmente de seu país. No aspecto musical, Zappa foi um grande inovador, mesclando música popular, clássica e jazz sobre um fundo composto de elementos da cultura popular norte-americana do século 20. Suas paródias e sátiras revitalizam essas formas por meio da cultura de massa, que consequentemente também se renova. Pode-se dizer que sua obra se inscreve no âmbito da carnavalização, conforme proposta por Mikhail Bakhtin, que seria uma forma de subverter o discurso oficial por meio de elementos cômicos e populares. Muitos desses aspectos podem ser encontrados na peça “Welcome to the United States”, uma musicalização do formulário de entrada utilizado nas alfândegas dos Estados Unidos. À seriedade e rigidez do formulário-letra, é sobreposta uma música cheia de ruídos e sons estranhos, que provoca uma desautorização do discurso oficial. Palavras-chave: música contemporânea; carnavalização; paródia; grotesco. Uma versão anterior deste trabalho foi apresentada no II Congresso Internacional da Abrapui, realizado em São José do Rio Preto de 31 de maio a 4 de junho de 2009. 1 Gragoatá Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Gragoatá Vanderlei José Zacchi Introdução Mesmo tendo atuado predominantemente no mundo do rock, Zappa utilizou e mesclou vários estilos, mas nunca se especializou em nen hu m deles: “Zappa was neither jazzman, art-rocker, blues purist, ava nt-ga rde sk ron kmeister, fusion boy, or metal maven, though he enjoyed and was enjoyed by players from all those schools”. (ROTONDI, 1995, p. 72) 2 244 Dois aspectos se destacam na literatura acerca da obra de Frank Zappa: sua eclética formação musical e o humor corrosivo típico não apenas de sua música, mas também de suas atitudes e declarações. São características que impõem uma certa dificuldade para se estabelecer uma linha definidora de sua obra e estilo. Zappa é mais conhecido como guitarrista e músico de rock, mas fez também incursões no jazz e tem uma extensa obra como compositor, englobando desde simples canções até peças complexas para orquestra. Dificilmente se poderia separar um do outro. Na verdade, a maneira pouco usual como ele mescla todos essas qualidades é tida como sua característica mais marcante. Tendo começado sua carreira na década de 1960 na Califórnia, o músico teve certamente uma boa razão para escolher o rock como seu principal meio de expressão e não tanto como um fim em si mesmo (BRITTO, 1988, p. 2). A Califórnia naquela época estava em plena efervescência; novas bandas de rock e novas ideias surgiam a todo momento. Mais que um estilo musical, o rock era um estilo de vida. Seria através dele e da indústria fonográfica que o cercava que Zappa encontraria o meio de expressar e divulgar sua obra. Isso é importante para situar sua música orquestral e de vanguarda: o fato de que ela está profundamente marcada pela indústria cultural e os meios de comunicação de massa, diferentemente da quase totalidade da música erudita que o precedeu e o influenciou. Em 1964, ele entra para uma banda que viria a se chamar The Mothers of Invention. Embora os músicos originais tenham permanecido por muitos anos, inúmeros outros passaram por ela. Com o tempo, ela se tornaria cada vez mais apenas um grupo de músicos contratados por Zappa para executar seus projetos. Na época da formação da banda, a Califórnia estava se tornando o palco de um dos maiores movimentos culturais, estéticos e comportamentais da era moderna: o movimento hippie e o flower power, que logo se estenderia por todo o mundo ocidental. Para o compositor, não passava de um modismo, que não foi poupado de sua sátira contundente. Mas é a partir do próprio rock e de toda a sua estrutura (álbuns, turnês, divulgação na mídia) que ele faz sua crítica. A sátira e a paródia Em meio a tudo isso, ele vai inserindo e mesclando outras formas musicais. São inúmeras as influências.2 Da música popular norte-americana: Johnny “Guitar” Watson, Guitar Slim, Clarence Brown, B.B. King; do jazz: Miles Davis, Gil Evans, John McLaughlin; da música erudita: Stravinsky, Webern, Varèse. Florindo Volpacchio (ZAPPA, 1992, p. 65) acredita que, ao fazer uso da sátira e da paródia, o compositor norte-americano estaNiterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa ria mais próximo de Satie que de Varèse ou Stravinsky. Para Berendt (1975, p. 315), ele “foi o músico que, no setor do rock, desenvolveu uma linguagem orquestral cuja inventividade, nível técnico e musical, se coloca à altura dos grandes mestres da big band jazzística”. O autor não deixa escapar um certo viés hierárquico: Zappa, apesar de atuar no mundo do rock, comparase aos “grandes mestres” do jazz. Mas é a influência da música erudita do século 20 que mais chama a atenção na formação do compositor. Ele escreveu inúmeras peças para orquestra e manteve um diálogo constante com o ambiente erudito de sua época. O importante é notar que ele não separava as categorias, pois tanto inseria música erudita no rock quanto vice-versa. O arranjador Ali Askin afirma:3 Não conheço nenhum compositor que mescle e alterne entre todas essas influências e dialetos musicais que ele usa. [...] Eu poderia compará-lo, nesse aspecto, a alguém como Stravinsky. Ele também é muito influenciado por compositores europeus, mas não se importa com o que vem antes ou depois. Ele usa a progressão de “Louie Louie”4 e vai direto para uma sequência que poderia ter sido escrita por Ligeti, mas ele não se importa, contanto que soe bem. (THE YELLOW..., 1995) A tradução dos textos em inglês é de minha responsabilidade. 4 Canção popular norte-americana composta por Richard Barry em 1955. 3 No encarte do álbum The yellow shark – com gravações de suas peças pelo grupo europeu de música contemporânea Ensemble Moderne – lê-se que “pela primeira vez um grupo de músicos treinados na tradição clássica executa música de maneira tecnicamente semelhante a um concerto de rock em larga escala” (THE YELLOW..., 1995). Mais que “fazer citações” deste ou daquele estilo musical, Zappa transpõe as fronteiras das formas musicais ao entrelaçá-las indiferenciadamente. Ele podia ainda compor peças para serem interpretadas pela sua banda e uma orquestra. Ou fazer uma combinação de instrumentos que não se encaixa na definição de qualquer formação tradicional. O compositor desafia o papel típico designado a cada instrumento em contextos musicais específicos e provoca uma mistura de códigos que escapa a qualquer classificação. Além disso, ele transpõe para o ambiente erudito toda a estrutura fornecida pela indústria cultural: exibições para plateias numerosas, execuções radiofônicas, grande tiragem de álbuns, tudo para um público em sua maioria atraído pelo rock e pouco afeito à música erudita. Ali Askin considera essa uma das principais qualidades de Zappa: “Frank tem esse poder de colocar música moderna, ou nova música, diante dessa plateia tão grande e nas mentes de todas essas pessoas que nunca ouviram falar disso” (THE YELLOW..., 1995). Ben Watson, que escreveu uma biografia do compositor norte-americano, afirma que no final de sua carreira Zappa voltou-se para a música eletrônica, a partir da qual ele escreveu inúmeras peças de música instrumental de vanguarda. Para o biógrafo (ANTHROPOLOGY..., 1994), isso Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 245 Gragoatá Vanderlei José Zacchi foi possível somente devido à estrutura logística e financeira que a indústria do rock proporcionava ao músico, diferentemente do que acontece com a grande maioria dos compositores eruditos contemporâneos, que encontram sérias dificuldades para produzir sua obra. Todos esses aspectos apontam para a ocorrência de uma intertextualidade na música do compositor norte-americano: “A intertextualidade implica uma ênfase sobre a heterogeneidade dos textos e um modo de análise que ressalta os elementos e as linhas diversos e freqüentemente contraditórios que contribuem para compor um texto” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 137),5 tornando possível a transformação de textos anteriores e a reestruturação das convenções existentes para gerar outros. Mas os textos em si não geram nada, a não ser quando interpretados, o que pressupõe a participação ativa do público receptor (HUTCHEON, 2000, p. 23). Zappa transpõe as fronteiras delimitadoras dos gêneros musicais não apenas por seu ecletismo no momento da produção estética, mas também por alargar os horizontes de interpretação de seu público. Na verdade, é antes a paródia, mais que a intertextualidade, que define adequadamente a música do compositor norte-americano, conforme se verá abaixo. A paródia implica um (re)conhecimento por parte do receptor que vai além da obra resultante ao incorporar também a obra parodiada. Zappa nega que tenha sido “o colapso da tonalidade tonal e do andamento comum”, proposto por compositores como Webern e Schoenberg, o mais importante desenvolvimento na música moderna, mas sim sua transformação em um negócio... Chegamos a um ponto em que não é mais possível você simplesmente sentar e compor porque sabe compor e gosta de fazer isso e no final alguém irá ouvir sua obra porque gosta de ouvir e talvez alguém vá tocá-la porque tem vontade. Isto acabou. A etapa em que todo compositor é obrigado a lidar com a mecânica do mundo do espetáculo, especialmente como este se caracteriza na sociedade americana, tem necessariamente um impacto importante naquilo que se compõe. (ZAPPA, 1992, p. 66) Considerando-se o texto, neste caso, como uma manifestação não e xc lu siva me nt e l i n guística (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 5 246 O compositor exemplifica com o caso da música minimalista, que segundo ele é consequência direta dos orçamentos reduzidos para ensaios e da crescente dificuldade de acesso a grandes orquestras. Zappa coloca grande ênfase na indústria cultural como determinante da produção musical na atualidade, de modo a não ser mais possível separá-las. Essa ideia contrapõe-se às visões de Horkheimer e Adorno sobre a indústria cultural e sua definição de música séria e música leve como categorias antitéticas. Segundo os autores (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 126-7), a indústria cultural transferiu a arte para a esfera do consumo, despindo a diversão de “suas ingenuidades inoportunas”. Dessa forma, a “a arte leve” Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa tornou-se “a má consciência social da arte séria” e a pior maneira de reconciliar essa antítese seria absorver uma na outra, como exemplificado na apresentação conjunta do músico de jazz Benny Goodman e do Quarteto de Budapeste. Para eles, tudo se resume à subordinação a “uma única fórmula falsa: a totalidade da indústria cultural. Ela consiste na repetição”. Segundo Adorno (1991, p. 86), o jazz não foge a essa regra, pois sua execução, além de servir como entretenimento, visa a promover a compra de discos e de reduções para piano. Tudo o que o jazz poderia oferecer de novo, enfim, já estaria presente na música de compositores como Brahms, Schoenberg e Stravinsky. Adorno acredita que a promoção da “música ligeira” em detrimento da “música séria” em tempos de indústria cultural baseia-se na “passividade das massas”, cujo consumo de música ligeira entra em conflito com suas necessidades objetivas ao eliminar o indivíduo, agora forçado a moldar-se aos padrões gerais. Para Zappa, no entanto, a estrutura harmônica das linhas vocais do rhythm and blues norte-americano é tão complexa quanto a da música clássica (AIR..., 1994). É curioso notar que os compositores do século 20 que o filósofo alemão mais preza são justamente aqueles que tiveram grande influência sobre Zappa, como Webern e Stravinsky.6 A relação entre indústria cultural e produção musical apresentada pelo compositor norte-americano assemelha-se ao que propõe Raymond Williams: Numa economia capitalista moderna, com seu tipo característico de ordem social, as instituições culturais da edição de livros, revistas e jornais, do cinema, do rádio, da televisão e das gravadoras de discos não são mais marginais ou sem importância, como nas fases iniciais de mercado, porém, tanto em si mesmas, como por seu freqüente entrelaçamento e integração com outras instituições produtivas, são partes da organização social e econômica global de maneira bastante generalizada e difundida. (1992, p. 53-54) Zappa (1992, p. 65), analisando a música composta pelo próprio Adorno, afirma que ela “soa como se alguém tivesse tentado compor como Webern e acabasse preenchendo todos os espaços vazios”, o que seria justamente o aspecto que afastaria sua obra daquela do compositor austríaco. Zappa acrescenta ainda que não encontrou nenhuma ideia na música de Adorno que “apontasse para o futuro”. 6 Williams está preocupado em evitar “a idéia básica liberal de cultura” (p. 34), que pressupõe que a fonte universal da produção cultural é a “expressão individual” do artista, ignorando todo o contexto histórico e social em que se insere. Zappa, no entanto, não deixa de fazer sua crítica à indústria cultural. Como no caso da contracultura, o compositor a faz a partir da própria estrutura. Em se tratando principalmente do rock, ele não poupava a música cheia de clichês, cuja fórmula era explorada à exaustão. “Tryin’ to grow a chin”, do álbum Sheik Yerbouti (MILES, 1993b, p. 79), e “Absolutely free”, de We’re only in it for the Money (BRITTO, 1988, p. 4), surgem como uma paródia a certas convenções do rock. Concomitantemente são uma sátira à indústria fonográfica, que produz ou incentiva a criação dessas fórmulas para fins eminentemente comerciais. Por isso Zappa Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 247 Gragoatá Vanderlei José Zacchi se considera um compositor e não um músico pop, que para ele é produto do “rock corporativo” (ZAPPA, 1992, p. 68). Outro dos aspectos comumente atribuídos a ele é sua propensão à sátira contundente. E ela pode se dirigir aos modismos, a bandas de música ou a grupos sociais. Mas seus principais alvos eram as instituições oficiais e os setores conservadores dos Estados Unidos. Conforme mencionado anteriormente, o músico norte-americano satirizava o movimento hippie e toda a onda pacifista da Califórnia dos anos 1960. Ele não acreditava na eficácia dos protestos e defendia que a solução para libertar os Estados Unidos de seu conservadorismo viria somente através da tomada do poder – pelos jovens (MILES, 1993a, p. 75). Pouco antes de ser diagnosticado com câncer na década de 1990, cogitou até mesmo de concorrer à presidência. Apesar dessa visão romântica de poder, Zappa talvez tenha sido mais eficaz para desestabilizá-lo ao se valer da sátira, da paródia e da ironia. Mesmo que elas não estivessem sendo necessariamente direcionadas aos setores conservadores e que, para isso, fosse preciso fazer uso de um veículo comercial. O álbum We’re only in it for the money, de 1968, é uma de suas mais conhecidas paródias e foi inspirado no álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, lançado pelos Beatles no ano anterior. O alvo não é necessariamente a banda inglesa. Zappa a respeitava e em outros momentos chegou a trabalhar com John Lennon, Yoko Ono e Ringo Starr. Além disso, havia uma atmosfera de mútua influência. Por um lado, a concepção de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band já demonstra a influência dos álbuns anteriores dos Mothers: “a concepção do álbum como um todo coerente, a ausência de intervalos entre as faixas, a utilização de elementos da música de vanguarda, as técnicas de montagem sonora” (BRITTO, 1988, p. 3). Por outro lado, Britto acrescenta, naquela época parodiar os Beatles era uma maneira de reconhecer sua importância e homenageá-los. Ainda de acordo com Britto, a sátira aos Beatles limita-se a “escrachar o bom-mocismo” dos músicos ingleses e o clima de saudosismo “um pouco piegas” de seu álbum. A começar pelo título do álbum dos Mothers, lança-se a suspeita de que, numa época de apologia ao desprendimento material, o interesse mesmo da banda inglesa era ganhar dinheiro. Mas a sátira fica mais evidente na comparação entre as capas. Na dos Beatles, há um tom de pompa, seriedade e equilíbrio. Na dos Mothers, o tom é de deboche: Zappa, entre outros, está vestido de mulher, um dos músicos está numa cadeira de rodas levantando o vestido de outro e há um grupo eclético de personagens – entre eles Jimi Hendrix – que dá a impressão de desordem e anarquia. Se o nome dos Beatles vem escrito com flores, o dos Mothers é uma composição de frutas e vegetais, uma constante na obra de Zappa, em geral com alguma conotação erótica. 248 Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa Música e letras, entretanto, remetem para outras sátiras e paródias, principalmente ao movimento hippie e o flower power. “Flower punk”, por exemplo, é uma paródia a “Hey Joe”, que havia sido recém gravada por Jimi Hendrix. Ela mantém a forma de diálogo e praticamente a mesma linha melódica desta última (BRITTO, 1988, p. 4). Mas a letra é uma crítica direta aos valores da contracultura: “Hey Punk, where you goin’ with that flower in your hand? / Well, I’m goin’ to Frisco7 to join a psychedelic band” (ZAPPA, 1985, p. 79). Como outras canções do álbum, ela satiriza a cultura “paz e amor” dos hippies de cabelos compridos e amantes das drogas, o que, para Zappa, mais que um protesto, era apenas um modismo. Uma vez mais, a paródia a Hendrix não deixa de ser uma homenagem a ele. O álbum se caracteriza, enfim, por uma duplicidade de crítica e identificação com o rock e a contracultura. Mesmo com todo seu sarcasmo, o compositor identifica-se com esse mundo e não se exclui dele (BRITTO, 1988, p. 5). Hutcheon (2000, p. 77) se refere a essa duplicidade como a “essência paradoxal da paródia”: uma mescla singular de “repetição conservadora” e “diferença revolucionária”, continuidade e mudança. Essa ideia de repetição com diferença requer da paródia não apenas a imitação, mas também um distanciamento crítico. Mesmo assim, ao distanciar-se do texto parodiado, ela não deixa de reforçá-lo. É o que acontece com as inúmeras releituras que Zappa faz de “clássicos” da música popular, como a já citada “Louie, Louie”, e da música erudita, como “Bolero”, de Ravel, para não falar da presença constante de elementos da música de Varèse em sua obra. Além disso, a paródia possui, para além de suas propriedades formais, um ethos pragmático que pode estender-se desde o ridículo desdenhoso até a homenagem reverencial. Ela não teria necessariamente, portanto, uma correlação direta com o cômico, o ridículo, ou ainda uma conotação negativa. Nisso ela se diferencia da sátira, que tem uma função social e moral e que, ao ridicularizar, busca corrigir “os vícios e loucuras da humanidade” (HUTCHEON, 2000, p. 43). Dessa forma, Zappa, ao parodiar as obras dos Beatles e de Hendrix, presta-lhes uma homenagem. Ao mesmo tempo, porém, satiriza o movimento hippie, a cultura flower power e as propensões comerciais dos mesmos Beatles. No caso da música contemporânea, Hutcheon (p. 3) sugere ainda que ela tem, em suas propriedades formais, sua fonte de interesse principal. O resultado dessa reflexão sobre sua própria constituição proporciona um “virar-se para dentro” a partir de reelaborações paródicas de música já existente. Gíria para San Francisco, na Cali fór n ia, cidade onde teria se originado o movimento hippie. 7 A carnavalização e o grotesco As instituições oficiais e os setores conservadores dos Estados Unidos – com os quais dificilmente se poderia dizer que o Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 249 Gragoatá Vanderlei José Zacchi compositor se identificava – sempre foram também objeto de sua sátira. Ele mantinha uma postura declaradamente liberal acerca da censura e era terminantemente contra qualquer supressão da liberdade de expressão, ainda que fosse para proibir letras de música heavy metal que ele não apreciava tanto. Um grupo denominado Liga Antidifamação entrou com um pedido de proibição da faixa “Jewish princess” com o argumento de que sua letra continha “referências vulgares, sexuais e anti-semíticas” (MILES, 1993b, p. 78). O músico ameaçou a liga com um contra-processo e afirmou: “Sou um artista e tenho o direito de expressar minha opinião. Não sou anti-semita. As princesas judias para quem toquei essa canção acham-na engraçada”. Mas seus alvos preferidos eram políticos e fundamentalistas brancos cristãos da extrema direita, como Jimmy Swaggart. Em 1989 declarou: “o inimigo que a América deve enfrentar não são os comunistas lá fora, são esses lunáticos perturbados da extrema direita aqui mesmo na América!” (apud MILES, 1993b, p. 87). Nesse caso, pode-se dizer que Zappa faz sua crítica também a partir de um viés eminentemente norte-americano, e não como alguém de fora do país, evidente ainda na opção tipicamente estadunidense da palavra “América” em substituição a “Estados Unidos”. Essa crítica interna reflete-se na peça “Welcome to the United States”, do álbum The yellow shark (ZAPPA, 1995). É uma situação de fronteira, pois refere-se ao formulário de entrada das alfândegas dos Estados Unidos. O compositor mostra uma certa empatia com os visitantes, mas mais claramente com os músicos alemães que participaram das gravações do álbum e que portanto precisaram preencher o formulário. Mesmo assim, a situação ainda é tratada como um problema interno do país. A proposta do músico não é criticar a posição dos Estados Unidos no cenário mundial, mas antes acusar o conservadorismo que caracteriza suas instituições, o que, para ele, afeta profundamente a liberdade civil de seus habitantes, incluindo os imigrantes. A peça resume-se à musicalização do formulário para não-imigrantes que pretendem ingressar no país. Zappa argumenta: Quando vi o formulário da alfândega que deve ser preenchido pelas pessoas que entram nos Estados Unidos, não pude acreditar que alguém fosse fazer essas perguntas e esperar que alguém desse respostas honestas. Parecia uma peça clássica da idiotice governamental; primeiro, que ela exista; segundo, que as pessoas sejam forçadas a preenchê-las. [...] Como a maioria das pessoas do grupo é alemã, sei que quando elas vieram para os Estados Unidos tiveram que preencher essas coisas, e devem ter considerado isso particularmente ofensivo. (THE YELLOW..., 1995) 250 Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa A exemplo do que afirmam Kress e Van Leeuwen (2006, p. 20) sobre textos multimodais que combinam escrita e imagem. 8 Sendo um documento oficial, o compositor o ridiculariza evidenciando seu absurdo. Considerando-se as seguintes perguntas: “O objetivo de sua entrada é envolver-se em atividades criminosas ou imorais?” e “Você já esteve ou está envolvido em espionagem ou sabotagem ou atividades terroristas; ou genocídio?”, que resposta se poderia esperar? Obviamente as opções são apenas “Sim” ou “Não”. O efeito de ridicularização é conseguido principalmente através de dois artifícios: em primeiro lugar, a leitura cômica do formulário pelo músico Hermann Kretzschmar. O efeito é intensificado pelo fato de que ela se passa no interior de uma peça para orquestra num contexto pretensamente sério. A paródia à música erudita estabelece o parâmetro para a sátira às autoridades estadunidenses. Em segundo lugar, a inserção de ruídos e sons estranhos na música despe as palavras do formulário de sua seriedade e rigidez e faz que adquiram novo sentido, o que provoca uma espécie de desautorização do discurso oficial. Pode-se dizer que, em “Welcome to the United States”, a letra diz uma coisa e a música outra.8 Mais que isso, há um emprego de outras práticas multimodais que se mesclam para a geração de novos significados. Dessa forma, a fixidez do formulário-letra entra em conflito não apenas com a performance musical, mas também com a gestual e espacial. Ruídos sempre fizeram parte da música de Zappa. Em algumas de suas composições para orquestra, os músicos eram requisitados a arrotar e produzir outros sons estranhos. Os ruídos não só interferem na música como introduzem um certo estranhamento, promovendo uma inversão. Eles desautorizam o discurso da música dita séria e tornam evidente que ela pertence a este mundo, e não a um mundo idealizado ao qual apenas uma minoria tem acesso. O mesmo se pode dizer da combinação de música erudita e o linguajar coloquial, e frequentemente vulgar, típico das produções verbais e performáticas de Zappa. Esse artifício assemelha-se ao que se passava nos carnavais europeus nos séculos 16 a 18 descritos por Burke. Um aspecto muito comum nessas festas era a inversão das convenções. Um ritual invertido de casamento, por exemplo, poderia ser executado com o pretenso noivo, ou a pretensa noiva, sendo levado/a pelas ruas montado/a de costas num burro, ao som de alguma “música grosseira” (BURKE, 1989, p. 222), como batidas em panelas e caçarolas, o que “fornecia uma espécie de ‘música de ponta-cabeça’”. Mas, em “Welcome to the United States”, não é a própria música que está sendo satirizada, e sim as instituições governamentais dos Estados Unidos. A paródia, nesse caso, desafia a autoridade oficial por meio de uma espécie de carnavalização. Bakhtin salienta o aspecto positivo da carnavalização, principalmente no contexto da Idade Média e do Renascimento e a Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 251 Gragoatá Vanderlei José Zacchi partir da obra de um dos maiores escritores europeus da época: o francês François Rabelais (BAKHTIN, 1993). Para Bakhtin, o carnaval e outras festas populares da Idade Média giravam em torno do jogo entre vida e morte, mas em geral privilegiando a primeira. Dessa forma, a paródia servia menos para salientar os aspectos negativos relacionados às autoridades oficiais que para promover a renovação: saía o velho e entrava o novo. Isso fica mais evidente nos rituais festivos, em praça pública, de destronamento e entronização simbólicos das autoridades, entre as quais o papa. Em “Welcome to the United States”, o espaço aberto da praça pública transforma-se no espaço fechado da alfândega, onde se desautoriza o discurso do oficial de imigração pela leitura cômica do conteúdo do formulário. Bakhtin afirma, no entanto, que a carnavalização passou a estar cada vez mais vinculada a uma crítica negativa na cultura moderna e contemporânea, perdendo muito de seu poder criativo e renovador. A essa ideia opõem-se autores da atualidade, como Discini, para quem “a carnavalização é categoria que pode ser depreendida e analisada nos textos de qualquer época” (2006, p. 90). Hutcheon (2000, p. 73) vai mais longe ao propor pontos nevrálgicos de contato entre a metaficção contemporânea e o carnaval. Segundo ela, ambos existem na fronteira entre a literatura e a vida e, tanto em forma quanto em conteúdo, operam subvertendo as estruturas autoritárias lógicas e formalistas. Por fim, pode-se dizer que Zappa assemelha-se muito a um Rabelais contemporâneo, numa época em que a cultura de massa assume proporções bem mais abrangentes quando comparada com a que existia no período do Renascimento. Burke, por sua vez, tende a minimizar os efeitos positivos da carnavalização ainda no período da Idade Média e do Renascimento. Para ele, esses ritos populares funcionavam mais como uma “válvula de segurança” (BURKE, 1989, p. 225) que compensava as frustrações dos “subordinados”. Dessa forma, eles seriam úteis também às classes altas, que os permitiam porque o “mundo de cabeça pra baixo” não fazia senão reforçar as hierarquias sociais e tão logo terminasse o período de Carnaval, ou de outros ritos populares, voltava-se “à realidade cotidiana”. Segundo Hutcheon (2000, p. 74), o próprio Bakhtin reconhece que o discurso paródico está marcado por um paradoxo: a transgressão autorizada das normas, pois “O reconhecimento do mundo invertido ainda assim exige um conhecimento da ordem do mundo que ele inverte e, num certo sentido, incorpora”. Burke fala também de “um tráfego de mão dupla” (BURKE, 1989, p. 85) entre as chamadas “cultura erudita” e “cultura popular”. Refutando a ideia de que esta seria um rebaixamento daquela, ele afirma, em primeiro lugar, que não havia uma transferência pura e simples de características culturais, mas uma transformação. Se de cima o que se via era 252 Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa De ma nei ra semelhante ao que aponta Santos (2009) a respeito da prosa requi ntada do escritor fluminense Cornélio Penna, muito in fluenciada por um gênero da literatura de massa: o gótico. 9 distorção ou má compreensão, de baixo parecia adaptação a necessidades específicas. Em segundo lugar, havia também um movimento na direção contrária, “escala social acima”. Por fim, havia casos em que um mesmo tema transitava entre as duas categorias por séculos. Burke cita como exemplo o próprio Rabelais, que se inspirou na cultura popular da Idade Média e Renascimento para escrever suas obras primas. Na direção contrária, a obra de Rabelais teria influenciado artistas populares pelo menos até o século 19. Obviamente as fronteiras entre “cultura popular”, “cultura erudita” e, pode-se incluir, “cultura de massa” têm se tornado cada vem mais tênues. No que se refere à música de Zappa, pode-se dizer que suas releituras e paródias promovem uma renovação de todos esses elementos ao entretecê-los num novo contexto. Ao mesmo tempo, ele contribui para a diluição das fronteiras entre as diversas formas culturais por não estabelecer uma hierarquia de valores entre si. E por também romper a distinção entre música séria e de entretenimento como categorias fixas. Peter Rundel, regente do Ensemble Moderne, comenta sobre a habilidade do compositor norte-americano de romper com as regras específicas do rock, do jazz e da “chamada música clássica contemporânea” (THE YELLOW..., 1995). O resultado seria uma música que não apenas questiona a si mesma, mas também ao “ouvinte tradicional”. Talvez o aspecto mais importante a identificar a obra de Zappa como paródica seja justamente sua proposta de fazer música “séria”, ou “música clássica contemporânea”, a partir da estrutura da cultura de massa e da arte de entretenimento. Essa proposta não deixa de ser uma ironia, elemento que, para Hutcheon, acentua a diferença dos textos presentes na paródia, que pode ser definida ainda como uma “transcontextualização irônica” (2000, p. 12).9 A fusão entre o sério e o cômico e entre o sublime e o rasteiro é outro aspecto característico da carnavalização (DISCINI, 2006, p. 77-78). Assim, o “mundo oficial” que a carnavalização procura desestabilizar pode ser pensado também como “modo de presença que aspira à transparência e à representação da realidade como sentido acabado, uno e estável” (p. 84). Ao utilizar a música erudita como veículo da paródia, Zappa funde o sério ao cômico, o sublime ao rasteiro, desestabilizando um “mundo oficial” que se quer uno e acabado não apenas no âmbito sociopolítico mas também estético. Essa ideia de mundo acabado remete a outra concepção de Bakhtin ainda no contexto da carnavalização: o grotesco e sua relação com o corpo. O corpo grotesco, para Bakhtin, traduz-se na imperfeição e na incompletude e revela a vida no seu processo ambivalente e interiormente contraditório. É, portanto, um corpo em movimento, jamais pronto ou acabado, que está em constante criação. Nele têm valor especial os orifícios e ramificações – boca, nariz, falo, Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 253 Gragoatá Vanderlei José Zacchi traseiro, vagina –, pois é através deles que se efetuam as trocas e as orientações recíprocas: Por isso os principais acontecimentos que afetam o corpo grotesco, os atos do drama corporal – o comer, o beber, as necessidades naturais (e outras excreções: transpiração, humor nasal, etc.), a cópula, a gravidez, o parto, o crescimento, a velhice, as doenças, a morte, a mutilação, o desmembramento, a absorção por um outro corpo – efetuam-se nos limites do corpo e do mundo ou nas do corpo antigo e do novo; em todos esses acontecimentos do drama corporal, o começo e o fim da vida são indissoluvelmente imbricados (BAKHTIN, 1993, p. 277 – grifos no original). No corpo grotesco encontra-se, portanto, o mesmo princípio de renovação por inversão encontrado na cosmovisão carnavalesca. Na extremidade oposta, estaria o corpo pronto e acabado, do qual os orifícios e ramificações foram eliminados. Tendo-se transformado num corpo individual fechado, não se funde com os outros. Nesse sentido a obra de Zappa está repleta de elementos que se referem a esses “atos do drama corporal” que remetem ao grotesco. De um lado, os atos relativos às excreções do corpo humano. De outro, aqueles vinculados à ingestão. A comida e o sexo assumem um papel de destaque em ambos os casos. Como já mencionado anteriormente, é comum encontrar em sua obra menções a frutas e vegetais com conotações eróticas. Sexo e comida inspiram também os nomes de muitas das personagens criadas por ele. Como a obra de Rabelais, a do compositor norte-americano está repleta de eventos de sua época, com uma profusão de personagens baseadas seja em personalidades políticas e artísticas seja em pessoas do cotidiano. Zappa (ANTHROPOLOGY..., 1994) afirma que inspira suas canções no folclore e no comportamento das “várias tribos” que habitam seu país. É aí que se potencializa o seu mais sincero “Welcome to the United States”! Os temas de suas letras também podem se inspirar nas mais variadas fontes, como é o caso do formulário de imigração. Um processo que ele chama de “Anything Anytime Anyplace For No Reason At All (AAAFNRAA)” (THE YELLOW…, 1995). Da mesma forma, o compositor utiliza em sua música uma infinidade de sons e ruídos que tanto podem ser extraídos do mundo circundante quanto ser uma paródia das peças de Edgard Varèse ou John Cage, entre outros, que também fazem uso abundante de ruídos em suas músicas. Algumas das personagens mais conhecidas de Zappa: Suzy Creamcheese, The Guacamole Queen, The Dancing Fool, The Muffin Man, Willie the Pimp, Potato-Head Bobby, The Illinois Enema Bandit. Este último, baseado numa notícia de jornal, refere-se a um assaltante que aplicava doses de enema em suas vítimas, todas mulheres. O músico desafia, dessa forma, o que 254 Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa Eagleton chama de “obsessão da classe média norte-americana com o corpo” (2005, p. 128), que se revela em suas “preocupações da moda: câncer, dieta, fumo, esporte, higiene, estar em forma e com boa saúde, assaltos, sexualidade, abuso infantil”. Tudo o que seja ingerível tornou-se uma “neurose nacional”. Eagleton conclui que, se o corpo carnavalesco é licencioso, o “totalmente abotoado corpo puritano” (p. 130) precisa ser purgado de qualquer impureza, assim como a linguagem, fetichizada no discurso politicamente correto. O músico norte-americano desafia igualmente essa linguagem, fazendo uso extensivo do linguajar coloquial e familiar, quando não vulgar. Em “Welcome to the United States”, o linguajar coloquial não se expressa linguisticamente, mas por meio de ruídos, entonações e gestos da orquestra, que se contrapõe à linguagem oficial do texto verbal. Segundo Bakhtin, quanto menos oficial a linguagem, mais se enfraquece a fronteira entre o louvor e a injúria, que passam a coincidir em uma única coisa ou pessoa, representantes de “um mundo em devir” (1993, p. 369). Revela-se assim o aspecto não oficial do corpo grotesco: retomar a vida numa forma “licenciosa e alegre”. Conclusão Frank Zappa afirma que, quando criança, pretendia se tornar um químico e que um de seus passatempos era fazer explosivos caseiros com qualquer ingrediente que encontrasse à frente (AIR..., 1994). Ele parece colocar em sua música muito dessa química experimental, mais ou menos como o bricoleur de Lévi-Strauss, “que constrói todo tipo de coisas com o material que tem à mão” (BAUMAN, 2005, p. 55). O compositor norte-americano é uma espécie de deglutidor das formas musicais, artísticas e culturais do século 20. Como já mencionado, suas paródias e sátiras revitalizam essas formas por meio da cultura de massa, que consequentemente também se renova. O resultado é uma transgressão das mais variadas fronteiras, não apenas das diversas formas musicais: o cômico e o sério se mesclam e a velha distinção entre música séria e de entretenimento perde seu valor. O compositor Todd Yvega (THE YELLOW..., 1995) afirma: “Considero sua música realmente importante porque acho que vai perdurar por muitos séculos. É séria nesse sentido, mas está aí, acima de tudo, para nos divertir”. Para o biógrafo Ben Watson (ANTHROPOLOGY..., 1994), há uma questão mais existencial por trás disso. A obra de Zappa, para ele, é marcada por um paradoxo zen-budista, como alguém que cria “a coisa mais importante do mundo” mas logo em seguida desconversa e diz que tudo não passou de uma bela piada. Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 255 Gragoatá Vanderlei José Zacchi Abstract 20th-century North-American composer Frank Zappa became well known for his sharp satires to U.S. official institutions and conservative sectors of society. In music he was a great innovator by blending together jazz, popular and classical music over a background of elements from 20th-century North-American popular culture. His parodies and satires revitalize these cultural and aesthetic forms by means of mass culture, which consequently is also renewed. His work can be inscribed in the framework of Mikhail Bakhtin’s concept of carnavalization: a means to subvert the official discourse through comic and popular elements. Several of these aspects can be found in the piece “Welcome to the United States”, composed from a U.S. customs form. Zappa submits the form/lyrics to a music full of noises and strange sounds, thus challenging the official authoritative discourse. Keywords: contemporary music; carnavalization; parody; grotesque. Referências ADORNO, Theodor. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor. Textos escolhidos. Trad. Zeljko Loparic et alii. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. Col. Os Pensadores. p. 81-105. ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. 3. ed. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. AIR sculpture. Profile of Frank Zappa, Londres, BBC Radio 1 FM, 20 de novembro de 1994. Programa de rádio. Parte 1. ANTHROPOLOGY pure and simple. Profile of Frank Zappa, Londres, BBC Radio 1 FM, 27 de novembro de 1994. Programa de rádio. Parte 2. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e Renascimento: o contexto de François Rabelais. 3. ed. Trad. Yara Frateschi. São Paulo/Brasília: Hucitec/Editora da Universidade de Brasília, 1993. BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. BERENDT, Joachim E. O jazz: do rag ao rock. Trad. Júlio Medaglia. São Paulo: Perspectiva, 1975. BRITTO, Paulo H. California dreamin’. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 nov. 1988. Folhetim, Caderno G, p. 2-5. 256 Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 Welcome to the United States: carnavalização e paródia na obra de Frank Zappa BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. Trad. Denise Bottman. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. DISCINI, Norma. Carnavalização. In: BRAIT, Beth. Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006. p. 53-93. EAGLETON, Terry. A idéia de cultura. Trad. Sandra Castello Branco. São Paulo: Unesp, 2005. FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Trad. Izabel Magalhães. Brasília: UnB, 2001. HUTCHEON, Linda. A theory of parody. Urbana: University of Illinois Press, 2000. KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. Reading images: the grammar of visual design. 2. ed. Abingdon: Routledge, 2006. MILES. Frank Zappa in his own words. London: Omnibus Press, 1993a. MILES. Frank Zappa – a visual documentary. London: Omnibus Press, 1993b. ROTONDI, James. My guitar wants to kill your mama. Guitar Player, v. 29, n. 10, p. 70-83, Oct. 1995. SANTOS, Josalba Fabiana dos. A paródia como fantasma. Revista Brasileira de Literatura Comparada, n. 14, p. 227-245, 2009. THE YELLOW shark. London: Rykodisc, 1995. Encarte. Não paginado. WILLIAMS, Raymond. Cultura. Trad. Lólio L. de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. ZAPPA, Frank. Antologia poética. Trad. António Filipe Marques. Ed. bilíngue. Lisboa: Assírio e Alvim, 1985. ______. A mãe de todas as entrevistas. Trad. Claudio Marcondes. Novos Estudos Cebrap, n. 32, p. 65-75, mar. 1992. Entrevista concedida a Florindo Volpacchio. ______. Welcome to the United States. Intérprete: Ensemble Moderne. In: ___. The yellow shark. London: Rykodisc, p1995. 1 CD. Faixa 15. Niterói, n. 31, p. 243-257, 2. sem. 2011 257 Poética do caos: a conquista de Babel Arnaldo Rosa Vianna Neto Recebido em 01/06/2011 – Aprovado em 27/08/2011 Resumo Do conflito entre as lógicas ocidental e crioula surgem debates sobre o uso da língua francesa por escritores de países francófonos. Patrick Chamoiseau discute o tema em sua obra, onde a palavra poética aparece como um “lugar” fora do tempo e do espaço, no qual todas as línguas francesas se encontram. Palavras-chave: crioulidade; identidade; escrita; oralidade. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Gragoatá Arnaldo Rosa Vianna Neto Et plus que jamais, l’écrivain créole assis devant sa feuille perçoit à quel point, sur cette tracée opaque située entre l’oral et l’écrit, il doit abandonner une bonne part de sa raison, non pour déraisonner mais pour se faire voyant, inventeur de langages, annonciateur d’un autre monde. Je veux dire qu’il doit se faire Poète.1 Patrick Chamoiseau “E mais do que nunca, o escritor crioulo sentado diante de sua folha de papel, percebe a que ponto, sobre este traçado opaco situado entre o oral e o escrito, ele deve abandonar boa parte de sua razão, não para desarrazoar, mas para se fazer vidente, inventor de linguagens, anunciador de um outro mundo. Quero dizer que ele deve se fazer Poeta.” (Tradução de nossa autoria) 2 Filhotes de tigre não nascem sem garras. (Patrick Chamoiseau, 1986, p. 101) 3 No verbete crioulo em dicionários de línguas neolatinas encontra-se “uma multiplicidade de registros no percurso conceitual do termo. Egresso do latim criare com o sentido de educar, o termo identificava os que nasciam e eram educados nas Américas sem ser orig i nários delas [...]. Alguns dicionários franceses registram a ocorrência do termo apenas no século XIX, tornando seu uso restrito à linhagem de colonos brancos chamados de békés nas Antilhas. [...] O dicionário enciclopédico Le Petit Larousse refere crioulo como pessoa de ascendência européia nascida nas antigas colônias francesas de plantação, como Antilhas, Guianas, Reunião etc, e também, como o dialeto surgido por ocasião do tráfico de escravos africanos entre os séculos XVI e XIX, tornando-se a língua materna dos descendentes desses escravos. (cf. Magdala França Vianna, Crioulização e Crioulidade, p. 103-4, em Conceitos de Literatura e Cultura, 2005.) 1 260 Les petits du tigre ne naissent pas sans griffes2 Os escritos teóricos sobre a produção cultural do Caribe não têm resolvido o problema conceitual de definição dos processos de ressignificação identitária próprios da região cuja situação de insularidade favorece o trânsito de uma multiplicidade de línguas e paradigmas culturais diversos movendo-se em dinâmica de reorganização constante. Nossa análise dos discursos sobre a produção literária antilhana dos últimos vinte anos do século XX parte da premissa de que o pensamento em torno da cultura e, em particular, da literatura constitui um lugar privilegiado para o estudo das complexas relações étnicas e culturais, difíceis de reduzir em oposições binárias como colonizador / colonizado, cultura dominante / cultura dominada. O malaise (“mal-estar”) do homem créole3, nascido e criado no Caribe, é registrado por muitos escritores que inscrevem em suas obras a marca linguística da diferença. As interrogações que advêm da condição do ser crioulo decorrem da incerteza do pertencimento sócio-político-cultural e seu inevitável condicionamento existencial. Nesse âmbito, situando-se o “lugar” de enunciação do escritor entre diferentes culturas, a prática do fouillement, a “escavação” teórica dos conceitos que constituem as formações discursivas crioulas e os imaginários dominantes torna-se um ato obrigatório para que se torne possível articular a superposição e a inclusão de diferentes culturas que convivem em permanente tensão. Entretanto, a questão da autoria, que parece ser primordial para a compreensão das dinâmicas em curso na produção literária antilhana do fim do século XX, do modo como é analisada pelos próprios escritores, configura um paradoxo expresso da seguinte maneira: se a presença do autor é necessária na medida em que só ele pode dar corpo a uma comunidade antilhana, ou seja, fundar uma comunidade em torno da história e da memória na prática de um jogo social e literário, é o próprio ato de escrever que o afasta da identidade de créole e de sua língua materna. O atual debate sobre os conceitos de identidade cultural tem como referência as pesquisas que destacam a importância da revisão crítica da dicotomia entre língua materna e língua do Outro. A relação entre a epistemologia das questões de língua e linguagem - e entre o que elas carreiam de ético e político Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Poética do caos: a conquista de Babel remete às fronteiras (moventes) das identidades linguísticas e culturais em que se inscrevem os imaginários das línguas. Entendendo-se que “a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos - um sistema de representação cultural” (HALL, 1999, p. 48.), acrescenta-se à noção de pátria um conteúdo não apenas político, mas também cultural e linguístico. Ele corresponde não a uma entidade política, mas a um vasto espaço geográfico e cultural onde o francês de referência, submetido a diversos tipos de contatos linguísticos, mostra fenômenos de mestiçagem cuja natureza e importância variam segundo o contexto linguístico. Nós e o(s) Outro(s) “Nós vimos o mundo através dos filtros dos valores ocidentais e nossa essência foi ‘exotizada’ pela visão francesa que tivemos que adotar. Condição terrível essa de perceber sua arquitetura interior, seu mundo, os instantes de seus dias, seus próprios valores com o olhar do Outro”. (Tradução de nossa autoria) 4 O alterismo, definido por Kwame Appiah como a “celebração de si mesmo como o Outro” (1997, p. 217), aponta as tensões criadas pela retórica bipolar ocidental de centro e periferia, identidade e diferença como responsáveis pelos mecanismos classificatórios e/ou discriminatórios de sistemas políticos baseados em relações conflituais vigentes nos processos de colonização e descolonização e, ainda, em situações pós-coloniais específicas. O lugar da alteridade, uma subversão, pois, da metafísica ocidental, funciona como símbolo e não signo da presença. A construção de um paradigma regional em sociedades caracterizadas pela heterogeneidade ethoetnocultural, como as do Caribe insular, tem sido marcada pela busca de uma identidade crioula, ou seja, a incorporação de elementos emblemáticos que funcionam como articuladores da série de diferenças culturais, religiosas, linguísticas e econômicas. O movimento da Antilhanidade assinado por Édouard Glissant é uma referência do processo de crioulização no espaço antilhano, uma territorialização do movimento no Caribe, após o desvio africano da Negritude de Aimé Césaire, uma construção unidimensional, mas necessária à montagem da identidade do homem multidimensional crioulo. Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Jean Bernabé, escritores e linguista antilhanos, autores do Éloge de la Créolité (1989), ensaio que é um verdadeiro manifesto, recusam a pretensão ocidental à universalidade, ou seja, os paradigmas a partir dos quais se pode dimensionar a humanidade e apontam a questão da elaboração de uma identidade crioula como problema essencial. O Elogio da Crioulidade denuncia a “exotização” do Nós antilhano pelo olhar do Outro: Nous avons vu le monde à travers le filtre des valeurs occidentales, et notre fondement s’est trouvé ‘exotisé’ par la vision française que nous avons dû adopter. Condition terrible que celle de percevoir son architecture intérieure, son monde, les instants de ses jours, ses valeurs propres, avec le regard de l’Autre.4 (1989, p. 14) Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 261 Gragoatá Édouard Glissant referenda o pensamento do a nt ropólogo brasileiro Darcy Ribeiro (1978), que, como outros pesquisadores latino-americanos, defende uma nova cartografia das Américas baseada no conceito de região definida pela mobilidade do processo de crioulização. Em Introduction à une Poétique du Divers (1996), Glissant descreve a existência de três Américas que se interpenetram, muitas vezes de maneira indissociável: a Meso-América dos ameríndios; a Euro-América, constituída pelo Québec, Canadá, Estados-Unidos e uma parte do Chile e da Argentina, que preservaram construções ethoetnoculturais de seus países de origem; e a Neo-América, definida por ele como a América da crioulização, herdeira das civilizações egressas do sistema de plantação e povoamento, ou seja, a América constituída pelo Caribe, o nordeste do Brasil, Guianas e Curaçao, a costa caribenha da Venezuela e da Colômbia e uma grande parte da América Cent ral, do México e do sul dos Estados-Unidos, particularmente a Luisiana. (cf. Id, ibid, p. 110) 6 “A s A m é r i c a s s e arquipelizam, elas se constituem em regiões para além das fronteiras nacionais. E eu acredito que é preciso recuperar, em sua dig n idade, o termo região. A Europa se arquipeliza. As regiões linguísticas, as regiões culturais, para além das barreiras das nações, são ilhas, mas ilhas abertas, e esta é sua principal condição de sobrevida”. (Tradução de nossa autoria) 7 A reescrita da oralidade tradicional se articula a uma forma de resistência contínua e característica do sistema colonial de plantações. O que se chama de oralidade tradicional corresponde, no Haiti, a oraliture, ou seja, um corpus extenso e variado 5 262 Arnaldo Rosa Vianna Neto A Crioulidade não se define como um movimento fechado em torno das civilizações do Caribe, mas como fundamento do ser crioulo, vetor estético de sua consciência e do mundo, orientado para a reorganização do objeto estético crioulo sem a mediação do Outro europeu como terapia para a recuperação do trauma identitário. É a construção de um existencial crioulo, uma inteligência crioula em um novo contexto histórico. Em conferência pronunciada no Festival caribenho Seine-SaintDenis, em 22 de maio de 1988, Chamoiseau expõe alguns vetores do pensamento da Crioulidade, como a complexidade cultural aberta e complexa, a diversidade permanente, ou seja, a metamorfose contínua e antropofágica, a crioulização como fenômeno cultural transversal universal. Segundo os autores do Éloge, na França, crioulo (créole) significa, na maioria das vezes, língua crioula, o que explica uma tendência para a redução do conceito a uma simples defesa da língua que é, entretanto, apenas um dos elementos de “um combate bem mais amplo, ou seja, o da identidade múltipla” que supõe a partilha de identidades. O escritor e pensador antilhano Édouard Glissant, definindo o Caribe como região5 cultural, enfatiza que o sentido de sua historicidade, no caso especial das Antilhas francesas, implica uma necessária parceria intercultural entre as sociedades francocrioulofônicas: Les Amériques s’archipélisent, elles se constituent en régions par-dessus les frontières nationales. Et je crois que c’est un terme qu’il faut rétablir dans sa dignité, le terme de région. L’Europe s’archipélise. Les régions linguistiques, les régions culturelles, par-delà les barrières des nations, sont des îles, mais des îles ouvertes, c’est leur principale condition de survie.6 (1996, p. 44) Essa episteme é o lugar de realização de uma polifonia móvel que referenda a ocorrência de construções sincréticas caracterizadas pela justaposição de multiplicidades culturais na busca de uma nova ordem discursiva descentralizada e sem genealogias. A assunção da identidade passa, necessariamente, pela interrogação da alteridade (Nós e os Outros), das vozes que se elevam de um espaço histórico e de um ethos social múltiplo e heterogêneo. Ao fazê-lo, o texto literário transforma a língua, incorporando a oralidade à escritura.7 Lida em sua polifonia, em uma relação de intervocalidade, tal como concebeu o antropólogo e medievalista francês Paul Zumthor, a diferença se acentua. Segundo ele, ocorre, nas mediações da “tradição”, o domínio da variante e sua consequente movência, a partir da qual “se pode ouvir uma rede vocal imensamente extensa e coesa [...] que seria o murmúrio dos séculos; do mesmo modo, pode-se também ouvir, isolada, a própria voz do intérprete” (1993, p. 145). A assimilação do “mesmo” procede da ação contínua e interrupta das variantes, combina reprodução e mudança, contrariamente Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Poética do caos: a conquista de Babel de formas tradicionais de or igem i ndígena, africana ou européia, adaptadas ao universo americano das plantações e transmitidas oralmente. Na sociedade colonial e escravagista, essas formas tinham a função de permitir a circulação da palavra e do saber. Elas eram, portanto, o suporte e a expressão da coletividade e seu imaginário. A oralidade comporta vários gêneros: contos, provérbios, adivinhas, cantos profanos e rituais, entre outros. 8 “a marca secreta, impossível e (des)velada” (Tradução de nossa autoria) à transmissão puramente escrita, ou seja, a “movência”, escreve Zumthor, é criação contínua (1993, p. 145). Na literatura antilhana, o registro escrito de expressões orais (ou os textos escritos com a intenção de resgatar, preservar e incorporar ao texto literário a representação da oralidade), instiga à análise da polifonia na recepção dos destinatários do texto, quaisquer que sejam as modalidades e o estilo de desempenho que se manifesta exclusivamente pela voz. Segundo Zumthor, a intervocalidade se desdobra simultaneamente em três espaços: aquele em que cada discurso se define como lugar e transformação (mediante e em uma palavra concreta) de enunciados vindos de outra parte; o de uma audição, hic et nunc, regida por um código mais ou menos formalizado, mas sempre, de algum modo, incompleto e entreaberto ao imprevisível; enfim, o espaço textual interno, gerado pelas relações que aí se constituem (1993, p. 145). Além disso, diz ainda Zumthor, é preciso observar a margem de liberdade deixada pelos textos à voz de cada um de seus intérpretes, considerando-se que a imprecisão da recepção, ao invés de separar, promove a união com outros textos (1993, p. 147). A relação entre oralidade e escrita não é um fenômeno e/ ou uma prática diglóssica unicamente antilhanos, mas de toda criação latino-americana. É evidente que a inserção de palavras crioulas ou de expressões populares na escrita, com explicações no pé-de-página ou em glossário no fim do livro, não implica forçosamente uma reescrita da oralidade tradicional. Não se trata de reproduzir simplesmente a linguagem oral cotidiana, nem de adotar uma sintaxe próxima do discurso descontínuo registrado no magnétophone, mas de escrever adotando a rítmica falada, o “ressassement” (a repetição) e o espírito da oralidade, ou seja, tomando de empréstimo o estilo do conteur, o contador popular. O problema das formas orais (conto, canto, adivinhações, provérbios, comptines etc) deve se ligar à sua função na coletividade e a um certo contexto. É importante compreender que essas formas não pertencem à língua, mas à linguagem e à metalinguagem de uma situação. Sua (re)criação, oriunda de um ato específico de “enunciação transpessoal”, é uma atividade de linguagem, um discurso cujo referente é o enunciador anônimo e o (re)enunciador (letrado) em relação a uma situação. Nas Antilhas francesas, todo texto escrito em francês é escrito na língua do Outro. A língua materna da Martinica, de Guadalupe e da Guiana francesa não é uma língua autenticamente oral (o que a distingue, por exemplo, das línguas étnicas africanas), o que ela traz é “la marque secrète, impossible et repérable”8 do escrito, como observa Glissant (1981, p. 22). O leitor não crioulofono deve aceitar a existência de uma zona de opacidade que não poderá ser perfeitamente avaliada e que revela um jogo secreto com o créole. É interessante interrogar o Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 263 Gragoatá Colonos brancos de origem européia. 10 “[...] eu sou de um país onde se faz a passagem de uma literatura oral tradicional violentada, a uma literatura escrita, não tradicional, também violentada. Minha linguagem tenta se construir no limite do escrever e do falar; assinalar tal passagem - o que é certamente bem árido em toda abordagem literária. [...] Eu evoco uma síntese, síntese da sintaxe escrita e da rítmica falada, do ‘adquirido’ da escrita e do ‘reflexo’ oral, da solidão da escrita e da participação no cantar comum - síntese que me parece interessante tentar.” (Tradução de nossa autoria) 11 Nascido em 1953, na cidade de Fort-de-France, capital da Martinica, Pat rick Chamoiseau, escritor, jornalista (editorialista), roteirista de cinema, diplomado em direito e economia social, é educador social no Tribunal para jovens delinquentes de Fort-de-France. Sua obra é composta por autobiografias, contos, ensaios, romances, teatro, roteiros de filmes, como L’exil du roi Béhanzin (1996), Biguine (2004), Passage du milieu (2001), produzidos por Guy Deslaurier, Nord-Plage (2004) e Aliker (2007). Por seu romance Texaco (1992) recebeu o Prix Goncourt de literatura; pela autobiografia Antan d’Enfance (1993), o Prix Carbet; pelo romance Biblique des derniers gestes (2002), o Prix Spécial du Jury RFO. 9 264 Arnaldo Rosa Vianna Neto sentido dessa estratégia que consiste em passar pela língua do Outro: um recuo crítico dado pelo exílio; a decifração de um imaginário; um olhar distanciado sobre a cultura de origem, graças ao desvio de uma língua tomada de empréstimo e à exploração dos possíveis da escrita advindos das interdições sociais veiculadas pela língua materna; e o reconhecimento do multilinguismo caribenho são alguns dos itens que se poderia invocar. Há, ainda, uma construção a ser explorada do ponto de vista crítico: o de reconquistar, pelo viés da língua do Outro, um costume em vias de extinção na língua materna, um pacto secreto, base da união da coletividade. Glissant distingue dois usos do crioulo na Martinica: o crioulo dos békés9 e o crioulo dos escravos, depois trabalhadores agrícolas (1981, p. 246-45). O uso popular do crioulo constituía, originalmente, uma espécie de pacto e comportaria um sentido oculto. A “função iniciática” desaparece à medida que o crioulo, não sendo mais uma língua de produção, desenvolvese em língua aberta (a situação difere no Haiti, onde o crioulo continua a ser uma língua de produção no sentido amplo da palavra). Nessa observação de Glissant, considera-se que, nas culturas diglóssicas, uma das funções do texto inspirado nas formas populares é reconquistar, por intermédio do francês, essa dimensão de pacto secreto. Se a oralidade, tal como é definida habitualmente, compreende tudo o que permite a circulação da palavra e do saber, sem escrita, em uma comunidade, os cantos, os ritmos, as danças se revelam como modos de comunicação tão importantes como o discurso. Nas Antilhas francófonas, Édouard Glissant é um dos que mais refletiram e teorizaram sobre a escrita da oralidade tradicional. Em um texto intitulado Le roman des Amériques, ele expõe seu projeto literário: [...] je suis d’un pays où se fait le passage d’une littérature orale traditionnelle, contrainte, à une littérature écrite, non traditionnelle, tout aussi contrainte. Mon langage tente de se construire à la limite de l’écrire et du parler; de signaler un tel passage – ce qui est certes bien ardu dans toute approche littéraire. [...] J’évoque une synthèse, synthèse de la syntaxe écrite et de la rythmique parlée, de l’ ‘acquis’ de l’écriture et du ‘réflexe’ oral, de la solitude d’écriture et de la participation au chanter commun – synthèse qui me semble intéressante à tenter10. (1981, p. 256) Poética e ideologia: o marqueur, o conteur, o etnógrafo e o escritor Os romances de Édouard Glissant, Maryse Condé, Raphaël Confiant, mas principalmente os de Patrick Chamoiseau11, carregados de tensões não resolvidas, convidam o pesquisador a avaliar a questão das condições de surgimento de uma literatura antilhana. É nesse âmbito que se põe em evidência a difícil Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Poética do caos: a conquista de Babel “Não, escritor não: coletor de palavras, isso muda tudo, inspetor, o escritor é de um outro mundo, ele rumina, elabora ou prospecta, o coletor recusa uma agonia: a da oralitura, ele recolhe e transmite”. (Tradução de nossa autoria) 13 CHAMOISEAU, Pat r ick et CONFIANT, Raphaël. Lettres Créoles, tracées antillaises et continentales de la littérature. Martinique, Guyane, Guadeloupe, Haïti, 1635-1975. Paris: Éditions Hatier, 1991. Também Édouard Glissant escreve, em seu Discours Antillais, que o tambor é uma “linguagem organizada em discurso”. Nas Antilhas, o tambor é solitário, ou serve como acompanhamento. A orquestra de tambores, característica da cultura africana, não sobreviveu nas Antilhas, onde sua manifestação é rara. O que restou como memória da orquestra de tambores foi o gros-ka, o tambor camponês antilhano. 12 passagem entre o créole e o francês, o oral e o escrito, o conteur e o escritor. Em uma região em que a história foi “confiscada”, parece importante que o narrador e o escritor estabeleçam como conduta de sua prática poética o ato de testemunhar e consignar as histórias (re)encontradas. O autor das Antilhas é habitado por uma contradição: sua ação se divide entre a necessidade de escrever para testemunhar, redefinir a História, recuperar o “nous disjoint” reivindicado por Glissant, e o medo de trair sua crioulidade aceitando escrevê-la em francês. Se a história das Antilhas é constituída por lacunas, silêncios, rupturas e caos, ela não pode ser objeto de análise de historiadores racionais que privilegiam, classificam e ordenam os fatos históricos. A história antilhana, segundo o Éloge de la Créolité, “não é totalmente acessível aos historiadores”. O ato de narrar, opaco e visível torna-se o próprio jogo do texto. Não se trata tanto de contar uma história, mas de perguntar quem conta, como conta, de que ponto de vista, com que autoridade, saber e em que logos. Com Glissant, o narrador não é mais aquele que conta, mas o que reúne. O narrador de Texaco de Patrick Chamoiseau é igualmente um relayeur de paroles. Entretanto, pode acontecer que ele fracasse ao reler todas as palavras tornando perceptível um chaos que Glissant chama de poético. A originalidade de Chamoiseau está na invenção de sua língua(gem) de escritor, na qual se registram criações lexicais contínuas que incorporam ao francês as construções lexicais e as cadências crioulas. Sua linhagem é a de François Villon, Faulkner, Rabelais, Joyce, Saint-John Perse e a dos contadores (conteurs) de histórias crioulos. Desde sua estréia em literatura, com a peça Manman Dlo contre la fée Carabosse (1981), classificada como théâtre conté (teatro contado), Chamoiseau desenvolve em sua obra uma escrita original da oralidade crioula. Em seus romances, a figura do autor - lugar de contradições múltiplas tanto no plano literário como no plano social, é suspeita. Sua recusa do estatuto de escritor, ao adotar o aparato etnográfico de pesquisa para coletar as formas do viver e do fazer cotidianos do povo da Martinica, longe de ser gratuita: “Non, pas écrivain: marqueur de paroles, ça change tout, inspéctère, l’écrivain est d’un autre monde, il rumine, élabore ou prospecte, le marqueur refuse une agonie: celle de l’oraliture, il recueille et transmet”12 (1989, p. 159) -, é uma estratégia para a apropriação política e literária do termo que, em créole, tem um significado polissêmico (o de enquêteur – entrevistador que toma notas e/ou grava, recolhendo e escrevendo as memórias dispersas; o de prospecteur - transmissor da memória para o futuro; o de tambouyé – o tamborineiro que faz o solo dos tambours-ka13, no sentido de marquer como ritmar, marcar o ritmo.). Assim, Chamoiseau não só realiza literariamente Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 265 Gragoatá Chamoiseau tem no nome o signo do Cam (Cham) bíblico (Sem, Cam e Jafet), e o significado de pássaro (oiseau) como símbolo do canto, da oralidade quase perdida do “povo dos mercados” de Fort-de-France. 15 “eu passei toda a estação das pitombas a traduzir o conjunto em um monte de páginas, turbilhonantes e ilegíveis. Claro, amigos, que eu resolvi extrair de tudo aquilo uma versão reduzida, organizada, escrita, uma espécie de reconstituição daquilo que o Mestre foi naquela noite: estava claro de agora em diante que sua palavra, sua verdadeira palavra, toda sua palavra, estava perdida para todos - e para sempre.” (Tradução de nossa autoria) 14 266 Arnaldo Rosa Vianna Neto o prazer estético do jogo com o som da oralidade (o vocal) e a polissemia vocabular, a carga semântica incorporada por superposição e incorporação de culturas, mas também expõe a prática de sua ideologia política, visível na produção de um texto crítico em que se inscreve uma nova ordem (como memória do futuro), ou outro logos de poder onde se reconhece o ato inaugural da identidade crioula: a assinatura (como sujeito) de sua(s) própria(s) h(H)istória(s). As narrativas de Chamoiseau são compostas por “pequenas histórias” do cotidiano, inscritas à margem do texto oficial, nas quais permanecem fragmentos culturais dispersos em circulação no texto oral ao lado da “grande História” da Martinica, como, por exemplo, a erupção da Montagne Pelée em Texaco (1992) e à Segunda Guerra Mundial em Chronique des sept misères (1986). A metodologia empregada na construção dos romances fundamenta-se no registro da complexidade do processo da memória e da interpretação das fontes orais. Recebendo a pesquisa histórica a colaboração de historiadores orais, pela coleta da tradição oral popular registrada em palavras faladas e transmitidas pela maioria desconhecida do povo, incorpora-se a evidência oral na história social e confere-se à história oral, às fontes orais, a função social da história dentro de um contexto determinado. O trabalho do escritor é, pois, o de recolher essas memórias e arquivá-las no texto escrito para que não desapareçam definitivamente. Questiona-se, assim, a natureza e o significado da “história oficial”. O “contar” a História pelo viés das histórias do cotidiano revitaliza o sentido dos kont créoles (os contos orais crioulos) na elaboração do texto (sintagma e paradigma) de Chamoiseau. As narrativas se constroem em uma rítmica própria dos kont, na qual se apreendem sons como os dos mercados de Fort-de-France14 em Chronique des sept misères (1986) e os do tambor, o gros-ka, em Solibo Magnifique (1989), quando “as mãos suplementares dos tamborineiros” (os tambouriers de cricracks) convocam os mésié-zé-dames de la compagnie (“senhores e senhoras da companhia”) para ouvir os kont, respondendo ao conteur com as expressões é-crik! é-crack. O escritor, ao lado da compagnie, nos mercados ou na Savane sob os tamarineiros, anota ou grava os contos para a transmissão escrita (a oralidade incorporada à escrita) das memórias futuras. O autor ganha também o estatuto de conteur, contador das histórias anotadas, inscrevendo-se nelas como suplemento: […] je passais toute la saison des quénettes à traduire l’ensemble sur tout un lot de pages, tourbillonantes et illisibles. Si bien, amis, que je me résolus à en extraire une version réduite, organisée, écrite, une sorte d’erzatz de ce qu’avait été le Maître cette nuit-là: il était clair désormais que sa parole, sa vraie parole, toute sa parole, était perdue pour tous - et à jamais.15 (1989, p. 211) Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Poética do caos: a conquista de Babel Evidentemente, o leitor não duvida de que se encontra na presença de um verdadeiro texto literário, apesar das astuciosas posturas do escritor em relação não só à autoria do texto, mas também ao papel e ao estatuto de escritor, ou seja, a intenção de dar visibilidade às contradições de sua ars poetica: a representação do autor e sua função social (entre o personagem do escritor e o escritor real), a ficção como testemunho. Chamoiseau descreve as contradições da sociedade martiniquense, entre a cidade e a zona rural, em Chronique des sept misères (1986), misticismo e razão em Solibo Magnifique (1989), modernidade e tradição, estereótipos das relações de gênero entre homens e mulheres na construção da Cidade Crioula em Texaco (1992). Ele constrói uma série de personagens representativas de certa marginalidade, entre eles os dorlis (feiticeiros), os majors (homens fortes nas comunidades), os papa-feuille (raizeiros), os vagabundos e os driveurs (beberrões, bêbados), além de mulheres fortes, como as matador, diablesses, marchandes, viajantes, cozinheiras, matriarcas, soucougnans, cujos destinos se entrecruzam em vários romances e nos quais ele se representa. O marqueur de paroles se quer, antes de tudo, como testemunha de uma sociedade. Por isso ele (re)presenta literariamente as práticas do sociólogo, do etnógrafo, do historiador e do economista, buscando restituir a seu povo a memória coletiva de tradições e histórias em vias de desaparecer. Políticas da opacidade e lógica do desvio Em Le Chaos-Monde, l’Oral et l’Écrit (1994, p. 128), Édouard Glissant conceitua opacidade como negação da “transparência” do modelo universal editado pelo pensamento ocidental. Ele reivindica o direito à opacidade, à descontinuidade, à temporalidade caótica, profetiza o fim do sistema de valores ocidental e seu exercício sobre os povos, conclamando o Ocidente a dividir poética e politicamente esse direito. Sua concepção de política aponta a hegemonia do capital, do “ter”, como responsável pela uniformização dos valores que deve ser substituída por uma poética (uma teoria) de investimento na multiplicidade contra o uno universal. É interessante ressaltar que a descolonização não resultou na desocupação do território ideológico. A filiação e a assimilação dos valores culturais franceses continuaram a legitimar a dominação. A departamentalização (DOM - Département d’Outre Mer) de 1946, ocorrida após a segunda guerra mundial, referendou o processo de francização ou de afrancesamento da Martinica. A emergência da solidariedade e da criatividade durante a guerra, quando a ilha, abandonada à própria sorte pela metrópole precisou inventar formas de sobrevivência, foi anulada pelo plebiscito que resultou na escolha da pátria única e da identidade especular branca e francesa. A terceirização Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 267 Gragoatá Arnaldo Rosa Vianna Neto da economia, decretada em 1975 pela doutrina de assimilação econômica, institucionalizou o neocolonialismo, que se instalou sutilmente como um substituto social e não promoveu nenhum deslocamento do sistema de valores em que se configurasse um equilíbrio ético-político e estético produtor de uma subjetividade individual e coletiva. A procura de uma pátria existencial, a domicialização em um território interior que, promovendo um universo de referência distante do filtro ocidental que exotizou o estranho à idealização de seu modelo, produzisse a ressingularização étnico-estética do ser desenraizado de uma pátria primordial, buscando a essência atávica para sua referenciação histórica, tornou-se fundamental para a intelligenzia da Martinica. O movimento de desenraizamento do homem antilhano tem uma dinâmica específica que se caracteriza pela lógica do détour16 (desvio). Não se trata mais de um “retorno ao país natal” africano, mas de domicialização americana, caribenha, antilhana, a territorialização insular e continental das sociedades que constituem o que a lógica ocidental nomeia como Terceiro Mundo. Há, portanto, uma nova historicidade, ou uma nova discursividade que tece seu continuum nas Antilhas sistemicamente desde Frantz Fanon e Aimé Césaire e, descontinuamente, no produto da contracultura crioula disseminada na textualidade hegemônica. A organização da Crioulidade, a fundação de sua ordem como inteligência, sensibilidade - sua interioridade, é que a geração de Chamoiseau sistematiza, conceitualiza como uma universalidade, uma dinâmica multidimensional da consciência do ser crioulo planetário, construindo-se como contra-poder marginal. Glissant situou a Antilhanidade, assim como Fanon situou o Terceiro Mundo, Césaire a Negritude, Gilbert Gratiant a realidade crioula e Chamoiseau a Crioulidade em um movimento processual de recusa da exclusão da discursividade crioula, mestiça, da matriz ocidental produtora de ideologias do uno. É assim que se apaga a ilusão do mito fundador como mito de exclusão do Outro ou, então, de inclusão do Outro pela dominação e para a exploração e se define como lugar de construção da Crioulidade, como uma outra universalidade, o espaço de onde emergiu sua consciência, ou seja, os territórios da colonização: Martinica, Guadalupe, Haiti, Cuba, Guianas, o grande Caribe, Brasil, Américas, Libéria, África do Sul, Argélia, Irlanda, Chipre, Austrália, Índia, China, Indochina, enfim, o Terceiro Mundo crioulo. A Cidade Crioula O détour é conceituado por Édouard Glissant no Discours Antillais, p. 28-36. 16 268 A análise de práticas sociais e culturais cotidianas, representadas nas memórias dos imaginários rural e urbano, ao longo do continuum histórico colonial e pós-colonial, revela, Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Poética do caos: a conquista de Babel “Parnaso ultrapassado, simbolismo tardio e romantismo de segunda mão.” (Tradução de nossa autoria) 18 “escavações arqueológicas” 19 “senhores-e-senhoras-da-companhia” 17 no referencial discursivo antilhano, ao lado de migrações de representações unitárias e monológicas do logos urbano ocidental, a problematização da alteridade na desconstrução de conceitos ocidentais essencialistas e puristas. Ao lado dessas representações, identifica-se a inscrição discursiva do conflito decorrente do sincretismo policêntrico e polimórfico urbano, desordenado, plural, sem genealogias, errante entre subjetividades etnográficas complexas que caracterizam a alteridade híbrida nas Américas. A ruína do sistema de plantações nas Antilhas determinou a ruptura do continuum cultural crioulo e sua imobilização. A morte do conteur, guardião das matrizes do imaginário colonial e pós-colonial, assinala o nascimento do romance antilhano contemporâneo, lugar de busca da filiação perdida que o escritor propõe reconstruir. No final do século XX, ele tenta fazer renascer a palavra crioula sufocada pela escola republicana. Autores como Édouard Glissant, Raphaël Confiant e Patrick Chamoiseau recusam fazer da literatura crioula um epígono da francesa. Em seu Éloge de la Créolité eles rejeitam o ”Parnasse suranné, symbolisme attardé, romantisme de seconde main”17 e se determinam a recuperar a tradição a partir de suas fouilles archéologiques,18 metáfora para a escavação atávica da memória e da identidade soterradas no palimpsesto antilhano. Nesse âmbito, a personagem do conteur torna-se um mito e representa, ao mesmo tempo, dupla função, a de dar voz ao grupo que escuta a narração de suas histórias orais, a compagnie-mésié-zé-dames,19 e, como já se disse, a de guardião das memórias. O escritor, que se constitui como seu herdeiro, não encontra, entretanto, a estabilidade característica do conteur, mas a duplicidade, tensões e contradições que não lhe garantem mais a expressão da totalidade da comunidade, nem a da palavra. Após Chronique des sept misères (1986), narrativa em que emergia um nous coletivo, as palavras das personagens se esfacelam. O narrador torna-se um je ou um nous ambíguo que, na falta de referentes fixos, se torna perplexo ante a complexidade das formações discursivas crioulas abundantes e abertas, e abre mão da enunciação única do conteur. A figura da compagnie é substituída pela do circo crioulo em Texaco (1992), onde se liberam ficções e o imaginário, revelando-se a poética do belo caótico, da reconstituição do belo caótico de Glissant, ou seja, a reconstituição dos universos caóticos em que se transformaram as sociedades contemporâneas, e uma ordem instável e imprevisível, em que o centro absorve as margens. Segundo Glissant, sua poética é a de que nada é mais belo que o caos - e não há nada de mais belo que o mundo caótico. O belo caótico de Glissant é o que evidencia a falência do projeto ocidental de construção do ser uno, indivisível e transparente, estandardizado como ideal e responsável pela imobilização e submissão das sociedades periféricas. Do caos Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 269 Gragoatá Arnaldo Rosa Vianna Neto universal, que soterrou a maior das pretensões ocidentais - essa generalização do ser -, engendra-se uma dinâmica construtora do ser em movimento contínuo, do ser sendo, emergindo da sensibilidade difratada das humanidades. Segundo Glissant, isso é o que existe de mais apaixonante no mundo atual, na poética do mundo atual, estar na situação-limite de reconstituição dos universos caóticos. A territorialização da identidade crioula referenda-se no mesmo campo de busca universal de realização da felicidade. A clivagem do sujeito crioulo determinada pelo conflito cultural manifesta-se forte em Manman Dlo contre la Fée Carabosse e em Chemin-d’École, historia-se em Chronique des sept misères e em Solibo Magnifique e é superada em Texaco. Na transcrição da crônica da comunidade de Texaco, escrita pela personagem MarieSophie Laborieux em cadernos, o escritor, que se define como marqueur de palavras, recolhe e transmite, em texto não linear, fragmentos de textos de Rabelais, Joyce, Faulkner, Glissant, entre muitos outros. Assim se configura o conceito de Crioulidade, que Chamoiseau metaforiza na identidade multilíngue, multirracial e multi-histórica de Texaco, definindo pátria como linguagem, como linguagens das línguas do mundo em dinâmica plural com todas as diversidades, caos onde o “imaginário invade o conceito”, nas palavras de Glissant, como um afastamento, um desvio (ou uma deriva) do logos ocidental. Na Biblioteca Schoelcher de Fort-de-France, onde se encontram (em um fingimento ficcional?) os cadernos de Marie-Sophie e as pastas do urbanista, pode-se ler, na de nº 17, Folha XXV (do urbanista ao marqueur de paroles) o seguinte: Au centre, une logique urbaine, occidentale, alignée, ordonnée, forte comme la langue française. De l’autre, le foisonnement ouvert de la langue créole dans la logique de Texaco. Mêlant ces deux langues, rêvant de toutes les langues, la ville créole parle en secret un langage neuf et ne craint plus Babel.20 (p. 243) “No centro, uma lógica urbana, ocidental, alinhada, ordenada, forte como a língua francesa. Na margem, a abundância aberta da língua crioula na lógica de Texaco. Misturando essas duas línguas, sonhando com todas as línguas, a cidade crioula fala em segredo uma linguagem nova e não teme mais Babel”. (Tradução de nossa autoria) 20 270 A inclusão da diferença, como projeto de uma poética do caos, da diversalidade, só se realizaria a partir da conquista de um lugar onde sua estrutura se tornasse visível. Entretanto, a modernidade e seus prolongamentos pós-modernos tendem a anular a diferença, apagando o lugar de sua produção e, portanto, de sua memória. A coleta e o registro dessa memória passam pela audiência atenta da palavra dos djobeurs (biscateiro) dos mercados da cidade de Fort-de-France, trabalho de campo do etnógrafo que justifica o marqueur familiarizado, incluído no espaço dos djobeurs para recolher cientificamente esse material e constatar a perda irrecuperável da alteridade cultural “ancorada” na oralidade. A visão etnográfica acrescenta um excesso à moda de Rabelais quando, morto Solibo Magnifique Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Poética do caos: a conquista de Babel (provavelmente por uma “égorgette de la parole” uma asfixia, ou sufocação) seu “auditório” (sua compagnie-mésié-zé-dames) representa em festa, em carnavalização, o desaparecimento do Mestre, substituindo o som da garganta privilegiada pela algazarra da praça. A integração de todos os espaços, urbanos e emocionais, tem lugar em Texaco, onde Marie-Sophie, estruturada sua identidade, se domicializa em local proibido, lugar de estocagem de uma companhia petrolífera americana. Sua casa é o centro da resistência do bairro de Texaco contra o projeto racional de urbanização proposto pelo arquiteto (“Le Christ”) que passa a ouvi-la e a respeitá-la como representante do bairro decidida a salvar Texaco da demolição e a erigir a Crioulidade em sua representação “diversal” como a espacialização ideal. A recusa do modelo codificado e racional do espaço urbano elege o espaço ordenado pela ocupação (des)ordenada do povo do En-ville (na periferia urbana). A deformação do conceito racional de espaço urbano pelo híbrido crioulo realiza a cidade ideal - “cet amas de fibrociment et de béton développait des vibrations bien nettes. Elles provenaient de loin, du concert de nos histoires”21 (1992, p. 423) - projeto da convivialidade erigida no Éloge de la Créolité (1989) como (ex)ótica transversal, estética produzida pelo marqueur: Nous là, en bordage de l’En-ville, comme en bordage des bitations d’antan. Mais là, rien à prendre, il faut traverser, non pas pour ressortir de l’autre côté, mais pour l’élancer à travers, et bien garder le cap. Quel cap? Quitter la boue, toucher l’Homme, vivre la Terre entière. Tu as toutes les souches au cœur.22 (1992, p. 321) (- Palavras do Mentô Totone (Mentor) registradas no Caderno no 27 de Marie-Sophie). “esta argamassa de concreto e betume desenvolvia vibrações bem claras. Elas provinham de longe, do concerto de nossas histórias”. (Tradução de nossa autoria) 22 “Nós ali, na periferia do En-Ville, rondando a cidade, como no entorno das bitações de antigamente. Mas ali, nada a construir, é preciso atravessar, não para tornar a sair do outro lado, mas para se lançar através, e guardar bem o cabo. Que cabo? Deixar a lama, tocar o Homem, viver a Terra inteira. Você tem todas as fontes no coração.” (Tradução de nossa autoria) 21 O encontro de Marie-Sophie com o Mentô, o “vieux-nègre de la doum”, realiza sua busca de afirmação fundada na inteligência do existencial crioulo estruturado pela palavra de Papa Totone, uma reduplicação do Papa-Zombi de Manman Dlo, memorial do imaginário afinal resgatado. A espetacularização dessa aprendizagem pela escrita torna visível o jogo da intertextualidade entre a escritura ocidental e a oralidade crioula, apagando pelo dialogismo os limites texto/margem e inscrevendo por transgressão a ficcionalidade dos excluídos. É da margem que se resgata Marie-Sophie, que passa da periferia ao centro, construindo-se em texto, na trama romanesca. A Chronique des sept misères e Solibo Magnifique não realizam a estrutura do romance ocidental, mas representam a narrativa-mosaico reprodutora da cultura-mosaico crioula, e realizam o descentramento da poética ocidental. Assim é que o Éloge de la Créolité faz da identidade uma questão a ser vivida intensamente. Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 271 Gragoatá Arnaldo Rosa Vianna Neto Abstract From the conflict between the western and creole logic, debates about the French language use, arise from French spoken countries writers. Patrick Chamoiseu discusses the theme in his work, where the poetic word appears as a “place” outside time and space, in which all the French languages are together. Keywords: creolity; identity; writing; orality. Referências APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. BERNABÉ, Jean. Contribution à une approche glottocritique de l’espace antillais. In: La lingüistique, vol. 18, asc. 1, 1982. BERNABÉ, Jean, CHAMOISEAU, Patrick, CONFIANT, Raphaël. Éloge de la créolité. Paris: Gallimard, 1989. CHAMOISEAU, Patrick et CONFIANT, Raphaël. Lettres Créoles, tracées antillaises et continentales de la littérature. Martinique, Guyane, Guadeloupe, Haïti, 1635-1975. Paris: Hatier, 1991. CHAMOISEAU, Patrick. Écrire en pays dominé. Paris: Gallimard, 1997. ______. Chemin-d’école. Paris: Gallimard, 1994. ______. Texaco. Paris: Gallimard, 1992. ______. Solibo Magnifique. Paris: Gallimard, 1989. ______. Chronique des Sept Misères. (Suivi de Paroles de Djobeurs, Chutes et Notes et Préface de Édouard Glissant). Paris: Gallimard, 1986. FRANÇA VIANNA, Magdala. Crioulização e Crioulidade. In: FIGUEIREDO, Eurídice (Org). Conceitos de Literatura e Cultura. Niterói RJ/Juiz de Fora MG: EdUFF/UFJF, 2005. GLISSANT, Édouard. Introduction à une poétique du divers. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1995. ______. Poétique de la relation. Paris: Seuil, 1990. ______. Le discours antillais. Paris: Seuil, 1981. ______. Le Chaos-Monde, l’oral et l’écrit. In: LUDWIG, Ralph, POULLET, Hector, TELCHID, Sylviane. Écrire la parole de nuit. La nouvelle littérature antillaise. Paris: Gallimard, 1994. (Folio Essais, 239). 272 Niterói, n. 31, p. 259-272, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 Margareth dos Santos Recebido em 20/06/2011 – Aprovado em 10/09/2011 Resumo 1 Ese artículo se configura como uno de los resultados parciales de un proyecto de investigación titulado A geração de 50 na Espanha e a poesia como o espaço da consciência, que tiene como objetivo principal delinear y examinar los perfiles de las propuestas poéticas de la generación de 1950 en España, tanto para definir recurrencias y diferencias que se pueden averiguar en las obras de los poetas que la integran, como para evaluar los cambios de tono y rumbo que esas propuestas imprimieron en la poesía española contemporánea. Gragoatá O artigo discute as relações entre a poesia de Jaime Gil de Biedma, poeta espanhol que pertence à denominada Geração de 1950 e a configuração do êxodo e do desterro dos espanhóis republicanos em 1939. Para empreender a discussão, o texto se centra no poema “Piazza del Poppolo” e busca compreender a produção de poemas sociais de Gil de Biedma sob uma ótica que não se limita a percebê-los pela via do panfletário ou do poema político ruim, mas como uma escritura que transcende um projeto estético-político para estabelecer-se, fundamentalmente, como uma proposta solidária e estética, que vai além das proposições teóricas e partidárias e que instaura uma nova visão do que seria um poema vinculado a um programa social: um poema capaz de articular arte e compromisso sem perder-se no mar de verbos panfletários, capaz de conjugar testemunho, solidariedade e estética. Palavras-chave: Jaime Gil de Biedma; desterro espanhol de 1939; poesia; exílio. Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Gragoatá Esos comentarios se encuentran en el ensayo de Gil de Biedma sobre T.S.Eliot: “Función de la poesía y función de la crítica, por T.S.Eliot” in GIL DE BIEDMA, Jaime. El pie de la letra. Barcelona: Editorial Crítica, 1980, p. 17-31. 3 La división de Las personas del verbo, en su edición definitiva, se configura con la siguiente organización: en el primer bloque, intitulado “Ayer”, la voz poética entremezcla la historia acumulada de sus amistades con las percepciones del “yo” lírico, que se alternan entre el pasado y el presente de Barcelona. El segundo bloque, “Por vivir aquí”, se estructura como una especie de educación sentimental, en la cual se destaca una poesía centrada en el verbo cotidiano y familiar. Y el tercero, “La historia para todos” está dedicado, en su mayoría, a una poesía explícitamente social, en la cual se entrelazan la experiencia individual y la colectiva. 4 Utilizo la denominación de poesía social de acuerdo con la obra de Leopoldo De Luis, Poesía social española contemporánea. Antología (19391968). Madrid: Biblioteca Nueva, 2000. Para más informaciones, ver volumen. 5 Los poetas citados forman parte de lo que se convenció llamar, en la historia de la literatura española, la generación de poetas de 1950. 6 Figura emblemática en la vida cultural española, la filósofa María Zambrano estuvo del lado de los republicanos durante la guerra civil española y, como muchos, al término del conflicto, partió para un largo exilio que duraría 45 años, durante los cuales estuvo primero en México y después en Italia. Autora de importantes obras como Poesía y vida española, El dolor español, trabajó incansablemente en el combate al régimen franquista, en la difusión y discusión del pensamiento español en el mundo. 2 274 Margareth dos Santos Al hablar de su manera de componer poesía, Jaime Gil de Biedma ha repetido que su principal preocupación se centraba en la capacidad de unir la expresión sorprendente con un tono conversacional. Él creía que, al unificar esos dos principios, conseguiría encontrar una nueva forma de exprimir algo que uno ha sentido muchas veces, pero no sabía como hacerlo de manera novedosa.2 El elemento central de esa visión estaba en la constitución de la voz del poema, y en el poemario de Jaime Gil ésta siempre se ha constituido, fundamentalmente, por la voz de un tipo ya adulto, propenso al alcohol y al tabaco, y que comparte sus inquietudes éticas, estéticas y amorosas con el lector. En ese panorama, en ningún momento, el poeta ha aludido en sus comentarios a la estrategia de concederle la voz al otro en sus versos. Sin embargo, esa es la disposición que se vislumbra en su poema “Piazza del Popolo”. Intrigados por ese carácter único del poema, ese artículo se propone a discutir el itinerario de esa configuración y sus desdoblamientos en la obra del poeta barcelonés. Sin duda, el enlace de la poesía de Gil de Biedma con el deber, casi cívico, de inquirir y exponer estéticamente el momento del éxodo republicano español de 1939 y sus consecuencias en el exilio se constituye como elemento nuclear de nuestra discusión. “Piazza del Popolo” forma parte del libro titulado Las personas del verbo. En esa obra, dividida en tres bloques que se relacionan estrechamente, “Piazza” se ubica en el bloque denominado “La historia para todos”3 que trata, predominantemente, de temas sociales. Durante los primeros años de la década de los 50, que se convino llamar como su etapa de poesía social,4 el poeta catalán se mostró solidario con la causa social y dedicó su palabra a la denuncia del ambiente dictatorial de los años cincuenta y sesenta en España. Durante ese período, otros poetas y amigos de Jaime Gil, como José Agustín Goytisolo, Ángel González y, en menor medida, Carlos Barral5 imprimieron a la palabra poética ese carácter solidario y humano. Bajo la égida social, Gil de Biedma se dedicó a “Piazza del Popolo” durante varios meses del año de 1956. Aunque esa dedicación y su resultado final hayan sido reconocidos por la crítica, tanto “Piazza” como otros poemas denominados “sociales” recibieron poca atención de los estudiosos del poeta. Ese núcleo de versos ha sido considerado el menos brillante en el conjunto de la obra del poeta barcelonés, además, se ha criticado el alcance de tono y de expresión en su composición. No obstante, es innegable que “Piazza” se destaca en dicho conjunto y creemos que la elección de la voz en el poema es decisiva para esa elaboración relevante. La opción de Jaime Gil de poner sus versos en la voz de la filósofa María Zambrano6 es significativa si observamos que el libro en que el poeta catalán Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 reúne toda su obra, Las personas del verbo, se traduce como un libro de un personaje central único y la excepción es “Piazza del Popolo”, tal carácter nos impulsa a pensar el poema en su texto y contexto, a reconstruir la trayectoria de su composición para comprenderla. Una de las primeras cuestiones que se presenta en la lectura de “Piazza del Popolo” es la constatación de que se trata de un poema en que, por un lado, se establece una fuerte relación entre la voz del desterrado y su condición de exiliado y, por otro, se asigna el rol del oyente-poeta. En la elaboración del juego entre el sujeto que habla y el que escucha se compone a través de la tarea persecutoria de Jaime Gil de Biedma por un tono que le complazca. Notamos que a lo largo del poema, el tono se va conformando a partir de la representación de la situación trasmitida por el poema y por el modo como se reconstruyen los momentos vividos en el texto, cuya narración se remonta al período de la Guerra Civil Española, a la derrota republicana y al éxodo español, al final de la contienda. El principio de esa tarea persecutoria, es decir, la gestación del poema, se ubica en la primavera de 1956 y en circunstancias curiosas: al volver de su primer viaje a Manila, por cuenta de negocios de familia, Jaime Gil se detiene dos días en Roma. En esa ocasión, su amigo Diego de Mesa lo invita a pasar por la casa de María Zambrano y de allí se encaminan hacia una trattoria para cenar. Durante la cena, la filósofa narra un episodio ocurrido frente a su casa: un mitin que había reunido a centenares de personas y durante el cual, en determinado momento, los participantes empezaron a cantar la Internacional. El modo como María Zambrano relata lo ocurrido conmueve de tal manera al poeta catalán que éste, al despedirse de sus amigos, se dirige a otra plaza y escribe, de un tirón, veinte versos del poema. Posteriormente, Gil de Biedma registraría ese episodio en su diario: Cena de despedida con María Zambrano en una trattoria cerca de su casa, anoche. Habló de nuestra guerra, del éxodo final, de su emoción al escuchar el otro día la Internacional cantada por una multitud en la Piazza del Popolo, con tal viveza, con tanta intensidad que me sentí dignificado, exaltado a una altura significativa, purificado de todo deseo trivial. Cuando la dejé, fui a sentarme en la terraza de Rossatti y escribí veinte versos, el monstruo de un poema que me gustaría escribir, contando lo que ella me contó. No logré dar con el tono. Anduve luego durante más de una hora. Y eso ha sido lo mejor de Roma (GIL DE BIEDMA, 1991, p. 122). Se nota que la vivacidad de la filósofa impacta al poeta y él opta por escribir el poema en discurso indirecto, contándonos lo que María Zambrano había narrado. Sin embargo, no da con el tono. Tenaz, Jaime Gil de Biedma volverá al poema innúmeras Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 275 Gragoatá Margareth dos Santos veces, en búsqueda de un tono capaz de configurar la emoción del momento narrado. Ese encuentro y la impresión del momento vivido también quedarán grabados en la memoria de María Zambrano que, en 1990, recordará la cita con el poeta barcelonés en una entrevista concedida al Diario 16: La Piazza del Popolo, ya mayorcita, pero viviendo mi hermana, apareció Diego de Mesa con alguien más: era Jaime Gil de Biedma, que venía desde la provincia de Segovia de un pueblo, Navas de la Asunción. (...) Me encantaba su amor al «nosotros», la falta de soledad al salir a la plaza y luego se empeñó Jaime Gil de Biedma que el poema «Piazza del Popolo» era mío porque lo había escrito él bajo mi influencia (ZAMBRANO, 1990, p. 6) Si por un lado María Zambrano se fija en el impulso solidario de Jaime Gil, lo que ella denomina “amor al nosotros”, por otro se sorprende por el efecto que su narración causa en el poeta catalán. Embriagado por el efecto de esa emoción “narrativa” e imbuido de un sentimiento de dignidad, Gil de Biedma escribe el poema. Se trata, entonces, de un poema concebido, en su primer momento, al calor de sensaciones, bajo la exaltación de las experiencias de un pasado no tan lejano, el de la guerra, y otro más próximo, el de la narración del mitin. Al indagar sobre esas emociones, el poeta compone sus versos partiendo de un efecto sensorial: la voz y la imagen de quien nos cuenta algo. Esa persona evoca, desde el pasado, las acciones que se desarrollan en el texto. Estructurado con un fuerte carácter narrativo y sensorial, “Piazza del Popolo” nos presenta una percepción de una realidad inmediata a partir del rescate del pasado. Configurado por el impacto del relato de la filósofa y por la conmoción de lo oído y de lo vivido, el poema permite que Jaime Gil componga versos en que relaciona su experiencia concreta con la realidad histórica de una generación. Unidos, ambos sentimientos — el del poeta y el de la filósofa — se disponen en una dialéctica entre la experiencia personal y la historia. Guiados por esos sentimientos y por el deseo de recrear el instante vivido, pasamos al poema escrito por Jaime Gil de Biedma (Gil de Biedma, 1988, p. 76-78): Piazza del Popolo (Habla María Zambrano) Fue una noche como ésta Estaba el balcón abierto igual que hoy está, de par en par. Me llegaba el denso olor del río cercano en la oscuridad. Silencio. Silencio de multitud, impresionante silencio 276 Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 alrededor de una voz que hablaba: presentimiento religioso era el futuro. Aquí en la Plaza del Pueblo se oía latir —y yo, junto a ese balcón abierto, era también un latido escuchando. Del silencio, por encima de la plaza, creció de repente un trueno de voces juntas. Cantaban. Y yo cantaba con ellos. Oh sí, cantábamos todos otra vez, qué movimiento qué revolución de soles en el alma! Sonrieron rostros de muertos amigos saludándome a lo lejos borrosos —pero qué jóvenes, qué jóvenes sois los muertos!— y una entera muchedumbre me prorrumpió desde dentro toda en pie. Bajo la luz de un cielo puro y colérico era la misma canción en las plazas de otro pueblo, era la misma esperanza, el mismo latido inmenso de un solo ensordecedor corazón a voz en cuello. Sí, reconozco esas voces cómo cantaban. Me acuerdo. Aquí en el fondo del alma absorto, sobre lo trémulo de la memoria desnuda, todo se está repitiendo. Y vienen luego las noches interminables, el éxodo por la derrota adelante, hostigados, bajo el cielo que ansiosamente los ojos interrogan. Y de nuevo alguien herido, que ya le conozco en el acento, alguien herido pregunta, alguien herido pregunta en la oscuridad. Silencio. A cada instante que irrumpe palpitante, como un eco más interior, otro instante responde agónico. Cierro los ojos, pero los ojos del alma siguen abiertos hasta el dolor. Y me tapo Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 277 Gragoatá Margareth dos Santos los oídos y no puedo dejar de oír estas voces que me cantan aquí dentro. 7 Juan Ramón Jiménez, en su obra Política poética, diserta sobre el romance en el capítulo “El Romance, río de la lengua española”. En su texto, el poeta andaluz explicita al lector la presencia perenne del romance a lo largo de la literatura española: “El Romance (el poema español escrito en verso octosílabo, una acepción de la voz Romance) he dicho siempre que es el pie métrico sobre el que camina toda la lengua española, prosa o verso, que es lo mismo en cuanto a lengua, ya que el verso sólo se diferencia de la prosa en la rima asonante o consonante, no en el ritmo, y si no —lo repito siempre también—, que lo diga un ciego” 8 Dario Puccini, en su obra Romancero de la resistencia española, esclarece el uso de esa forma poética durante la guerra: “El término romancero, primeramente usado para designar el inmenso patrimonio de romances españoles que se remontan al siglo XIV, fue adoptado en nuestro siglo, con plena conciencia y legitimidad, por escritores como Rafael Alberti y Emilio Prados, al frente de ese corpus homogéneo de composiciones de carácter popular, a veces incluso anónima, que se escribieron en el ardor de la batalla o que, en todo caso, se inspiraron directamente en acontecimientos de la Guerra Civil Española que ensangrentó literalmente la península en los años, ya casi fabulosos, de 1936 a 1939, en la inmediata víspera del segundo conflicto mundial. El título de romancero, puesto a las primeras recopilaciones poéticas de aquella guerra, entroncaba precisamente (…) con la tradición épica no interrumpida ni agotada nunca”. 278 Se observa que antes del inicio de sus versos el autor fija de antemano la voz del poema: “Habla María Zambrano”. La indicación de esta voz funciona casi como una acotación teatral, lo que le confiere al poema un carácter dramático y a la vez nos anticipa la posición de sus personajes. Situado en ese marco, “Piazza” se edifica a través de voces que dibujan “visiones”, yuxtaponiendo pasados para constituir distintos movimientos en el poema, como si éste estuviera pensado para ser cantado o recitado en voz alta. El primer movimiento nos sitúa en el espacio y en el tiempo de la narración, reconstruida a través del recuerdo intenso de sensaciones, de fragmentos recuperados de la experiencia vivida. La voz ficcionalizada de María Zambrano nos ubica en el locus de la acción poética: la “Piazza del Popolo”, en Roma, en una noche como la del “presente” de la narración, que el poema recupera. Todo parece igual al momento referido, el piso con las puertas del balcón abiertas de par en par a la plaza se une al río, inmerso en la oscuridad nocturna. Guiados por una sinestesia — el denso olor del río — los recuerdos de María Zambrano empiezan a remontarse. Todo se inicia con una antítesis: el silencio de la multitud. En aquella noche del mitin descrito, todos están mudos, escuchando al orador. A ese primer movimiento del poema, que asienta la narración en el tiempo y en el espacio, se une el aspecto moral de la situación: la voz, oída en silencio, suscita un sentimiento de fe en el futuro, de esperanza tan viva que sólo se oyen los latidos de los corazones. De aquel silencio ensordecedor irrumpen voces, que al unísono, empiezan a cantar la Internacional. Del silencio, por encima de la plaza, creció de repente un trueno de voces juntas. Cantaban. Y yo cantaba con ellos (GIL DE BIEDMA, 1998, p. 76). El contraste de posiciones, evidenciado por la presencia de los pronombres sujeto “yo” y “ellos”, es significativo, pues plantea, a la vez, una cisión y una transición: en un primer momento hay un “ellos” cantando, a continuación, se presenta un “yo” que se desplaza de su papel de espectador para entonar la canción y se funde con un “nosotros”. En el instante en que esas voces empiezan a sonar, cobra sentido y amplitud el aspecto formal del poema: la opción por escribirlo en forma de romance. Estructura métrica que recorre toda la literatura española7 en sus distintos momentos, el romance también ha sido utilizado durante la guerra civil española,8 convirtiéndose en la forma poética Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 por antonomasia para relatar la cotidianeidad de la guerra, sus embates, sus dolores, alegrías y tristezas. Utilizada en “Piazza”, la forma romance confiere límite y ritmo al poema, modula su expresión en los versos y le concede una musicalidad que parece mimetizar el canto entonado por la multitud en la plaza, reviviendo, a través de las voces y de la alternancia de tiempos verbales, los sucesos narrados. El compás se mueve por la combinación del ritmo de la frase y del verso. Al minimizar el uso de las rimas, el poeta manifiesta el fuerte carácter narrativo9 del poema. Sometidos a una rigurosa construcción formal, los acontecimientos del pasado se manifiestan en una visión introspectiva, y ésta, modelada por la unión de imágenes sorprendentes, entrelaza conceptos inusitados: la “revolución de soles”, que rescata la sonrisa y el rostro de los muertos en la guerra. Jóvenes, esos muertos saludan a María Zambrano y en un impulso introspectivo, desde el pecho de la filósofa sobreviene una multitud, que bajo un cielo puro y colérico (otra imagen sorprendente)10 nos transporta a otra plaza del pueblo. Ya no estamos en Roma, sino en algún lugar de España, donde hay otra plaza del pueblo; ya no estamos en el pasado inicialmente narrado, sino en algún momento de la guerra civil española. Según María Teresa Barbadillo, respecto a su composición, el romance puede ser narrativo, organizarse como un diálogo, o alternar ambas formas. En todos los casos, está marcado por el dinamismo y por el sentido dramático, con la intención de impresionar a los oyentes. A través de la alternancia de t iempos y modos verbales, el poeta cambiaba el punto de vista del relato, con el fin de conseguir una mayor vivacidad. 10 Juan José Lanz también comenta el uso de imágenes sorprendentes en el poema, pero de una manera muy diversa a la que hacemos aquí, pues las vincula al Surrealismo. LANZ, Juan José. “Por los caminos de la irrealidad. Notas sobre irrealismo e irracionalidad en la poesía de Jaime Gil de Biedma” in Ínsula, números 523-524. Madrid, Julio-Agosto, 1990, pp. 48-52. 9 y una entera muchedumbre me prorrumpió desde dentro toda en pie. Bajo la luz de un cielo puro y colérico era la misma canción en las plazas de otro pueblo, era la misma esperanza, el mismo latido inmenso de un solo ensordecedor corazón a voz en cuello (GIL DE BIEDMA, 1998, p. 77). De manera muy sutil, el flujo del poema nos conduce a una yuxtaposición de pasados: es el pasado del momento de la narración, es el instante del mitin y, por fin, el momento en que suena el canto en otra plaza del pueblo, durante la guerra civil española. Esa superposición sólo se revela en su totalidad en el verso cuarenta, en la frase “Me acuerdo”. Mientras no llegamos a ese verso solamente nos damos cuenta de la similitud de la canción, de la plaza y de la esperanza evocada. A ese canto y a esa esperanza se le suma el tercer movimiento del poema: expresar el momento éxodo español. Terminada la guerra, fatigados bajo el cielo de la derrota, ojos ansiosos interrogan. La imprecación angustiosa y el tanteo conforman el momento de la incomprensión a través de la repetición del verso: “alguien herido pregunta, alguien herido pregunta”. Al repetir el gesto de modo patético, el verso alcanza la contundencia y la intimidad del instante. Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 279 Gragoatá Margareth dos Santos El lector se ve inmerso en la oscuridad del silencio, no hay respuesta posible. Solo el eco agónico resuena en el pecho de la filósofa, que en un acto desesperado intenta liberarse de aquellas voces. Imposible, pues ellas ya no vienen de fuera, están impregnadas en su ser. Esas voces nunca dejarán de sonar, de manifestar el dolor de la derrota y de la esperanza frustrada. Cierro los ojos, pero los ojos del alma siguen abiertos hasta el dolor. Y me tapo los oídos y no puedo dejar de oír estas voces que me cantan aquí dentro (GIL DE BIEDMA, 1998, p. 78) Todos esos pasados, todas esas voces, esos ojos interrogantes se conjugan para convertir “Piazza del Popolo” en un monólogo dramático, en el cual el personaje ficcionalizado de María Zambrano se encuentra en una posición política que podríamos denominar de izquierdas, cuya legitimidad se manifiesta a lo largo del poema. En el contexto de la narración de los versos, el personaje ficcionalizado de Gil de Biedma se pone a su lado, en un acto de identificación ideológica y de admiración intelectual. Esa identificación ideológica e intelectual, delineada a lo largo de la narración de María Zambrano, nos indica que el poema alcanza mucho más que la recuperación de una experiencia personal, pues en él se tocan lo público y lo privado, lo histórico y lo personal. La experiencia íntima se encuentra mezclada con la experiencia de una generación, con un momento histórico terriblemente doloroso. Combinadas, ausencia y presencia se funden y transforman en símbolo todo el dolor y el sufrimiento que la canción recobra. No hay filtro irónico aquí, pues los versos representan un intento del oyente por comprender lo que ocurrió en los pasados rescatados: el de la plaza, el de la guerra y el del éxodo. Bajo el signo de la simultaneidad temporal y espacial, el poema recupera y reflexiona sobre esos distintos pasados. Memoria e imaginación se entrelazan en la estructura del texto: los sucesivos cambios temporales se disponen en las evocaciones encadenadas a partir de los recuerdos de la filósofa y se desarrollan a través de la labor de Gil de Biedma. Los versos, en su dinámica de retrospección e introspección, se erigen a partir de esa doble temporalidad, que va delineando cuadros vivos, las escenas vividas y “revividas” se transforman en paisajes simbólicos, restaurados por la memoria de María Zambrano y articulados en la composición del poema. Memoria, dolor, ética e historia se unen para rescatar el pasado a partir de la voz del desterrado y convierten las sensa280 Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 ciones de ese tiempo en reales otra vez, en un acto de rememoración de los referidos sucesos. El acto de rememorar se conforma en “Piazza” como la acción de rescatar el pasado para comprender o incluso modificar el presente:11 (...)Puesto que un acontecimiento vivido es finito, al menos está incluido en la esfera de la vivencia, y el acontecimiento recordado carece de barreras, ya que es sólo clave para todo lo que vino antes que él y tras él (BENJAMIN, 1980, p. 123). Lo que se plantea, entonces, no es un registro memorialístico, sino un movimiento de búsqueda por semejanzas entre el pasado y el presente. En esa jornada, Proust surge como el gran ejemplo. Para Walter Benjamin, el escritor francés supo revelar la profunda semejanza entre pasado y presente y, al visualizarla, pudo mostrarnos que nuestro presente ya estaría prefigurado en nuestro pasado. De esa forma, el acto de rememorar se traduce como una posibilidad de comprender y actuar sobre el presente, como afirma la profesora Jeanne Marie Gagnebin: (...) implica uma certa ascese da atividade historiadora que, em vez de repetir aquilo de que se lembra, abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito nem à lembrança nem às palavras. A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si, visa à transformação do presente (GAGNEBIN, 2009, p. 57). BENJAMIN, Walter. “Imagen de Proust” in Imaginación y sociedad: iluminaciones I. Madrid: Taurus, 1980, p. 118-132. 11 A esa concepción de fidelidad al pasado se une la idea de Jaime Gil de Biedma sobre el tema de la guerra: según el poeta barcelonés, su poesía nunca trató de la guerra, sino sobre la experiencia del conflicto y eso se refleja en la fidelidad al pasado narrado en “Piazza del Popolo”. El poema es un ejemplo de tal afirmación, pues se constituye como un ejercicio de rememoración que se concreta cuando, en sus versos, Gil de Biedma le concede la voz a María Zambrano y dispone su poema en forma de romance. A partir de esas elecciones formales, el poeta articula un sutil y delicado ejercicio de rememoración de momentos históricos y experiencias personales y colectivas. Ese ejercicio retórico conjuga dos experiencias en el poema: la del oyente que se siente dignificado al final del relato de la filósofa, y la experiencia de la desterrada que, pese el dolor, no deja de acordarse y de actuar para que no se olviden los nombres de los que sufrieron o murieron durante la guerra civil española. El canto nunca dejará de sonar, pues está impregnado en su pecho, en su mente, en su memoria, persistiendo como Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 281 Gragoatá Margareth dos Santos un eco. Así, el poema contribuye para la elaboración de una identidad poética pautada por la ética unida al placer estético, estrategias cultivadas por Gil de Biedma en las páginas de Compañeros de viaje. Al evidenciar esa identidad ética y estética, el poema ofrece otra versión de lo que sería la poesía social, una poesía más íntima, menos panfletaria, sin estridencia y que busca la intimidad del escritor y de los que están a su alrededor. El personaje de Jaime Gil de Biedma, al ponerse al lado del personaje de María Zambrano, se transforma en un testigo, pero no un testigo ocular de los hechos, sino aquél que se detiene a oír al desterrado, que no se va, que no ignora el sufrimiento, y lo hace a partir del deseo de comprensión y por la admiración que siente por la figura de la filósofa. Como lo define la Prof. Gagnebin: (...) testemunha não seria somente aquele que viu com seus próprios olhos, o “histor” de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história do outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente a retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente (GAGNEBIN, 2009, p. 57). Al concebir el poema en la voz de María Zambrano, el poeta no confía sólo a la memoria individual la responsabilidad de disponer las escenas, pues el pasado, rescatado por la memoria puede revelarse disforme y equivocado, sin embargo, al darle la voz al otro, se busca su memoria, su seguridad al relatar lo que pasó. A través de la memoria del desterrado, modulada por la composición de Gil de Biedma, el poema se articula como un testimonio directo de la experiencia personal de la generación de su autor. Los versos parten de una experiencia concreta, pero, al final, se configuran como alegoría de una situación más amplia: la situación socio-política española.12 Gil de Biedma, al elaborar poéticamente el testimonio directo de una experiencia personal, captura la legitimidad de lo narrado a través de la voz del desterrado. Esa unión significativa entre historia y vivencia se refleja en la relación del poeta con sus versos: Gimferrer comenta esa idea de experiencia en los poemas de Jaime Gil en su texto “La poesía de Jaime Gil de Biedma” in Ínsula, números 523-524. Madrid, Julio-Agosto, 1990, p. 54. 12 282 Escribir un poema es aspirar a la formulación de una relación significativa entre un hombre concreto y el mundo en que vive. En principio, la poesía me parece una tentativa, entre otras muchas, por hacer nuestra vida un poco más inteligible, un poco más humana. Para mí, el poema empieza en una composición de lugar y acaba en una síntesis: la invención de esa relación significativa. (…) mis versos no aspiran a ser la expresión incondicionada Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 de una subjetividad, sino a expresar la relación en que ésta se encuentra con respecto al mundo de la experiencia común (DE LUIS, 2000, p. 451). La experiencia rememorada en “Piazza” busca una síntesis entre el momento y la expresión y en esa búsqueda aquí emprendida, se aleja del tono irónico de otros poemas de Jaime Gil de Biedma para revestirse, explícitamente, de la “sordina romántica” que el poeta barcelonés siempre ha admitido como rasgo en toda su obra. Reverente y esperanzado, el poema corporifica un sentimiento de dignidad, de admiración y conciencia histórica, que además evidencia el deber de ofrecer algunas palabras a toda una generación destrozada por una guerra terrible. Estamos frente a una palabra poética que congrega a todos a la solidaridad con los que cantan. Sin embargo, esa acción solidaria y la intensidad del sentimiento transmitido no excluyen la precisión del lenguaje del poeta catalán, no debilitan la elaboración esmerada, cuyo rigor se puede rastrear en las declaraciones anotadas en su diario: Terminé la primera parte de “Piazza del Popolo”. Intento seguir hoy, sin éxito. Anteayer andaba ya corto de resuello y ayer tuve que hacer un esfuerzo para dar con los seis versos que faltaban y que ahora, releyendo, me han parecido los mejores. Vuelvo a Piazza del Popolo. Después de romper mucho, escribo catorce versos para el principio de la segunda parte. Luego, harto, los agrego a la primera y remato el poema de un bajonazo. Creo que se puede mejorar bastante, pero no ahora (GIL DE BIEDMA, 1974, p. 93-94). Tanto vaivén en la composición de “Piazza del Popolo” parece señalar el deseo de Gil de Biedma por concretar un antiguo sueño: el de realizar un poema que funcionara como una música, que tuviera sentido si se dijera en voz alta, y cuya modulación se diera por el énfasis de la voz de aquel que lee. Creemos que el poema comentado se aproxima a ese deseo, pues se estructura a través de la articulación conformada por la voz del que narra y el trabajo formal de aquél que escribe, se trata de un poema pensado para ser leído de acuerdo con los énfasis imaginados por el autor. Esa modulación expresiva se manifiesta en “Piazza” a través de sus encabalgamientos, en las palabras elegidas con precisión, en la búsqueda por el énfasis exacto, dispuesto como una doble partitura, conformada por la escritura y por la lectura. Quisiera que fuese un experimento. Imagino un poema que sólo sea leído en voz alta, un poema tan distinto del poema impreso, leído mentalmente, como un concierto de su partitura. El énfasis de la voz que habla crearía el ritmo y haría inteligible el amontonamiento de palabras, que puesto en la página, me gustaría que resultase completamente informe, arrítmico, gramaticalmente caótico. Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 283 Gragoatá Margareth dos Santos Ese es el sueño. Lo que llevo escrito conserva demasiado, en la lectura mental, su carácter de poema. Y por más que intente fiarme al énfasis de la voz hablada, no consigo librarme de los ritmos tradicionales; lo único que hago es fragmentarlos. Pero aspirar a lo imposible está muy bien: soñar con un poema que sólo exista en la voz de quien lo dice (GIL DE BIEDMA, 1974, p. 40-41). El experimento de “Piazza” se aleja del aspecto informe o caótico soñado por Jaime Gil, pero se aproxima al énfasis de voces deseado, que el poema en cuestión imprime en su ritmo; a ese ritmo se añade el trabajo de la memoria, que se traduce formalmente, en “Piazza”, por la acumulación y yuxtaposición de voces, de hechos y de tiempos. El poeta, en su proceso de elaboración, va seleccionando episodios de esa serie de recuerdos de María Zambrano que, reorganizados, se transforman en visiones ejemplares, como las del mitin, de la guerra y del éxodo. Esos recuerdos funcionan como “estampas” que el poeta va “pinzando” y exponiendo a lo largo del poema a través de una impresionante acuidad sensorial, debidamente explicitada por Pere Gimferrer: El habla poética de Gil de Biedma es resultado de un medidísimo cálculo de fuerzas interiores. Los aspectos más visibles de este cálculo —que, por otra parte, pueden airear beneficiosamente nuestro fosilizado lenguaje poético—: innovaciones rítmicas, ensayos de invención de estrofas, revalorización de metros en desuso, constante recurso al pastiche, etc., apenas tienen importancia al lado de lo que para mí caracteriza realmente al poeta: la acuidad de las sensaciones, casi proustiana, aunque utilizada con muy distinto fin (Gimferrer, 1990, p. 54). Tiempo y espacio se articulan en contigüidad y continuidad: se inicia la narración en un momento y lugar determinados (una noche, en la plaza romana del pueblo) para, a continuación, saltar a un tiempo pretérito, el de la guerra y, posteriormente, a otro momento, aún pretérito, posterior a la guerra, en que los exiliados, inmersos en el dolor y en la derrota, marchan bajo un cielo puro y colérico. El poema se convierte en un collage de imágenes que desfilan frente a los ojos del lector, acumulándose, yuxtaponiéndose para conformar un cuadro capaz de aprehender, simultáneamente, pasado y presente, dolor e historia al ritmo de la voz del desterrado. Al examinar tantas imágenes, mecidas por voces sofocadas, uno puede, por fin, percibir los poemas sociales de Gil de Biedma bajo otra óptica, no solo por la vía de lo panfletario o del mal poema político. Se puede valorarlo no sólo como un proyecto estético-político, sino, fundamentalmente, como una propuesta solidaria y estética, que va más allá de las proposiciones teóricas y partidarias y que instaura una nueva visión de lo que sería un poema vinculado a un programa social: un poema capaz de 284 Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Piazza del Popolo o el tono del desterrado1 articular arte y compromiso sin perderse en el mar de verbos panfletarios, capaz de conjugar testimonio, solidaridad y estética y modularlos a través del tono del desterrado. Abstract The article discusses the relationship between the poetry of Jaime Gil de Biedma, Spanish poet who belongs to the so-called Generation 50 and the configuration of the exodus and the exile of the Spanish Republicans in 1939. To launch the discussion, the text focuses on the poem “Piazza del Popolo” and seeks to understand the production of social poems of Gil de Biedma under an optical not limit itself to the path of bad propagandistic or political poem, but as a deed that goes beyond aesthetic-political project to establish themselves, mainly as a joint proposal and aesthetic that goes beyond the theoretical propositions and party, and establishes a new vision of what a poem would be linked to a social program: able to articulate a poem art and compromise without getting lost in the sea of verbs pamphlet, capable of combining evidence, solidarity, and aesthetics. Keywords: Jaime Gil de Biedma; spanish exodus of 1939; poetry; exile. Referencias ALONSO, Dámaso & BLECUA, José Manuel. Antología de poesía española. Lírica de tipo tradicional. Madrid: Gredos, 1992. BARBADILLO, Maria Teresa. Romancero y lírica tradicional. Barcelona: Debolsillo, 2002. BENJAMIN, Walter. “Imagen de Proust” in Imaginación y sociedad: iluminaciones I. Madrid: Taurus, 1980, pp. 118-132. CAÑAS, Dionísio. “La poesía de la ciudad en Jaime Gil de Biedma”. Ínsula, números 523-524. Madrid, Julio-Agosto, 1990, pp. 47-48. DE LUIS, Leopoldo. “Jaime Gil de Biedma. Poética” in Poesía social española contemporánea. Antología (1939-1968). Madrid: Biblioteca Nueva, 2000, pp. 451-452. FERRATÉ, Juan. “Dos poetas en su mundo” in Dinámica de la poesía. Barcelona: Seix Barral, 1982, pp.359-378. GANEGBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2009. GIL DE BIEDMA, Jaime. Las personas del verbo. Barcelona: Lumen, 1998. ______. Diario del artista seriamente enfermo. Barcelona: Lumen, 1974. Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 285 Gragoatá Margareth dos Santos GIMFERRER, Pere. “La poesía de Jaime Gil de Biedma”. Ínsula, números 523-524. Madrid, Julio-Agosto, 1990, pp. 54-55. JIMÉNEZ, Juan Ramón. “El Romance, río de la lengua española”. Política poética. Madrid: Alianza editorial, 1982, pp.249-293. LANZ, Juan José. “Por los caminos de la irrealidad. Notas sobre irrealismo e irracionalidad en la poesía de Jaime Gil de Biedma”. Ínsula, números 523-524. Madrid, Julio-Agosto, 1990, pp. 48-52. PUCCINI, Dario. Romancero de la resistencia española. Barcelona: Ediciones Península, 1982. ROVIRA, Pere. La poesía de Jaime Gil de Biedma. Granada: Edicions del Mall, 2005. ZAMBRANO, María. “Jaime en Roma”. Diario 16, 21 de abril de 1990, Culturas, nº 253. 286 Niterói, n. 31, p. 273-286, 2. sem. 2011 Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy Antonio Andrade Recebido em 10/07/2011 – Aprovado em 03/09/2011 Resumo Este artigo, seguindo a linha dos estudos de literatura comparada, propõe-se a discutir o diálogo intertextual que o escritor brasileiro Haroldo de Campos estabeleceu com o autor argentino Néstor Perlongher e o cubano Severo Sarduy. Para isso, realiza-se uma reflexão sobre o uso recorrente da tipologia do “poema-tombeau” dentro da produção poética haroldiana, a fim de investigar sua relação com a questão da morte e da alegoria, bem como a produtividade das noções de herança, tributo e homenagem, nos estudos de lírica moderna e contemporânea. Esta pesquisa preliminar pretende trazer à baila algumas questões pertinentes para se repensar o desenvolvimento da estética neobarroca, no contexto amplo da América Latina, a partir justamente dos cruzamentos interculturais motivados por interessantes dimensões que as “políticas da amizade” são capazes de alcançar na atualidade, propiciando intercâmbios entre poetas de diferentes procedências e inter-relacionando distintas estratégias formais e problemáticas sócio-históricas em pauta, sobretudo, no cenário das últimas décadas. Palavras-chave: diálogo; poesia; concretismo; neobarroco. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 Gragoatá Antonio Andrade Para Fabrício, in memoriam “(...) ter um amigo, olhá-lo, segui-lo com os olhos, admirá-lo na amizade, é saber de maneira um pouco mais intensa e antecipadamente contristada, sempre insistente, inesquecível cada vez mais, que um dos dois fatalmente verá o outro morrer. Um de nós – diz cada um consigo –, um de nós, chegará esse dia, ver-se-á não mais vendo o outro.” Jacques Derrida Este artigo é fruto do meu interesse pelo modo como escritores latino-americanos que produziram ao longo dos anos 1990 e da primeira década dos anos 2000 vêm dialogando com as obras de Néstor Perlongher e Severo Sarduy. Por uma questão de recorte, indicarei aqui apenas o início do desenvolvimento desta reflexão, apresentando e analisando abaixo dois poemas que Haroldo de Campos dedicou, in memoriam, ao amigo e escritor argentino (Néstor) e ao amigo e escritor cubano (Severo). Com isso, pretendo demonstrar que a questão da morte e a tipologia do “poema-tombeau”1 constituem importantes laços intertextuais entre esses autores, que desenvolveram em diferentes vertentes o estilo neobarroco, além de evidenciarem determinadas problemáticas que se verificam na passagem do moderno ao contemporâneo. Com a formação do neolog ismo “poema-tombeau”, desejo evitar, intencionalmente, o uso do conceito clássico de “elegia”, que poderia orientar o leitor, de maneira equivocada, em direção a uma ideia de composição poética, em forma fixa, de temática exclusivamente lúgubre ou de natureza sublima- 1 288 neobarroso: in memoriam n. perlongher “hay cadáveres” – canta néstor perlongher e está morrendo e canta “hay . . .” seu canto de pérolas-berruecas alambres boquitas repintadas restos de unhas lúnulas – canta – ostras desventradas um olor de magnólias e esta espira amarelo-marijuana novelando pensões baratas e transas de michê (está morrendo e canta) “hay . . .” (madres-de-mayo heroínas-carpideiras vazadas em prata negra lutuoso argento rioplatense plangem) “. . . cadáveres” e está morrendo e canta néstor agora em gozoso portunhol neste bar paulistano que desafoga a noite-lombo-de-fera úmido-espessa de um calor serôdio e onde (o Sacro Daime é uma – já então – unção quase extrema) canta seu ramerrão (amaríssimo) portenho: “hay (e está morrendo) cadáveres” (CAMPOS, 1998, p. 111) Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy para um tombeau de severo sarduy 1. olhar achinesado aberto em tez canela lábios de rebordos barrocos dulcamaro sorriso entrebailante sarduy se refugia em sua mesa do flore: floresce entre cristais e café sardônico ou severo logo ameno enquanto limões cortados cintilam seda verde contra o anis : hécuba ciosa de sua prole cuba o reivindica filho êxul que para celebrá-la travestiu-se de íncubo (más cubano soy yo que el ron merino! – costumava dizer-me visando com chancela autêntica – tatuagem ctônica – o passaporte ausente) 2. monge da religião lezâmica (cantantes cobra colibrí cocuyo) sarduy com um gesto faz nevar em la habana sol nevado topázio lunescente que desparze flocos de lírios e fios de açúcar-cândi sobre os arroubos dum préstito cristóforo: auxílio e socorro – náiades em anáguas disfarçadas em drag-queens – remiram-se no espelho da paciência e fosforecem : gêmeas ninfas ninfômanas no seu nimbo de nylon 3. sarduy – severo – persegue o buda neonato provedor do porvir : maitreya enquanto um polvo soropositivo o abraça com sugantes ventosas mas o reflexo laser do punhal de obsidiana o tutela e ele se incuba no ouro-tabaco de sua cuba matriz madriperúlea ouvindo o rumor gárgulo das madres: ele – herdeiro heráldico passeando pela mão regedora do senhor barroco seu voluntarioso principado de jovem crisóstomo criollo até sentar-se em posição de lótus no café de flore entre menta e limões cortados que lucilam feito cristais citrinos recolhendo no vôo o debrum amarelo-fogo de uma ouropêndula caligrafada por tu-fu 4. ei-lo agora jacente – buda em paranirvana ( à imitação de um) – assim severo sarduy retorna às origens aos lares aos signos capitosos de nascença : Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 289 Gragoatá Antonio Andrade camangüeyano fatigado de sua peripatéia ecumênica que dissimula em raízes aéreas ( mesmo enquanto dorme neste gálico tombeau de thiais) seu coração insular de terra desterrada e – colibri dançarino – embalsama-se num âmbito de mel transmigrado afinal para o âmbar incorrupto das palavras da tribo (Idem, p. 112-114) Haveria certamente muitas maneiras distintas de iniciar a interpretação desses poemas. Opto, entretanto, por distanciarme um pouco da leitura em si, da lecture du texte, para refletir sobre o sentido desse diálogo, ou se assim for mais adequado, sobre o sentido dessa homenagem em forma de “adeus” a amigos, a poetas com os quais Haroldo possuía afinidades eletivas. Por que render homenagem literária e pública post-mortem? Por que a morte torna-se aí matéria do poético? Estas serão perguntas centrais da minha reflexão. Mas, ao lado delas, estão outras interrogações igualmente instigantes: os que nasceram a muitas milhas de distância – como é o caso de Perlongher, que nasceu em Avellaneda, província de Buenos Aires, em 1949, e morreu em São Paulo, em 1992 – e os que nasceram, viveram e morreram muito distante – como Sarduy, nascido em Camagüey, Cuba, em 1937, e falecido em Paris, em 1993 – podem ser considerados “amigos”? Até que ponto o conceito comum de amizade serve à compreensão dos laços que unem escritores e intelectuais? Por que a eleição desse afeto dirige-se ao estrangeiro, por uma via xenófila? Leia-se uma frase de Goethe, citada por Haroldo, que pode fornecer alguma clareza a esse questionamento: “toda literatura, fechada em si mesma, acaba por definhar no tédio, se não se deixa, renovadamente vivificar por meio da contribuição estrangeira” (apud CAMPOS, 2004, p. 255). Esse era, para os irmãos Campos, o sentido pleno do exercício da alteridade, “exercício de autocrítica” que eles praticaram via tradução, via assimilação: transcriação. Diálogo entre subdesenvolvidos? Octavio Paz não aceita esse dote e também duvida: “dudo que la relación entre prosperidad económica y excelencia artística sea la de causa y efecto” (apud Idem, p. 234). A teleologia não é permitida dentro da “práxis intersemiótica” do concretismo. Nesse sentido, pode-se identificar no escritor cubano a fala eloquente, a “boca de ouro” de um “crisóstomo criollo”. A antropofagia oswaldiana, recuperada pelos irmãos Campos nos anos 1960, serve assim como metáfora não de uma operação especificamente nacional, mas de toda uma linhagem de autores – iniciada, segundo Haroldo, com o barroco, seja ele luso ou hispânico (da “perla berrueca”) – que “devora” (e ressignifica, borgeanamente, não podemos nos esquecer) empréstimos de outras literaturas. Gostaria de aprofundar aqui as raízes dessa questão através do ensaio haroldiano “Da 290 Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”. Encontraríamos ali a origem do problema? Essa é uma pergunta capciosa, visto que nesse ensaio, a partir da crítica de Jacques Derrida à noção platônica de essência e ao logocentrismo da cultura ocidental, Haroldo vai propor a problematização da origem da literatura brasileira, ao afirmar “a necessidade de se pensar a diferença, o nacionalismo como movimento dialógico da diferença (e não como unção acomodatícia do mesmo)” (Idem, p. 237). Tal questionamento busca no barroco justamente o lugar problemático da não-origem, ou da não-infância: nossas literaturas teriam nascido enleadas aos volteios sintáticos barrocos; adoradoras metalistas de todo ouro, prata e pedras preciosas que se espalham estranha e anacronicamente (para o leitor atual) pelos textos de Sarduy, Perlongher e Haroldo. Estes arabescos da escrita – dos períodos sem fim que se proliferam por parênteses, travessões e dois pontos – formam imagens alegóricas, “um estilo em que, no limite, qualquer coisa poderia simbolizar qualquer outra” (Idem, p. 240), e indiciam uma dinâmica barroca em que da alegoria resulta sempre a “diferença” (para usar ainda um termo derridiano). É interessante, ainda assim, notar, nesses poemas, a preocupação com o país natal, como se o intento de escrever “à beira do túmulo”, fosse um retomar a partida de nacimiento. O desaparecimento de Perlongher, em terra estrangeira, por exemplo, renova o choro ininterrupto das Madres de Plaza de Mayo. Hécuba – mulher de Príamo, mãe de dezenove filhos, quase todos mortos na Guerra de Troia, transformada em cadela por maldição – converte-se na imagem paronomásica de Cuba, representando também a figura materna que deseja a volta do “filho êxul”, Sarduy. Em ambos os casos o retorno não ocorre, não só por não haver “passaporte”, mas, sobretudo, porque suas obras não se alinhavam ao modo como a ditadura argentina e a Revolução Cubana se desenvolveram e tornaram hegemônica a cultura de cerceamento das liberdades cotidianas. Não é preciso dizer que versos como “náiades em anáguas/ disfarçadas em drag-queens”, por exemplo, perfilam imagens que, apesar de revolucionárias em certo sentido, não integram os preceitos militantes do regime castrista. Seguindo essa questão através do poema para Sarduy, podemos associar o problema da não-origem que o resgate do barroco traz para o cenário da literatura brasileira à reivindicação da pátria (“más cubano soy yo que el ron merino!”), na configuração descritiva de um sujeito cindido entre a cultura tropical primitiva e o cosmopolitismo do café parisiense. Não à toa, nas cenas poéticas montadas por Haroldo, o retorno à origem significa um retorno à poética neobarroca lezamiana, de onde pretendiam descender tanto o autor de Parque Lezama quanto o de De donde son los cantantes: sinestesia de “amarelo-marijuana”, palavra “capitosa”, signo embriagante. Ou seja, tanto a origem Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 291 Gragoatá Antonio Andrade natural quanto a literária só podem ser entendidas aí como uma forma de voo, ecoando a imagem do “colibri dançarino”, o que me leva a aproximá-las à noção de origem benjaminiana, explicada por Jeanne Marie Gagnebin como um “salto para fora da sucessão cronológica niveladora” (apud LOPES, 1999, p. 11). Mas se a procura da origem, no instante da morte, é também um salto para fora do tempo, como se apresenta o histórico da amizade literária entre os três poetas nos textos em questão? Esta história é construída por meio das confidências e revelações que vão surgindo ao longo do tempo e da trajetória da amizade. A propósito disso, Derrida já havia apontado que não há amizade sem confidência, tampouco existe confidência que não se meça por algum tipo de cronologia.2 Entretanto, o interessante é que, nos poemas, as referências temporais e espaciais dos dêiticos “agora (...) neste bar paulistano” (grifos meus), de “neobarroso: in memoriam”, e “ei-lo agora jacente (...) neste gálico tombeau de thiais” (grifos meus), de “para um tombeau de severo sarduy”, representam ora um presente, em vida, imbricado à memória da morte, no primeiro caso, ora um “presente-morte”, leitmotiv para uma série de spots do passado, todos, contudo, em presente do indicativo, no segundo. É impossível regressar para a mesma Cuba, é impossível regressar o mesmo para a velha e lutuosa Argentina. Este é o dístico que vem à minha cabeça após a leitura dos poemas. Se pudesse encontrar uma analogia entre ele e os estudos benjaminianos, destacaria a impossibilidade da volta à origem, “perdida desde sempre” (GAGNEBIN, 1994, p. 62), bem como a impossibilidade da própria poesia nos tempos modernos, como questões fundamentais. Retomando ainda o papel da alegoria, em Benjamin, me dou conta de que a morte é o que permeia este tipo de composição poética, motivada simultaneamente pelo óbito real (dos “amigos”) e pela transfiguração do real com que se lhes presta a melhor homenagem. Gagnebin chega a afirmar que 2 “There is no friendship without confidence (...), and no confidence which does not measure up to some chronology, to the trial of a sensible duration of time (…). The fidelity, faith, (…), credence, the credit of this engagement, could not possibly be a-chronic” (DERRIDA, 2005, p. 14). 292 A alegoria cava um túmulo tríplice: o do sujeito clássico que podia ainda afirmar uma identidade coerente de si mesmo, e que, agora, vacila e se desfaz; o dos objetos que não são mais os depositários de estabilidade, mas se decompõem em fragmentos; enfim, o do processo mesmo de significação, pois o sentido surge da corrosão dos laços vivos e materiais entre as coisas, transformando os seres vivos em cadáveres ou esqueletos, as coisas em escombros e os edifícios em ruínas. (Idem, p. 46) “Cadáveres” atravessam toda a poesia perlongheriana. Esse é o título inclusive do seu mais longo e conhecido poema. Exatamente, por isso, Haroldo retoma entre aspas o verso “Hay cadáveres” e o repete como um mantra, tal como o faz Perlongher no poema original. Os cadáveres que, para este, representavam os mortos da ditadura argentina tornam-se polissêmicos, para aquele, devido à imbricação entre autoria e Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy referencialidade que inclui, agora, o próprio poeta que havia produzido a denúncia política entre os mortos e desaparecidos. Esta conversão do amigo – do ser amado, de certo modo – em objeto (“cadáver”) é um movimento característico da amizade cujo vínculo, ou philía segundo Derrida, vai além da morte: “This philía, (...) between friends, sur-vives. It cannot survive itself as act, but it can survive its object, it can love the inanimate” (DERRIDA, op. cit., p. 13). Desse modo, é possível depreender também um procedimento dúplice que se verifica nos poemas de Haroldo aos amigos mortos: ao mesmo tempo em que o poeta brasileiro lhes reconhece fragilidades íntimas, humanas, subjetivas, corporais, mortais..., embalsama-os e cristaliza-os para a posteridade, em descrições de caráter poético-pictórico. Aliás, aprofundando um pouco mais essa questão, Haroldo chega a dizer que o embalsamamento é um modus operandi do próprio estilo sarduyano, que se embalsama “num âmbito de mel”. Sabe-se, ademais, que o corpo embalsamado (e profanado) de Eva Perón constitui a imagem obsessiva que percorre a obra de Perlongher. Gostaria de lembrar, a esse respeito, que nas análises da poesia do autor argentino, feitas pelo crítico Nicolás Rosa, a contradição entre o desvanecimento cadavérico e a rigidez do embalsamamento ocupa o lugar da própria tensão que norteia o fazer literário (cf. ROSA, 1987, p. 255-256). Se a morte, via alegoria, constitui um topos constante da lírica ocidental, desde Baudelaire, é porque ela é índice de um processo simultâneo de queda das ideologias e de perda da capacidade de reconhecer e experimentar o afeto do outro, antes do fim da vida. Muitos pensadores e escritores do século XX, como Derrida, Sarduy, Perlongher e Haroldo, foram testemunhas ou herdeiros do Holocausto, do gulag, de Hiroshima, da Guerra do Vietnã, da violência repressiva das ditaduras latino-americanas, do fim dos impérios coloniais, da revolta da juventude, do desmoronamento do comunismo... Enfim, eu poderia estender essa listagem de fatos históricos para os quais a imagem do “corpo morto”, do amigo ou do inimigo, se impõe como paradigmática. A experiência histórica, a priori exterior ao objeto artístico, não deixa nunca, é claro, de interferir no processo de criação e, por sua vez, no modo de composição poético. Sendo assim, o falecimento dos amigos, nos poemas de Haroldo, representaria o mesmo que a ideia de morte sugere, para Maurice Blanchot, em relação à obra, qual seja: a morte como aquilo diante do qual o escritor não pode perder o controle (cf. BLANCHOT, 1987, p. 87). Entretanto, o próprio ato de fé contido na amizade implica certa incalculabilidade, no sentido de que a escolha do amigo não pode ser um lance totalmente racional (cf. Derrida, op. cit., p. 21). Além disso, a morte do outro é também a morte do Eu: percepção do futuro e do presente. Por isso, a linguagem que tenta dar conta dessa experiência caminha pelas chicanas Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 293 Gragoatá Antonio Andrade do vertiginoso e do incompreensível até alcançar um construto. Isso, por exemplo, é o que aponta também o próprio Sarduy em um ensaio crítico, publicado muitos anos antes da sua morte, em relação ao processo organizador da poesia híbrida (concreta e neobarroca) de Haroldo de Campos: “O poema como sílabagerme que rebenta, expande-se no volume da página e avança em direção à concretude” (SARDUY – In: CAMPOS, 1979, p. 125). O labor da escritura poética que trata de dar forma concreta à ideia deslizante de morte corresponde a um gesto de exumação incomum que traz consigo não a memória da morte, gravada no cadáver, e sim a memória da vida. Esse é também um dos objetivos da escrita derridiana. De acordo com a análise que Elisabeth Roudinesco faz dos textos em que o filósofo francês se dedica a dizer adeus a seus amigos e, ao mesmo tempo, a refazer suas trajetórias intelectuais, seja qual for a idade daquele a quem dirige a saudação, Jacques Derrida constrói seu discurso como o palimpsesto do instante da morte, como o braço instantâneo desse momento único em que se produz a passagem da vida à morte. Assim, ele pode trazer para si toda a memória enterrada de uma existência fragmentada. (ROUDINESCO, 2007, p. 223) Chamo a atenção para a possibilidade de desenvolvimento da relação entre luto e alegria no barroco. Para isso, indico a leitura de Walter Benjamin, “O intrigante como personagem cômico”, in Origem do drama barroco alemão, texto de onde retiro a seguinte citação: “O drama barroco não atinge seu ponto alto nos exemplares construídos de acordo com todas as regras, mas nas obras em que ressoam, como brincando, as notas da comédia” (BENJAMIN, 1984, p. 151). 4 Gosta r ia de remeter à leitura do ensaio “Arte pobre, tempo de pobreza, poesia menos” (In: CAMPOS, 2004), em que Haroldo de Campos explicita o fato de que o seu interesse crítico se direciona ao “procedimento menos” de escritores que reconhecem que o trabalho de criação nasce, na verdade, da fronteira com o discurso alheio, literário ou não-literário, e que a indecidibilidade pode ser muito mais produtiva em termos estéticos do que a grandiloquência. 3 294 Em minha opinião, a figuração poética desse ato fúnebre que mantém, no entanto, ainda muito latente a lembrança do vivido reside, nos poemas de Haroldo, na focalização de uma ação em processo, através da repetição da perífrase “está morrendo”, em “neobarroso: in memoriam”, e da bela antítese gerada pela imobilidade do sujeito em posição de lótus enquanto a doença avança, em “para um tombeau de severo sarduy”. Isso poderia ser pensado, logicamente, como uma solução lírica para encenar a morte, em ambos os casos, em consequência de complicações da AIDS. Contudo, uma outra forma de ler esses procedimentos é pensar que tal estado melancólico – ou, de outro modo, que o trabalho incessante do luto (cf. GAGNEBIN, op. cit., p. 50) – representaria aí um modo de sentir a experiência histórica. Conhecendo um pouco do pensamento teórico haroldiano e sabendo que ele traz à baila e ratifica diversas questões assinaladas por Benjamin, acredito que essa seja uma interpretação possível. Mas ao pôr atenção redobrada às imagens que perfazem os textos, noto que há um elemento oposto à melancolia que dialeticamente dá forma a estes mistos de descrição e narração com que Haroldo recompõe os “instantes-morte” de Perlongher e Sarduy. Quero dizer que existe uma dose de alegria3 nessas lembranças de encontros entre amigos: a alegria do cantar gozoso e desafogado de Néstor à mesa do bar; a paz e o nirvana propiciado pelo encontro de Sarduy com o budismo. Ou seja, verifica-se em todos esses autores uma visão ao mesmo tempo trágica e festiva da vida e da morte. Em Haroldo, Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy isso se percebe, por exemplo, no seu uso reiterado do poema in memoriam, do tributo aos amigos mortos, não no sentido de canonizá-los e lançá-los ao rol dos grandes “Autores”, mas com vistas a investigar nuanças significativas para sua própria poesia, encontrando produtividade na morte, por meio da aproximação às zonas lacunares e aos espaços de fragilidade da obra e da biografia dos seus homenageados.4 Junto a isso, observa-se a celebração carnavalizadora da rede dialógica produzida pelo seu paideuma poético, no melhor estilo poundiano, o que demonstra um entendimento de que a criação literária pode ser concebida não só pelo viés da negatividade, mas também através de uma estratégia, um tanto quanto bárbara e antropofágica, de fazer tudo “coexistir com tudo” (CAMPOS, 2004, p. 251): tradição ocidental com a oriental, literatura europeia com a ibero-americana. Já em Perlongher, o leitor pode encontrar uma obra intensamente homoerótica e melancólica; uma mistura radical de humor, sarcasmo e experimentalismo linguístico. Nele, também, o olhar desejante que flagra “la sordidez de cuerpos sudorosos que se pegan, quemantes” (PERLONGHER, 2003, p. 29), em seu primeiro livro, soma-se ao tom lúgubre dos versos do seu último trabalho, onde o próprio sujeito se vê morrendo – fórmula atualizada, como vimos, pelo poema haroldiano. Cito versos de “Canción de la muerte en bicicleta”, de Chorreo de las iluminaciones: Ahora que me estoy muriendo Ahora que me estoy muriendo Cansina esta letanía de arrabal Lejos de todo se toma el ómnibus de extramuros del que no baja, porque no para o para pronto, en realidad no se ha movido de la parada (Idem, p. 367). E para demonstrar essa mescla delicada entre morte e alegria, a respeito de Sarduy, creio que bastaria citar um fragmento do texto “Sarduy, in memoriam”, escrito pelo seu amigo Juan Goytisolo: Nuestra anterior frecuentación se redujo desde entonces a una intermitente relación telefónica, a veces melancólica y con referencias oblicuas al mal que le destruía, y otras, animadas por esa euforia y afán de vivir que nunca le abandonaron. (GOYTISOLO – In: SARDUY, 1999, p. 1.779) Para finalizar o meu percurso, acredito que, ao desenvolver, neste trabalho, uma forma de estudo “in memoriam”, procurei seguir, em grande parte, a lição desses poemas, na medida em que tentei demonstrar, com Haroldo, a possibilidade de se empreender gestos poético-discursivos de tributo/homenagem a artistas mortos precocemente, tais como Perlongher e Sarduy, sem mitificá-los e transformá-los em ícones protagonistas de suas próprias gerações. Penso que, tanto nos diálogos e cruzamentos Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 295 Gragoatá Antonio Andrade interculturais – entre poetas de diferentes nacionalidades – quanto nos gestos de despedida aos amigos que “partem”, se dá a abertura de um testamento, a passagem de um legado que se oferece, na verdade, à violação e ao diferimento. Acredito, junto com Roudinesco – com ecos de Derrida – que “apenas a aceitação crítica de uma herança permite pensar com independência e inventar um pensamento para o porvir, um pensamento para tempos melhores, um pensamento da insubmissão, necessariamente infiel” (ROUDINESCO, op. cit., p. 12). Abstract Following the line of comparative literary studies, this article aims at discussing the intertextual dialogue that Brazilian writer Haroldo de Campos established with the Argentine author Néstor Perlongher and the Cuban author Severo Sarduy. For that, it performs a reflection on the recurring use of the typology of the “tombeau -poem” into Campo’s oeuvre. It also investigates its connection with the issues of death and allegory, as well as the productivity of notions like inheritance and tribute for the studies on modern and contemporary poetry. This preliminary research intends to bring up some interesting questions for rethinking the development of Neo-Baroque aesthetics, in the broader context of Latin America, motivated by cross-cultural dimensions which the “politics of friendship” are able to achieve nowadays, providing exchanges between poets of different origins and interrelating diverse formal strategies and policy, especially relevant to the historical scenario of recent decades. Keywords: dialogue; poetry; concretism; neo-baroque. Referências BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. CAMPOS, Haroldo. Signantia: Quase Coelum. São Paulo: Perspectiva, 1979. ______. Crisantempo: no espaço curvo nasce um. São Paulo: Perspectiva, 1998. ______. Metalinguagem & outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2004. 296 Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 Diálogos e Tombeaux: H. de Campos, N. Perlongher e S. Sarduy DERRIDA, Jacques. The politics of friendship. Londres: Verso, 2005. GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1994. LOPES, Denilson. Nós os mortos. Rio de Janeiro: 7Letras, 1999. PERLONGHER, Néstor. Poemas completos. Buenos Aires: Seix Barral, 2003. ROSA, Nicolás. Seis tratados y una ausencia. Sobre los “Alambres” y rituales de Néstor Perlongher. In: Los fulgores del simulacro. Rosário: UNL, 1987, p. 227-257. ROUDINESCO, Elisabeth. Jacques Derrida: o instante da morte. In: Filósofos na tormenta. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 218234. SARDUY, Severo. Obra completa. Vol. 2 - Colección Archivos. Madri: ALLCA XX, 1999. Niterói, n. 31, p. 287-297, 2. sem. 2011 297 Resenhas CAMPOS, Haroldo de. Galaxias/Galáxias. Tradução ao espanhol e notas de Reynaldo Jiménez. Prólogo de Roberto Echavarren. Montevidéu: La Flauta Mágica, 2010. Rosario Lázaro Igoa Recebido em 14/06/2011 – Aprovado em 04/09/2011 “(…) las traducciones de poesía serán hechas por poetas que escriben en español, ya que consideramos que este pro ced i m iento e s el único que asegura que la tensión, economía, ritmo del original serán recreados de una manera competente, pareja. Un poeta sólo debería ser traducido por otro poeta” (Tradução minha). No site da editora: http://laflautamagica. org/presentacion.htm [10/07/2011]. 1 Gragoatá Às vezes os trajetos das traduções não respondem de forma linear aos fluxos de poder imperantes no mercado editorial global. O gesto da tradução das Galaxias de Haroldo de Campos para o espanhol, no Uruguai, por uma editora composta de poetas de longa trajetória é certamente uma dessas pontes que não respondem às lógicas editoriais no sistema literário da América Latina. Porém, o pequeno país ao sul do gigante brasileiro possui um histórico interessante quando observamos que a primeira tradução de Machado de Assis para qualquer língua foi publicada em Montevidéu em 1902. Tratava-se do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, que apareceu no jornal La Razón, com tradução assinada pelo jornalista Julio Piquet. Outro exemplo é o primeiro tradutor de Guimarães Rosa para o espanhol, o Professor Washington Benavides, quem verteu junto a Eduardo Milán Com o Vaqueiro Mariano, do livro Sagarana, em 1979. Assim, a iniciativa da editora La Flauta Mágica é muito interessante tanto pela sua orientação à tradução de autores pouco conhecidos no Río de la Plata (assumindo a distribuição do livro na vizinha Buenos Aires), como também pela constituição do corpo editorial, com poetas como Roberto Echavarren e Silvia Guerra, ambos com produção crítica relacionada à poesia. A iniciativa, que já favoreceu a tradução do americano John Ashbery, e reedições dos poetas uruguaios Amanda Berenguer e Julio Herrera y Reissig, é financiada pela versão uruguaia da Lei Rouanet, o que explica em certa forma um projeto que publica números monográficos dedicados a autores não tão conhecidos e consegue fazê-lo com muito cuidado, rigor e edições de boa qualidade. Todo isto acontece em um panorama literário reduzido, o uruguaio, mas onde as editoras locais estão tendo um momento de pequeno “auge” das publicações de poesia. Em La Flauta Mágica o objetivo é a divulgação e a possibilidade do contato com o original pelas edições bilíngües, mas também a reivindicação de que: “as traduções de poesia serão feitas por poetas que escrevem em espanhol, já que consideramos que esse procedimento é o único que assegura que a tensão, economia, ritmo do original serão recriados de uma maneira competente, parelha”, com particular atenção para a palavra “recriados”, que hoje em dia não está desprovida de um viés conceitual muito preciso. A isso, acrescentam a fórmula muitas vezes discutida: “Um poeta só deveria ser traduzido por outro poeta”.1 Niterói, n. 31, p. 301-306, 2. sem. 2011 Gragoatá Rosario Lázaro Igoa Haroldo teve uma ligação bastante peculiar com o Uruguai, onde em 1991 a Professora Lisa Block de Behar organizara uma homenagem ao poeta concreto na nortenha cidade de Salto. Daquela homenagem resultou um livro com ensaios críticos intitulado Haroldo de Campos, don de poesía, que foi publicado recentemente no Uruguai, estreitando o vínculo que com esta tradução parece ser ainda mais forte. Assim, Galaxias em espanhol é um acontecimento relevante. O fato de que apreciação da poesia concreta brasileira se restrinja a pequenos grupos não invalida a sua importância. No Uruguai, assim como na Argentina, pode-se observar uma leitura sobre, e dos concretos bastante menos carregada da polêmica ao redor do movimento ainda hoje no Brasil. Isso talvez possa ser explicado pelo original material teórico e crítico que acrescentam ao espanhol que pouco a pouco os acolhe, e também pela ausência da virulência combativa no terreno da poesia no território de fala hispânica, o que faz com que a visão seja mais matizada. Porém, as traduções da produção dos concretos em poesia, e mais precisamente de Haroldo de Campos, para o espanhol não foram tão numerosas como a proximidade geográfica poderia sugerir. A vasta produção poética haroldiana só tem aparecido em língua espanhola nas obras La educación de los cinco sentidos (1990), com tradução de Andrés Sánchez Robayna, e em uma versão parcial de Crisantiempo (2006), também assinada por Robayna. Menção especial merece o livro de 2009, quase um preâmbulo desta edição, entitulado Hambre de forma, antologia poética de Haroldo editada por Andrés Fischer na Espanha. Os nomes dos tradutores que assinam esses poemas parecem uma verdadeira “galáxia” do continente, e entre eles podemos nomear o acadêmico argentino Gonzalo Aguilar (autor do livro que resultou em sua tese de doutorado na USP, Poesía concreta brasileña: las vanguardias en la encrucijada modernista, 2003), os poetas uruguaios Roberto Echavarren e Eduardo Milán, os poetas argentinos Daniel G.ª Helder e Néstor Perlongher, falecido em 1992, e o poeta peruano Reynaldo Jiménez. Já no que se refere às Galáxias propriamente, como está indicado na “Nota biobibliográfica” que fecha o volume editado no Uruguai, alguns fragmentos das mesmas haviam aparecido em revistas como a espanhola Espiral, em 1978, com tradução de Héctor Olea, ligado ao grupo dos concretos e também tradutor ao espanhol de Macunaíma e de Memórias Sentimentais de João Miramar. Três versões do fragmento “cheiro de urina” se publicaram na revista argentina Grumo em 2004, com tradução de Amalia Sato, Roberto Echavarren e Reynaldo Jiménez, tradutor desta versão integral de 2010. Como podemos observar, o núcleo de tradutores que há anos se dedicam à divulgação da poesia concreta em América Latina é bastante estável, sendo Echavarren e Jiménez velhos combatentes nesta cruzada. 302 Niterói, n. 31, p. 301-306, 2. sem. 2011 CAMPOS, Haroldo de. Galaxias/Galáxias. Tradução ao espanhol e notas de Reynaldo Jiménez. Prólogo de Roberto Echavarren. Montevidéu: La Flauta Mágica, 2010. “(...) lo que Joyce en Finnegan’s Wake no llegó a abolir: la ilación gramatical” (Tradução minha). 2 Nas Galaxias de 2010, o profuso aparato paratextual da obra traduzida lembra os livros publicados pelos concretos: prólogos, notas do tradutor, edições bilíngues, informação sobre os autores e tradutores e outros artefatos que realçam a natureza da obra traduzida formam um todo onde poesia, crítica e tradução parecem indivisíveis. O “Prólogo” da edição, com o título “Galaxias, work in progress, barroco”, é assinado por Roberto Echavarren, que faz, ao melhor estilo concreto, uma aproximação ao barroquismo haroldiano prévia ao poema traduzido, orientando a sua leitura em um sistema literário alheio àquele brasileiro que o viu nascer. No mencionado texto, Echavarren realiza uma breve apresentação do movimento concreto, do barroco na América Latina, centrando-se logo após na ligação entre um Haroldo que retoma “o que Joyce em Finnegan’s Wake não chegou a abolir: a ilação gramatical”2 (pp. 5) na obra Galáxias. Ou seja, é com Galáxias que Haroldo entraria no mapa do neobarroco latino-americano, passada a etapa mais virulenta do concretismo radical, movimento apoiado também pela condição de Haroldo como ator chave na reconfiguração da literatura brasileira à luz da valorização de Gregório de Mattos. Sobrevém uma leitura de Echavarren dos cinquenta textos que integram as Galáxias, em constante paralelo com o mencionado texto de Joyce, e também com os Cantos de Pound, em um estilo bastante similar ao do texto de Campos, fragmentário e contínuo, em circulação constante; e unido pelas percepções sucessivas do poeta uruguaio a partir dos escritos do poeta brasileiro. A seguir, está o poema traduzido em página par, e com reversa em branco, segundo a disposição da edição das Galáxias de 1984 da editora Ex Libris, sobre o que tratarei a seguir. É indubitável que na hora que o leitor chega à leitura do poema já conta com extensa informação relacionada ao autor e ao movimento ao qual pertenceu. O texto que segue: “Ahora, diréis, a escuchar Galaxias”, que aparecera no booklet do CD de 1992 que Campos realizou com Arnaldo Antunes, fala sobre o processo criativo das Galáxias, esboça uma definição do gênero “entre prosa e poesia” das mesmas, e descreve, mais uma vez orientando a leitura, os temas de cada uma das composições. Logo depois estão as “Notas a la traducción”, assinadas pelo tradutor Reynaldo Jiménez, que curiosamente não aparecem no sumário da obra. É interessante advertir sobre a convivência de todo esse material, que acrescentado à leitura da tradução, resulta em um enorme caudal de informação crítico-tradutiva. Jiménez, peruano radicado na Argentina, é poeta, crítico e editor da revista argentina de poesia tsé-tsé, que publicou vários poetas brasileiros, e explicita aqui algumas das decisões que tomara na hora da tradução. Antes de comentar essas escolhas do tradutor em relação aos limites da sua própria língua, cabe começar pelos resultados Niterói, n. 31, p. 301-306, 2. sem. 2011 303 Gragoatá Rosario Lázaro Igoa rítmicos que adquire a prosa poética de Campos na língua de chegada, na encadeação de palavras que se unem pelo som, a morfologia, e em menos medida, pela dimensão estritamente semântica. Nas Galaxias, observamos algumas mudanças (quase) inevitáveis na tradução do português ao espanhol, que têm a ver com a concisão da língua portuguesa, que permite vários tipos de contrações que o espanhol não admite. Assim, o ritmo de tonicidade mais intensa da coordenação na prosa poética em português de Haroldo se torna mais pausado na tradução (e com maior número de sílabas), mais prosaico. A tradução inteira segue essa lógica, sendo um mero exemplo do fragmento “en el jornalario” que segue: PORT. ostra crescendo dentro da ostra crosta fechando dentro da crosta -UU-UUUU-U-UU-UUUU-U ESP. ostra creciendo dentro de la ostra costra cerrándose dentro de la crosta -UU-UUUUU-U-UU-UUUUUU-U Este ponto lembra as apreciações que Octavio Paz fizera da tradução de Haroldo do seu poema Blanco, publicadas em Transblanco (1986). Na carta, Paz indica quão mais conciso era o poema em português, atribuindo isso à ação do tradutor, mas que na verdade na maioria das ocasiões tinha a ver com a natural concisão do português em relação à extensão do espanhol. Por outra parte, o tratamento dos quase infinitos jogos fonéticos do original é realizado segundo uma valorização da textura fônica na tradução: PORT. e começo aquí; e meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso ESP. y comienzo aqui y peso aqui este comienzo y recomienzo y sopeso y arremeto Esse fragmento pertence ao início das Galáxias, e podemos ver como a estratégia do tradutor foi a de manter a aliteração em “eço” (“arremesso” pode ser considerada de igual forma), que traslada a dois tipos de repetições da seqüência em espanhol: “comienzo-comienzo-recomienzo”, e por outra parte “pesosopeso” que têm uma correspondência assonante com “arremeto”. De qualquer forma, é interessante anotar como o tradutor abre mão do significado de “medir” e o traslada a “pesar”, que em definitiva resgata uma parte da determinação da medida, e é funcional aos efeitos rítmicos do original que tenta recompor na tradução. Outras passagens no mesmo sentido parecem apoiar essa intenção do tradutor: 304 Niterói, n. 31, p. 301-306, 2. sem. 2011 CAMPOS, Haroldo de. Galaxias/Galáxias. Tradução ao espanhol e notas de Reynaldo Jiménez. Prólogo de Roberto Echavarren. Montevidéu: La Flauta Mágica, 2010. Por outra parte, nas passagens em espanhol como língua estrangeira no original, chama a atenção que o tradutor não marque com algum dispositivo gráfico, como as cursivas, que apareciam assim no original, perdendo de alguma forma a referência ao idioma não próprio que Haroldo realiza, a marca estrangeira e estranha que acontece na escrita. Isso acontece já na Galáxia “mire usted”, onde o tradutor não imprime nenhuma marca que indique o espanhol já no original: PORT. reza calla y trabaja em um muro de granada trabaja y calla y reza y calla y trabaja y reza em granada um muro da casa do chapiz ningún holgazán ganará el cielo olhando para baixo um muro interno la educación es obra de todos ave maria em granada mirad en su granada e aquele ESP. reza y calla y trabaja en un muro de granada trabaja y calla y reza y calla y trabaja y reza en granada un muro de la casa del chapiz ningún holgazán ganará el cielo mirando abajo un muro interno la educación es obra de todos ave maría en granada mirad en su granada y aquel Os dispositivos para marcar de alguma forma as palavras que já apareciam em espanhol poderiam ser vários, mas a decisão do tradutor passou pela assimilação dos mesmos ao texto traduzido, uniformizando seu efeito. Ainda com um apartado destinado às notas do tradutor, esse problema da intenção do tradutor fica em suspense, perguntado-se o leitor quais foram as motivações da tarefa em si. Ou seja, as notas são organizadas “galáxia” a “galáxia”, especificando na maioria das vezes o uso de palavras alheias ao leitor médio, como “congonhas”, “dharma”, “fududancua”, “vinarna”, e até o um excesso como o de explicar “capoeira”. Isso é uma estratégia de acercar o texto estrangeiro, prescindível hoje em dia com a facilidade de busca de informação que proporcionam as novas tecnologias. O tradutor também explicita as referências de palavras como “urlam”, “De italiano urlare, gritar, aullar. Italianismo neológico, entonces” (p. 132); ou mesmo de “casmurra”, indicando a sua pertença ao romance machadiano. Todas essas informações também poderiam ser discutidas tendo em conta o público mais especializado que irá receber a obra, que não precisaria em definitiva de tais especificações. Ao mesmo tempo, faltaria nessas notas algum comentário sobre a estratégia geral da obra, as linhas guia que orientaram as escolhas como um todo, que igual pode ser infeNiterói, n. 31, p. 301-306, 2. sem. 2011 305 Gragoatá Rosario Lázaro Igoa rida pela preocupação constante de manter os traços da escrita haroldiana original que se percebe nas anotações. Nas notas também encontramos a explicitação de liberdades que o tradutor se permite, como aquela do fragmento “sasamegoto”, onde traduzindo a palavra “fala” toma dois possíveis significados em espanhol: “habla-charla”. Outros apartados explicam a decisão de manter numerosas palavras na língua original, ainda que isso custe em ocasiões um deslizamento no plano semântico (“espalma”, “sobrenome”, “ourela”). Voltando ao livro, depois do poema original (onde a diferença da disposição gráfica do original, o reverso da folha é ocupado, ficando pouco espaço interlinear e dificultando a leitura), está a “Entrevista a Haroldo de Campos”, realizada por Adriana Contreras e Hugo Bonaldi no México em 1984. Nessa instância, as perguntas foram orientadas a uma apresentação geral da poesia concreta em América Latina, as suas linhas de ação e filiações teóricas. Segue o conhecido ensaio “Transluciferación mefistofáustica” (1983), com tradução ao espanhol de Jorge Schwartz; o texto “Tradición, traducción, transculturación, historiografia y ex-centricidad” (1987), com tradução de Néstor Pelongher, e “Barroco, neobarroco, transbarroco” (2004), prefácio do livro Jardim de Camaleões, a poesia neobarroca na America Latina, traduzido por Echavarren. No fim, encontramos a “Nota bibliográfica”, interessante documento para os leitores de fala espanhola, já que estabelece as traduções publicadas de Haroldo em espanhol, ao tempo que proporciona uma completa bibliografia do poeta, crítico, e tradutor; enquanto na última página do livro, como um presente, está o poema de Haroldo “Neobarroso: in memoriam”, do livro Crisantempo de 1998, traduzido por Roberto Echavarren. Em suma, trata-se de um gesto de tradução muito valioso no contexto latino-americano atual, e sobretudo em referencia à profícua e avançada produção teórica e crítica de Haroldo de Campos, ainda pouco conhecido no âmbito de fala espanhola. 306 Niterói, n. 31, p. 301-306, 2. sem. 2011 DIAS, Ângela Maria; GLENADEL, Paula (orgs.). Valores do abjeto. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. Renan Ji Recebido em 30/08/2011 Dos Pouvoirs de l’horreur para os Powers of horror, imaginei que o conceito de abjeto de Julia Kristeva me chegaria mais claramente, a começar pelo idioma mais acessível. No entanto, transposta a barreira da língua, ainda assim tal conceito se coloca de maneira difusa em minha leitura, seja pela sua complexidade, seja pela prosa difícil de Kristeva. Porém, a fascinação pelo conceito persiste – pois o abjeto encarna toda uma constelação da desordem e do caos presente na arte contemporânea, cuja problemática dos limites (éticos, estéticos, políticos etc.) é objeto de intenso debate e especulação. O abjeto é o gozo abismal do informe, pré-individualidade que é morte em vida (ou vida em morte), terreno que antecede a linguagem e o humano, sendo, porém, demasiadamente humano. Configura um vasto manancial imaginativo para a modernidade, repleto de monstruosidades e sublimidades, cujo movimento incessante entre a atração e o nojo é sublimado, de acordo com Kristeva, por uma forma artística atormentada pelos próprios limites. Confesso que essa tentativa de definição do abjeto foi em grande parte possível graças a Valores do abjeto (2008), reunião de ensaios que esclarecem e contextualizam, através da crítica literária e cultural, o enigmático conceito de Pouvoirs de l’horreur. Nesse sentido, a leitura deste livro – organizado pelas professoras Ângela Maria Dias e Paula Glenadel – implicou um aprendizado. Isso porque a publicação parte do conceito psicanalítico de Kristeva e perfaz um caminho possível pelas artes e pela cultura do abjeto nos séculos XX e XXI, desde as vanguardas europeias até seus possíveis desdobramentos contemporâneos. Os ensaios que compõem o livro congregam um rol de pensadores-artistas ligados ao universo infernal da abjeção: desde Sade e Baudelaire, passando por Bataille e culminando no controverso David Nebreda, este conjunto de intelectuais malditos se destaca pelo contato que estabeleceram com essa origem-mãe insuportável (porém fundadora) que caracteriza a esfera da abjeção. Ao leitor recomendaria, inicialmente, o panorama sociológico de Nízia Villaça, que mostra uma sociedade profundamente afetada pela náusea advinda da liquidação dos objetos, projetos e trajetos da modernidade (liquidação em dois sentidos: no de total aniquilamento e no dizer de Zygmunt Bauman). Fazendo paralelos entre o corpo humano e o corpo social, a autora mostra que o colapso dos valores Gragoatá Niterói, n. 31, p. 307-312, 2. sem. 2011 Gragoatá Renan Ji culmina na produção de monstruosidades em vários níveis, que reprocessam os fragmentos, dejetos e restos de cultura. O abjeto surgiria como moeda expressiva que tenta dar conta dessa realidade deturpada, produtora de ciborgues em sentido ético, político, físico, ideológico e econômico. Aqui, o mito perturbador do ciborgue encarna de modo abjeto o instável contexto tecnocrático atual, que desestabiliza as identidades e promove hibridismos de várias naturezas. As organizadoras da coletânea, por sua vez, indicaram algumas facetas desse mundo de excrescências e disparates. O abjeto surge, por exemplo, como percepção da anomia social dos países subdesenvolvidos, frente à qual a raiva e a acidez de V. S. Naipaul dirige uma crítica contundente, de acordo com o longo ensaio de Simon Harel. Por outro lado, as memórias abjetas da tortura e do Holocausto imiscuem seu flagelo insuportável por frestas as mais insuspeitas. Em “A tortura e outros demônios”, de Eurídice Figueiredo, a herança da ditadura marca não só torturadores e torturados, mas inesperada e diabolicamente contamina de abjeção aqueles que possuem as melhores intenções. Já para Edson Rosa da Silva, até mesmo o silêncio pode ser carregado de sentidos atrozes e pungentes, por meio dos monumentos à memória sangrenta do reich nazista. As realidades proliferantes descritas por Villaça exibem uma porosidade insana, que não fornece garantias de integridade e plenitude de sentido. Se, no imaginário coletivo, o ciborgue encarna miticamente esse universo, na imaginação literária verificamos outros temas míticos caros à socialidade marcada pelo abjeto: a figura do andrógino e o mito da cidade afetada pela peste. Do primeiro tema, o saudoso José Carlos Barcellos nos apresenta o travesti Manuela, personagem de José Donoso que se caracteriza pela consciente assunção de figura abjeta em meio à sociedade latina heteropatriarcal. No seu belo ensaio, Barcellos aponta para a dimensão trágica da cena final do romance de Donoso, em que o abjeto é associado ritualisticamente à sparagmós grega. Na mesma medida, remeto a uma espécie de sparagmós social a imagem da derrocada da cidade pela peste, estudada por Ângela Dias na ficção de Valêncio Xavier. Inspirada pela cidade empesteada de Camus e pela crueldade em moto-contínuo de Sade, Ângela chama atenção para a total decadência social, institucional e moral provocada pela peste, cujo desenrolar abjeto se reflete, formalmente, na mistura polifágica de gêneros, e, poeticamente, nas imagens escabrosas da queda do humano. Não há como não pensar, aqui, na dualidade do termo “escatologia”, pois a doutrina do fim último da cidade se dá no abjeto dos excrementos, da sexualidade perversa e do grotesco. A peste como metáfora da decrepitude do modelo de vida ocidental também foi importante para Antonin Artaud. Ecoando 308 Niterói, n. 31, p. 307-312, 2. sem. 2011 DIAS, Ângela Maria; GLENADEL, Paula (orgs.). Valores do abjeto. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. essa junção de eskatos (doutrinas do fim último) e skatos (excrementos, fezes), Ana Paula Kiffer, no entanto, leva a reflexão para além do aniquilamento, enxergando no poeta uma proposição filosófico-existencial de renovação do humano, que submete o corpo, nas palavras da autora, a uma “dança da anatomia” com vistas a uma revolução do pensamento racionalista. Nesse sentido, as glossolalias artaudianas representam uma forma de a linguagem afetar sonoramente o corpo e se ausentar da obrigatoriedade do sentido, fugindo ao primado epistemológico da ocidentalidade. De acordo com Bruno Netto dos Reys, essa linguagem que beira o sintoma psicótico impõe uma noção de abjeto não-mediada pela sublimação estética, ao contrário do que se verifica em Julia Kristeva e em muitos dos ensaios de Valores do abjeto. Tomando por base esta interpretação das organizadoras na introdução do livro – necessária diante do texto elíptico de Reys –, Artaud rechaçaria a sublimação do abjeto como fator criativo, em favor de uma experiência esquizofrênica e delirante de junção entre arte e vida. Entende-se, assim, a causa do enfado e da desistência de Artaud na tradução do poeminha Jabberwocky de Lewis Caroll, do livro Alice através do espelho. O poema representaria (conforme leitura de Lacan) uma forte sublimação do amor de Caroll pela menina Alice, e sua sofisticada estesia seria aquilo que, para Reys, irritaria Artaud, defensor do engajamento visceral da arte na vida. Supondo que a leitura de Reys esteja certa, a Artaud talvez tenha escapado a ideia do processo de sublimação do abjeto como ritual de sacrifício, que originaria uma arte auto-consciente e contaminada pela sua própria destruição. Nesse sentido, qual um phármakos, remédio e veneno, a linguagem poética do abjeto representaria a sublimação de uma experiência arcaica, na mesma medida em que também seria um resquício infernal, um dejeto dessa mesma experiência. Dentro dessa perspectiva, não haveria artista que exemplificasse melhor esse confronto com o abjeto do que David Nebreda. A obra do artista madrilenho, analisada por Jacob Rogozinski, se conecta de maneira profunda ao âmago psíquico e ao universo pessoal de Nebreda – o que supriria a diretriz artaudiana de uma arte autêntica e em contato direto com a vida –, não deixando de ser, por outro lado, o resultado de um trabalho extenuante de sublimação, de elaboração artística que procura humanizar e superar a dimensão infernal materna que caracteriza a experiência do abjeto. Essa natureza sublimatória pode ser lida como um primeiro gesto na direção do “outro”, esse do campo ético e não psicanalítico, sobre o qual Jacob Rogozinski afirma: “A única maneira possível de continuar consiste, ele [Nebreda] nos diz, em operar uma ‘projeção num duplo outro, num outro real’ (...), esse Outro distante que somos nós, nós seus espectadores, seus leitores. Suas fotos nos são destinadas, a cada um de nós” (p.41). Niterói, n. 31, p. 307-312, 2. sem. 2011 309 Gragoatá Renan Ji Renegado na atmosfera pré-objetual e pré-individual que o abjeto demarca, esse “outro” sugerido por Rogozinski servirá de gancho para o ensaio de Paula Glenadel, que sugere uma questão em aberto para a arte abjeta na contemporaneidade, a saber, a da dimensão ética que escaparia ao pensamento comprometido com a arte moderna de Kristeva. Analisando a imagem do tubo de vaselina que, em meio às apreensões de uma batida policial, desperta um sentimento de incômoda obscenidade, Glenadel recorta essa imagem do abjeto no Journal du Voleur de Jean Genet, detectando ali o ponto de irrupção do universo informe da abjeção. Contudo, optando por extravasar o contexto demarcado pela teoria de Kristeva, isola essa imagem literária como se fosse um objeto de arte contemporânea. Ao vislumbrar aí uma operação em que o “objeto abjeto”, delineado por Genet, abre um espaço de interação entre o eu e o outro, Glenadel introduz aqui a mesma perspectiva ética que Jacob Rogozinski enxergou na obra supostamente obsessiva e auto-centrada de David Nebreda. Por fim, vale lembrar que o texto em questão, “Genet, os fastos da abjeção”, a meu ver, constitui com os ensaios de Marcio Seligmann-Silva e Marcos Siscar uma tríade de estudos que, de certa forma, se colocam sob o eixo temático do que Siscar chama de “topicalização da cabeça”. O abjeto aqui subverteria a ordem corporal, social e filosófica que teria como centro da experiência a cabeça, reduto do pensamento racional e domínio da visualidade. De fato, para Paula Glenadel, a sexualidade anal sugerida pelo tubo de vaselina é associada por Genet ao rosto da mãe, branco e redondo como um seio. Partindo das ideias de Deleuze e Guattari sobre a visageidade (do francês visage, rosto), Glenadel interpreta o tubo de vaselina na similaridade ao tubo digestivo, que liga extremidades simbolicamente inconciliáveis: rosto e ânus, visageidade e analidade, visualidade e olfato, racional e animal. Assim, em Genet, a cabeça ou o rosto sofreriam uma torção de significado, uma involução em direção à sua contraparte socialmente impossível, o que nos alerta para o fato de que, no abjeto, frequentemente, cabeças podem rolar. Não seria por outro motivo que, em Marcos Siscar, baixamos a cabeça com Baudelaire e aceitamos a guilhotina. Em uma reflexão sobre as possibilidades da poesia na modernidade, o texto (às vezes por demais denso) de Siscar associa uma postura sacrificial à poética baudelairiana, que, assumindo sua condição agonizante em meio ao império da técnica, se coloca como vítima imolada perante as novas condições sociais. Assim, através de metáforas poéticas, Baudelaire antecipadamente colocaria a própria cabeça sob a guilhotina, como forma de purgação ao mesmo tempo da subjetividade romântica e do primado da técnica, com vistas à salvação espiritual da poesia. Para Siscar, Baudelaire estaria a todo custo evitando a abjeção que seria a 310 Niterói, n. 31, p. 307-312, 2. sem. 2011 DIAS, Ângela Maria; GLENADEL, Paula (orgs.). Valores do abjeto. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. “pura” morte da literatura, elemento de exceção extirpado e descartado pelo nojo da sociedade tecnocrática. Tal operação de eliminação do elemento abjeto – da qual Baudelaire tencionava salvar a poesia –, no entanto, é plena de ambiguidade para Marcio Seligmann-Silva. Partindo de um outro referencial teórico, o autor faz com que, por um momento, ergamos a cabeça. Isso porque, para o autor de “As matrizes do abjeto: o homem macaco. Estações de um tema”, a operação de abjetar ocorre sob o signo de uma duplicidade antropológica: é essencial na constituição do que o autor chama de “hominidade”, assim como representa ela mesma um fator remanescente de nossa animalidade. Partindo do ensinamento de Freud, Seligmann-Silva afirma que, ao assumir a postura ereta do bípede, o homem se constitui como ser de cultura precisamente pelo recalque de pulsões ligadas a instintos olfativos, o que acarreta uma mudança qualitativa na relação com os genitais e os excrementos – passam a ser visíveis e desagradáveis, abjetos. Por outro lado, mencionando os primeiros passos da teoria evolucionista, o autor fala que as investigações de Darwin o levam a concluir que as expressões de nojo são diretamente derivadas dos atos genéricos de vomitar e cuspir, comuns tanto a nós, civilizados, bem como a nossos ancestrais. E, surpreendentemente, atribui essa característica também aos macacos. Logo, é dessa maneira que, nas palavras de SeligmannSilva, o círculo do abjeto se fecha e sua duplicidade se confirma: “da abjeção ao outro [em Darwin e, fisiologicamente, em Freud], ao macaco que abjeta [cospe ou vomita o desagradável], a própria abjeção torna-se uma prova de nossa animalidade, e, poderíamos pensar, como veremos com Kafka, uma comprovação da ‘hominidade’ do macaco” (p. 35). A alusão ao homem-macaco, por ocasião do conto “Um relatório para uma academia” de Kafka, é mais um e o último exemplo do rol de figurações do abjeto, ao lado do ciborgue, do andrógino, da cidade afetada pela peste, e até mesmo do tubo de vaselina de Genet. Dentro da perspectiva freudiana-darwinista, a figura kafkiana do homem-macaco ou do macaco-homem nos mostra que o ato de abjetar é (in)determinado precisamente pela ausência de separação nítida entre animalidade primitiva e condição civilizatória. Com essa imagem de Kafka, portanto, vemos que, no ato de abjetar, a questão não é somente de baixar ou perder a cabeça. Para Marcio SeligmannSilva, a ciência do século XIX acaba por nos ensinar que erguer a cabeça – e, assim, recalcar nossa origem abjeta – muitas vezes pode invocar essa mesma origem que tanto desejamos esquecer. Entre mortos e feridos, cabeças cortadas, perdidas e reviradas pelo avesso, muitas das lacunas acerca de Pouvoirs de l’horreur foram esclarecidas. Os Valores do abjeto vão sendo destilados ao longo da coletânea, formando um panorama que parte da obra de Julia Kristeva para delinear os novos caminhos Niterói, n. 31, p. 307-312, 2. sem. 2011 311 Gragoatá Renan Ji por que passou e ainda passa a arte contemporânea desde então. Após a leitura dos ensaios, se alguma dificuldade com o texto de Kristeva ainda permanece, talvez seja apenas o estranhamento causado por uma forma singular de se fazer teoria. No entanto, devo admitir que tanto Valores do abjeto e Pouvoirs de l’horreur continuam, a despeito de todo esforço, falhando em um aspecto. Algo que ambos os livros não conseguem evitar e, talvez, não queiram evitar. As duas obras falham na preparação para lidar com aquilo de que falam incessantemente: os efeitos da própria arte abjeta. O abjeto, portanto, ainda permanece insondável, inexplicável, desconcertante. 312 Niterói, n. 31, p. 307-312, 2. sem. 2011 Colaboradores deste número André Rangel Rios Doutor em Philosophie und Sozialwissenschaft I - Freie Universität Berlin (1991). Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Escritor de ficção (Aposta, 7 Letras, 2007; Dentro do Teatro de Marionetes, Record, 2007; Kant em Coma, 7 Letras, 2006; Nada ou Isto não é um livro, Garamond, 2000). Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em História da Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura comparada, saúde coletiva, bioética, filosofia, estudos da religião, estudos pós-coloniais e narrativa e medicina. Antonio Andrade Professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua tese de doutorado em Literatura Comparada, defendida na Universidade Federal Fluminense (UFF), intitula-se “Por uma comunidade desejante: um estudo sobre Néstor Perlongher e Severo Sarduy”. Já publicou diversos artigos sobre poesia contemporânea brasileira e hispano-americana. Suas pesquisas enfocam, particularmente, as relações entre concretismo e neobarroco. Recentemente, tem se dedicado a investigar as interfaces entre o processo de letramento literário e a formação de professores de língua materna e estrangeira. Arnaldo Rosa Vianna Neto Professor Adjunto de Literatura Francesa, Literaturas Francófonas e Língua Francesa da Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-Doutor em Literatura Comparada, com Projeto de Pesquisa desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2006-2007); Doutor em Literatura Comparada, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com Doutorado-Sanduíche em Literatura Comparada na Université du Québec à Montréal (UQAM), financiado por Bolsa do Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior (PDEE), da CAPES (2002). Davi Andrade Pimentel É Doutorando em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem experiência na área de Literatura, com ênfase nas narrativas ficcionais do escritor francês Maurice Blanchot e no pensamento crítico blanchotiano sobre o espaço literário. Érika Nogueira de Andrade Stupiello Doutora em Estudos Linguísticos – Estudos da Tradução (2010), pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) de São José do Rio Preto É especialista em Comércio Internacional desde 2003. Possui publicações em periódicos especializados e trabalhos em anais de eventos no Brasil e no Exterior (Estados Unidos e Alemanha). Apresentou trabalhos em eventos científicos no exterior (Canadá e Alemanha) e no Brasil. É pesquisadora na área de Estudos da Tradução (ética e tecnologias de tradução). É tradutora pública e intérprete comercial desde 2001; tradutora técnica e intérprete de conferências desde 1997. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 Jacob Rogozinksi Professor de filosofia na Universidade de Estrasburgo, doutorou-se em 1993 pela École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), sob a orientação de Claude Lefort. Foi diretor de pesquisa no Collège Internationale de Philosophie (1986-1992). É autor de estudos sobre Antonin Artaud, notadamente Guérir la vie. La passion d’Antonin Artaud (Les éditions du Cerf, 2011). Publicou Faire part: cryptes de Derrida (2005). Foram publicados em português o livro O Dom da lei: Kant e o enigma da ética (Editora Paulus, 2009), alguns artigos (“Tutuguri - ou o ritmo de Artaud”, Revista Alea, v. 3, 2001, trad. Marcelo Jacques de Moraes) e o capítulo “Vejam, isto é meu sangue (ou: a paixão segundo D.N.N.)”, trad. Carla Miguelote, na coletânea Valores do abjeto, EdUFF, 2008. Jaime Ginzburg Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1997). Atualmente é Professor Livre-docente de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo (USP), e bolsista 1D do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi Professor Visitante CNPq na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi Professor Visitante na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), em São José do Rio Preto. Realizou Pós-doutorado na UFMG. Como Visiting Professor, com bolsa da Fulbright Foundation, lecionou Cultura Brasileira na University of Minnesota. Atua na área de Literatura Brasileira, principalmente em literatura brasileira de 1930 ao presente, literatura comparada, autoritarismo, violência, direitos humanos, repressão e melancolia. Coordenou o Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira na FFLCH-USP. Participa do NADIR (Núcleo de Antropologia do Direito da Universidade de São Paulo). Integra o Projeto Interunidades em Violência, Democracia e Direitos do NEV (Núcleo de Estudos da Violência) da USP. José Cândido de Oliveira Martins Doutor em Teoria da Literatura, é docente e investigador da Universidade Católica Portuguesa (Braga). Nesta instituição, tem leccionado várias disciplinas: Teoria do Texto Literário; Literatura Portuguesa (Moderna); História da Arte Moderna; e Retórica e Argumentação. Tem ainda colaborado com outras universidades ao nível da graduação e da pósgraduação (mestrado e doutoramento), em Portugal e noutros países (Espanha, França, Brasil, Polónia, etc.). Além de artigos vários para revistas da especialidade, de participação em congressos e colóquios, e de colaboração em diversas obras colectivas, publicou alguns livros: Teoria da Paródia Surrealista (Braga, 1995); Para uma Leitura de ‘Maria Moisés’ de Camilo Castelo Branco (Lisboa, 1997); Naufrágio de Sepúlveda. Texto e Intertexto (Lisboa, 1997); Para uma Leitura da Poesia de Bocage (Lisboa, 1999); Para uma Leitura da Poesia Neoclássica e PréRomântica (Lisboa, 2000); Fidelino de Figueiredo e a Crítica da Teoria Literária 314 Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 Positivista (Lisboa, 2007); e Viajar com… António Feijó (Porto, 2009). No campo da publicação de autores da literatura portuguesa, organizou a edição de vários autores, com fixação do texto e introdução crítica: Camilo Castelo Branco, Eusébio Macário / A Corja (Porto, 2003) e Novelas do Minho (Porto, 2006); António Feijó, Poesias Completas (Porto, 2004) e Poesias Dispersas e Inéditas (Porto, 2005); Teófilo Carneiro, Poesias e Outros Dispersos (Guimarães, 2006); Diogo Bernardes, O Lima (2009). Margareth dos Santos Doutora em Letras (Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana) pela Universidade de São Paulo (USP, 2006). Atualmente é professora, em regime RDIDP, da USP. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literaturas Estrangeiras Modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: Goya, literatura espanhola pós-guerra, Tiempo de silencio, cinema espanhol e caprichos, desastres da guerra. Atualmente desenvolve um projeto de pesquisa relacionado à poesia da geração dos anos 1950, Espanha. Maria Clara Castellões de Oliveira Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais ( UFMG, 1996-2000). Realizou o doutorado-sanduíche na University College London (1997). Entre setembro de 2010 e agosto de 2011 realizou o seu pós-doutoramento, orientada por Márcio SeligmannSilva, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Desde 1985 é professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no qual, como professora associada 2, ministra disciplinas do Bacharelado em Letras - Ênfase em Tradução: Inglês, da Licenciatura em Língua Inglesa e do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários. Exerceu, entre julho de 2004 e março de 2007, a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (Mestrado em Teoria da Literatura e em Lingüística) da UFJF. Entre março e julho de 2007, coordenou o Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da UFJF (com mestrado e doutorado), criado em sua gestão, a partir do desmembramento do antigo PPG-Letras. Seus interesses de pesquisa se dividem entre ética na/da tradução, historiografia da tradução, tradução literária e teoria e crítica literárias. Maria Conceição Monteiro Doutora em Literatura Comparada (Universidade Federal Fluminense (UFF) e Nottingham University, 1998) com pós-doutorado na área de Literatura Inglesa (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP, 2002). Atualmente é professora titular de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pesquisadora do CNPq. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: identidade, gênero, feminismo, gótico e narrativa. Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 315 Maria Cristina Franco Ferraz Professora Titular de Teoria da Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisadora do CNPq, doutora em Filosofia pela Universidade de Paris I - Sorbonne (1992), com três estágios de pós-doutoramento em Berlim (Instituto Max Planck de História da Ciência, em 2004, e Centro de Pesquisa em Literatura e Cultura, em 2007 e 2010). Coordena na UFF o Doutorado Internacional Erasmus Mundus “Cultural Studies in Literary Interzones”. Publicou os seguintes livros: Nietzsche, o bufão dos deuses (Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994/Ediouro: 2009 e Paris: Harmattan, 1998), Platão: as artimanhas do fingimento (Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999/Ediouro: 2009 e Lisboa: Nova Vega, 2010), Nove variações sobre temas nietzschianos (Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002) e Homo deletabilis - corpo, percepção, esquecimento: do século XIX ao XXI - (Rio de Janeiro: Garamond, 2010). Meta Elisabeth Zipser Professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atua no curso de Graduação em Letras e junto à PGET - Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução no qual orienta trabalhos voltados à Tradução Jornalística e outras modalidades comunicativas em abordagem funcionalista. É Doutora em Lingua e Literatura Alemã pela Universidade de São Paulo (USP) com enfoque na área da Tradução. Coordena o grupo de pesquisa TRAC - Tradução e Cultura e coordena projetos de extensão voltados ao ensino de lingua alemã em comunidades afins. Linhas de pesquisa: tradução jornalística, cultura e funcionalismo para os estudos da tradução. Michel Deguy Poeta, filósofo e professor emérito de literatura (Université de Paris 8). Foi membro dos grupos responsáveis pelas revistas Poésie, Critique, Les Temps Modernes. Presidiu o Collège International de Philosophie e a Maison des Écrivains. Recebeu dois dos mais importantes prêmios literários franceses, o Grand Prix national de la poésie e o Grand Prix de Poésie de l’Académie Française. Publicou, entre outros, os livros Les Meurtrières (1959), Poèmes de la Presqu’île (1961), Ouï dire (1966), Poèmes 1960-1970, La Machine matrimoniale ou Marivaux (1982), L’Énergie du désespoir, ou d’une poétique continuée par tous les moyens (1998). Foram publicados no Brasil, além de alguns textos em revistas como a Inimigo rumor e Modo de usar, uma antologia de seus poemas, com tradução e organização de Paula Glenadel e Marcos Siscar, na coleção Ás de Colete, dirigida pelo poeta Carlito Azevedo para a Cosac Naify, em 2004, e o livro de ensaios Reabertura após obras (Editora da Unicamp, 2011), também com tradução de Glenadel e Siscar. 316 Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 Michelle de Abreu Aio Mestranda em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 2009/2011) e cursando Pós-Graduação Lato Sensu em Tradução de Inglês pela Universidade Gama Filho (2011/2012). Pesquisa os temas: português brasileiro e europeu, tradução jornalística, tradução e cultura. É tradutora credenciada pelo SINTRA Sindicato Nacional dos Tradutores, filiado à FIT Federação Internacional de Tradutores. Membro do grupo de pesquisa TRAC - Tradução e Cultura (UFSC). Possui o seguinte site pessoal: www.traduzirideias.com.br Milla Benicio Ribeiro de Almeida É doutoranda em Comunicação e Cultura (Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora no curso de Direito da Unilasalle-RJ. Pedro Dolabela Chagas Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ, 2007) e em Estética e Filosofia da Arte pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2010). Tem experiência na área de Letras e Filosofia, com ênfase em epistemologia do pensamento estético, teoria literária, literatura brasileira e norte-americana. Renan Ji Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente é doutorando em Estudos Literários pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Rosario Lázaro Igoa Doutoranda na Pós-Graduação em Estudos da Tradução, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi Professora G1 em Teoria da Comunicação na Licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidad de la Republica (UDELAR), Uruguai. Pesquisa em tradução literária, paratexto e poesia traduzida. Sandra Regina Goulart Almeida Doutora pela University da Carolina do Norte em Chapel Hill (1994), com pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Columbia, em Nova Iorque. É Professora Titular de Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq (1D) e do Programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG. Foi Presidente da Associação Brasileira de Estudos Canadenses (2001-2003), Diretora de Relações Internacionais da UFMG (2002-2006), Secretária da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL) (2008-2010, Subcoordenadora do GT Mulher na Literatura da ANPOLL (2002-2004) e Coordenadora do Centro de Estudos sobre a Índia da UFMG (2008-2010). Foi coordenadora do Projeto de Cooperação Internacional, financiado pela CAPES e FIPSE, entre a UFMG, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Wayne State Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 317 University e New York Univeristy (2002-2009). Coordena ainda os grupos de pesquisa: O discurso de autoria feminina nas literaturas de língua inglesa, espaços da literatura contemporânea (com Maria Zilda Ferreira Cury); Memorial de Minas Gerais (com Heloisa Starling, Carlos Antonio Brandão e Bruno Viveiros). É coordenadora adjunta da área de Letras e Linguística da CAPES. Atua na área de Literatura Comparada e Literaturas de Língua Inglesa, pesquisando principalmente os seguintes temas: literatura contemporânea, crítica literária feminista, estudos de gênero, literatura pós-colonial, tradução cultural, estudos da diáspora e do espaço na literatura contemporânea. Silviano Santiago Escritor, poeta, professor, tradutor, ensaista e crítico literário. Fez Doutorado na Universidade de Paris, Sorbonne, onde defendeu tese sobre André Gide. Lecionou nas universidades de New Mexico, Rutgers, Toronto, New York at Bufafalo e Indiana. No Brasil, lecionou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) e na Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi também diretor do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). Principais obras nos gêneros romance e contos: O banquete (1970); O olhar (1974); Em liberdade (1981); Stella Manhattan (1985); Uma história de família (1992); Viagem ao México (1995). Poesia: Salto (1970); Crescendo durante a guerra numa província ultramarina (1978); Cheiro forte (1993) e Heranças (2008). No gênero ensaio e memórias, destacam-se: Viagem ao México (1997); O cosmopolitismo do pobre: crítica literária e crítica cultural (2004); O falso mentiroso: memórias (2004); As raízes e o labirinto da América Latina (2006); A vida como literatura: o amanuense belmiro (2006). Em 2010, recebeu o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura 2010, pelo conjunto de sua obra. Sônia Maria Materno de Carvalho Professora na Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutora em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 1999). Tem experiência na área de Letras , com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas. Vem atuando principalmente nos seguintes temas: feminino, escrita, loucura. Vanderlei José Zacchi Doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo (USP, 2009). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e associado adjunto no Centre for Globalization and Cultural Studies da Universidade de Manitoba, Canadá. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Ensino de Língua Inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: inglês como língua hegemônica, formação de professores, novos letramentos e cultura e identidade. 318 Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 Vicentina Marangon Graduada em Letras (português-francês) e especialista em estudos de Tradução pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói, n. 31, p. 313-319, 2. sem. 2011 319 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Instituto de Letras Revista Gragoatá Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº Campus do Gragoatá Bloco C - Sala 518 24210-201 - Niterói - RJ e-mail: [email protected] Telefone: 21-2629-2608 Normas de apresentação de trabalhos 1. A Revista Gragoatá, dos Programas de Pós-Graduação em Letras da UFF, aceita originais sob forma de artigos inéditos e resenhas de interesse para estudos de língua e literatura, em língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola. 2. Os textos serão submetidos a parecer da Comissão Editorial, que poderá sugerir ao autor modificações de estrutura ou conteúdo. 3. Os textos não deverão exceder 25 páginas, no caso dos artigos, e 8 páginas, no caso de resenhas. Devem ser apresentados em duas cópias impressas sem identificação do autor, bem como em CD, com título do artigo em português e em inglês, indicação do autor, sua filiação acadêmica completa e endereço eletrônico no programa Word for Windows 7.0, em fonte Times New Roman (corpo 12, espaço duplo), sem qualquer tipo de formatação, a não ser: 3.1 Indicação de caracteres (negrito e itálico). 3.2 Margens de 3 cm. 3.3 Recuo de 1 cm no início do parágrafo. 3.4 Recuo de 2 cm nas citações. 3.5 Uso de sublinhas ou aspas duplas (não usar CAIXA ALTA). 3.6 Uso de itálicos para termos estrangeiros e títulos de livros e periódicos. 4. As citações bibliográficas serão indicadas no corpo do texto, entre parênteses, com as seguintes informações: sobrenome do autor em caixa alta; vírgula; data da publicação; abreviatura de página (p.) e o número desta. (Ex.: SILVA, 1992, p. 3-23). 5. As notas explicativas, restritas ao mínimo indispensável, deverão ser apresentadas no final do texto. 6. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, obedecendo às normas a seguir: Livro: sobrenome do autor, maiúscula inicial do(s) prenome(s), título do livro (itálico), local de publicação, editora, data. Ex.: SHAFF, Adan. História e verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. Artigo: sobrenome do autor, maiúscula inicial do(s) prenome(s), título do artigo, nome do periódico (itálico), volume e nº do periódico, data. Ex.: COSTA, A.F.C. da. Estrutura da produção editorial dos periódicos biomédicos brasileiros. Trans-in-formação, Campinas, v. 1, n.1, p. 81-104, jan./abr. 1989. Gragoatá Niterói, n. 31, p. 321-324, 2. sem. 2011 GragoatáNormas 7. As ilustrações deverão ter a qualidade necessária para uma boa reprodução gráfica. Deverão ser identificadas, com título ou legenda, e designadas, no texto, de forma abreviada, como figura (Fig. 1, Fig. 2 etc). 8. Os textos deverão ser acompanhados de resumo em português e abstract, em inglês que não ultrapasse 250 palavras, bem como de 3 a 5 palavras-chave também em português e em inglês. 9. Os originais serão avaliados a partir dos seguintes quesitos: 9.1 adequação ao tema; 9.2 originalidade da reflexão; 9.3 relevância para a área de estudo; 9.4 atualização bibliográfica; 9.5 objetividade e clareza; 9.6 linguagem técnico-científica. 10. A responsabilidade pelo conteúdo dos artigos publicados pela Revista Gragoatá caberá, exclusivamente, aos seus respectivos autores. 11. Os colaboradores terão direito a dois exemplares da revista. Os originais não aprovados não serão devolvidos. Próximos números Número 32 - Políticas linguísticas Organizadores: Mônica Guimarães Savedra e Xoán Lagares Diez Política linguística, glotopolítica, planejamento linguístico. Ideologias linguísticas. Planificação de corpus: a criação de normas, a codificação e a elaboração das línguas. Planificação de status: princípio de personalidade e de territorialidade. Direitos linguísticos. Línguas em contato e gestão da diversidade linguística. Plurilinguismo. Língua oficial, nacional e internacional. Políticas linguísticas e ensino. Prazo para entrega dos originais: 15 de fevereiro de 2012 Número 33 - Percursos do contemporâneo Organizadoras: Ida Maria Alves e Maria Elizabeth Chaves de Mello Ementa: Cultura entre fronteiras e o olhar estrangeiro: diáspora, migrações e identidades em deslocamento. Subjetividade e alteridade no texto literário: trânsitos textuais – história e ficção, prosa e poesia. Figurações e desfigurações do espaço: paisagem, memória e cartografias urbanas; releituras do passado no presente. Topologias eletrônicas e literatura. A escrita da cidade, velocidade e experiências do excesso. Leituras interdisciplinares do literário. Prazo para entrega dos originais: 15 de julho de 2012 322 Niterói, n. 31, p. 321-324, 2. sem. 2011 Gragoatá UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Instituto de Letras Revista Gragoatá Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº Campus do Gragoatá Bloco C - Sala 518 24210-201 - Niterói - RJ e-mail: [email protected] Telefone: 21-2629-2608 Normas General Instructions for Submission of Papers 1. The Editorial Board will consider both articles and reviews in the areas of language and literature studies, in Portuguese, English, French and Spanish. 2. In considering the submitted papers, the Editorial Board may suggest changes in their structure or content. 3. Papers should be submitted in CD, with the title both in Portuguese and English, author’s identification, academic affiliation and electronic address, together with two printed copies, without author’s identification, typed in Word for Windows 7.0, double-spaced, Times New Roman font 12, without any other formatting except for: 3.1 bold and italics indication; 3.2 3cm margins; 3.3 1cm indentation for paragraph beginning; 3.4 2cm indentation for long quotations; 3.5 underlining or double inverted commas (NEVER UPPER CASE) for emphasis; 3.6 italics for foreign words and book or journal titles. 4. Papers should be no more than 25 pages in length and reviews no more than 8 pages. 5. Authors are required to resort to as few footnotes as possible, which are to be placed at the end of the text. As for references in the body of the article, they should contain the author’s surname in uppercase as well as date of publication and page number in parentheses (eg.: JOHNSON, 1998, p. 45-47). 6. Bibliographical references should be placed at the end of the text according to the following general format: Book: initial’s author’s pre name(s) in uppercase, author’s surname, title of book (italics), place of publication, publisher and date. (eg.: ELLIS, Rod. Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994). Article: author’s surname, initial’s author’s pre name(s) in uppercase, title of article, name of journal (italics), volume, number and date. (eg.: HINKEL, Eli. Native and nonnative speakers’ pragmatic interpretations of English texts. TESOL Quarterly, v. 28, n° 2, p. 353-376, 1994). Niterói, n. 31, p. 321-324, 2. sem. 2011 323 GragoatáNormas 7. Tables, graphs and figures should be identified, with a title or legend, and referred to in the body of the work as figure, in abbreviated form (eg.: Fig. 1, Fig. 2 etc.) 282 Niterói, n. 27, p. 279-282, 2. sem. 2009 8. Papers should contain two abstracts (a Portuguese and an English version), no more than 5 lines in length. In addition, between 3 to 5 keywords, also in Portuguese and in English, are required. 9. Originals will be evaluated from the following items: 9.1 appropriateness to the theme; 9.2 originality of thought; 9.3 relevance for the study area; 9.4 bibliographic update; 9.5 objectivity and clarity; 9.6 technical-scientific language 10. The responsibility for the content of articles published in the journal Gragoatá sole discretion of their respective authors. 11. Authors, whose articles are accepted for publication, will be entitled to receive 2 copies of the journal. Originals will not be returned. 324 Niterói, n. 31, p. 321-324, 2. sem. 2011 PRIMEIRA EDITORA NEUTRA EM CARBONO DO BRASIL Título conferido pela OSCIP PRIMA (www.prima.org.br) após a implementação de um Programa Socioambiental com vistas à ecoeficiência e ao plantio de árvores referentes à neutralização das emissões dos GEE´s – Gases do Efeito Estufa. Este livro foi composto na fonte Book antiqua.12 Impresso na Globalprint Editora e Gráfica, em papel Pólen Soft 80g (miolo) e Cartão Supremo 250g (capa) produzido em harmonia com o meio ambiente. Esta edição foi impressa em maio de 2012.
Download